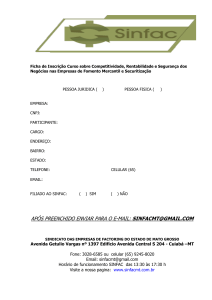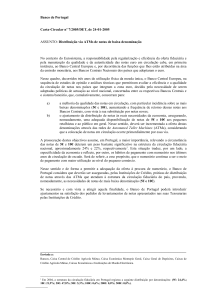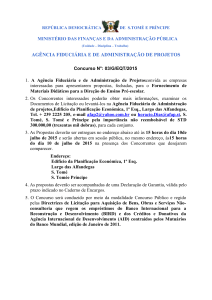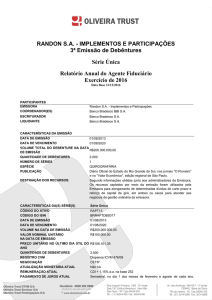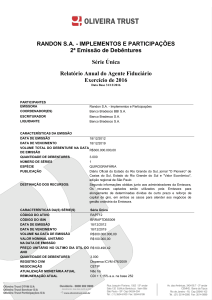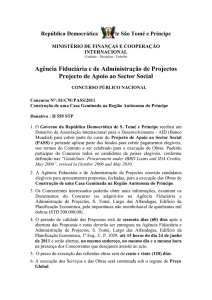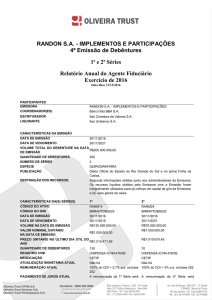PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Direito
SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL E SECURITIZAÇÃO
DE CRÉDITO
Gustavo de Aguiar Ferreira Alves
Belo Horizonte
2010
Gustavo de Aguiar Ferreira Alves
SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL E SECURITIZAÇÃO
DE CRÉDITO
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Direito da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais, como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre em Direito.
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Almeida Magalhães
Belo Horizonte
2010
FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
A474s
Alves, Gustavo de Aguiar Ferreira
Segregação patrimonial e securitização de crédito / Gustavo de Aguiar Ferreira
Alves. Belo Horizonte, 2010.
165f.
Orientador: Rodrigo Almeida Magalhães
Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Programa de Pós-Graduação em Direito.
1. Securitização. 2. Fidúcia. 3. Negócio fiduciário. 4. Segregação patrimonial.
5. Alienação fiduciária. 6. Propriedade fiduciária. 7. Falência. I. Magalhães,
Rodrigo Almeida. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa
de Pós-Graduação em Direito. III. Título.
CDU: 347.133
11
Gustavo de Aguiar Ferreira Alves
Segregação patrimonial e securitização de crédito
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Direito da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, como
requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Direito,
_____________________________________________
Rodrigo Almeida Magalhães (Orientador) - PUC Minas
_____________________________________________
Sérgio Mendes Botrel Coutinho - FUMEC
_____________________________________________
Eduardo Goulart Pimenta – PUC Minas
Belo Horizonte, 23 de março de 2010.
À fé, fonte inesgotável de motivação.
Aos meus pais, pelo exemplo e apoio constantes.
AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador, Professor Rodrigo
Almeida
Magalhães,
pela
paciência,
disponibilidade e palavras de incentivo.
À Vanessa, pelo carinho, companheirismo,
compreensão e auxílio na final revisão deste
trabalho.
Aos amigos Alaor, Flávio, Sergio e Vânia,
pela motivação, esclarecimentos e apoio
prestados de braços abertos.
Ao Luiz Fernando e à minha prima Renata,
pela ajuda na obtenção de material.
A todos meus amigos e familiares, pela
compreensão nos incontáveis momentos de
ausência.
RESUMO
O dinamismo atualmente existente na circulação de riquezas e a integração do mercado de
capitais em âmbito mundial têm dado azo ao surgimento de novas estruturas negociais, a
demandar a formulação de instrumentos jurídicos hábeis a proporcionar a devida segurança
aos seus partícipes. A relevância dessa questão ganha vulto na medida em que o
desenvolvimento da economia pátria guarda estreita relação com a adequada e eficaz
regulação de seu mercado interno, tornando-o atrativo aos investidores pátrios e estrangeiros.
Nesse contexto encontra-se a securitização de créditos, operação destinada a gerar liquidez
imediata aos créditos oriundos de atividades públicas e privadas, que cedidos a uma sociedade
de propósito exclusivo, servirão de lastro à emissão de valores mobiliários, pagando-se aos
cedentes o valor ajustado, após a aquisição dos títulos por investidores. Criada nos Estados
Unidos na década de 70, essa operação encontra-se cada vez mais disseminada em todo o
mundo. Em países filiados ao sistema anglo-saxão, a estrutura da operação é de fácil
formatação, tendo em vista a figura do trust que, em síntese, permite o fracionamento do
direito de propriedade, de tal sorte que os créditos cedidos não se vinculam com quaisquer
obrigações do cedente ou do cessionário, destinando-se exclusivamente ao pagamento dos
valores mobiliários emitidos e respectivas despesas decorrentes da securitização, o que
representa a maior garantia dos investidores, adquirentes dos títulos emitidos. Entretanto, nos
países de tradição romano-germânica, não é admissível a constituição de uma dupla
propriedade sobre um mesmo bem, o que demanda a análise dos instrumentos jurídicos
existentes, como aqueles derivados da fidúcia romana, na busca da segregação do patrimônio
cedido, alcançando-se, assim, efeitos similares ao do trust anglo-saxão.
Palavras-chave: Securitização de crédito. Trust. Fidúcia. Segregação patrimonial.
ABSTRACT
Today’s increasingly fast-paced circulation of wealth and the integration of capital markets
worldwide have given rise to the creation of new negotiating frameworks, which call for the
formulation of legal instruments capable of providing proper security to the parties involved.
The relevance of this issue is further heightened as the development of Brazil’s economy
bears a strict relationship with the adequate and proper regulation of its internal market,
making it attractive to domestic and foreign investors alike. Such is the context of credit
securitization, an operation intended to yield immediate liquidity to credits stemming from
public and private activities, which, when assigned to a special purpose company, serves as
pegging for the issuance of securities, with assignees being paid the adjusted value, after the
acquisition of such instruments by investors. Created in the United States in the 70’s, this
operation has since become increasingly popular around the world. In common-law countries,
the framework of the operation is easily assembled, considering their unique trusts which, in
short, allow property rights to be fractioned, in such a way that the assigned credits are not
tied to any obligations on the part of either the assignee or the assignor, but solely intended
for the payment of the securities issued and the respective expenses stemming from the
securitization, which represents a greater warranty to those acquiring such securities.
Nevertheless, in countries with a Romanistic-German legal background, there exists no such
concept of dual ownership of an asset, which calls for a thorough analysis of the existing legal
instruments, such as those derived from the Roman fiducia, in the quest for the segregation of
the assets assigned, with similar effects to those of the trust.
Key-words: Securitization. Trust. Fiducia. Segregation of assets.
LISTA DE SIGLAS
Coord. – Coordenador
Ex. – Exemplo
Org. – Organizador
Trad. – Tradutor
LISTA DE ABREVIATURAS
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Community Reinvestment Act (CRA)
Conselho Monetário Nacional (CMN)
Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC)
Federal Housing Administration (FHA)
Federal National Mortgage Association (FNMA)
Federal Reserve (FED)
Secretaria de Previdência Complementar (SPC)
Sociedade de Propósito Exclusivo (SPE)
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
Veículo de Propósito Exclusivo (VPE)
SUMÁRIO
1
INTRODUÇÃO..............................................................................................
10
2 SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITO.............................................................
2.1 Denominação ........................................................................................................................
2.2 Aspectos históricos ............................................................................................................
2.3 Estrutura da operação .....................................................................................................
2.3.1 Dos ativos e sua classificação .....................................................................................
2.3.2 Da sociedade de propósito exclusivo..........................................................................
2.3.3 Da cessão de crédito ........................................................................................................
2.3.4 Dos valores mobiliários .................................................................................................
2.3.5 Do agente fiduciário .......................................................................................................
2.4 Intermediação financeira e securitização .................................................................
2.5 A securitização de créditos no Brasil ..........................................................................
2.6 Problemas para a implementação da securitização de créditos no Brasil ...
12
12
14
18
22
26
31
36
42
44
50
56
3 O TRUST .............................................................................................................
3.1 Aspectos históricos ..........................................................................................
3.2 Principais características ................................................................................
3.3 Problemas para a adoção do trust pelos países de tradição
romano-germânica ....................................................................................................
62
62
65
68
4 A FIDÚCIA ......................................................................................................... 73
4.1 A fidúcia romana ................................................................................................................ 73
4.2 A fidúcia no Direito Germânico.................................................................................... 82
4.3 A fidúcia moderna ............................................................................................................. 84
4.4 Negócio fiduciário em sentido estrito ......................................................................... 89
4.4.1 Principais características .............................................................................................. 89
4.4.2 Negócio fiduciário e negócio simulado: uma distinção necessária ................ 98
4.4.3 Consequências perante credores do fiduciante e do fiduciário ....................... 103
4.4.4 Negócio fiduciário e trust .............................................................................................. 105
4.5 Os negócios fiduciários impróprios ................................................................ 106
4.5.1 A afetação patrimonial ................................................................................................... 108
4.5.2 A propriedade fiduciária ................................................................................................ 125
4.5.3 A propriedade fiduciária instituída pela Lei nº 9.514/97 e a securitização
do crédito imobiliário ....................................................................................................... 135
4.5.4 O contrato de fidúcia ........................................................................................................139
4.5.5 O fideicomisso nos países da América do Sul ....................................................... 143
5 A LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS ........................146
6 CONCLUSÃO ..........................................................................................................................153
REFERÊNCIAS
...................................................................................................................158
10
1 INTRODUÇÃO
Com a evolução dos veículos de comunicação e crescente integração dos mercados,
os meios de circulação de riquezas têm se modificado constantemente, dando azo ao
desenvolvimento de um novo mercado de crédito, no qual empresas e o próprio poder público
podem captar recursos para financiamento de suas atividades, através da transformação de
créditos vencíveis, e mesmo futuros, em valores mobiliários de livre negociação, inclusive
globalmente, entre investidores dos mais diferentes perfis, pessoas físicas ou jurídicas.
A própria atividade tradicional de intermediação financeira, exercida pelos bancos na
captação de depósitos, concessão de empréstimos e desconto de títulos, teve de ser ampliada,
prestando-se as instituições financeiras a novas funções nesse novo mercado.
No Brasil, a essa nova forma de captação de recursos e realização de investimentos
se convencionou denominar securitização, com grande relevância no crescimento econômico
da atualidade, por solucionar problemas financeiros e, inclusive, por viabilizar a execução de
projetos com alto custo.
Em apertada síntese, a operação consiste na transferência de créditos de uma empresa
a outra, sendo esta última incumbida, exclusivamente, de melhorar as características dos
créditos através de vários expedientes e, em seguida, emitir valores mobiliários, garantidos
por esses ativos recebidos. Uma vez negociados no mercado de capitais, realiza-se o repasse
do valor ajustado à cedente.
Aos investidores resta a expectativa de lucro após o vencimento e respectivo
recebimento dos créditos utilizados na operação. Sua garantia incide exclusivamente sobre o
grupo de ativos que servem de lastro à emissão dos títulos que adquiriu, e não sobre o
patrimônio da cedente, tomadora dos recursos. De igual sorte, seu risco encontra-se limitado à
adimplência, ou não, por parte dos devedores dos ativos cedidos, não respondendo os créditos
cedidos pelo risco relativo à atividade da cedente e das dívidas que possa ter.
Essa expectativa é primordial para a viabilização da securitização de créditos, sob
pena de se tornar inviável.
Nos países de tradição anglo-saxônica utiliza-se o trust, por permitir a transferência
de parcela do patrimônio de uma pessoa a outra, vinculando-a a uma destinação específica,
mas de tal sorte que, em decorrência do fracionamento do direito de propriedade em relação
aos bens transferidos, impede que estes sejam demandados por dívidas gerais de uma ou de
11
outra. Assim, utilizando-se o trust, aquela expectativa dos investidores em uma operação de
securitização de créditos torna-se perfeita e eficaz.
Todavia, em países de tradição romano-germânica essa dicotomia da propriedade
não é admitida. Consequentemente, para que a securitização de créditos possa apresentar a
segurança esperada, um dos problemas a ser enfrentado é a busca de instrumentos jurídicos
hábeis a imprimir os mesmos efeitos do trust, através da segregação do patrimônio cedido,
que deverá restar incólume a outros riscos que não sejam os advindos da operação, sob pena
de não se tornar opção aceitável pelo mercado.
A insegurança daí decorrente tem sido apontada como uma das causas que impedem
um maior desenvolvimento da securitização no Brasil, do que decorrem grandes prejuízos,
seja por reduzir o financiamento de empresas e projetos, seja por prejudicar a atração de
capital estrangeiro, os quais terminam por buscar mercados que já se encontram com
regulação mais adequada.
Nesse sentido, tem-se discutido sobre as implicações da Teoria do Patrimônio
adotada no ordenamento jurídico pátrio, assim como a utilização de instrumentos de natureza
fiduciária, de forma a alcançar a segregação patrimonial dos bens utilizados na securitização.
O presente trabalho tem por objetivo compreender a estrutura operacional da
securitização de crédito e dos contratos que a compõem para, então, avaliar a adequação dos
instrumentos jurídicos já existentes na atribuição da indispensável segurança e possibilitar a
realização da operação de forma ampla, em relação a qualquer espécie de ativos.
Desta forma, urge um adequado estudo sobre esses temas e sua evolução, de modo a
avaliar a possibilidade de se realizar a afetação patrimonial com os instrumentos jurídicos já
existentes ou, pelo contrário, se será necessária a inovação do ordenamento, via legislativa,
como forma de implementar as operações de securitização de crédito.
12
2 A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITO
2.1 Denominação
Antes de qualquer outro aspecto, e para evitar confusões terminológicas, cumpre
precisar o que neste trabalho será tido por securitização de crédito.
A palavra securitization decorre da transformação da palavra security, de origem
inglesa, e foi muito criticada desde sua primeira utilização, nos Estados Unidos. Uinie
Caminha (2007) esclarece que tal teria ocorrido em 1977, quando um jornalista, do Wall
Street Journal, ao entrevistar o autor da primeira operação do gênero, e devido à novidade,
por falta de um termo melhor, chamou de securitização.
Essa criação é explicável, na medida em que a palavra security equivale a valor
mobiliário e visa à captação de recursos no mercado através de sua emissão, lastreada em
ativos.
Em que pese ser pouco técnica, passou a ser utilizada, muito embora no mercado
financeiro e de capitais possa ter diversas significações.
Segundo alguns (CHAVES, 2006, p. 46), até seria possível apontar para a adequação
da expressão que, embora em nada se relacione com a atividade securitária, possui relação
com noções de segurança e garantia.
Melhor poderia ter sido a utilização, no Brasil, do termo titularização, tal como se
deu em Portugal, através do Decreto-Lei n. 453, de 5 de novembro de 1999, que regulamenta
a operação nesse país. Entretanto, a influência norte-americana marcou inúmeros mercados
nesse processo, não sendo uniforme a designação do instituto. Nesse sentido, colhem-se os
seguintes apontamentos:
Do latim securus, o vocábulo foi absorvido pela língua inglesa, na qual, além da
própria significação de garantia, incorporou a acepção mais ampla de valor
mobiliário. Contemporaneamente, o termo securitização e o processo que designa
firmaram-se nos mercados financeiro e de capitais a partir da prática do mercado
financeiro e de investimento dos Estados Unidos e vêm sendo assimilados de
maneira generalizada em todo o mundo, chamando-se titulización na versão
espanhola, bursatilización no México, titrisation na França, titularización na
Colômbia, securitización Chile e na Argentina etc. A Lei 9.514/97, seguindo essa
tendência, adotou o neologismo securitização. (CHALHUB, 2006, p. 404).
13
Desta forma, no presente trabalho será utilizada a expressão securitização, ainda que
nenhuma dessas denominações abarque a complexidade do instituto, que conta com inúmeros
atores e diferentes contratos, rumo ao objetivo visado, conforme mais adiante será
demonstrado. É o que se percebe também do seguinte trecho, ainda que critique a
terminologia por motivos diversos:
De qualquer modo, tanto o neologismo securitização quanto aqueles sugeridos nesse
estudo (titulização ou mobiliarização) não refletem completamente a essência do
negócio jurídico aqui tratado, dando a entender que consistiria em mera conversão
de créditos ou dívidas em título. Entretanto, o negócio ao qual se atribui o nome
securitização apresenta características marcantes, indo além dessa simples
conversão. (CHAVES, 2006, p.47).
Não obstante, ainda assim tal expressão poderia dar margem a dúvidas quanto às
dimensões empregadas, na medida em que no Brasil o termo possui diferentes aplicações no
mercado financeiro. Essa diversidade pode, em síntese, ser apresentada da forma a seguir:
Ainda de acordo com Oditah, a palavra securitização pode ser entendida de três
formas, motivo pelo qual se deve delinear exatamente o que se está querendo
identificar. A securitização pode significar simplesmente a transformação de ativos
ilíquidos em títulos negociáveis; pode também identificar operações de cessão de
recebíveis, quer siga a tal cessão, ou não, uma emissão de títulos; e ainda como o
processo de emissão de títulos de dívida (debêntures ou commercial papers, por
exemplo), quer tais papéis sejam, ou não, lastreados em ativos subjacentes.
(CAMINHA, 2007, p. 37).
E, mais, conforme destrinchado pela referida autora, ainda há aquilo que se entende
por securitização em sentido amplo, consistente na substituição das formas tradicionais de
financiamento bancário, via empréstimo e desconto de títulos, pelo financiamento através do
mercado de capitais, e em seu sentido estrito, nos seguintes termos:
Em sentido estrito, a securitização é uma operação complexa, que envolve alguma
forma de segregação de patrimônio, quer pela cessão a uma pessoa jurídica distinta,
quer pela segregação interna, e uma emissão de títulos lastreada nesse patrimônio
segregado. Assim, envolve não um, mas os três significados apresentados por
Oditah, juntos numa mesma operação específica e diferente de cada uma de suas
partes em separado. (CAMINHA, 2007, p. 38).
O presente trabalho cuidará da securitização em sentido estrito, mas com enfoque
específico no aspecto que cuida de sua primordial garantia, conforme já apontado na
introdução, qual seja; a constituição de um patrimônio separado.
14
2.2 Aspectos históricos
Quando se fala em securitização, há referência ao seu surgimento nos Estados
Unidos, na década de 70, para financiamento do mercado imobiliário, com emissão de títulos
lastreados em hipotecas, com ampla participação do governo. Entretanto, quando se fala em
mercado imobiliário e Estados Unidos, a tal “bolha imobiliária”, responsável pela atual crise
mundial, vem imediatamente à tona.
Portanto, entender um pouco do surgimento da securitização torna-se interessante
não apenas para destacar sua relevância econômica e social, mas também para que a crise
enfrentada não seja vista como um problema originado da operação de securitização em si, o
que, de fato, não ocorre.
Torna-se indispensável um regresso à origem histórica do próprio crédito imobiliário
norte-americano, especificamente das medidas de intervenção econômica adotadas pelo
presidente Roosevelt, através do conhecido New Deal.
Após a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, que culminou na
falência de bancos e grandes empresas, várias medidas foram tomadas pelo governo norteamericano, dentre elas, a criação da Security Exchange Comission, equivalente à Comissão de
Valores Mobiliários brasileira, incumbida “de coibir práticas fraudulentas no mercado de
valores mobiliários e de garantir aos investidores o acesso às informações significativas
quanto à venda desses títulos.” (CHAVES, 2006, p. 20).
À época, dado o rigor na obtenção de empréstimos para aquisição da casa própria, a
maior parte da população norte-americana valia-se do aluguel, com retração do mercado
imobiliário, vale dizer, dos bancos e da construção civil.
Nessa cena de crise habitacional uma medida de relevo foi a criação, em 1934, da
Federal Housing Administration (FHA), que se assemelha ao Sistema Financeiro de
Habitação brasileiro, tendente a reduzir os custos de financiamento para aquisição da casa
própria, através de um seguro contra inadimplência. Por essa via, na hipótese de
inadimplência do mutuário em relação ao empréstimo, a FHA quitava a dívida, arrematava o
imóvel dado em garantia hipotecária, vendendo-o em seguida. Assim, reduzidos os riscos do
financiamento, tal também se dava em relação aos seus encargos, possibilitando o acesso da
classe média aos imóveis e fomentando o mercado da construção civil.
Em 1938 foi criada a Federal National Mortgage Association (FNMA), conhecida
como Fannie Mae, sobre a qual muito se ouviu dizer na imprensa no decorrer do ano passado.
15
Referida empresa, inicialmente uma agência federal, mas privatizada em 1968, tinha
por meta:
[...] incrementar o mercado secundário de hipotecas residenciais mediante a
aquisição de créditos decorrentes de empréstimos hipotecários concedidos pelos
mutuantes, garantidos pela FHA.
A partir de 1944, diante da implementação de um programa de incentivo à casa
própria pela Veterans Administrations (VA), a FNMA também passou a adquirir dos
mutuantes créditos oriundos de empréstimos hipotecários com pagamento
assegurado por esse órgão. Anos mais tarde, ampliou as suas atividades, passando a
negociar créditos hipotecários convencionais, sem a garantia de órgãos
governamentais. Em 1981, inaugurou a emissão de valores mobiliários com
pagamento vinculado aos créditos hipotecários adquiridos perante os mutuantes.
(CHAVES, 2006, p. 21-22).
Já em 1970 foi criada a Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC),
conhecida como Freddie Mac, cujo objeto é comprar hipotecas no mercado secundário e
vendê-las como títulos lastreados em hipotecas para investidores no mercado aberto, de tal
forma “a repor oferta de dinheiro a ser emprestado para hipotecas e, desta forma, garante que
haja dinheiro para novas compras de casas.” (DiLorenzo, 2009).
O contexto de criação da FHLMC é elucidado da seguinte forma:
O surgimento da FHLMC coincidiu com um momento de instabilidade na área do
financiamento habitacional. A população estava crescendo, demandando a
disponibilização de mais moradias e, consequentemente, de mais empréstimos
hipotecários. Estes, por sua vez, frequentemente, revelavam-se inacessíveis às
camadas sociais mais baixas, tendo em vista as exigências feitas pelos mutuantes. As
associações até então instituídas pelo governo norte-americano ainda não haviam
sido suficientes para satisfazer as demandas de mercado.
O Governo Nixon enfrentou, portanto, um grande desafio no sentido de estabilizar
definitivamente o setor de financiamento habitacional, flexibilizando as exigências
para a obtenção de empréstimos hipotecários residenciais, reduzindo as enormes
desigualdades quanto às condições de financiamento entre regiões e implantando
uma nova tecnologia de redução de custos e de prazos para a obtenção de
empréstimos.
[...]
Consolidado o mercado primário e o secundário de empréstimos hipotecários,
lançadas estavam as bases para a realização da securitização de créditos vinculada a
empréstimos hipotecários, iniciada na década de 1970. (CHAVES, 2006, p. 23-24).
Ambas as empresas passaram a ter a mesma função. Mas, importante destacar, em
que pese tratar-se de empresas nominalmente privadas, contavam com privilégios implícitos e
explícitos do governo federal, daí serem tratadas como empresas “apadrinhadas do governo”.
É o que se colhe do seguinte artigo, publicado pelo Le Monde Diplomatique Brasil:
Na condição de “entidades patrocinadas pelo governo” (GES, na sigla em inglês),
dispõem de uma linha de crédito garantida pelo Estado, assim como de
financiamento a taxas preferenciais.
16
A função da Fannie Mae e da Freddie Mac era assegurar a liquidez do mercado de
crédito imobiliário, dando garantia a empréstimos ou comprando-os de volta dos
bancos. O endividamento doméstico era encorajado, uma vez que os juros sobre a
dívida imobiliária eram dedutíveis do Imposto de Renda. Fannie Mae e Freddie Mac
financiavam suas atividades através da emissão de títulos denominados “seguros
residenciais garantidos por hipoteca”. O sucesso desses papéis junto aos investidores
se devia à certeza de que, ao menos implicitamente, eram garantidos pelo governo
americano. O crescimento das duas instituições financeiras, sempre sustentado pelo
Estado, se acelerou à medida que o sistema financeiro sofria uma
desregulamentação. (WARDE, 2009).
Entretanto, os problemas dessa política se apresentaram mais tarde.
Para alcançar a tal flexibilização das exigências para obtenção de empréstimos,
foram adotadas medidas, como as implementadas pelo CRA (Community Reinvestment Act,
ou decreto de investimento comunitário), criado em 1977, através do qual o Banco Central
norte-americano (FED – Federal Reserve) passou a exigir dos bancos a realização de
“empréstimos a mutuários com capacidade creditícia duvidosa – mutuários esses que, de outra
forma, os bancos não se arriscariam a conceder-lhes empréstimos.” (DiLorenzo, 2009)
Tal restou ainda mais agravado em 1995, com novas medidas de flexibilização para
concessão de empréstimos para aquisição de moradia, impostas pelo governo aos bancos,
assim como diminuindo “a taxa básica de juros para o mínimo histórico de 1% em 2003”, de
tal forma que “as taxas hipotecárias se tornam as mais baixas da história” (THORNTON,
2009).
Todas essas medidas em seu conjunto fizeram com que fossem multiplicados os
números de empréstimos para o setor imobiliário. Estes, por força das medidas do governo,
tiveram que ser estendidos inclusive a pessoas com histórico de crédito ruim, os quais, após
comprados pela Fannie Mae e Freddie Mac, com emissão de títulos garantidos pelas
respectivas hipotecas, são denominados pelo mercado como subprime.
Assim ocorrendo, exponencialmente aumentada a demanda por imóveis, o valor
destes aumentou. E, como era de se esperar, boa parte dos mutuários não conseguiram
cumprir com as parcelas dos financiamentos. Executadas as hipotecas, arrematando-se os
bens, estes não apresentavam liquidez suficiente para fazer frente à dívida.
Esta a razão da atual crise:
O que a Fannie e o Freddie fizeram foi proporcionar uma vasta nova fonte de
procura para hipotecas. O seu papel foi estender o mercado para a dívida hipotecária,
criando oportunidades de ganhar dinheiro financeiramente num ambiente de inflação
dos preços dos activos – a Bolha Econômica. O efeito foi pressionar para cima os
preços da habitação. Isto tem sido o grande jogo americano durante um século. E ele
voltou-se cada vez mais para investidores no exterior (incluindo crédulos bancos
alemães, os quais foram os primeiros a falirem por confiarem no mercado de
17
hipotecas lixo dos EUA), inchando a oferta de fundos emprestáveis que aumentam
os preços da propriedade. (HUDSON, 2009)
O acúmulo de perdas finalmente se sobrepôs aos cenários otimistas dos analistas
financeiros. As funções e distorções do sistema de crédito hipotecário foram então
analisadas com inédito rigor. E “os mercados” se renderam à evidência; a queda dos
títulos subprime em poder da dupla Fannie e Freddie, o aumento do número de
clientes insolventes, a queda contínua do mercado imobiliário e os temores de uma
recessão compunham um quadro de matizes bastante inquietantes. (WARDE, 2009).
Percebe-se, assim, um abuso, fruto da falta de fiscalização e imprudente intervenção
estatal.
A securitização, ao menos em seu início, revelou-se eficiente, tendo sido pela
utilização desse modelo que os Estados Unidos resolveram grave problema habitacional na
década de 70. Através da securitização de créditos imobiliários, conseguiu-se o financiamento
para essa onerosa empreitada, de grande relevância social.
O insucesso dessa política, vivenciado por todo o mundo na atualidade, deveu-se à
indevida e exagerada interferência do governo no mercado, dando azo à irrestrita concessão
de empréstimos sem as cautelas de praxe. Com o conseqüente aumento do preço dos imóveis,
o fracasso desse sistema forjado foi inevitável.
Desta forma, verifica-se que essa experiência desastrosa em nada pode ser atribuída à
securitização realizada. Se tal tivesse se dado em conformidade com as regras de um mercado
livre, sem que seus agentes fossem ludibriados por uma falsa expectativa de que a operação
seria garantida pelo governo, nada disso teria ocorrido.
Tanto isso é verdade que essa operação, na atualidade, encontra-se em estágio
avançado também em vários outros países que, a cada dia, se inserem nesse mercado, atraindo
capital, financiando projetos e empresas.
A securitização passou a ser realizada, por exemplo, com os recebíveis de
administradoras de cartões de crédito, créditos oriundos da aquisição de equipamentos,
mensalidades escolares, aluguéis de carros e toda sorte de créditos comerciais e financeiros.
Esses ativos podem ser um fluxo de recebimentos, um bem, ou um direito de qualquer ordem,
desde que possam ser cedidos e gerar renda. Podem ainda ser lastro dessas operações as
receitas futuras, desde que determináveis.
São várias as vantagens da utilização da securitização, na medida em que permite a
empresas, privadas e públicas, o acesso rápido ao fluxo de caixa, ao mesmo tempo em que
diversifica suas fontes de captação de recursos e, de resto, tem disponibilidade de numerário a
um custo menor do que se valesse das formas tradicionais de empréstimo e desconto de títulos
diretamente junto a instituições financeiras. Lado outro, possibilita esse acesso também a
18
pequenas empresas, permitindo sua entrada em determinados setores econômicos, com maior
competitividade, fomentando o mercado.
Por fim, e de grande relevância, é a verificação da diluição de risco dos créditos do
originador, o qual pode valer-se da antecipação de receitas para novas empreitadas, sendo que
os investidores, adquirindo os títulos emitidos pela sociedade de propósito exclusivo, terão a
garantia de que não sofrerão eventuais conseqüências de falência daquele, tendo seu risco
limitado à realização dos créditos que serviram de lastro à emissão dos respectivos títulos.
Este é o cenário mundial da securitização, via utilizada para financiamento de
pequenos e grandes projetos, públicos ou privados, atraindo capital das mais diversas
localidades, sendo, assim, indispensável sua assimilação e harmonização como forma de
captar recursos para o mercado interno, baixar as taxas de juros, fomentando a economia
pátria, gerando empregos e ganhos de produtividade. Para tanto, a proteção do público
investidor se apresenta como questão fundamental.
2.3 Estrutura da operação
A securitização de créditos, antes de qualquer outro aspecto, revela-se como meio
hábil à circulação de riquezas, a demandar a existência de instrumentos jurídicos que
proporcionem a devida segurança. Lado outro, por encontrar-se inserida no mercado de
capitais, demanda agilidade, própria do dinamismo com que o mundo moderno exige dessa
mobilização, de tal forma que, ao mesmo tempo, várias pessoas possam se valer de um só
capital. Afinal, “os bens adquirem valor no momento em que são considerados em seu aspecto
dinâmico, com possibilidade de gerar mais riquezas, e não em seu aspecto estático.”
(CAMINHA, 2007, p. 75).
Assim, o mercado de capitais, por envolver diversas pessoas, em um processo
extremamente dinâmico de circulação de riquezas, demanda rapidez e segurança na
transferência de bens. São elementos indispensáveis, pois atribuem liquidez ao mercado de
capitais, envolvendo cada vez maior número de pessoas, muitas vezes unidas por operações
derivadas de um mesmo e único negócio.
A bem da verdade, são antigos os aspectos em comento, sobre segurança e eficiência
na circulação de riquezas, tendo despertado profundas reflexões das quais redundaram na
criação e desenvolvimento do título de crédito, instrumento hábil a esse mister, posto não
19
contar com os riscos que a causalidade subjacente à cessão de crédito representa. Foram os
títulos de crédito que ultrapassaram essa barreira existente entre os imperativos do mercado e
as normas jurídicas, o que também se verificou, posteriormente, com os valores mobiliários.
Essa questão, em evidência há séculos, foi muito bem relembrada no seguinte trecho:
Carnelutti aponta, outrossim, três critérios que podem levar à solução dos conflitos
gerados pela mobilização e circulação dos recursos financeiros, quais sejam: a) a
liberdade, já que a circulação deve fluir nas ocasiões em que dela se tenha
necessidade, e a melhor forma para indicar tal momento é a livre determinação do
mercado; b) o aspecto formal, no sentido de se deixar claro o destino dos bens que
são postos em circulação; e c) a segurança, para que as vantagens da circulação
sejam garantidas e para que ela tenha a eficácia exigida pela economia.
[...]
Nessa ordem de idéias não é necessária uma análise mais detida para se
compreender que a mera necessidade econômica não é suficiente para o
desenvolvimento dos meios de circulação de riquezas. A concepção de circulação
não é exeqüível sem a tutela do Direito, pois requer disciplina jurídica como
requisito de sua própria existência.
[...]
Assim é que, pela própria necessidade econômica, surgiram desde os institutos mais
antigos, que viabilizavam o transporte mais seguro de riquezas, até os mecanismos
mais modernos, todos, de certa forma, relacionados aos títulos de crédito. Porém, à
medida que se dissemina o uso de tais instrumentos, a tutela jurídica torna-se
essencial. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior a necessidade de
que o Direito regule as relações entre as pessoas. Assim, como os instrumentos de
mobilização de riquezas têm por função primordial fazê-la circular pelo maior
número de pessoas possível, a tutela jurídica torna-se essencial para que esses
instrumentos, criados a partir de necessidades econômicas, se tornem plenamente
eficazes e cumpram a função para a qual foram criados. (CAMINHA, 2007, p. 7577).
Curioso notar que o uso reiterado dos títulos de crédito terminou por inserir sua
prática também entre os não-comerciantes.
A securitização de crédito não é diferente nesses aspectos. Encontra-se em aplicação
em todo mundo, contando com a participação de investidores dos mais diversos perfis,
profissionais da área econômica e financeira, ou leigos, pessoas jurídicas ou pessoas físicas,
sem qualquer expertise no mercado de capitais, na busca de uma via alternativa para
investimentos e obtenção de rendimentos.
Nesse contexto de desintermediação financeira encontra-se inserida a estrutura da
securitização de créditos, que conta com vários instrumentos jurídicos para tanto, dos quais se
espera a segurança para o tráfego de interesses desse conjunto de partícipes.
A securitização tem por objetivo final a conversão de créditos sem liquidez imediata
em valores mobiliários amplamente negociáveis, gerando renda presente. Destarte, pressupõese a existência de créditos que dêem azo à emissão de valores mobiliários, assim como que
esses créditos tenham origem hábil a garantir, no futuro, a remuneração dos investidores que
20
adquiriram os títulos emitidos com lastro naqueles. Em outras palavras, é o que se destaca do
seguinte trecho:
Securitização é o processo pelo qual ativos financeiros ilíquidos, sem mercado
secundário, são convertidos em valores mobiliários ativamente negociáveis no
mercado secundário. Securitização de recebíveis, portanto, pode ser definida como o
processo pelo qual direitos creditórios ilíquidos são transformados em valores
mobiliários ativamente negociáveis no mercado secundário.
Em linhas bem gerais, uma operação de securitização de recebíveis – também
conhecidas como structured financing – engloba as seguintes etapas: uma empresa,
geralmente designada originadora, desejando receber direitos creditórios originados
em sua atividade (duplicata decorrente de venda de mercadoria, por exemplo),
promove a constituição de uma outra sociedade, de propósito específico (SPC),
denominada securitizadora. A securitizadora distribui valores mobiliários de sua
própria emissão, geralmente debêntures, captando recursos junto ao público em
geral. Esses recursos, então, são utilizados pela sociedade securitizadora para
adquirir recebíveis (ou direitos creditórios, se se preferir) da empresa originadora.
Com isso, a empresa originadora consegue receber antecipadamente os seus direitos
creditórios. Naturalmente, o recebimento antecipado de direitos creditórios pela
sociedade originadora se dá com um desconto em relação ao efetivo valor dos
recebíveis, haja vista que estes têm vencimento futuro. (FAGUNDES, 2003, p.103).
Como processo de desintermediação financeira, a utilização da securitização
demandou das instituições financeiras adaptação de suas atividades, que passaram também a
buscar por essa via a antecipação de receitas, ampliando as possibilidades de cessão de
créditos, originados de financiamentos bancários e de arrendamento mercantil a terceiros, sob
a forma de securitização de recebíveis. Não obstante, a estrutura é idêntica, podendo-se valer
da seguinte passagem para descrever, de forma mais sistematizada, as etapas que
compreendem uma securitização:
Integrando as instituições financeiras aos mecanismos e modos de securitização que
já se encontravam disponíveis para os segmentos comercial, industrial, de serviços e
de crédito imobiliário, a Resolução em destaque [Resolução nº 2.493/98 do CMN],
que será complementada por ato normativo da CVM, esperado para breve,
possibilitará que os bancos alavanquem recursos de suas operações de crédito,
acrescentando-as aos meios usuais de captação.
[...]
Em essência, portanto, a securitização completará três etapas distintas, a saber:
a) cessão de créditos pela instituição financeira cedente (que se designará, também,
como originadora) à empresa securitizadora cessionária, que formará com os
créditos, o adequado lastro da emissão de valores mobiliários; e,
b) colocação junto aos investidores desses valores mobiliários, disponibilizando
recursos para liquidar com a cedente, a operação da etapa anterior.
c) recebimento pela securitizadora (e cessionária) das prestações referidas aos
empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil (créditos
cedidos), transferindo esses montantes aos investidores, na proporção dos valores
mobiliários subscritos. (PENTEADO JR., 1998, p. 120-121).
21
Conforme resta ilustrado, a securitização de créditos apresenta-se como operação
complexa, envolvendo vários participantes e negócios jurídicos diversos, mas interligados
pelo objetivo comum que, em última análise, permite sua consumação. Ainda que não exista
legislação a obrigar a observância de uma determinada estrutura, ao menos em relação à
maioria das espécies de ativos, como regra a securitização demanda a existência de ativos a
serem securitizados, uma sociedade de propósito exclusivo, a emissão de títulos negociáveis
por este e uma agência de classificação de risco.
De um lado, opera-se entre originadora e a sociedade de propósito específico
(securitizadora) uma cessão de créditos. De outro, tem-se a emissão de títulos por esta,
garantidos pela carteira de créditos cedidos, negociados no mercado, os quais são adquiridos
pelos investidores interessados, obtendo-se os resultados financeiros necessários ao
pagamento dos créditos à originadora. Posteriormente, conforme se dê a quitação dos créditos
cedidos, são realizados os pagamentos aos investidores.
Assim, necessário que o ordenamento jurídico conte com instrumentos aptos a
conferir a devida segurança a todos os envolvidos, os quais podem ser, ainda que
inicialmente, assim especificados:
Na securitização são utilizados basicamente dois tipos de instrumento jurídico de
transferência de ativos, cada um em fase distinta da operação: inicialmente, precisase de um contrato apto a transferir segura e efetivamente os bens que servirão de
lastro à operação para o veículo de propósito exclusivo que emitirá os títulos. Em
seguida, necessita-se de instrumentos hábeis a movimentar rapidamente os valores
lastreados no patrimônio segregado.
Assim, a cessão de crédito ou de contrato, num primeiro momento, e os títulos de
crédito ou valores mobiliários, num segundo, são os instrumentos jurídicos de
mobilização de riquezas comumente utilizados em operações de securitização.
(CAMINHA, 2007, p. 78).
Um aspecto essencial dessa operação encontra-se na efetiva segregação dos ativos
transferidos pela originadora, já que estes servem de lastro para a emissão dos valores
mobiliários. Trata-se de pressuposto basilar desse negócio e ponto fundamental do presente
trabalho, tendo em vista as graves conseqüências que de sua vulneração adviriam.
Antes de se adentrar no delineamento jurídico da primeira etapa na estrutura da
securitização, qual seja, a transferência de ativos da originadora à entidade securitizadora pela
cessão de crédito, importante tecer esclarecimentos sobre as características de alguns dos
elementos que compõem a securitização.
22
2.3.1 Dos ativos e sua classificação
Como regra, todos os créditos podem ser objeto de cessão, ressalvadas as vedações
legais e contratuais, prevalecendo, assim, a regra geral do art. 2861 do Código Civil.
Desta forma, vasto rol de créditos tem sido utilizado em operações de securitização.
Entretanto, é o mercado que exige certas características, primando pela boa qualidade
dos ativos cedidos, sob pena de não se apresentar atrativa a securitização a ser realizada.
Afinal, são estes créditos cedidos que servem de lastro para a emissão de títulos e, portanto,
garantia à futura remuneração dos investidores. É o que se destaca do excerto a seguir:
A qualidade do ativo que servirá de lastro à emissão tem grande importância no
processo de securitização, pois, em última análise, a emissão terá as mesmas
características desse ativo, especialmente no que diz respeito a termo, rendimentos e
resgate. Vale salientar que quanto mais homogêneos os contratos/créditos cedidos,
mais fácil será seu agrupamento para posterior securitização. É bem mais simples a
cessão dos créditos ou contratos, no caso de contratos por adesão ou contratos-tipo:
não há necessidade de análise de cada instrumento contratual individualmente para
conhecer detalhes como a possibilidade de cessão, necessidade de aprovação ou
mera notificação do cedido. (CAMINHA, 2007, p. 109-110).
Em complemento, importante também trazer outros destaques:
Tendo em vista que a realização de uma securitização depende da cessão de créditos
de boa qualidade, estes devem não só ser pecuniários, mas, sobretudo, estar livres de
litígios, condições ou ônus suscetíveis de comprometerem os fluxos de caixa da
entidade cessionária destinados a pagar os investidores. Ademais, deverão ser
vincendos, uma vez que, se já vencidos, se enquadrariam na categoria dos créditos
inadimplidos e, portanto, de qualidade duvidosa. (CHAVES, 2006, p. 88).
Desta forma, têm sido utilizados bens e direitos de diversas naturezas, inclusive
aqueles advindos de receitas futuras, em projetos ainda a realizar, mas desde que sejam
determináveis. Aliás, essa característica tem permitido, via securitização, a realização de
projetos de interesse privado e público, que dificilmente seriam concebidos por
financiamentos tradicionais.
1
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a
convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não
constar do instrumento da obrigação.
23
Em artigo veiculado pela Moody’s Inverstors Service (2003) encontram-se bem
ilustradas diversas espécies de ativos passíveis de serem utilizados em uma securitização2 e,
em linhas gerais, aponta para “qualquer fluxo-de-caixa, atual ou futuro, que é gerado por
ativos, pode ser securitizado. À medida que o mercado de securitização vem crescendo e
tornando-se mais sofisticado, a variedade de ativos que são securitizados tem aumentado.”
Podem-se citar mais exemplos, como os a seguir:
A securitização de recebíveis, portanto, corresponde a um processo de
transformação de um conjunto de créditos presentes e futuros em garantia colateral
ou em uma posição proprietária de um título especialmente criado com esse
objetivo. Essa explicação ficará mais clara através de alguns exemplos:
• é possível financiar investimentos de modernização de um porto que atua
em exportações através da criação de uma empresa que opere essa área do
porto que será modernizada e retenha, para pagamento do investimento, as
receitas líquidas obtidas com os embarques de exportação; é preciso provar
que o projeto tem viabilidade econômica e que é auto financiável;
• é possível sanear o passivo financeiro de curto prazo de uma empresa
exportadora de “commodities” através de uma operação de securitização de
recebíveis de exportações desde que se consiga demonstrar com segurança
a continuidade das exportações futuras e mostrar a viabilidade da empresa
após o saneamento de seu passivo financeiro com o aporte de dinheiro
obtido através da operação de securitização.
• é possível alongar os passivos de curto prazo e baratear os custos
financeiros de uma indústria química ou farmacêutica securitizando de
modo rotativo seus recebíveis ou seus contratos de longo prazo.
A securitização de recebíveis é um meio para o Brasil se tornar mais competitivo
face à globalização e seus desafios, tais como a criação de empregos e ganhos de
produtividade. É também um instrumento de engenharia financeira que ajuda a
baixar as taxas de juro via desintermediação financeira. (EFC, 2005).
Esse trecho revela-se interessante não apenas por confirmar as várias facetas do que
já foi exposto, mas inovar no quesito segurança e proteção dos investidores. Conforme revela,
nas operações de securitização um dos aspectos mais relevantes é a proteção daqueles, de
forma que sua realização depende de criteriosas análises financeiras, a apontar para sua
viabilidade. Afinal, o que também se encontra em discussão é a proteção da economia
popular.
Uma das formas de revestir a operação de segurança e transparência se dá pela
utilização das chamadas agências de classificação de risco, ou agência de rating.
2
Exemplifica com créditos originados de leasings, tais como: de aeronaves, autos, equipamentos, containers
marítimos, chassis, vagões. Apontam, ainda, para diversos financiamentos: autos, barcos, giro de
concessionários, casas pré-fabricadas transportáveis e hipotecários. E, mais, ativos advindos de recebíveis de
cartões de crédito, fluxo de royalties, stranded utility costs (compensações financeiras por custos incorridos pelas
Distribuidoras de Energia Elétrica devido a mudanças regulatórias nos EUA).
24
A classificação de riscos tornou-se mais conhecida no âmbito nacional nos últimos
anos, mormente a partir de 2001, quando se discutiu o risco-país e as conseqüências da
majoração ou minoração de sua pontuação.
De fato, a terminologia é utilizada quando se pretende a profunda análise de um
mercado ou de uma empreitada. Especificamente no âmbito das securitizações essa análise é
crucial, de forma, mesmo, a avaliar a viabilidade do escopo almejado.
Para uma adequada classificação de risco, os mais diversos aspectos são
considerados, como a seguir se demonstra:
Ora, ao se considerar o início de um investimento ou de uma atividade econômica,
uma série de análises e decisões são feitas com o objetivo de determinar as
características necessárias, ou mínimas, para que tal investimento ou atividade seja
considerado desejável e atrativo para aquele que irá promovê-lo (o investidor).
Independente de sua modalidade (investimento direto, no mercado de ações,
instalações de uma subsidiária em outro país, financiamento etc.), o processo
decisório de um investimento envolve um grande número de ponderações que
variam desde o tempo necessário para recuperar o investimento feito e o início de
obtenção de lucros, a obstáculos culturais que poderão ser enfrentados por
investidores em outros países. Outros elementos de consideração podem, ainda, ser
elencados, tais como cronogramas de implementação a serem cumpridos; custos
inerentes à concretização do projeto; existência de fundos próprios ou possibilidade
de obtenção de financiamentos de terceiros; riscos legais (tais como questões de
ordem tributária, trabalhista e ambiental que decorram da realização do
investimento); planos de contingência, garantias; ambiente regulatório do local em
que a atividade será realizada; forma de operacionalização do projeto; impactos para
a imagem do investidor; riscos comerciais ou inerentes ao negócio em que se traduz
o investimento. Dependendo das circunstâncias específicas, os fatores acima
referidos e mesmo outros, podem trazer um ônus maior ou menor para o sucesso do
projeto, influindo diretamente na possibilidade de o mesmo ser realizado ou não.
(BRÍGIDO, 2004, p. 164-165).
Percebe-se, assim, que em se tratando da negociação no mercado secundário esses
aspectos ganham ainda maior importância, face à hipossuficiência de informações com que
muitas vezes se apresenta o investidor, o qual simplesmente confia que essa avaliação foi
feita, acreditando que há fiscalização da atividade e, portanto, tratar-se de uma aplicação
segura ou, quando menos, com riscos muito bem definidos.
Nesse mercado, o objeto final a ser alcançado é a qualidade do crédito envolvido na
securitização, razão pela qual todo e qualquer aspecto que possa influir na qualidade desse
crédito será considerado.
O autor retro mencionado, após citar comentários da Moody’s, uma das maiores
agências de risco do mercado mundial, e destacar a importância de uma correta análise de um
empreendimento, assevera:
25
Essa passagem mostra, também, a importância que um rating apresenta para a parte
que receberá o investimento (como o mutuário em um empréstimo bancário). Um
investimento com bom rating poderá, por exemplo, apresentar uma taxa menor de
juros ou, então, tornar desnecessária a prestação de garantias de mesma qualidade
das que seriam solicitadas caso o rating da operação em questão fosse inferior.
Prevalece, assim, a máxima de que quanto menor o risco de um investimento, menor
seu custo.
[...]
O tomador de recursos poderá, inclusive, adaptar a estrutura originalmente
pretendida para um financiamento com o escopo de atingir um rating (ou nível de
risco) considerado aceitável para aquele que disponibilizará os recursos financeiros.
(BRÍGIDO, 2004, p. 170).
A classificação de risco não representa uma garantia, mas certamente se trata de
importante etapa na formação de decisão sobre a escolha de um investimento.
Na securitização de créditos a classificação de riscos é obrigatória, conforme se
infere, por exemplo, da Instrução nº 404 da Comissão de Valores Mobiliários, de 13 de
fevereiro de 2004, que em seu art. 3º, inc. II, alínea “c”3, para salvaguardar “o interesse
público, a adequada informação e a proteção ao investidor”, exige, dentre outros requisitos, a
apresentação de “relatório elaborado por agência classificadora de risco em funcionamento no
país”.
E, mais, na mesma Instrução, em seu Anexo I, dispõe a Cláusula V, alínea “n”4, a
obrigação da securitizadora em “manter contratada agência classificadora de risco para
atualização do relatório apresentado por ocasião da colocação de debêntures, até o vencimento
das debêntures;”.
Vale dizer, a avaliação dos riscos é feita de forma constante, já que a inicialmente
feita pode sofrer modificações, a demandar renegociações ou acréscimos de outras garantias
hábeis ao pagamento dos valores mobiliários.
Para melhoria da classificação do risco de determinada securitização, além da
adequada formalização de sua estrutura, há outras medidas que podem ser tomadas pela
formação das chamadas garantias colaterais ou reforço de crédito, que também protegem os
investidores contra eventuais perdas dos ativos-base.
3
IN nº 404 CVM, art. 3º. A CVM poderá, a seu critério, e sempre observados o interesse público, a adequada
informação e a proteção ao investidor, deferir o registro de distribuição de Debêntures padronizadas mediante
análise simplificada dos documentos e das informações submetidas, desde que, cumulativamente, o pedido de
registro: [...] II – esteja instruído com: [...] c) relatório elaborado por agência classificadora de risco em
funcionamento no País;
4
IN nº404 CVM, ANEXO I, Cláusula V – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
A EMISSORA está adicionalmente obrigada a: [...] n) manter contratada agência classificadora de risco para
atualização do relatório apresentado por ocasião das debêntures, até o vencimento das debêntures; e”
26
Estas garantias podem se dar tanto no âmbito interno da operação, vale dizer,
prestadas pela própria originadora, como no âmbito externo, por terceiros. Exemplo dessa
última se verifica na contratação de seguro. Das primeiras, tem-se a “sobre-colaterização” ou
“supercolaterização”, que consiste no fornecimento, pela originadora, de uma quantidade de
ativos maior em relação aos valores mobiliários emitidos, de forma que “se o fluxo-de-caixa
gerado pelos ativos securitizados é menor do que o esperado, o fluxo-de-caixa gerado pelo
colateral adicional fica disponível para absorver as perdas.” (MOODY’S, 2003).
Entretanto, certamente que essas medidas, em especial as de âmbito externo, oneram
a operação.
2.3.2 Da sociedade de propósito exclusivo
A nomenclatura sociedade de propósito específico advém da tradução do modelo
norte-americano special purpose company. Críticas foram feitas na medida em que toda
sociedade empresária possui objeto delimitado e, assim, não designaria de forma adequada o
seu propósito. Em decorrência disto, há os que prefiram a utilização das expressões sociedade
de propósito exclusivo, sociedade de objeto exclusivo ou, ainda, veículo de propósito
exclusivo.
Em se tratando de operação de securitização, a constituição de uma sociedade de
propósito exclusivo poderia se dar, em princípio, observando-se quaisquer dos tipos
societários previstos no Código Civil.
Todavia, é comum a utilização da sociedade anônima, seja pelo fato de assim
determinar o normativo pátrio, conforme a natureza do crédito, seja por ser essa sociedade a
única hábil a emitir debêntures, valor mobiliário muito utilizado. É o que se dá, por exemplo,
por força da Resolução nº 2.686, de 27 de janeiro de 2000, do Conselho Monetário Nacional
(CMN)5, que “Estabelece condições para a cessão de créditos a sociedades anônimas de
objeto exclusivo e a companhia securitizadoras de créditos imobiliários”, e impõe a
constituição da sociedade sob a forma de uma sociedade anônima, para utilização de créditos
financeiros. Nesse sentido:
5
Essa determinação já se encontrava prevista desde a Resolução nº 2.026 de 26/11/1993, revogada pela
Resolução nº 2.493 de 08/05/1998, que por sua vez foi revogada pela Resolução nº 2.686 de 27/01/2000, todas
do CMN.
27
A empresa, que se dedicará a operacionalizar a securitização será, necessariamente,
constituída sob a forma de sociedade anônima, constando de sua denominação, a
expressão Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, tendo objeto social
exclusivo, isto é, dedicado apenas aos procedimentos, aqui comentados, nos moldes
das Special Purpose Companies (SPC) do direito norte-americano. (PENTEADO
JR., 1998, p. 122).
A constituição de uma sociedade de propósito exclusivo tem sido muito utilizada no
Brasil na pretensão de buscar a segregação de parcela do patrimônio de determinada pessoa
para consecução de um objetivo específico.
Não obstante a polêmica que envolve a formação de patrimônio separado ou de
afetação, o que será abordado posteriormente, essa expectativa apresenta-se relevante na
securitização de créditos para a conseqüente redução do risco que, de outra forma, em muito
prejudicaria a operação. Nesse sentido, tem-se:
Outro princípio essencial da securitização repousa na perspectiva de segregação do
risco empresarial e negocial da originadora, em face dos créditos que cede, no
sentido de que, uma vez cedido o lastro para a securitizadora, não deve remanescer
nenhum vínculo jurídico entre a securitizadora e a originadora, em relação aos
créditos cedidos; [...]
Essa separação entre securitizadora e originadora, na verdade, é de ordem
patrimonial e de risco da própria atividade da instituição, vale dizer, os investidores,
titulares dos valores mobiliários, lastreados nos créditos, não se sujeitam – em tese –
aos eventos que se relacionem a aspectos ligados a oscilações do patrimônio da
originadora e nem de intervenções ou liquidações; nesse sentido, deflui da legislação
que cuida desses atos interventivos do Banco Central, bem assim da praxis, em
relação aos casos concretos, que as empresas não financeiras, associadas a grupos
financeiros não são atingidas ou comprometidas, diretamente, por essas ações.
(PENTEADO JR., 1998, p. 121).
Justamente pela importância da efetiva segregação patrimonial na operação de
securitização é que nos Estados Unidos utiliza-se a figura do trust, própria do ordenamento
jurídico dos países de tradição anglo-saxônica, que apresenta diversas vantagens quando
comparado às possibilidades existentes nos países de tradição romano-germânica.
Quanto às peculiaridades do trust, primeiro alarde dos problemas a serem
enfrentados neste trabalho, se tratará mais adiante. Por ora, e em curtas linhas, cabe apresentálo da seguinte forma:
O “trust” é instituto oriundo do Direito anglo-americano, utilizado
internacionalmente, que está bastante difundido e existe inclusive em diversos
ordenamentos jurídicos de países da América Latina. Basicamente, o “trust”
pressupõe a transferência fiduciária da propriedade da coisa, ou do direito, daquele
que constitui o “trust”, designado “grantor” ou “settlor”, para as mãos do “trustee”.
28
O “trustee” recebe tal coisa ou direito com a obrigação de administrá-la em
benefício, ou para uso e gozo de um terceiro, chamado “cestui que trust”.
O “trustee”, embora possua a aparência de proprietário perante terceiros, em relação
à coisa ou ao direito que lhe foi confiado, não pode usufruí-lo ex dominio. Não
existe, portanto, possibilidade de confusão legal entre o patrimônio pessoal do
“trustee” e aquele recebido “in trust for”, cada qual submetido a um regime jurídico
próprio. (STUBER, 1989, p. 103).
Nesses moldes, o settlor atua como originador e o trustee equivale à entidade de
propósito exclusivo, sendo beneficiários os investidores.
Na prática dos países de tradição anglo-saxônica o trust se presta às mais diversas
finalidades e, conforme já é possível inferir do excerto retro transcrito, apresenta como maior
característica a efetiva afetação do patrimônio transferido à finalidade almejada, o qual não se
comunicará com nenhuma futura e eventual dívida do settlor ou do trustee.
Ademais, tendo em vista as peculiaridades de que se reveste, a realização de um trust
confere ao trustee apenas parcela dos direitos de propriedade, necessários ao cumprimento do
seu múnus, não encontrando idêntica peculiaridade nos institutos oriundos do sistema
romano-germânico. Em outras palavras, constitui-se uma dupla propriedade sobre um mesmo
bem ou conjunto de bens, mas sem que tal represente um condomínio, por exemplo.
A base desses entraves para uma eficiente formatação jurídica na realização da
securitização de crédito no Brasil pode ser traduzida nas seguintes palavras:
No Brasil, seja pela não aceitação do regime de dupla propriedade, pela forma
incipiente com que o patrimônio de afetação ainda é tratado ou pela ausência de
instrumentos eficazes de controle e fiscalização do trustee por parte do Judiciário, o
trust não foi adotado no âmbito da securitização nacional.
Assim, outro caminho não restou aos engenheiros do mercado de capitais senão
buscar alternativas que proporcionassem vantagens análogas àquelas conferidas pelo
trust. Foi assim que surgiram as sociedades de propósito específico e,
posteriormente, os fundos de investimento em direitos creditórios, chamados neste
trabalho de entidades de propósito específico. (CAMINHA, 2007, p. 143)
Não obstante, a sociedade de propósito exclusivo deverá ser constituída, devendo seu
objeto restringir-se à aquisição de créditos e respectiva emissão de valores mobiliários
garantidos por aqueles. Essa exclusividade visa também à garantia da operação, evitando-se a
possibilidade da securitizadora apresentar dívidas oriundas de outros negócios. Tal representa
maior segurança aos investidores e também à própria originadora, que não corre o risco de ver
os ativos cedidos se perderem antes do efetivo recebimento da quantia pactuada na cessão.
A sociedade de propósito exclusivo não pode contar com qualquer outra obrigação
senão a de receber créditos e realizar os respectivos pagamentos, inclusive das despesas
geradas na operação, não buscando lucro.
29
Verifica-se, assim, que a “existência da securitizadora e o objetivo da operação de
securitização vinculam-se à antecipação em favor da instituição originadora dos montantes
correspondentes aos recebíveis de que esta dispõe, não sendo concebida a securitizadora como
um fim em sim mesmo” (PENTEADO JR., 1998, p. 121).
No Brasil, outro sério problema às securitizações adveio da alta carga tributária
aplicada às sociedades de propósito exclusivo. Como alternativa, cuidaram os próprios órgãos
reguladores, em especial o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores
Mobiliários, de buscar outras vias, culminando na utilização de fundos de investimento, mas
que em nada desnaturaram a estrutura em comento.
A idéia de utilização de fundos de investimento não é nova, já tendo sido utilizada
em outras operações, sendo que na securitização há países que a prefiram, como é o caso da
França. Esse panorama e algumas questões que envolvem os fundos de investimento
encontram-se descritos na seguinte passagem:
O Direito Brasileiro consagra a existência dos fundos, tanto na área comercial e
financeira, como na Administração Pública. O Fundo é patrimônio com destino
específico, abrangendo elementos ativos e passivos vinculados a um certo regime,
que os une, mediante a afetação dos bens a determinadas finalidades, que justifique a
adoção de um regime jurídico próprio. Na terminologia jurídica, o conjunto de bens
com regime próprio pode constituir uma universalidade de direito (universitas juris),
quando prevista em lei, ou uma universalidade de fato (universitas facti), quando
decorrente de situações fáticas.
[...]
Os Fundos do Mercado de Capitais não têm personalidade jurídica e os de Direito
Público podem tê-la ou não conforme determinar o diploma legal que os constituiu.
Mas já existe ampla regulamentação que, nos últimos vinte e cinco anos, admitiu,
tanto no Brasil, como no Exterior, que os fundos do mercado de capitais tivessem
patrimônio e capacidade processual, sem atribuir-lhe, todavia, personalidade
jurídica, constituindo, assim, uma forma especial de condomínio, diferente do
comum previsto pelo Código Civil. (WALD, 1990, p. 81)
E assim tem sido, reconhecendo-se os fundos como um condomínio de natureza
especial, dotado de patrimônio e contabilidade próprios, assim como de representação em
juízo, ainda que não possua, efetivamente, personalidade jurídica.
No Brasil existem duas espécies de fundos de investimento, quais sejam; os fundos
de investimento imobiliários, tendo suas cotas lastreadas em bens e direitos de natureza
imobiliária, e os fundos de investimento em direitos creditórios.
Natália Cristina Chaves (2006) lembra que pela utilização dos fundos, por serem
desprovidos de personalidade jurídica, não há incidência de Programa de Integração Social
(PIS), do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), da
30
Contribuição para Seguridade Social (COFINS), da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e IOF.
Mas a operação na qual se encontra inserido é a mesma daquela outra. Vale dizer,
tornou-se opção hábil em uma securitização de crédito, como se colhe:
A bem da verdade, as operações de securitização de recebíveis e aquelas envolvendo
fundos de investimento em direitos creditórios são praticamente idênticas. Em
ambos os casos, há uma sociedade que originou direitos creditórios em operações
com seus clientes (venda de mercadorias, prestação de serviços etc.), cedendo estes
direitos para uma outra entidade, que irá colocar valores mobiliários por ela emitidos
junto ao público, e pagar a originadora pelos direitos que adquiriu com os recursos
captados no mercado. A diferença está em que, nas operações de securitização, é a
sociedade de propósito específico, uma sociedade anônima, quem recebe os direitos
e capta recursos, para pagá-los, no mercado, através da colocação de valores
mobiliários de sua emissão. E, nos casos dos fundos de investimento em direitos
creditórios, o fundo, vale dizer, um condomínio, desempenha o papel de sociedade
de propósito específico. (FAGUNDES, 2003, p. 104).
Trata-se, portanto, de estrutura alternativa para a realização da securitização.
Todavia, se por um lado resta minorado o impacto tributário da operação, há outros
inconvenientes na utilização dos fundos, como, por exemplo, o fato das cotas dos fundos de
investimentos não serem valores mobiliários com ampla utilização no mercado de capitais, ao
contrário das debêntures emitidas por sociedades securitizadoras. É o que alerta o retro citado
autor, acrescentando que “a adoção de uma ou de outra estrutura financeira dependerá das
especificidades de cada caso concreto” (FAGUNDES, 2003, p. 105).
Em ambas as formas se mantém a discussão sobre o aspecto elementar da operação,
da capacidade que dela se espera em relação à afetação dos ativos cedidos, tal como se dá no
modelo norte-americano, alcançado pela utilização do trust.
Sobre o tema, veja-se o quanto segue:
A situação do Fundo, no Direito brasileiro do mercado de capitais se explica, pela
influência que o Direito norte-americano exerceu sobre a nossa legislação do
Mercado de Capitais, ensejando a consagração, tanto na Lei das Sociedades
Anônimas, como nas demais normas sobre mercado de capitais, de institutos novos,
destacados do nosso Direito Civil e Comercial tradicional, como são o Fundo e o
agente fiduciário, e ensejando assim a entrada, na prática legislativa e regulamentar
brasileira, de figuras análogas ao trust existente no Direito anglo-saxão. Por outro
lado e num movimento paralelo, a Jurisprudência tem discutido e reconhecido a
existência e a importância crescente dos chamados “negócios fiduciários”,
entendendo que defluem das declarações ou manifestações dos indivíduos e do
princípio contratual básico da autonomia da vontade, não necessitando de normas
legais específicas para que sejam reconhecidas a sua validade e legitimidade.
(WALD, 1990, p. 18).
31
Em síntese, estes são os modelos utilizados como sociedade de propósito exclusivo,
nas operações de securitização de créditos realizadas no Brasil.
2.3.3 Da cessão de crédito
Um dos aspectos mais importantes da securitização encontra-se na adequada
realização da cessão dos créditos que servirão de lastro à emissão dos valores mobiliários.
Afinal, é através dela que se transferem os ativos da originadora à securitizadora (SPE) e,
outrossim, transfere-se a relação jurídica existente com os devedores deste crédito.
A cessão de crédito é tratada no Código Civil de 2002 no capítulo das obrigações,
nos arts. 286 a 298, não apresentando diferenças relevantes em relação à redação dos arts.
1.065 a 1.077 do Código Civil de 1916, podendo ser definida do seguinte modo:
Chama-se cessão de crédito o negócio jurídico em virtude do qual o credor transfere
a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o
direito respectivo, com todos os acessórios e todas as garantias. É uma alteração
subjetiva da obrigação, indiretamente e realizada, porque se completa por via de
uma trasladação da força obrigatória, de um sujeito ativo para outro sujeito ativo,
mantendo-se em vigor o vinculum iuris originário. Difere da novação e do
pagamento como sub-rogação (v. ns. 162 e 159), em que não opera a extinção da
obrigação, mas, ao revés, permanece esta viva e eficaz. Apenas, a soma dos poderes
e das faculdades inerentes à razão creditória, sem modificação no conteúdo ou
natureza da obligatio, deslocam-se da pessoa do cedente para a daquele que lhe
ocupa o lugar na relação obrigacional. (PEREIRA, 1995, p. 253-254).
Portanto, não há extinção ou modificação do conteúdo da obrigação e também não
cria “nova relação jurídica, transmitindo apenas a antiga ao terceiro cessionário.” (FIUZA,
2008, p. 360).
Como regra, todos os créditos ou direitos obrigacionais são transmissíveis, “pois em
princípio todos são suscetíveis de mutação, como qualquer elemento integrativo do
patrimônio. Por exceção, e somente por exceção, será defesa.” (PEREIRA, 1995, p. 256). Não
obstante, “em relação a alguns deles, a própria natureza da obrigação, as determinações legais
ou a convenção existente entre as partes excluem a transmissão.” (WALD, 1995, p. 155).
Dentre as proibições legais têm-se aquelas que não possuem conteúdo
exclusivamente patrimonial, como, por exemplo, o pátrio poder e as obrigações de natureza
personalíssima, como o direito a alimentos. Já pela natureza da obrigação, veda-se a cessão
apenas dos acessórios, sem a transferência do principal.
32
Os créditos a serem cedidos podem ser das mais variadas naturezas, desde que
tenham aptidão de gerar renda, podendo mesmo tratar-se de crédito futuro. A antiga celeuma
quanto à possibilidade de cessão de crédito futuro restou encerrada, uma vez que o atual
Código Civil, em seu art. 1046, tornou possível tal realização, desde que o objeto desse
negócio jurídico seja determinável.
Para a validade da cessão em relação a terceiros, assim entendidos todos aqueles que
não participaram de sua realização, incluindo-se, portanto, o devedor e quaisquer outros, deve
ser observada sua forma, assim como a notificação do devedor.
A cessão pode se dar por instrumento particular, salvo se versar sobre crédito que,
por sua natureza, demande forma pública, como no caso de crédito hipotecário. Assim, se
realizada por instrumento particular, deve ser levada a registro, garantindo a devida
publicidade ou, segundo parte da doutrina, a própria validade.
Outra questão relevante da cessão de crédito encontra-se na notificação do devedor,
tal como determina o art. 2907 do Código Civil, dando-lhe ciência do negócio jurídico
realizado entre cedente e cessionário, vinculando-o a ela. Embora não seja obrigatória para a
viabilidade da cessão, as implicações dessa medida são extremas tanto para aquele quanto
para este último, como se verifica:
A notificação marca, assim, um momento de singular importância, por duas razões.
a) Até sua ocorrência o devedor pode validamente resgatar o seu débito, pagamento
ao credor primitivo (CC, art. 1.071, 1ª parte); mas, desde o instante em que foi
intimado da transferência do crédito, não mais lhe é facultado fazê-lo, pois que a
notificação tem o condão de ligá-lo à nova relação jurídica.
b) No instante em que é notificado, o devedor pode opor, tanto ao cedente, como ao
cessionário, as exceções que lhe competirem; assim sendo, poderá alegar que já
pagou a dívida, que ela se compensou, ou a existência de vícios, tais como o erro,
dolo ou coação. Se o não fizer nesse momento, não poderá fazê-lo mais tarde,
porque seu silêncio equivale à anuência com os termos do negócio e revela seu
propósito de pagar ao cessionário a prestação objeto da cedência. (RODRIGUES,
1995, p. 303).
Cumpre advertir que tais oposições por parte do devedor, que devem
obrigatoriamente ser aduzidas tão logo seja notificado, se referem tão somente às exceções
pessoais que pudesse ter contra o credor primitivo. Mas, em relação ao cessionário, a questão
é outra, como melhor elucidado a seguir:
6
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: (...) II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por
notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.
7
33
Já em relação ao cessionário, as exceções a este oponíveis podem ser argüidas a todo
tempo (De Page), isto é, tanto no momento da cessão, ou de sua notificação, quanto
no em que o cumprimento lhe seja exigido, porque o cessionário, substituindo o
credor primitivo, se apresenta ao devedor com a qualidade creditória, a que pode ser
oposta qualquer exceção, na faculdade reconhecida a todo devedor de argüi-la contra
a pretensão de seu credor. Não pode, porém, opor ao cessionário de boa-fé a
simulação do cedente (Anteprojeto de Código de Obrigações, art. 169). (PEREIRA,
1995, p. 265).
A cessão também pode se dar em relação a contratos, sendo que o principal
inconveniente dessa forma se sujeita à expressa anuência do outro contratante, enquanto na
cessão de créditos torna-se necessária tão somente a notificação.
Quanto aos efeitos da cessão em relação ao cedente e ao cessionário, um diz respeito
à transferência da relação jurídica e, outro, em relação à garantia do negócio.
Conforme já anunciado linhas atrás, a cessão opera a trasladação do vínculo
obrigacional a todas as suas características, vale dizer, o cessionário “recebe o crédito como
se achar, com todas as suas vantagens (acessórios e garantias) e desvantagens (prescrição
etc).” (FIUZA, 2008, p. 362).
Entretanto, quando menos, o cedente é obrigado pela existência da dívida à época do
negócio, pela realidade do crédito transferido naquele exato momento (veritas nominis), não
respondendo pela solvência do devedor (bonitas nominis). É o que se extrai da literalidade do
art. 2958 do Código Civil, o qual encontra adequada análise no seguinte trecho:
Note-se que o cedente responde pela existência do crédito e não pela solvabilidade
do devedor. Isso decorre da própria natureza desse tipo de ato, pois a cessão a título
oneroso é negócio especulativo. Aquele que adquire um crédito paga, no geral,
menos que o seu valor nominal, procurando um proveito; o preço variará, mesmo na
razão direta da maior ou menor facilidade ou perspectiva de receber o principal.
Existe uma álea no empreendimento, que o cessionário enfrenta: a busca do lucro.
Se o cedente ficasse responsável pelo risco, tal álea inexistiria. Portanto, e quando
nada se estipulou, no negócio de cessão o cedente só garante a existência do crédito,
não a solvabilidade do cedido. (RODRIGUES, 1995, p. 305).
Mas há a hipótese do cedente e cessionário estipularem o contrário, ou seja, a
responsabilidade pela solvência do devedor. Nesse caso, importantes são os apontamentos
feitos pelo autor retro mencionado, a demandar as devidas limitações dessa hipótese, prevista
atualmente no art. 2969 do Código Civil, sob pena de desnaturar as características peculiares a
uma cessão de crédito:
8
Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao
cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas
cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.
9
Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor.
34
Todavia, podem as partes avençar que o cedente responde também pela
solvabilidade do devedor (CC, art. 1.074). Entretanto, a menos que haja estipulação
em contrário, deve-se entender que o ajuste envolve duas limitações.
a) O cedente garante apenas a solvabilidade do devedor no instante da cessão. Não
se torna um coobrigado, um avalista, e só responderá pela dívida que o cedido não
resgatou, se ficar demonstrado que, ao tempo da cessão, este já era insolvente.
b) No caso do cedente se responsabilizar pela solvência do devedor, a lei só o obriga
a responder até a concorrência da importância que houver recebido, acrescida dos
juros e despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança (CC,
art. 1.075). Tal regra se funda na idéia de que, no momento em que o cedente
garante a solvabilidade do devedor, o negócio deixa de ser aleatório, não mais se
justificando, por parte do cessionário, um lucro desmerecido, só cabível com
remuneração de um risco. Se o cessionário percebesse um proveito, sem qualquer
risco, ocorreria enriquecimento sem causa. De sorte que o legislador apenas o poupa
de um prejuízo, ao ordenar o reembolso.
Aliás, tal norma se inspira também no propósito de combater a usura. Sem ela o
cessionário emprestaria impunemente dinheiro à taxa usurária, pois compraria barato
créditos inseguros, recebendo a final a totalidade dos mesmos, quer do devedor
cedido, quer do cedente. (RODRIGUES, 1995, p. 305-306).
O Código Civil traz ainda a hipótese da penhora do crédito (art. 29810), vedando sua
transferência pelo credor que dela conhecer. Entretanto, se operada a cessão e vier a ocorrer
futura penhora ou futura perda judicial do crédito, decorrente de causa anterior à realização da
cessão, também nessa hipótese remanesce a responsabilidade do cedente pela existência do
crédito, já que “a sentença proferida posteriormente, mas fundada em causa preexistente,
opera como se ao tempo da cessão já não mais houvesse aquele.” (PEREIRA, 1995, p. 263).
No presente trabalho apenas se buscou apontar para as questões relativas à cessão
que guardam pertinência com uma securitização de crédito. E, de tudo quanto foi exposto,
revela-se que apesar da causalidade inerente aos créditos cedidos permanecer hígida em
relação aos seus devedores, tal se justifica pela busca de um efeito mais benéfico, com a
cessão à SPE, relativo à minoração dos riscos próprios da atividade geral da originadora.
A bem da verdade, as características dos créditos cedidos, umbilicalmente ligados ao
negócio realizado entre devedores e originador cedente, assim como a possibilidade de
inadimplência daqueles, são sempre objeto de avaliação pelas empresas de rating, de forma a
classificar o risco e fixar o preço da cessão. Ademais, esses riscos em relação a alguns dentre
inúmeros devedores restam diluídos, sem comprometer a operação em seu todo.
Mas, em relação à originadora-cedente, a cessão a uma SPE representa a esperada
redução dos riscos para os investidores, o que não ocorreria caso a emissão de títulos se desse
pela própria originadora. Afinal, pela cessão a uma sociedade de propósito exclusivo busca-se
10
Art. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da
penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o
credor os direitos de terceiro.
35
o efeito próprio da segregação desses ativos cedidos, de tal forma que quaisquer dívidas da
originadora não poderão, em tese, encontrar satisfação nesses mesmos ativos. É o que destaca
também o referido trecho:
Tal efeito não seria possível caso a própria originadora emitisse os títulos ou valores
mobiliários aos investidores, ainda que com garantia real correspondente ao penhor
dos aludidos créditos. Isso porque, numa eventual falência daquela, os créditos que
serviram de garantia aos títulos emitidos poderiam ser desvinculados destes para, no
procedimento concursal, satisfazer aos credores com prioridade legal sobre os
investidores. Destarte, os investidores estariam sujeitos a não receberem da
originadora o valor decorrente do resgate dos seus títulos ou valores mobiliários.
(CHAVES, 2006, p. 92).
Essa importância também é ressaltada abaixo, com ênfase na efetiva transferência
dos ativos, na busca da formação do patrimônio separado e consequente garantia dos
investidores:
Apesar de não ser o instrumento mais adequado à circulação de riquezas, a cessão de
crédito tem papel fundamental na fase inicial da securitização. No momento da
estruturação da operação, é normalmente por meio desse tipo de negócio jurídico
que é segregado o patrimônio que servirá de lastro para a emissão. Nessa fase, a
cessão se torna eficiente, pois a operação não envolve um número grande ou
indefinido de partes. A cessão é feita do originador ao VPE.
A transferência dos ativos é o cerne da securitização, sendo ela o seu diferencial em
relação a emissões simples de valores mobiliários. A segregação é o elemento
delimitador do patrimônio que garante o crédito dos adquirentes dos títulos emitidos
na securitização. É a transferência que vai restringir os ativos que respondem pelo
pagamento da remuneração e resgate dos títulos, e também vai separar tais ativos do
patrimônio geral do originador, de forma a protegê-lo de eventuais credores. É de
suma importância, assim, que essa transferência se dê de forma efetiva, e não apenas
virtual. Para reforçar a segurança da operação, os ativos devem realmente deixar o
domínio do originador e passar ao emissor. (CAMINHA, 2007, p. 79-80).
Percebe-se, assim, que a cessão de crédito a uma sociedade de propósito exclusivo se
dá na busca da segregação patrimonial dos ativos em relação ao patrimônio geral da
originadora. Para tanto, imprescindível que se cumpram todas as formalidades previstas no
Código Civil, a garantir a validade do negócio, o que, por outro lado, representa um relevante
custo adicional.
Em uma securitização o montante dos ativos cedidos é elevado e, de igual forma, a
quantidade de notificações que se deve realizar. Ademais, por diversas vezes novas cessões
ocorrem no curso da operação, sendo que o cumprimento dessas formalidades dificultam o
seu fluxo, que deve ser dinâmico. Tanto essa elevação dos custos, quanto a obrigatoriedade de
cumprimento das formalidades, apresentam-se problemáticas em uma securitização de
créditos.
36
2.3.4 Dos valores mobiliários
Apesar das minúcias relativas à emissão dos valores mobiliários pela sociedade de
propósito específico não se encontrarem dentre os aspectos da securitização de crédito que no
presente trabalho se pretende enfocar, ainda assim é recomendável sucinta abordagem sobre
os mesmos, seja para permitir a visualização da operação em sua íntegra, seja, principalmente,
para destacar a importante discussão que se esconde por detrás de sua conceituação, relativa à
necessidade de fiscalização estatal.
Curioso apontar que a realidade do mercado vem demandando adaptação dos
próprios títulos de crédito, na medida em que novas tecnologias, com intensificação de
utilização da internet nas operações bancárias e na bolsa de valores, demandam formas ainda
mais ágeis na circulação de riquezas. Não à toa que desde o Projeto de Código Civil alguns
doutrinadores sugeriram o trato da matéria, inclusive no que diz respeito à descartularização.
Os valores mobiliários apresentam diversas características dos títulos de crédito, já
que ambos buscam a circulação célere e segura de riquezas, sendo apontados por alguns como
espécies destes. Aliás, essa similitude decorre da conveniência de se utilizar o mesmo sistema
de circulação dos títulos de crédito, mormente no que se refere à circulação, legitimação e
titularidade, o que terminou pela utilização de alguns títulos de crédito como valores
mobiliários, apesar de conceitualmente diferentes.
A característica mais marcante, a diferenciar uns dos outros, refere-se à bilateralidade
do negócio, comum na emissão de títulos de crédito no comércio, mas quando se trata de
emissão de valores mobiliários há uma circulação em massa no mercado, de forma
indiscriminada, para um público indeterminado. É o que se dá, por exemplo, com as notas
promissórias comerciais ou commercial papers, títulos de crédito utilizados como valores
mobiliários.
Os valores mobiliários possuem alguns requisitos específicos, inclusive sua
vinculação a pessoa jurídica que o emitiu.
O que se busca é a maior segurança, a demandar a fiscalização estatal, conforme se
destaca:
De acordo com Ary Oswaldo Filho, o conceito de valor mobiliário se impõe, e é
mesmo necessário para a demarcação da legislação a ele inerente. Da mesma forma,
o seu conceito é necessário para delimitar o campo de atuação do governo para
regular a área ligada à capitalização de empresas e o acesso à poupança pública.
Assim, para o autor, a conceituação de valor mobiliário não é simplesmente formal,
37
mas serve para “delimitar o campo de atuação dos órgãos do Poder Executivo
Federal encarregados de normatizar e incentivar o seu uso”. (CAMINHA, 2007, p.
94).
Essa fiscalização é exercida pela Comissão de Valores Mobiliários e, em alguns
casos, pelo Banco Central.
Esse problema conceitual do que pode ser considerado valor mobiliário não é novo,
já tendo sido apontado há décadas, dada sua extremada importância. Afinal, estabelecido esse
conceito, há necessária fiscalização para efetiva proteção do público investidor.
No Brasil ocorreu inegável influência do sistema norte-americano. Neste,
relativamente ao conceito de security ou securities, leis federais tratam do assunto,
genericamente conhecidas como Securities Acts, praticamente idênticas, mas de forma
deficiente, conforme destaca Luís Gastão Paes de Barros Leães, após citar a referida definição
legal:
O termo security compreende toda nota, ação, ação em tesouraria, obrigação,
debênture, comprovante de dívida, certificado de direito em todo tipo de contrato de
participação de lucro, certificado de depósito em garantia, parte de fundador,
boletim de subscrição, ação transferível, contrato de investimento, certificado de
transferência de direito de voto, certificado de depósito de títulos, co-propriedade de
direitos minerários e petrolíferos, e, de uma maneira geral, todo o instrumento ou o
direito comumente conhecido como security, ou ainda todo certificado de
participação ou interesse, permanente ou temporário, recibo, garantia, direito à
subscrição e opção referentes aos títulos e valores acima mencionados”
A definição acima, desde logo, não nos satisfaz, por lhe faltarem os elementos
fundamentais próprios de toda definição. [...]
Ora, a definição legal acima transcrita de security desobedece a essas regras.
Primeiro, não estabelece os “limites conceituais” do objeto definido: apenas
enumera tipos da entidade designada pela definição. De resto, essa enumeração não
é exaustiva: é puramente exemplificativa (numerus apertus). Ademais, com a
expressão final: “or in general, any interest or instrument commonly known as
security”, a definição inclui, no seu contexto, a própria coisa definida, agredindo
uma das regras básicas da boa conceituação. Longe, pois, de fornecer a “essência”
do conceito de security, o legislador se limita a enumerar, exemplificativamente,
tipos que partilhariam de uma essência comum, de resto deixada indefinida.
(LEÃES, 1974, p. 43-44).
Essa deficiência demandou vários ajustes por parte dos tribunais norte-americanos
que, paulatinamente, conforme o surgimento de casos inusitados, extraíram a essência daquilo
a ser considerado security, ou valor mobiliário. Isso permitiu que, quando da análise de outras
modalidades de negócios, fosse possível apontar para a existência, ou não, de uma security,
especialmente nos esquemas que se apresentavam sob a forma de investment contract, ou seja,
contrato de investimento.
38
O retro citado autor traz importantes passagens dessa evolução jurisprudencial.
Lembra que em 1946 a Suprema Corte norte-americana apreciou um caso que passou a servir
de base para as futuras depurações do sentido ali encontrado. Trata-se do caso Howey
Company, no qual esta vendeu pequenos lotes de terra destinados ao plantio de frutas cítricas,
existindo um anexo ao contrato de compra e venda que previa a prestação de serviços de
plantio, cultivo e futura comercialização das frutas por empresa subsidiária da vendedora.
Foram centenas as pessoas compradoras dos lotes. Entretanto, eram desprovidas de
conhecimento técnico ou de equipamentos tendentes à realização da produção pretendida.
Lado outro, não possuíam nenhum poder decisório ou gerencial em relação a esse escopo,
cabendo a condução dos negócios exclusivamente ao esforço de terceiros ou à própria
vendedora. Desta forma, o que existia em relação a essas pessoas, compradoras dos lotes, era
apenas a expectativa de lucro advinda desse empreendimento comum, concluindo-se pela
configuração de contrato de investimento e, portanto, security.
Esse entendimento foi aplicado sucessivamente, sempre que presente a captação de
recursos de forma generalizada, associada às características ali contidas. “O caso Howey
fornecia, assim, pela primeira vez, uma definição de contrato de investimento, que, por uma
curiosa operação de raciocínio, passou a ser a própria definição de ‘security’”. (LEÃES,
1974, p. 47).
De fato, por sugerir a prevalência da realidade econômica sobre a forma empregada,
extraiu-se desse caso o fator comum a definir, inclusive, as demais espécies de securities.
Assim, através dessa “fórmula Howey”, como ficou conhecida, os tribunais estaduais e
federais passaram a empregá-la na solução dos casos que lhes eram submetidos.
É bem verdade que esse conceito foi depurado em alguns aspectos, com relevo no
que diz respeito à captação dos recursos, que deve ser destinada ao público em geral, ou seja,
possuir caráter público, e não uma captação de caráter privado, na qual fazem parte
investidores específicos.
Essa característica possui estreita relação com o acesso a informações e também
quanto ao grau de ingerência no negócio a ser realizado. Na captação de caráter privado,
como regra, há amplo acesso às informações por parte dos investidores, necessárias à análise
do negócio, e também há a possibilidade de atuação direta na sua condução. Já nos
investimentos de caráter público isso raramente se dá, principalmente no que se refere ao
primeiro aspecto. Daí resultar uma das características mais marcantes da definição de
security, qual seja, a passividade do investidor.
39
Mas disso não se deve extrair que com a aquisição de securities pelo público em
geral foi outorgada a garantia de um efetivo resultado ou proveito econômico.
Conforme também restou sedimentado pela construção norte-americana, a
expectativa de lucro advinda da aquisição de um valor mobiliário traz ínsita a hipótese de
perda do investimento, atributo essencial da noção de security. Em outras palavras, o
investidor assume os riscos do negócio.
Por outro lado, tendo em vista essa passividade característica do investidor, que não
tem garantia ou direito absoluto ao retorno do capital empregado, tampouco ingerência sobre
o negócio, o aspecto relevante que passou a ser enfrentado diz respeito ao acesso às
informações relativas ao negócio, necessárias à tomada de decisões e, portanto, à proteção do
público investidor contra esquemas fraudulentos.
Daí a imposição de uma ampla regulação e fiscalização pelos órgãos
governamentais, aos quais devem se submeter todas as ofertas ao público em geral, que serão
previamente analisadas no momento de seu registro, o que não ocorre nos investimentos de
caráter privado, pelas razões retro apontadas, por pressupor o pleno acesso de informações de
seus partícipes quando da realização do negócio.
Dentro dessa sistemática, os órgãos reguladores traçam as diretrizes necessárias e,
mediante prévia avaliação e fiscalização, permitirão ou não a oferta de securities.
A experiência norte-americana, agora no que diz respeito à regulação legal desse
mercado, procurou impor o fornecimento das informações necessárias à tomada de decisões e
assegurar que as mesmas sejam verdadeiras, de forma a permitir o livre arbítrio daqueles que
buscam um investimento. “Não procura questionar a solidez do empreendimento, nem proibir
o investidor de realizar uma má escolha, mas apenas e tão-somente fornecer-lhe informações
pertinentes para exame. Sequer tenta assegurar que as informações sejam de fato examinadas
pelo investidor.” (LEÃES, 1974, p. 56).
Prestigiou-se, assim, acesso igualitário às informações relevantes para a tomada de
decisões.
Dada a extrema relevância do desenvolvimento do mercado de capitais, o Brasil
passou a tomar as medidas necessárias à sua disseminação a partir de 1964, inspirado nas
normas norte-americanas. O retro citado autor, após tecer todos esses esclarecimentos
pertinentes à evolução do conceito e prática da emissão de securities nos Estados Unidos,
termina por aconselhar que não se percam, no Brasil, as experiências desse país em que se
pretende migrar o sistema de regulação dessa parte do mercado de capitais, como se colhe:
40
Tendo em vista que o objetivo das leis disciplinadoras do mercado de capitais é, à
parte a sua carga estimuladora, proteger o público investidor dos mecanismos de
captação da poupança, a construção jurisprudencial norte-americana, lentamente
formulada, em torno da noção de security, livre de embaraços formais, e com largo
elastério, constitui uma lição que não pode deixar de ser cogitada pelos intérpretes
do direito brasileiro de mercado de capitais. Nesse sentido, parece-nos que o
conceito de “títulos e valores mobiliários”, utilizado pelo legislador para traduzir a
realidade econômica análoga, pode sofrer uma leitura generosa, tal como a
interpretação desenvolvida nos EE.UU. em torno do termo security, que permita ao
Banco Central do Brasil policiar deveras o mercado de valores, em sua expressão
mais lata, fiscalizando todas as formas de captação de recursos da poupança popular.
Certos tipos de loteamento popular, algumas formas de leasing e renting, planos de
promoção de venda de tecidos, cestas de natal, automóveis, mercadorias várias
subordinadas a carnês de poupança e sorteio, e até lotes de cemitérios, que, em nosso
país, até agora, têm escapado da fiscalização do Banco Central, mas que revelam
todas as características de solicitação pública de valores, devem ser examinados, a
luz de critérios menos formalistas, visando a proteção do público investidor. Nesse
ponto, como em muitos outros, o estudo comparado do sistema vigente na América
do Norte e em nosso país pode lançar luzes esclarecedoras. (LEÃES, 1974, p. 60).
Percebe-se, dessa forma, a importante tarefa na regulação do tema, que, de um lado,
demanda o estímulo a investimentos, indispensável ao desenvolvimento econômico do país e,
de outro, a necessidade de proteção à economia popular.
O Brasil, por influência desse sistema, além da edição da Lei nº 4.728/65, que
disciplina o mercado de capitais, terminou por criar a Lei nº 6.385/76, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários, da qual consta uma lista de valores mobiliários, passível de
ser acrescida, a critério do Conselho Monetário Nacional.
Várias críticas foram feitas em relação à adoção desse sistema, na medida em que os
juízes pátrios não têm a mesma liberdade daqueles da common law para decidir o que poderia
ser considerado um valor mobiliário, o que é imprescindível à própria fiscalização estatal.
Apenas mais recentemente é que foram incluídos os contratos de investimento coletivo, bem
como ampliado seu conceito, de forma a enquadrar um maior número de investimentos e
criação de outros valores mobiliários, o que se deu através da Lei nº 10.198/01, publicada em
16/02/01, que dispõe:
“Art. 1º. Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da Lei n. 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou contratos de
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos
advêm de esforço do empreendedor ou de terceiros”.
41
No mesmo ano, através da Lei nº 10.303/2001, foi incluído o inciso IX11, no art. 2º
da Lei 6.385/76, passando a ser considerado valor mobiliário títulos ou contratos de
investimento coletivos ofertados publicamente, com direito a parceria, participação ou
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advenham do
esforço de terceiros ou do empreendedor.
Essa inovação quanto ao conceito de valores mobiliários, ainda que com atraso,
proporciona maior estímulo ao mercado, já que permitirá o devido enquadramento de novos
valores mobiliários conforme a necessidade e a criatividade do gênero humano assim
determinem, mas, de igual forma, atribuirá a devida segurança aos investidores e à economia
popular, fruto da fiscalização que será exercida.
Feitos esses imprescindíveis esclarecimentos, importa informar que no Brasil há
vários valores mobiliários ou títulos passíveis de serem emitidos em uma operação de
securitização. Dentre eles, os de maior utilização são as debêntures, cotas de fundos de
investimentos em direitos creditórios, notas comerciais (commercial papers) e os certificados
de recebíveis imobiliários, sendo que as primeiras encontram-se em maior escala, podendo ser
assim definidas:
As Debêntures, também chamadas obrigações ao portador, são títulos de crédito
causais, de emissão das sociedades anônimas, representando fração do valor de
contrato de mútuo. Segundo a lei, a companhia poderá emitir Debêntures que
conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes
da escritura de emissão e do certificado. (COSTA, 2006, p. 491).
Encontram-se tratadas nos arts. 52 a 74 da Lei nº 6.404/76, podendo haver mais de
uma emissão, dividida em série, com valor igual em cada série, conferindo a seus titulares os
mesmos direitos. Sua emissão pode ser privada ou pública, conforme as companhias possuam
capital fechado ou aberto, respectivamente.
Nas emissões públicas as empresas necessariamente deverão estar registradas junto à
CVM, sujeitando-se às normas específicas para a realização da operação, tal como a
intermediação a ser realizada por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, conforme determina a Instrução nº 400/2003, que irão coordenar o procedimento
e, com isso, estabelecer mais garantias aos investidores.
11
Lei 6.385/76, Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: [...] IX – quando ofertados
publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação,
de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do
esforço do empreendedor ou de terceiros.
42
Nas emissões privadas, obviamente, não há necessidade de registro junto à CVM,
justamente pelos aspectos elucidados acima, os quais podem ser confirmados também pela
transcrição a seguir:
Na emissão privada de debêntures é dispensado o registro na CVM, pois presume-se
que os debenturistas tiveram acesso ao mesmo tipo de informações a que teriam em
virtude do registro, não necessitando dessa proteção conferida aos investidores na
hipótese de emissão pública. Aqui, a emissão apenas será comunicada à autarquia.
(CHAVES, 2006, p. 110).
Já os certificados de recebíveis imobiliários são verdadeiros títulos de crédito
nominativos, criados pela Lei nº 9.514/97, e não propriamente valores mobiliários, muito
embora possam ser também enquadrados como tal. Referida Lei será analisada mais adiante,
tendo em vista sua relevância não apenas social, mas também no contexto da afetação
patrimonial que instituiu.
As cotas de fundos de investimento em direitos creditórios também passaram a ser
utilizadas em considerável escala após sua regulamentação, contando com vantagens
tributárias, tal como mencionado anteriormente. Compreendem duas classes: “a sênior, cujas
cotas não se subordinam às demais para efeitos de amortização e resgate; e a subordinada,
cujas cotas somente serão amortizadas e resgatadas após as cotas de classe sênior”.
(CHAVES, 2006, p. 115).
Por fim, as notas comerciais, ou commercial papers, encontram-se previstas no art.
2º, inc. VI, da Lei nº 6.385/76, incluído pela Lei nº 10.303/2001. Equivale a uma nota
promissória, mas revestida de algumas peculiaridades, sendo vencível em prazo curto, o que
acaba por restringir um pouco sua utilização. Deve circular mediante endosso em preto, do
qual deve constar a expressão “sem garantia”.
2.3.5 Do agente fiduciário
Tamanha a importância que o funcionamento adequado e seguro do mercado de
capitais representa para qualquer país, várias medidas são impostas no que se refere à
segurança dos investidores. Afinal, caso o mercado de capitais não seja devidamente regulado
e efetivamente fiscalizado, não apresentaria esse requisito fundamental da segurança, não se
tornando, consequentemente, alternativa atrativa.
43
O agente fiduciário, previsto não apenas para as operações de securitização12, tem
por finalidade representar os interesses dos investidores. As pessoas autorizadas a exercer
essas funções devem observar alguns requisitos, principalmente no que pertine à ausência de
interesses conflitantes com o dos investidores, assim como total independência em relação aos
administradores da securitizadora.
Dentre os deveres a que se encontra sujeito o agente fiduciário, destacam-se:
Dentre eles, citam-se: a) o dever de verificar a veracidade das informações prestadas
pela entidade de propósito específico (emitente), seja no momento da emissão, seja
posteriormente, alertando os investidores a respeito de eventuais falhas, omissões ou
inverdades constatadas; b) verificar a regularidade da constituição de garantias e o
valor dos bens oferecidos, observando-se sua suficiência e exequibilidade; c) intimar
o emitente a reforçar garantias dadas, na hipótese de deterioração ou depreciação; d)
solicitar auditoria externa, sempre que necessária; e) checar a existência de ações
judiciais e procedimentos administrativos em face da emitente, quando julgar
relevante; f) convocar assembléia ou reunião de investidores sempre que necessário,
comparecendo à mesma e prestando os esclarecimentos solicitados; g) elaborar
relatório aos investidores, divulgando informações importantes; h) analisar eventos
que possam influir na segurança da securitização.
Havendo inadimplência da entidade de propósito específico, o agente fiduciário
deverá usar toda e qualquer ação para proteger os investidores, podendo executar
garantias, requerer falência, liquidar antecipadamente a securitização, etc.
(CHAVES, 2006, p. 185-186).
Desta forma, a existência de um agente fiduciário representa mais uma via na busca
da redução dos riscos, sendo certo que poderá ser responsabilizado por eventuais prejuízos
quando tenha agido com culpa ou dolo.
A figura de um agente fiduciário como forma de zelar pelos interesses dos
investidores não é criação do Brasil, encontrando-se disseminada no mercado internacional,
ainda que por via um pouco diferente, decorrente das peculiaridades de que se reveste o trust
anglo-saxão, que também nesse aspecto apresenta vantagens. Nesse sistema, as funções
equivalentes às do agente fiduciário são exercidas também pelo trustee, como se colhe:
No mercado de securitização mundial, existe a figura similar ao agende fiduciário,
conhecida como trustee, cujo trabalho no processo de securitização é mais amplo em
relação às atribuições do agente fiduciário, pois assume, além das obrigações legais,
obrigações adicionais impostas pela estrutura de securitização.
Essa entidade é responsável pelo monitoramento junto à administração da
companhia securitizadora, realizando o acompanhamento de suas atividades, no que
tange aos patrimônios provenientes das securitizações, e reportando-as aos
investidores, além de avaliar eventos para efeito de liquidação antecipada das
emissões e implementar os respectivos planos de ação.
12
A Lei nº 6.404/76, que dispões sobre as sociedades por ações, contempla em seus arts. 66 a 70, diversos
aspectos voltados à atuação do agente fiduciário, como incompatibilidades, atribuições, a fiscalização destas pela
CVM, remuneração etc.
44
Na liquidação antecipada, cabe ao trustee acionar rapidamente os mecanismos de
interrupção das cessões dos recebíveis, bloquear as contas correntes da
securitizadora e determinar o pagamento antecipado aos investidores. O sucesso e
lisura da proteção da securitização depende do grau de independência e eficiência
dos procedimentos adotados por esta entidade. (CANÇADO; GARCIA, 2007, p.
35).
Assim como o agente fiduciário, o trustee é responsável pelos prejuízos causados aos
investidores nos casos de má administração, culpa e desobediência à lei ou ao regulamento a
que estiver sujeito.
2.4 Intermediação financeira e securitização
Na busca de critérios para a devida delimitação entre o mercado financeiro e o
mercado de capitais, e respectiva inserção da securitização, Uinie Caminha (2007) traz
interessantes esclarecimentos.
De início, referida autora faz a contextualização no que se refere ao ambiente
econômico-financeiro no qual a securitização de crédito se desenvolve, tendo servido de
instrumento para a falta de capital para financiamento de projetos e de companhias, assim
como para reduzir riscos nessas operações.
Dado o vulto de determinadas empreitadas, destaca que as próprias instituições
financeiras se adaptaram e passaram a utilizar dessa via, denominada desintermediação
financeira, ou securitização em sentido amplo, que, conforme já visto, equivale à substituição
das formas tradicionais de financiamento bancário pelo financiamento através do mercado de
capitais.
Tal constatação se faz importante para que se possa situar a operação. Afinal, como é
cediço, há atividades reservadas exclusivamente a instituições financeiras e entidades
equiparadas, sujeitas, portanto, à fiscalização do Banco Central. Entretanto, tendo em vista
essas mudanças no cenário econômico-financeiro, com a adaptação das instituições
financeiras, que também passaram a diversificar suas operações, gerou-se o problema de
distinguir as atividades que lhes são próprias, daquelas outras também desenvolvidas, no
âmbito do mercado de capitais.
45
Conforme assevera a referida autora, “mais importante do que a definição de
instituição financeira em si é a delimitação do conjunto de normas e organizações em que tais
instituições estão inseridas. É a partir desse conjunto chamado de sistema financeiro que se
poderá definir e posicionar a securitização no mercado financeiro brasileiro.” (CAMINHA,
2007, p. 11).
Nos termos do art. 1713 da Lei nº 4.595/64, consideram-se instituições financeiras as
pessoas jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira,
e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Em seu parágrafo único, equipara a
instituição financeira também as pessoas físicas que exerçam essa atividade de forma
permanente ou habitual.
A seu turno, a Lei nº 7.492/86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro,
apresenta praticamente a mesma fórmula para a configuração de atividade própria das
instituições financeiras, como sendo a coleta, a intermediação e a aplicação de recursos.
E, de fato, a estrutura do sistema financeiro brasileiro abrange diversas atividades,
sendo aquelas tradicionalmente exercidas pelas instituições financeiras apenas uma de suas
facetas, existindo ainda outros partícipes.
Conforme aponta Caminha (2007, p. 12), sob o enfoque institucional do sistema
financeiro brasileiro, existem quatro subsistemas, organizados em conformidade com o órgão
regulador de cada um, constando do topo hierárquico o Conselho Monetário Nacional, ao qual
se encontram subordinados os demais.
Dois desses subsistemas são regulados, respectivamente, pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP, que cuida das atividades abertas de previdência complementar,
das sociedades seguradoras e de capitalização, e a Secretaria de Previdência Complementar –
SPC, que cuida das atividades das entidades fechadas de previdência complementar.
Já ao Banco Central é atribuída a fiscalização das instituições que atuam no mercado
financeiro14, bem como de outras em competência concorrente com a Comissão de Valores
13
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas
públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as
pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
14
Instituições bancárias, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, associações de poupança e
empréstimo, agências de fomento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades corretoras de câmbio,
sociedades de crédito ao microempreendedor e representações de instituições financeiras estrangeiras.
46
Mobiliários – CVM. A esta última se subordinam aquelas integrantes do sistema brasileiro de
distribuição de títulos e valores mobiliários15.
Sob essa perspectiva institucional destaca a retro mencionada autora alguma
dificuldade de enquadramento da securitização, nos seguintes termos:
Tendo como parâmetro essa análise institucional, é difícil inserir a securitização – ou
as companhias securitizadoras – em um dos subsistemas apresentados. Apesar de ser
uma operação típica do mercado de capitais, conforme se verá adiante, ela está
intimamente ligada ao sistema financeiro propriamente dito. Por outro lado, nem
todas as companhias securitizadoras estão sujeitas à fiscalização do Banco Central,
pois são constituídas sob a forma de sociedades não financeiras, ou mesmo da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, se a emissão de títulos e valores
mobiliários se der privadamente. Todavia, colocar a securitização fora, como algo
paralelo ao sistema financeiro, seria negar suas funções econômicas, ligadas
primordialmente à captação de recursos e a dispersão do risco. (CAMINHA, 2007,
p. 13)
Por conta disso, sugere uma análise do Sistema Financeiro Nacional sob um enfoque
funcional, já que as funções desse Sistema são as mesmas em qualquer economia, sofrendo
pouca influência das constantes transformações do mercado.
Essas funções podem ser sintetizadas da seguinte forma: a) prover o mercado de
sistema de pagamentos para a negociação de bens e serviços, assim entendidos os
procedimentos e instrumentos que viabilizam a movimentação financeira na economia, com
transferência de recursos, processamento e liquidação de pagamentos; b) disponibilizar
mecanismos aptos a mobilizar fundos para fazer frente a empreitadas de larga escala e à
atividade empresarial, que vão desde empréstimos tradicionais à utilização do mercado de
capitais, inclusive a securitização; c) superar entraves geográficos, de forma a atender
diferentes atividades econômicas com celeridade; d) controle e diluição de riscos; e) fornecer
informações necessárias à tomada de decisões descentralizadas de diversos setores da
economia, o que se encontra intimamente ligado ao mercado de capitais; e f) superar
problemas relativos à assimetria de informações nas operações, tornando-as irrestritamente
acessíveis.
Assim, uma regulamentação que tenha como norte essa perspectiva funcional,
sofrerá menor influência das transformações do mercado, do que aquela pautada em uma
legislação baseada nas atividades desempenhadas pelas suas instituições, posto fadadas a
constantes adaptações. É o que se destaca do seguinte trecho:
15
Bancos de investimento, fundos e clubes de investimento, as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, os agentes autônomos de investimentos, as bolsas de mercadorias e de futuros e as bolsas de
valores.
47
Dessa forma é que, se da perspectiva institucional é difícil enquadrar a securitização
no sistema financeiro, da perspectiva funcional ela se encaixa perfeitamente, já que é
apta a satisfazer pelo menos três funções atribuídas ao mercado financeiro, quais
sejam: a mobilização de fundos, a transferência de recursos no tempo e no espaço e
o controle e alocação de riscos.
As operações de securitização se dão, assim, dentro do sistema financeiro, e não
paralelamente a ele, sendo, na verdade, uma evolução em sua estrutura, que visa
torná-lo mais eficiente na captação de recursos e dispersão de risco. A securitização
inova, assim, em um dos elementos caracterizadores da atividade financeira, pois,
enquanto a coleta e aplicação de recursos restam inalteradas, a intermediação
financeira ganha um novo sentido no mercado securitizado. (CAMINHA, 2007, p.
16).
E, de fato, tal análise se faz necessária na medida em que a realidade atual aponta
para uma diversificação nas atividades exercidas por instituições financeiras. De um lado, por
óbvio, continuam na prática da intermediação financeira, realizada pela via tradicional, mas
passam também a exercer a atividade de transformação qualitativa de ativos, como melhor se
esclarece a seguir.
Primeiramente,
imperioso
entender
o
conceito
amplo
compreendido
na
intermediação, já que, a primeira vista, poderia expressar tão somente o ato de colocar em
contato duas partes para a realização de determinado negócio.
Ocorre que essa é uma concepção mais restrita, na qual se encontra contida a
atividade da corretagem, que é obrigatória no que pertine a compra e venda de títulos ou
valores mobiliários na oferta pública destes.
Os corretores não são parte do negócio, atuando apenas como intervenientes, na
medida em que se prestam a aproximar agentes deficitários e superavitários com interesse de
contratar a compra e venda de títulos ou valores mobiliários.
Já em um sentido amplo, a intermediação envolve também o financiamento bancário.
Para tanto, basta ver que qualquer pessoa, enquanto cliente de uma instituição financeira, que
realiza depósito de numerário, provavelmente estará, mesmo sem saber, emprestando seu
capital para que a instituição o aplique em operações de crédito e financiamento. Desta forma,
e sob esse enfoque, a instituição financeira estaria de certa forma aproximando agentes,
mesmo sem o conhecimento destes.
Entretanto, diferentemente do que se dá na corretagem, o banco atua diretamente
como parte, e em dois negócios jurídicos distintos. O primeiro, na prestação de serviços a seu
cliente e, no segundo, na realização de um empréstimo ou financiamento, suportando com
exclusividade todos os riscos disso. Não obstante, de certo que nesse aspecto mais amplo
estará praticando a intermediação, o que o aproxima, por isso, da corretagem, ambos
desenvolvendo a atividade de intermediação.
48
A seu turno, a transformação qualitativa de ativos, tal como se dá em uma operação
de securitização e em outras operações do mercado de capitais, consiste na modificação das
características de bens, direitos e obrigações, no que pertine à sua liquidez e risco de crédito,
seja em decorrência de um agrupamento de diversos ativos, seja com a prestação de garantias
colaterais, como um seguro ou fiança bancária.
Todavia, nas operações desse jaez, também entidades não financeiras podem dela
participar, desde que autorizadas a administrar esse tipo de sociedade ou fundo de
investimento, do que decorre a constatação de que a conceituação de uma instituição
financeira, em função das atividades por ela exercidas, perde espaço e fica cada vez mais
próxima de outras figuras que atuam no mercado. E é nisso que consiste a importante
conclusão a que se chega, nos seguintes termos:
Na verdade, a importância prática dessa diferenciação é mostrar como atividades tão
distintas quanto corretagem e captação de depósitos à vista podem estar, de alguma
forma, agrupadas num mesmo conceito jurídico, qual seja, intermediação financeira.
E, ainda, mostrar como a intermediação financeira, atividade essencial de instituição
financeira, pode assumir papéis tão diferentes na relação dessas instituições com
seus clientes.
Nas operações de securitização, há confluência das duas espécies de atividade
apresentadas, o que, na maioria das vezes, faz com que seja necessária a participação
de mais de uma instituição no processo de estruturação das operações, ou, pelo
menos, de uma instituição que exerça ambos os tipos de atividade.
No decorrer de uma operação de securitização, pode-se visualizar facilmente a
intermediação propriamente dita no momento da distribuição e subscrição dos títulos
emitidos com lastro nos ativos segregados. Porém, é na transformação qualitativa de
ativos que a securitização tem seu diferencial com relação a outras estruturas
tradicionais do mercado financeiro. Além do agrupamento de ativos para que a
emissão tenha determinadas características, é através da securitização que ativos
ilíquidos são “transformados” em instrumentos líquidos, aptos a circular.
(CAMINHA, 2007, p. 22-23).
Esses aspectos também se revelam importantes para a compreensão do mercado
financeiro, o qual pode ser visto como instrumento de mobilização de riquezas para conferir
liquidez ao mercado, assim como sistema de gestão de capitais e, ainda, no que pertine ao
prazo das operações, pode ser dividido em mercado de crédito, no qual se operam negócios de
curto e médio prazos, e mercado de capitais, palco para financiamento de operações de longo
prazo.
Mas há ainda uma distinção no fato de se encontrar presente, ou não, a intermediação
bancária tradicional para a obtenção e aplicação de recursos. Nessa intermediação financeira
tradicional, a instituição financeira atua como parte de duas operações distintas. Uma, no lado
passivo, e na qualidade de prestador de serviços, capta recursos através de contrato de
depósito, sendo, portanto, devedora. Outra, quando concede crédito, é credora do empréstimo
49
ou contrato de mútuo. Assim ocorrendo, como visto, há transferência de recursos entre
pessoas superavitárias e deficitárias do mercado, mas em razão de dois negócios distintos, dos
quais participa o banco, do que se extrai sua função essencial de intermediação, na forma
tradicional, atividade até pouco tempo tida como principal.
Entretanto, repisa-se, paulatinamente as instituições financeiras vêm cada vez mais
exercendo outras atividades, de desintermediação financeira, cujo palco é o mercado de
capitais, e já apresentam expressividade nas receitas dos bancos. Nessas atividades não mais
comparece como parte de determinado negócio, mas como verdadeira intermediadora entre o
agente superavitário diretamente com o tomador dos recursos, atuando, assim, de forma
distinta daquela outra, no âmbito do mercado financeiro.
Na sua atuação no âmbito do mercado de capitais, a respectiva relação com o
tomador dos recursos se dará por meio de contrato de corretagem ou outra prestação de
serviços equivalente.
Importante destacar que essa participação obrigatória de um intermediário no
mercado de capitais tem em vista a tutela de interesse público, e não a defesa ou reserva de
mercado à categoria. É o que se colhe da seguinte passagem:
Em tese, num mercado eficiente, não haveria necessidade da presença de um
intermediário financeiro nas operações de captação de fundos via mercado de
capitais. Entretanto, a Lei n. 6.385/76 estabelece que é obrigatória a presença de um
agente financeiro nas operações que envolvam distribuição pública de valores
mobiliários. Da mesma forma, as informações incompletas ou incompreensíveis aos
leigos fazem com que a presença de um intermediário, mais que uma exigência
legal, seja uma necessidade.
É assim que no mercado de capitais, mesmo em se tratando de um canal direto de
financiamento, há necessidade de um intermediário – ainda que com função diversa
daquela exercida pelo banco, que deverá promover, colocar e por vezes subscrever
os valores mobiliários emitidos.
Sua função está mais ligada a aspectos formais da relação entre investidores e
poupadores, bem como aos procedimentos junto às bolsas de valores e mercado de
balcão organizado, e ao suprimento de deficiência de informação. A instituição
financeira, nesse caso, é mera interveniente, não assumindo, via de regra, risco de
crédito. (CAMINHA, 2007, p. 27-28).
Em suma, diferentemente do que se deu por séculos, os bancos não mais cuidam
apenas de captar recursos e repassá-los, absorvendo os ricos daí advindos.
O desenvolvimento do mercado de capitais e das fórmulas atualmente encontradas
para dispersão de riscos deu azo ao que se passou designar desintermediação e, na atualidade,
se conhece por securitização, naquele sentido amplo, já elucidado anteriormente. Tal
determinou, por outro lado, a perda do monopólio por parte dos bancos e a necessidade de
adaptação de suas atividades, em um processo em constante evolução, no qual comparece
50
como captador de negócios ou como estruturador de uma securitização, outras vezes vale-se
dela para transformar seus próprios ativos em renda presente e, ainda, adquire títulos como
investimento.
De tudo isso se destaca, mais e mais, o impacto da securitização como catalisador da
diversidade de atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, assim como em suas
receitas, sequer se podendo afirmar que houve uma perda por conta daquela. As
conseqüências se deram mais em relação às atividades que passaram a exercer.
Ao fim e ao cabo, por todas essas conseqüências advindas da implementação da
securitização no âmbito do mercado de capitais, assim como de todos aqueles outros
benefícios advindos da operação, tal como a dispersão de riscos, redução de custos na
captação de recursos, a transformação qualitativa de ativos e a possibilidade de transformar
ativos ilíquidos em renda presente, vislumbra-se uma crescente dedicação do Brasil no seu
desenvolvimento, o que pode ser confirmado nos fatos abaixo:
A cada dia percebe-se que o governo brasileiro vem dando maior importância ao
desenvolvimento e utilização dos instrumentos de crédito e securitização para o
crescimento da economia do país, sendo os mesmos considerados e divulgados pelo
então Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, no XVII Fórum Nacional China e
Índia, realizado em maio de 2005, como um dos pilares importantes para o
crescimento do emprego, redução da pobreza e desigualdade, e a conseqüente
estabilidade macroeconômica, em conjunto com a redução do custo de investimento,
do custo de resolução de conflitos, melhoria do ambiente de negócios e proteção
social efetiva. (CANÇADO; GARCIA, 2007, p. 28).
2.5 A securitização de créditos no Brasil
Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, a securitização de créditos no
Brasil não contou com a intervenção direta do estado, tendo suas primeiras experiências
ocorridas na década de 80 do século passado, encontrando-se, na atualidade, em ampla
disseminação.
O trecho a seguir descreve um pouco desses primeiros passos da securitização:
No Brasil, inicialmente, as formas utilizadas foram embasadas na securitização
parcial de recebíveis na forma de caução na emissão de notas ou títulos e no
contexto de operações bancárias de capital de giro. Nesses casos, porém, os
recebíveis ficavam no ativo do originador e o endividamento somava-se ao seu
passivo. O investidor ficava exposto ao risco do tomador; a existência da garantia
oferecia pouco conforto, dadas as dificuldades de um processo judicial de execução.
51
Pelo fato de não segregar efetivamente os riscos dos recebíveis do risco do seu
originador, a caução não resultava em uma verdadeira securitização.
As primeiras operações realizadas por empresas brasileiras aconteceram no começo
da década de 90 e foram realizadas no mercado internacional. Diferentemente do
que ocorreu em outros países, o principal objetivo foi a busca de financiamento
externo de longo prazo em um período em que o governo brasileiro renegociava a
sua dívida externa com os bancos credores. Estas operações também se
diferenciavam pelo tipo de ativos securitizados. Eram operações que tinham como
lastro o fluxo de caixa futuro de créditos ainda inexistentes no balanço das empresas
originadoras, geralmente denominadas de “securitizações de fluxo de caixa futuro”.
(CANÇADO; GARCIA, 2007, p. 18).
Já no mercado interno a securitização no Brasil se deu de forma modesta, inclusive
em decorrência do legislador não ter se ocupado de sistematizar a operação, com a criação de
uma norma genérica, o fazendo apenas em relação a algumas espécies de ativos.
Ademais, conforme relembra Caminha (2007), a securitização era vista como
operação sofisticada, distante da realidade da maioria das pessoas, limitando-se a setores
específicos, com foco no tipo de ativo a ser utilizado, e não na operação em si, o que
redundou em uma regulamentação fragmentada.
Essa existência apenas de regras em relação à securitização de algumas espécies de
ativos, expedidas principalmente pelo Banco Central ou pela CVM, torna difícil sua utilização
para ativos diversos, até mesmo pela distinta competência dos órgãos emissores de tais
normas. Por isso, conclui referida autora, que “as regras aplicáveis à securitização de ativos
diferentes daqueles amparados pelas normas específicas são as normas gerais de Direito Civil
e Comercial, com todos os inconvenientes e vantagens que isso possa trazer, como analisado a
seguir.” (CAMINHA, 2007, p. 141).
Em outras palavras, o fato de não existir a devida regulação para determinados tipos
de ativos, por certo não implica em vedação da securitização dos mesmos, ainda que para isso
seja necessário o auxílio de diversos instrumentos jurídicos já existentes no ordenamento
pátrio para a estruturação da operação, como é o caso da cessão de créditos e da constituição
de uma sociedade de propósito exclusivo para figurar como cessionária.
Não obstante, paulatinamente foram surgindo alterações legislativas e outros
normativos dos órgãos reguladores, que deram impulso à securitização de créditos e ao
melhor funcionamento do mercado de capitais, ao menos em relação a determinados tipos de
ativos, conforme o interesse público em fomentar determinados setores da economia.
Dentre os ativos contemplados por norma regulamentadora, tem-se a securitização
das exportações, de ativos imobiliários, do agronegócio e de créditos bancários.
A securitização das exportações foi instituída pela Resolução nº 1.834/91 do CMN,
primeiro normativo desse órgão a tratar da securitização, em que pese não mencionar esse
52
termo. Foi regulamentada pela Circular nº 1.979/91 do Banco Central, revogado pela Circular
nº 3.207/2001, que, por sua vez, utilizou expressamente o termo securitização.
Essa Circular nada trata da estrutura da securitização, limitando-se aos aspectos
financeiros da mesma. Os ativos utilizados como lastro à emissão dos títulos e valores
mobiliários são direitos de crédito vinculados a exportações. Nos termos da Circular, as
operações “são qualificadas, para fins de registro, como empréstimo externo ou forma de
financiamento à exportação, sendo que os créditos de exportação utilizados como lastro de
emissão de título no exterior podem ser originários de empresas que não façam parte do grupo
econômico do tomador do empréstimo.” (GAGGINI, 2003, p. 72).
Essa operação visa à captação de recursos no mercado externo. Para tanto, uma
subsidiária estrangeira de uma sociedade brasileira “cede, em favor de um veículo de
propósito exclusivo, os seus recebíveis de exportação contra os compradores/importadores. É
esse VPE que emite valores mobiliários no mercado internacional, com lastro nos recebíveis
adquiridos, captando, dessa forma, os recursos a serem repassados à matriz brasileira.”
(CAMINHA, 2007, p. 142).
Mas são as operações de securitização de base imobiliária que contam com maior
regulação, tanto pela Lei nº 8.688/93, quanto pela Lei nº 9.514/97, assim como por
normativos expedidos pelos órgãos reguladores.
A Lei nº 8.688/93, o primeiro diploma legal a tratar do tema, dispõe sobre a
constituição e tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário, na forma de condomínios
fechados, desprovidos de personalidade jurídica e, nos termos do seu art. 1º, “caracterizados
pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores
Mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em
investimentos imobiliários.”
Ademais, dispõe seu art. 3º que as quotas desses fundos “constituem valores
mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, admitida a emissão
sob a forma escritural.”
Esses fundos são fiscalizados pelo CMN e sua gestão deve ser realizada, por força do
art. 5º, por instituição administradora devidamente registrada naquele, e deverá ser,
“exclusivamente, banco múltiplo com carteira de investimento ou com carteira de crédito
imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou
sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou outras entidades legalmente
equiparadas.”
53
Mas a maior contribuição dessa Lei foi buscar na estrutura de um negócio fiduciário
a formatação do negócio, de tal forma que o administrador, ao adquirir bens, apesar de fazê-lo
em seu próprio nome, não integram o seu patrimônio, e sim o do fundo. Esses aspectos serão
devidamente tratados no decorrer deste trabalho, em tópico próprio.
O CMN cuidou de regulamentar essa Lei, através da Resolução nº 2.248/96, que
autorizou que pessoas residentes ou domiciliadas no exterior podem adquirir quotas de
Fundos de Investimento Imobiliário, e também através da atual Resolução nº 2.686/2000, que
disciplina a cessão de créditos imobiliários. A CVM, por sua vez, editou a Instrução nº
205/94, já revogada, encontrando-se em vigor a Instrução 472/08, que disciplina os “Fundos
de Investimento Imobiliário – FII”.
A seu turno, a Lei nº 9.514/97 instituiu o Sistema Financeiro Imobiliário e pode ser
considerada um marco. Elaborada em um contexto em que a deficiência das garantias reais,
como a hipoteca e o penhor, não mais atendiam aos anseios da economia, criou a alienação
fiduciária de coisa imóvel, que confere uma garantia muito maior ao credor, ao mesmo tempo
em que proporciona ao ordenamento jurídico pátrio um “instrumento que permite sejam as
situações de mora, nos financiamentos imobiliários, recompostas em prazos compatíveis com
as necessidades da economia moderna, a exemplo do que há muito se verifica no âmbito dos
financiamentos de bens imóveis.” (CHALHUB, 2006, p. 248). Esses aspectos da propriedade
fiduciária que institui, e sua estreita ligação com a securitização, serão analisados mais
adiante.
No que pertine a outros aspectos voltados à securitização, referida Lei é de suma
importância, quer por ter contribuído substancialmente na securitização de créditos
imobiliários, quer por fomentar o desenvolvimento de um mercado secundário para o mesmo.
Tendo dotado a negociação desse tipo de ativos da devida segurança, e também de
padronização dos valores mobiliários emitidos, estimulou esse mercado e, assim, incentivou a
captação de “recursos privados para esse segmento da economia de forma alternativa à
tradicionalmente utilizada, que consistia basicamente nos recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, caderneta de poupança ou dos próprios cofres públicos.”
(CAMINHA, 2007, p. 146).
A Resolução nº 2.517/98 do CMN incluiu os Certificados de Recebíveis Imobiliários
como valores mobiliários.
A estrutura da operação encontra-se nos moldes já delineados neste trabalho, tal
como descrito no art. 8º da Lei nº 9.514/97, que determina a vinculação dos créditos aos
títulos emitidos. Em seu art. 3º trata das companhias securitizadoras de créditos imobiliários,
54
as quais deverão ser constituídas sob a forma de sociedade por ações, tendo “por finalidade a
aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação, no mercado financeiro, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar
negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades”.
Entretanto, dentre as incontáveis contribuições da referida Lei no sentido de superar
os obstáculos enfrentados por operações que não encontram regulação em lei, merecem
destaque a segregação patrimonial dos ativos que garantem os títulos emitidos, o que será
analisado posteriormente, assim como a dispensa de notificação do devedor quando da cessão
dos créditos, reduzindo os custos da operação.
Com relação ao agronegócio, a securitização dos ativos desta natureza foi instituída
pela Media Provisória nº 221/2004, convertida na Lei nº 11.076/2004. Além da criação de
títulos específicos para esse mister, constata-se considerável semelhança da estrutura criada
para a securitização imobiliária, que vincula os títulos emitidos aos direitos creditórios que
lhes serviram de lastro.
Por fim, com relação aos créditos bancários, sua securitização somente veio a ser
regulada através da Resolução nº 2.493/1998 do CMN, posteriormente revogada pela
Resolução nº 2.686/2000, atualmente em vigor. Sua estrutura encontra-se nos moldes
delineados neste trabalho, mediante cessão dos créditos financeiros à sociedade
securitizadora, que emitirá títulos neles lastreados para captação de recursos e respectivo
pagamento à cedente-originadora. Permite-se a coobrigação da cedente pelo pagamento dos
créditos.
Em suma, estes são os nichos específicos que contaram com maior regulação da
operação de securitização dos recebíveis que geram.
Com relação aos ativos gerados em atividades comerciais que não as já contempladas
pelos normativos retro mencionados, tais como os ativos advindos da venda no varejo, faturas
de cartão de crédito e prestações de serviços, foi emitida pelo CMN a Resolução nº 2.026/93,
que autorizou a aquisição, por parte de instituições financeiras, dos títulos emitidos pela
sociedade de propósito exclusivo, cessionária de tais créditos.
Entretanto, com o advento da Resolução nº 2.493/98 do CMN, aquela resolução foi
revogada, mas sem dispensar qualquer trato à matéria. Essa nova Resolução cuidou apenas da
cessão de créditos originados da atividade bancária, assim como sua substituta, a já
mencionada Resolução nº 2.686/2000.
55
Em decorrência disso, os ativos comerciais se encontram sem qualquer disciplina
específica, relegados, portanto, à conjugação de negócios que permita atingir o escopo da
securitização, tratando-se, pois, de negócio jurídico atípico.
Não obstante, foram editadas algumas normas por parte dos órgãos reguladores, que
auxiliaram na regulação da operação, ainda que de forma generalizada, abarcando várias
espécies de crédito, como é o caso dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios –
FIDCs.
Criados pela Resolução nº 2.907/2001 do CMN, possuem a seguinte abrangência:
Art. 1º. Autorizar a constituição e funcionamento, nos termos da regulamentação a
ser baixada pela Comissão de Valores Mobiliários no prazo máximo de quinze dias
contados da data da entrada em vigor desta resolução:
I - de fundos de investimento em direitos creditórios, destinados
preponderantemente à aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos
desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro,
comercial, industrial, imobiliário, de hipoteca, de arrendamento mercantil e de
prestação de serviços, bem como nas demais modalidades de investimento admitidas
na referida regulamentação;
II – de fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento em direitos
creditórios, que devem ter por objetivo a aplicação de recursos em quotas de fundos
de investimento em direitos creditórios. (BRASIL, 2001).
Verifica-se, desta forma, que apesar de ter abarcado os ativos de natureza comercial,
o fez apenas para regular as operações praticadas pelos fundos de recebíveis. Mas, de certo
que essa regulamentação sobre a atividade dos fundos teve seu mérito, no sentido de ter
“possibilitado o acesso ao mercado de capitais a sociedades empresárias de médio porte,
como forma de financiar suas atividades.” (CAMINHA, 2007, p. 155). Lado outro, conforme
asseverado alhures, os fundos apresentam importantes vantagens no que pertine à sua
tributação, quando comparados a companhias securitizadoras, constituídas sob a forma de
sociedade por ações.
No que se refere ao perfil dos investidores, determina o art. 2º dessa Resolução sejam
investidores qualificados. A regulamentação da CVM a que se refere o caput do art. 1º da
Resolução 2.907/2001 foi instituída pela Instrução nº 356/2001, a qual remete a definição de
investidor qualificado à atual Instrução nº 409/2004, que, por sua vez, dispõe em seu art. 109
serem considerados investidores qualificados: as instituições financeiras (inc. I); as
companhias seguradoras e as sociedades de capitalização (inc. II); as entidades abertas e
fechadas de previdência complementar (inc. III); as pessoas físicas e jurídicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior a trezentos mil reais e, ainda, assim se declarem
por escrito (inc. IV); fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores
56
qualificados (inc. V); os administradores de carteira e consultores de valores mobiliários
autorizados pela CVM (inc. VI); e regimes próprios de previdência social instituídos pela
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (inc. VII).
Em síntese, estes são os principais normativos hoje existentes.
2.6 Problemas para a implementação da securitização de créditos no Brasil
A securitização de crédito revelou-se instrumento eficaz para captação de recursos e
financiamento de diversos projetos, passando a ser utilizada em todo o mundo e em relação a
créditos das mais diversificadas naturezas.
Lado outro, por se tratar de operação utilizada mundialmente, fugindo, portanto, da
exclusividade de um único mercado, é indispensável o desprendimento de uma visão atomista
da securitização de créditos. Não é prudente sua análise apenas com foco no mercado interno,
na medida em que o desenvolvimento econômico e social do país passa a ter relação direta
com a realidade do mercado externo, demandando uma harmonização. E, menos ainda,
poderá a operação ser analisada com delimitações em um único e específico caso, sem se
considerar seu contexto nacional e internacional.
Essa íntima relação entre securitização e globalização foi relatada com muita
felicidade no seguinte trecho:
A securitização tem estrita relação com a globalização. Por ela, ativos
originariamente sem liquidez podem ser alocados no mercado de capitais, onde têm
possibilidade de ser negociados, inclusive globalmente. A integração dos mercados
é, ao mesmo tempo, uma premissa e uma conseqüência da securitização, já que
desmobilizar riquezas leva à sua circulação, e tal circulação pode alcançar mercados
além das fronteiras políticas dos países onde foram originadas.
Especialmente em países de economias emergentes, o desenvolvimento do mercado
local é de suma importância para sua inserção na economia globalizada. A
atratividade de determinado mercado de capitais para outros países é decisiva para
aumentar o nível da captação interna, e está intimamente relacionada com a forma
como tal mercado está organizado e regulado internamente.
De acordo com Simon Sackman e Margaret Coltman, para que um país possa atrair
investimentos, seu sistema regulatório deve atender a uma série de requisitos: adotar
parâmetros de proteção aos investidores com relação a ofertas de valores
mobiliários; tornar disponível aos agentes do mercado mecanismos eficientes para
que as operações se dêem tempestivamente; inibir a manipulação de informações e
manter agências reguladoras transparentes, ágeis e confiáveis. (CAMINHA, 2007,
p.44-45).
57
Esse primeiro requisito, relativo à proteção dos investidores, guarda estreita relação
com os instrumentos jurídicos disponíveis para tal mister.
Nos países filiados ao sistema anglo-saxão, com a constituição de um trust decorre a
formação de uma dupla propriedade e a vinculação desta a um fim determinado, aspectos
estes que serão analisados a seguir, sendo o quanto basta para impedir que dívidas outras do
originador, correspondente ao settlor nesse sistema, ou da SPE (trustee), comprometam o
substrato patrimonial que garante o pagamento dos valores mobiliários emitidos.
Mas, no presente trabalho, a securitização de créditos se encontra focada em boa
parte na perspectiva de uma segregação externa dos ativos, ou seja, através da cessão a uma
terceira pessoa, forma encontrada no Brasil para viabilização da operação em relação a
diversas espécies de ativos.
Entretanto, fosse possível uma afetação patrimonial por parte da originadora, poderia
a securitização se dar com segregação interna, vale dizer, com emissão de títulos pela própria
originadora, que constituiria por si só a garantia dos investidores em relação aos valores
mobiliários emitidos com lastro nos ativos afetados a essa finalidade. Existisse a segurança
esperada nessa forma de securitização, por certo a operação seria muito mais atrativa, posto
menores os dispêndios financeiros e de tempo na estruturação da operação. Aliás, é o que
ocorre no Brasil, mas apenas em relação a securitizações que têm por objeto ativos de
natureza imobiliária, no qual a lei que a regulamenta faculta a constituição de patrimônio de
afetação, conforme adiante será apontado com mais detalhes.
E, mais, caso fosse possível a afetação patrimonial também nos casos de
transferência de ativos a empresas securitizadoras e fundos de investimento, mas que se
prestam a várias operações, isso não comprometeria a segurança dos investidores envolvidos
em uma ou em outra, em decorrência da exclusiva vinculação do patrimônio às dívidas
originadas na respectiva operação, e não em outros ativos daquelas. É o que revela a seguinte
passagem:
Seguramente, a principal utilidade prática dos conceitos de patrimônio geral,
separado ou autônomo, é a delimitação da responsabilidade de seus titulares, ou seja,
determinar quais elementos ativos respondem por determinadas obrigações.
No que diz respeito à securitização, a segregação patrimonial feita através de veículo
societário não suscitaria grandes discussões com respeito à validade da afetação do
patrimônio, já que, nesse caso, ter-se-ia um patrimônio autônomo, desde que cada
companhia respondesse por apenas uma operação. Caso, por outro lado, a
securitização fosse feita com segregação interna, ou um único veículo fosse utilizado
para mais de uma operação, a segregação entre os ativos que dão lastro a cada uma
das operações poderia ser desconsiderada, já que não há, salvo em caso excepcional,
previsão legal para tal afetação.
58
Para que uma operação de securitização seja bem-sucedida, e para que se tenha
segurança em tal operação, faz necessário assegurar que os ativos que sirvam de
lastro para uma emissão não responderão por obrigações do patrimônio geral do
originador, ou mesmo da companhia securitizadora, caso esta sirva de veículo para
várias securitizações. (CAMINHA, 2007, p. 122).
Mas nem só por isso é que o problema da afetação patrimonial persiste. Ainda que
realizada na forma até então exposta, com segregação externa, há insegurança em relação à
cessão realizada à sociedade de propósito exclusivo, e até que ponto essa parcela do
patrimônio transferido permaneceria incólume em relação às dívidas da originadora, inclusive
na hipótese de ser declarada sua falência.
Por certo que uma operação de securitização não poderá servir como via para fraudar
credores. Caso se constate uma situação de insolvência da originadora ao tempo da cessão dos
ativos, poderá ocorrer o retorno destes ao patrimônio daquele para fazer frente ao concurso de
credores. Entretanto, isso representaria sérias conseqüências à operação, a diversos
investidores e à própria economia nacional, por desestimular a realização de investimentos
nesse tipo de negócio.
Ainda que excepcionada essa hipótese extrema de fraude, vale dizer, mesmo
encontrando-se a originadora com saúde financeira à época da cessão, há receios de que
posterior alteração dessa situação possa dar azo à comunicação entre os patrimônios.
A novidade da operação, assim como o pouco desenvolvimento no ordenamento
jurídico pátrio na compreensão dos aspectos voltados ao negócio fiduciário e à afetação
patrimonial, poderia deixar transparecer na securitização uma simulação, o que
definitivamente não ocorre.
De fato, um dos problemas enfrentados pela securitização em diversos países é o alto
custo que por vezes pode apresentar, tendo em vista a necessidade de múltiplas avaliações, a
demandar o emprego de empresas especializadas, realização de seguros, de garantias
colaterais, onerando a operação. Todavia, no Brasil, a questão se encontra ainda mais
agravada, tendo em vista o risco inerente à efetividade da segregação dos ativos cedidos.
Na securitização, uma vez verificada a efetiva segregação de parte do patrimônio da
originadora, representada pelos créditos cedidos, os riscos esperados pelos investidores devem
estar adstritos a esses ativos, ou seja, ao adimplemento ou não dos devedores desses créditos.
É com base nessa premissa que o investidor avalia os riscos que pretende assumir e toma sua
decisão. Assim, em nenhuma hipótese poderia ocorrer que quaisquer dívidas da originadora,
ou da securitizadora, não relacionadas a operação em questão, pudessem ser garantidas pelos
59
ativos que serviram de lastro à emissão dos valores mobiliários, sob pena de inviabilizar a
securitização. Sobre o tema, oportuna a colação dos apontamentos abaixo:
Um dos principais conceitos que fundamentam a operação de securitização de
recebíveis é o de se separar o risco concernente aos direitos creditórios dos riscos
atinentes à originadora. Com a cessão dos direitos creditórios da originadora para a
securitizadora, os investidores que adquirem debêntures emitidas por esta última
estarão expostos tão-somente ao risco de inadimplência dos recebíveis, que servem
de lastro para a emissão dos valores mobiliários. É importante destacar que,
exatamente pelos motivos expostos neste parágrafo, a sociedade securitizadora é
constituída com o propósito único e específico de adquirir os direitos creditórios da
originadora, através da colocação de debêntures de sua emissão junto a investidores.
Dessa forma, a sociedade securitizadora não possui nenhum outro débito, nenhuma
outra obrigação, senão a de pagar os investidores que adquiriram seus valores
mobiliários. A esse respeito, é de se notar que a classificação do risco da operação é
promovida com base no risco da sociedade específica securitizadora, que, dessarte,
logra obter melhor rating do que a empresa originadora obteria, circunstância essa
que, em última instância, implica um custo inferior de captação. (FAGUNDES,
2003, p.103-104).
As maiores polêmicas e consequentes inseguranças em relação às operações de
securitização no Brasil encontram-se relacionadas exatamente à segregação dos ativos e seus
efeitos em relação aos partícipes da operação, a originadora e, por vezes, a própria
securitizadora.
Em decorrência do sistema romano-germânico adotado pelo Brasil, seu ordenamento
jurídico não admite a existência de uma dupla propriedade sobre o mesmo bem, ao contrário
do que ocorre nos países de tradição anglo-saxônica, nos quais tal pode ser feito pela vontade
do proprietário, vinculando-os a uma determinada finalidade, como se dá em relação à
constituição do trust, impedindo que dívidas do settlor ou do trustee possam afetar os bens
que lhe servem de objeto.
Adota-se a teoria subjetiva do patrimônio, na qual uma pessoa e seu patrimônio
constituem uma universalidade de direitos, um todo indivisível, razão pela qual responde
perante seus credores com a totalidade de seus bens.
Dentro dessa perspectiva histórica, restaria, em princípio, impossibilitada a afetação
de parcela patrimonial, salvo expressa previsão legal e, consequentemente, dificultadas as
operações de securitização de crédito de ativos não agraciados com tal privilégio.
A securitização é espécie de negócio indireto, com as características próprias de um
negócio fiduciário, já que opera a transmissão de bens afetados a uma finalidade.
Melhim Chalhub (2006) lembra ser necessária a harmonização do direito positivo
pátrio em face da legislação estrangeira, sobretudo considerando que os países concorrentes
na captação de capital estrangeiro já harmonizaram suas legislações com as dos países
60
fornecedores de recursos e, portanto, já há algum tempo se encontram em melhores condições
do que o Brasil para captá-los. Cita como exemplos disso o Chile, a Argentina e a Venezuela,
que reformularam sua legislação sobre fideicomisso na linha do conceito do patrimônio de
afetação, exatamente com o propósito de criar condições para o ingresso de capitais
estrangeiros. De igual forma, Portugal, Espanha e Itália, países também ligados ao sistema
romano-germânico, buscaram essa inovação.
Não obstante, ponto comum entre alguns dos autores que se dedicam ao assunto,
reside na insegurança quanto ao aspecto da segregação patrimonial.
É uníssono entre esses autores (CHALUB, 2006; CHAVES, 2006; CAMINHA,
2007; CANÇADO; GARCIA, 2007) que é da afetação patrimonial que decorre uma
securitização segura e atrativa para os interessados, inclusive por ser a partir da presunção de
solidez dessa separação, é que se avaliam e classificam os riscos do negócio, e servirá para
informar o investidor na sua tomada de decisão. A originadora terá a garantia de que não verá
a parcela de seu patrimônio, que foi cedida à sociedade de propósito exclusivo, comprometida
de forma prematura por dívidas deste, antes do repasse do valor ajustado. De igual sorte, esta
última terá a garantia de que os bens recebidos não correm risco de serem expropriados por
eventuais credores da originadora. E, principalmente, através desse modelo é possível
encontrar investidores interessados na compra de valores mobiliários no mercado de capitais,
vinculados a esse tipo de negócio, pois terão a certeza de que o ordenamento jurídico
assegurará a garantia prestada, sem que dívidas outras, de qualquer dessas duas empresas, não
vinculadas exclusivamente à operação de que participam, possam comprometê-la.
Quanto a isso, vale a transcrição da seguinte passagem:
Apesar de atualmente haver dúvida sobre a validade e eficácia da segregação de
patrimônio do originador em relação ao veículo de propósito exclusivo,
especialmente no caso de falência ou concurso de credores, acredita-se que essa
desconfiança deve-se à novidade do negócio, já que, conforme demonstrado, ela é
válida e plenamente compatível com o conceito moderno de patrimônio, mesmo
quando implementada através de segregação interna, e não por cessão de crédito.
A corroborar com essa tese, o legislador brasileiro tem entendido válida a
segregação patrimonial, inclusive criando mecanismos especiais para a securitização
imobiliária, como é o caso do fundo de investimento imobiliário e do regime
fiduciário da securitização de ativos de natureza imobiliária, onde claramente se
verifica a adoção de mecanismos fiduciários pelo ordenamento jurídico pátrio para
viabilizar a securitização. (CAMINHA, 2007, p. 189-190).
Portanto, mister se faz a reflexão sobre Teoria do Patrimônio, como parte integrante
dos fundamentos da fidúcia do direito romano e do trust anglo-saxão, como resposta às
possibilidades de eficaz estruturação da securitização de crédito no Brasil.
61
É o que se passa a enfrentar nos próximos capítulos, nos quais serão tratados o trust,
depurando-lhe as principais características, passando-se à análise do negócio fiduciário, como
alternativa viável no Brasil, o que, a seu turno, demandará a análise do instituto do patrimônio
e a possibilidade de afetação, seguindo-se pelas modificações legislativas recentemente
verificadas, mormente no que se refere à propriedade fiduciária e à Lei de Recuperação
Judicial de Empresas.
62
3 O TRUST
3.1 Aspectos históricos
O trust tem sua origem na Idade Média. Deriva, em verdade, do use do direito inglês
e em que pese sua semelhança com a fidúcia romana, que será analisada em seguida, aquele
instituto se desenvolveu de forma autônoma e em época diversa, bem posterior. Aliás,
conforme assevera Judith Martins Costa (1990, p. 34) o trust possui características
diferenciadas, estranhas aos sistemas de Direito continental europeu e, “por isso, como bem
acentua René David que dita instituição – a exemplo, de resto, da maior parte das instituições
e dos conceitos do Direito inglês – ‘explica-se unicamente pela história’”.
Conforme elucida Salomão Neto (1996), após a invasão normanda na Inglaterra, no
ano de 1.066, as terras pertencentes à nobreza anglo-saxônica foram tomadas e atribuídas ao
rei e, posteriormente, distribuídas em caráter precário aos tenants (possuidores), dando azo à
relação jurídica conhecida por tenure, mas que não garantiam a propriedade das terras, e sim
direitos limitados pelo tempo, denominados estates.
Não obstante, ao detentor da tenure era facultada a criação de outras relações
similares, com a criação de novos tenants, os quais ficavam subordinados e sujeitos a
prestação de serviços ou obrigações equivalentes aos de vassalo e suserano.
Dentre os direitos do suserano em caso de morte do tenant destacam-se os seguintes:
O “escheat” permitia ao suserano herdar terras do vassalo em caso de morte deste, e
após evolução, em caso de morte sem herdeiros. O “relief” implicava que o herdeiro
de um vassalo, entrando na posse de um imóvel por sucessão, pagasse ao suserano
rendimento do imóvel igual a uma quarta parte da renda anualmente produzida pelo
bem. A “wadship”, consistia no direito do suserano de, na morte de um vassalo
tendo por herdeiro um menor de idade, torna-se tutor do menor, com direito a
conservar para si próprio os rendimentos do imóvel até que o pupilo completasse 21
anos, se do sexo masculino, ou 14, se do sexo feminino. Finalmente, o direito de
“marriage” permitia ao suserano indicar o cônjuge de um menor vassalo de que
fosse tutor, e em caso de recusa deste, perceber compensação igual à recompensa
financeira que lhe seria paga por um terceiro beneficiado pela escolha (um familiar
do cônjuge escolhido, por exemplo). (SALOMÃO NETO, 1996, p. 12).
Verifica-se, assim, que referido sistema têm por característica a coexistência de mais
de um direito real sobre um mesmo bem.
63
Essa situação passou a causar insatisfação e a gerar tensão, dadas as expectativas dos
tenants em conservar suas terras livres de tais encargos, inclusive na sua sucessão. Havia
também os interesses dos monges, que na sistemática vigente não podiam adquirir os bens
ofertados pelo crescente número de fiéis para mantença de mosteiros, escolas e igrejas.
Daí resultou a busca por contornar essas limitações, o que se deu pela atribuição dos
bens a um terceiro, em caráter fiduciário, devendo o mesmo administrá-los nos moldes
estabelecidos pelo titular de fato, ao qual era atribuído o gozo ou o rendimento gerado,
podendo também atribuí-lo a terceiro de sua escolha.
A essa cessão de direitos reais deu-se o nome de use, mas que em seu nascedouro
não contava com proteção jurídica em face do fiduciário, tendo em vista que este passava,
segundo os ditames da common law, a ser considerado o titular da coisa, podendo conferir à
mesma o destino que quisesse. Tal como se deu na fidúcia romana, essa relação se pautava na
confiança e a sanção em face do descumprimento do pacto não produzia senão efeitos de
cunho moral.
Mas, conforme destaca o retro mencionado autor, essa fragilidade do ordenamento
jurídico passou a ser mitigada pela figura do Chancellor:
A justiça medieval inglesa era, contudo, impotente para levar em consideração os
direitos dos beneficiários de ‘uses’, pois assentava-se basicamente nos tribunais
encarregados da aplicação da ‘common law’, formais e legalistas. Ao lado dos
tribunais existia, entretanto, um importante funcionário público, o ‘Chancellor’, cuja
interferência passou a ser fundamental para a eficácia jurídica dos ‘uses’.
O ‘Chancellor’ era inicialmente um eclesiástico a quem se atribuía a função de
conselheiro do rei, dada sua capacidade de lidar com questões de consciência, bem
como a função de guarda do selo real. O rei sempre teve poder jurisdicional a par
dos tribunais por ele constituídos, o que representava o reflexo de sua situação de
preponderância, podendo os súditos, em qualquer caso, recorrer diretamente a ele
em situações em que não encontrassem conforto ou proteção nas regras jurídicas
habituais. Ao fazerem isso, as petições, baseadas primordialmente em questões de
justiça natural, insuscetíveis de acolhimento pela ‘common law’, tendiam a ser
passadas à análise do ‘Chancellor’ devido a sua formação eclesiástica e a seu papel
de diretor de consciência do rei. A partir do ‘Statute of Westminster’ de 1285, esta
jurisdição do ‘Chancellor’ foi de certa maneira institucionalizada pela inclusão entre
suas atribuições da emissão de ‘writs’, isto é, mandados de citação em querelas
cofiadas a sua análise. Na prática, isso permitia ao ‘Chancellor’ a criação de novos
direitos, o que fazia admitindo novos fundamentos de ações. Esse procedimento é
comparável àquele pelo qual os pretores, encarregados da aplicação das leis,
conseguiram introduzir reformas profundas no Direito Romano, sempre com
tendência a adaptar disposições legais rígidas aos ditames da equidade. (SALOMÃO
NETO, 1996, p. 14).
Como conseqüência, o Chancellor passou a exercer função moderadora, criando-se o
hábito de ser procurado em situações nas quais os extremos da common law, ou em situações
de corrupção, por exemplo, apresentavam-se injustas. O mesmo ocorreu em relação aos
64
beneficiários de uses em face de fiduciários desleais. Mas, digno de nota, é o fato de tal juízo
de equidade por parte daquele não ter o condão de determinar a retomada do bem, se tal não
fosse amparado pela common law, sob pena de afronta ao direito de propriedade. As sanções
pela desobediência de seus comandos recaíam sobre a própria pessoa do infrator, muito
embora, na prática, tenha servido como instrumento de eficácia do use.
Como é curial, essa sobreposição gerou resistência, mormente dos senhores feudais,
prejudicados em vários de seus privilégios de suserano em face dos vassalos. Tal regra, por
óbvio, atingia ao próprio rei, de tal sorte que, no ano de 1535, Henrique VIII promulgou o
Statute of Uses, extinguindo os uses, ao fundamento de evitar fraudes e garantir o direito de
propriedade, na medida em que negava a validade de direitos reais não registrados.
Entretanto, em reação, a Corte de Chancelaria, via jurisprudência, buscava
interpretações tendentes a contornar o rigor da norma, excepcionando diversas hipóteses.
Com a constituição de colônias nos séculos XVII e XVIII, as rendas feudais
passaram a ter menor importância à coroa, o que conferiu maior tranqüilidade de atuação à
Corte de Chancelaria para mitigar de vez as limitações impostas aos uses. Tal foi feito através
da introdução da praxe de se constituir dois uses sucessivos no mesmo instrumento,
interpretando-se, a partir disso, que o Statute of Uses limitava-se a extinguir o primeiro.
Esta é a relevância e a relação dos Chancellors com o trust e seu desenvolvimento e,
de forma geral, com o próprio desenvolvimento do sistema jurídico anglo-saxão, no qual se
introduziu novos ares e regras.
Embora inicialmente tenham emanado da casuística as regras de equidade, ainda que
de forma variável de Chancellor para Chancellor, nos séculos XVII e XVIII as Cortes de
Chancelaria passaram pelo mesmo processo de consolidação da common law, extraindo-se
princípios de casos passados para aplicação futura, que em seu conjunto foram denominados
de Equity. Ademais, a partir de 1672, os Chancellors deixaram de ter origem eclesiástica e
passaram a ter formação jurídica. Assim se consolidava um sistema estável de princípios o
qual, conforme relembra Salomão Neto (1996, p. 18), “teve também a conseqüência de
desvincular as decisões baseadas na ‘Equity’ da pretensão de justiça casuística que a
caracterizava até então, substituída, em certa medida, pela aplicação lógica de regras advindas
de ‘precedentes’”.
Já em 1873, com a promulgação das Judicature Acts, definitivamente consolidada
estava a Equity, com a criação da Supreme Court of Judicature, que com sua repartição em
divisões incorporou a Corte de Chancelaria, podendo os princípios de Equity ser argüidos em
quaisquer divisões, quando pertinente a matéria.
65
E, como visto, foi também dessa sucessão de fatos que se legou o trust, nos moldes
hoje conhecidos:
De sua origem histórica reproduzida aqui até a época contemporânea, o “trust” se
consolidou como mecanismo jurídico adaptável a servir a múltiplas finalidades,
todas elas tendo em comum a titularidade nominal de patrimônio por pessoa
obrigada a administrá-lo em benefício de terceiro. Seu regime jurídico preciso foi
sendo definido por via jurisprudencial e mesmo legislativa nos períodos
subseqüentes, em evolução não completada até os dias de hoje. As aplicações do
“trust” também evoluíram com a passagem do mercantilismo ao capitalismo
industrial e financeiro, passando o instituto a ultrapassar a esfera de meio de
organização de patrimônios privados para tornar-se mecanismo jurídico presente na
vida empresarial e na organização de esquemas de investimento coletivo.
(SALOMÃO NETO, 1996, p. 19).
Por fim, e de forma a consolidar esse panorama com suas relevantes conseqüências
para a modernidade, cabe trazer à colação os seguintes esclarecimentos:
De fato o trust é um negócio construído em torno da confiança (trust) que o grantor
(ou settlor of trust) deposita no trustee. A titularidade da propriedade se desdobra
em duas pessoas, sem que haja condomínio, numa situação que lembra a
superposição de propriedades, que existia no “anfiteatro enfitêutico” medieval. O
settlor mantém um direito obrigacional e o título do trustee é um direito real mas
condicionado pelas regras e objetivos do trust que se estabeleceu.
Com efeito, muito embora os Judicature Acts de 1873 tenham fundido os tribunais
de common law e de equity num único aparelho judiciário, o Direito inglês
permaneceu dual, tanto com regras de uma origem como de outra. Como assinala
Derek Roebuck (ob. cit., p. 78), continuam a existir dois sistemas, como fica
evidenciado pela distinção entre legal ownership e equitable ownership no caso do
trust. (WALD, 1995, p. 109).
3.2 Principais características
Após esse percurso histórico o trust se desenvolveu de tal maneira a se transformar
em um dos mais importantes institutos do Direito anglo-saxão, por se prestar, dada sua
flexibilidade, a diversos tipos de negócios, sendo mesmo um dos mais estudados da
atualidade, em diversos países, inclusive de origem romano-germânica.
Conforme aponta Salomão Neto (1996), o trust é comumente utilizado para a
proteção de incapazes ou de pessoas pouco experimentadas no comércio, que por essa via
podem ser beneficiadas por um patrimônio sem deter sua titularidade e incorrer nos riscos de
perda ou dissipação daí decorrentes. Podem se prestar também como forma de organização do
controle de sociedades, concentrando-se ações com direito a voto em mãos de um só titular,
66
responsável por exercer os direitos de sócio em benefício de proprietários originais que as
tenham transferido.
Judith Martins Costa (1990, p. 44) aponta outros usos, tais como para a satisfação de
dívidas com os lucros advindos da administração, para geração de renda a um beneficiário,
para a preservação de bens futuros, dentre outros, “reunindo em um mesmo molde as funções
que, entre nós, desempenham vários institutos, entre eles os contratos de mandato, gestão de
negócios, alienação fiduciária em garantia, a comissão mercantil, o pacto de retrovenda, além
da constituição de fideicomisso e alguns tipos de fundações.”
E, mais, além dessas formas de administração patrimonial em favor de um
beneficiário (trusts privados), também podem estar vinculadas a um fim determinado
(purpose trusts), inclusive a caridade ou persecução de interesses públicos. Ademais, podem
também servir como garantia de uma dívida e de investimento.
Talvez pela diversidade de aplicações e constante evolução não seja tarefa simples a
conceituação do trust, sendo mais fácil caracterizá-lo do que defini-lo, fazendo-o nos moldes
a seguir:
Implica o “trust” a transferência de propriedade ou titularidade sobre um bem
corpóreo, móvel ou imóvel, ou incorpóreo, como os direitos, a um terceiro
denominado “trustee”, a quem incumbe exercer os direitos adquiridos em benefício
de pessoas designadas expressamente no instrumento criador do “trust”, ou
indicadas pela lei ou jurisprudência na falta de tal instrumento, chamadas de
beneficiários ou “cestui que trust”. Alternativamente, podem se constituir “trusts”
não em benefício de pessoas determinadas, mas com vistas à perseguição de
determinados objetivos. Por outro lado, estaremos diante de um “trust” ainda quando
uma pessoa se declarar “trustee” em benefício de terceiro de bens que já detenha, em
tal hipótese não sendo necessária a transferência de propriedade. (SALOMÃO
NETO, 1996, p. 20-21).
Constata-se que o trust terá sempre por objeto um substrato patrimonial, a ser
destacado do patrimônio daquele que o instituiu, transferindo-se os bens ao trustee, via
cessão, salvo quando o próprio instituidor assim se declarar. Para tanto, deve-se sempre
discriminar os bens envolvidos na operação, podendo ser corpóreos ou incorpóreos, inclusive
se referir a bens futuros.
Também dessas características, assim como de sua evolução histórica, destaca-se um
aspecto de fundamental importância, pelos efeitos que produz. Trata-se da confiança, da
fidúcia inerente ao trust, na medida em que sua constituição encontra-se adstrita à realização
de uma determinada finalidade.
Era com base nesse aspecto, nesses modelos de confiança e de consciência, que se
davam as imposições pelas Cortes de Chancelaria, como se colhe:
67
Ressalta, assim, a confiança como um dos elementos essenciais do trust: aquele que
tem o legal tittle sobre um bem não o possui senão para fins específicos e limitados,
que tiverem sido estabelecidos pelo settlor ou pela Corte.
Aqui se mostra claro o desdobramento da propriedade sobre a coisa dada em trust.
Como se sabe, o direito anglo-saxão contempla a existência de mais de um direito de
propriedade sobre uma só coisa, cada uma dessas propriedades com qualificação
peculiar, delimitada, estabelecendo-se para tanto um regime de graduação. A
propriedade da coisa objeto de um trust, assim, estará atribuída a mais de um titular,
tendo o trustee o legal title, que se poderia traduzir por propriedade formal, e o
cestui que trust (beneficiário) o equitable ou beneficial title, significando
propriedade econômica ou de fruição. (CHALHUB, 2006, p. 26).
De se destacar, ainda, que a existência dessa dupla propriedade encontra-se fundada,
de um lado, na confiança, ou na fidúcia que emana da relação estabelecida entre os
respectivos partícipes, mas, de outro, sobremodo pelo sistema processual existente nos países
de tradição anglo-saxônica, que permite ao judiciário decidir e impor com base nesse padrão
de consciência.
E desse conjunto de fatores, que de um lado deram azo à configuração de uma dupla
propriedade, única forma de se conceber as situações submetidas à Corte e sobre elas se
decidir com justiça, de outro, estabeleceram mais um importante aspecto determinante no
trust, qual seja, encontra-se na estrita vinculação do trustee à finalidade que tiver sido
estabelecida quando da constituição daquele, decorrendo disso o entendimento de que os bens
objeto do trust ficam afetados àquele fim.
Nesse sentido, e também revelando as características desse ordenamento jurídico,
fundamentais à evolução do instituto, colhe-se:
Mas, além da dicotomia da propriedade, que confere direito real ao beneficiário e lhe
assegura a fruição da coisa, ressalta como elemento viabilizador do trust, com vistas
à segurança da relação jurídica, o sistema de proteção do poder judicante, do qual
emanam modelos de consciência e fidelidade que o trustee é obrigado a observar em
sua relação com a coisa dada em trust, modelos esses que a eles são impostos pela
Corte, vale dizer, a par do direito real que prende a coisa ao beneficiário, e acima
desse direito, a Corte conduz e controla a atuação do trustee na implementação do
trust, mantendo-o nos limites do trust que a ele foi confiado.
Esse mecanismo de proteção judicial indica, também, que no processo de
desenvolvimento histórico do trust, apesar de a jurisprudência ter construído um
rígido sistema de controle que protege os interesses do beneficiário, o instituto
continua a ter como traço marcante a confiança, com a peculiaridade de que tem o
judiciário o poder de fixar os padrões de fidelidade e consciência a serem
observados pelo trustee. (CHALHUB, 2006, p. 27-28).
Essas características restaram cada vez mais consolidadas pela jurisprudência, as
quais circundam esses pilares acima expostos, da confiança e da finalidade a que visa o trust
constituído, de onde se extrai, conforme também dito, a afetação do substrato patrimonial que
foi empregado, o que se confirma também do seguinte excerto:
68
No trust, os bens entregues ao trustee constituem patrimônio de afetação, isto é, não
se confundem com o patrimônio do trustee, na medida em que se tornam
inalienáveis e impenhoráveis. O beneficiário tem a segurança de que seu domínio
econômico não será perturbado e de que poderá gozar dos frutos com tranqüilidade.
O que se permite ao trustee são atos de administração, que podem implicar a
disposição de bens, para a melhor gestão do patrimônio. (FIUZA, 2008, p. 660).
O reconhecimento dessa separação patrimonial tanto em relação ao patrimônio
daquele que instituiu o trust quanto em relação ao patrimônio do trustee, visa, por óbvio,
resguardar o alcance da finalidade que o fez existir e, por conseqüência, também do
beneficiário. Portanto, da constituição do trust resulta proteção aos beneficiários, por
tornarem os bens inalcançáveis por dívidas do trustee que, inclusive, no caso da insolvência
deste, ficarão de fora do concurso de credores.
Dada a importância do trust e sua crescente utilização na dinâmica dos negócios
internacionais, tem-se buscado cada vez mais a consolidação dos entendimentos aplicáveis à
matéria, tendo sido objeto de conferências internacionais, como a de Haia, realizada em 1984,
na qual restou sedimentado:
Alguns diplomas recentes vem definindo com maior clareza os elementos essenciais
do trust, como a conferência internacional realizada em Haia em 1984, sobre Direito
Internacional Privado em matéria de trust, ou o Recognition of Trusts Act de 1986,
na Inglaterra (v. Jeffrey Hackney, Understanding Equity and Trusts, Fontana, Press,
1987, PP. 27-28). São eles:
a) os bens formam uma massa separada do resto do patrimônio do trustee;
b)os bens ficam em nome do trustee; e
c) o trustee tem o poder (e o dever) de administrar os bens de acordo com as
condições estabelecidas no trust, sendo responsável pela sua gestão. (WALD, 1995,
p. 110).
Essa importância não passou despercebida dos países filiados ao sistema romanogermânico, que preocupados com que a inadequação do ordenamento jurídico viesse a trazer
prejuízos na atração de investidores estrangeiros, buscaram também realizar estudos e vias
alternativas para contornar os principais obstáculos existentes entre um e outro ordenamento,
o que será melhor elucidado no item 4.5.5 deste trabalho.
3.3 Problemas para a adoção do trust nos países de tradição romano-germânica
Como consequência da globalização e das tecnologias que diminuíram as distâncias
entre os mercados, intensificando o fluxo de negócios e de capitais e, de resto, estreitando as
69
relações internacionais, surgiu também a necessidade de melhor harmonizar o direito
comparado no que se refere às características do trust e, quiçá, sua possível absorção pelos
países pertencentes ao sistema romano-germânico, dentre eles o Brasil.
Para tanto, mister se fez identificar a natureza jurídica do trust, precisar seus
elementos, o que pode se dar mediante uma abordagem imediata, vale dizer, de seus
elementos internos, ou mediata, no que se refere à sua função e repercussão em um sistema
jurídico. E, quanto a essa sistemática, importante é a consideração a seguir:
A abordagem imediata do “trust” procura determinar seu enquadramento em uma ou
outra categoria de relações jurídicas com base romanística. Em vista disso, tal
abordagem poderia ser suspeita de um certo artificialismo e mesmo de irrelevância
quando aplicada sobre uma formulação típica da “common law” como o “trust”. Isso
não se confirma após análise mais aprofundada, entretanto, da abrangência lógica
das grandes categorias romanísticas, que tornam possível sua aplicação mesmo a
sistemas de base diversa. Aliás, nos países do “common law”, várias questões
atinentes à tributação dos “trusts” só puderam ser resolvidas tendo-se recurso a
categorias romanísticas que permitiam determinar o momento em que o beneficiário
de um “trust” adquiria a titularidade sobre a renda de um dado “trust”, assunto a que
retornaremos mais adiante.
As classificações romanísticas que se possa pretender sobrepor ao “trust”
apresentam ainda óbvia utilidade quando se cogita da aplicação de regras de Direito
Internacional brasileiro a “trust” constituído no exterior, caso em que a escolha de
lei aplicável deve ser precedida de prévia qualificação do instituto. Serão também
úteis quando se indagar, como é o objeto deste trabalho, sobre a possibilidade de
aplicação de princípios do “trust” a institutos dele derivados existindo fora da
“common law”, em sistema romanístico como o brasileiro. (SALOMÃO NETO,
1996, p. 58-59).
Destarte, e a fim de buscar um enquadramento possível no ordenamento pátrio, a
primeira questão que se traz à baila pertine à relação que se estabelece entre o trustee e o
beneficiário, já que, como visto, no sistema anglo-saxão coexistem duas propriedades sobre o
mesmo bem, o que é incompatível com sistemas de base romanística.
Há entre eles uma relação obrigacional, configurando o beneficiário como credor
daquele outro, consubstanciada por obrigação de dar, no que se refere aos frutos, e de fazer,
no que se refere à administração eficaz e prática de atos, como investimentos, inerentes a essa
função.
Todavia, se sob essa ótica a identificação de uma relação obrigacional estaria correta,
pois de fato é um dos efeitos emanados do trust, sob o enfoque da titularidade tal não seria,
dada a impossibilidade de se excluir a titularidade também do beneficiário sobre os bens.
Afinal, o beneficiário adquire, em relação aos bens e direitos sob trust, “um verdadeiro direito
de seqüela que faz com que seu título prevaleça contra quaisquer terceiros adquirentes, exceto
70
nas raras hipóteses de aquisição onerosa por terceiros de boa-fé sem conhecimento da
existência do ‘trust’.” (SALOMÃO NETO, 1996, p. 60).
Vale dizer, não há uma simples relação de crédito e, portanto, um direito meramente
pessoal, a esgotar os liames entre trustee e beneficiário. O direito de seqüela existente é
incompatível com essa relação jurídica. Afinal, caso assim fosse, no descumprimento por
parte do trustee, que viesse a alienar fraudulentamente os bens a terceiros, o beneficiário
restaria relegado a perdas e danos, o que não equivale à realidade da common law.
Essas conseqüências e dificuldades de adaptação foram apontadas por diversos
autores, como se pode verificar dos seguintes trechos ora colacionados:
Como já vimos, o fundamento básico do trust, sem o qual ele não pode existir, é a
dupla propriedade dos bens, num esquema de alta maleabilidade, mas, ao mesmo
tempo, com segurança para todas as partes envolvidas no negócio.
Ocorre que, nos direitos de origem romana, prevalece o princípio da unicidade do
domínio e da incindibilidade do direito subjetivo do proprietário, não podendo
terceiros exercer em nome próprio direito de ação relativo à pretensão de outrem.
[...]
Assim, não é fácil conceber, no Direito brasileiro tradicional a duplicidade da
propriedade, como ocorre no trust embora já exista uma situação análoga – mas não
idêntica – na alienação fiduciária em garantia.
[...]
No Direito brasileiro, em virtude da exclusividade da propriedade, se alguém
transfere um bem a outrem, ainda que com cláusula de retransmissão a um terceiro,
ou de reversão a ele mesmo, o direito daí decorrente é pessoal, e não real, e,
portanto, resolve-se em perdas e danos, embora reconheça a nossa legislação a
propriedade resolúvel (art. 525 do Código Civil). (WALD, 1995, p. 110-111).
Também nesse sentido, e com maior riqueza de detalhes, tem-se:
Há, entretanto, alguns empecilhos à introdução pura e simples do instituto nos países
de civil law, como o Brasil. Não há, em nossa clássica tradição romana, a
possibilidade de, por exemplo, duas propriedades distintas conviverem
harmoniosamente, tendo por objeto um mesmo bem. Para nosso sistema, a natureza
do direito do trustee é de fácil entendimento. Trata-se de propriedade limitada por
direito real de terceiro, o beneficiário. Já quanto ao direito do beneficiário, a questão
é mais complexa. Não se trata de propriedade, como se configura na common law,
pois esta seria, em nossa sistemática, direito exclusivo do trustee. Nem mesmo se
poderia falar em condomínio, uma vez que os condôminos são titulares da mesma
relação dominial sobre a coisa, o que não ocorre no trust, que se caracteriza por duas
propriedades diferenciadas, propriedade formal e econômica.
Poder-se-ia dizer que o beneficiário detém o domínio útil, mas este tem como
apanágios o uso e a fruição. Despido o beneficiário do direito de usar, que é do
trustee, não se pode falar em domínio útil. Por via de conseqüência, tampouco se
pode falar em usufruto, pois este se fundamenta exatamente no domínio útil, de que
é titular o usufrutuário e que falta ao cestui que trust.
Vê-se, dessarte, que o trust, a ser adotado em países de tradição romano-germânica,
deve sofrer algumas adaptações, para que não venha a se tornar esdruxulária, inútil e
incompatível com o ordenamento jurídico. (FIUZA, 2008, p. 660-661).
71
Este o primeiro problema existente para a adaptação e, consequentemente, a
fragilidade em se pretender apenas uma relação obrigacional, de caráter pessoal.
Mas, não é só. Outro relevante problema advém do art. 591 do Código de Processo
Civil16, reproduzido em sua essência também no art. 391 do novo Código Civil17, que
estabelece o patrimônio de uma pessoa como uma universalidade, garantia de todas suas
obrigações perante terceiros credores.
Portanto, qualquer solução, através de instrumentos jurídicos dotados das principais
características do trust, deverá ter em mente também a possibilidade de constituição de um
patrimônio separado, vale dizer, de um patrimônio afetado a uma específica finalidade.
Em vista disso, foi defendida a idéia, pela teoria objetiva do patrimônio, de que o
trust encerra a constituição de um patrimônio separado, afetado a uma finalidade, e sem
titular, tal como exposto por Lepaulle, que define o trust como “uma instituição jurídica que
consiste em um patrimônio independente de todo sujeito de direito, cuja unidade é constituída
por uma destinação, livre nos limites das leis vigentes e da ordem pública” (LEPAULLE apud
SALOMÃO NETO, 1996, p. 62).
Essa conceituação foi alvo de críticas. A uma, pelo fato de que, embora possível a
constituição de um patrimônio afetado a uma finalidade, mas sendo o patrimônio entendido
como o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa, seria inadmissível um patrimônio
desprovido de um titular. A duas, e ainda que superado o problema acima, perante terceiros
seria o trustee o legítimo titular da coisa, inclusive com registro em seu nome, nos casos de
bens imóveis, tal como se dá nos sistemas filiados à common law. Assim ocorrendo, qualquer
credor particular daquele poderia comprometer o substrato patrimonial envolvido no negócio,
sem a possibilidade de oposição por parte do settlor ou do beneficiário.
Consoante já ressaltado, nos países da common law tais problemas não pairam sobre
o trust, seja em decorrência da dupla propriedade, seja pela formação de um patrimônio de
afetação em relação aos bens transferidos ao trustee. Assevera Arnoldo Wald (1995, p.111112) que esse risco da sujeição dos bens objeto do trust a credores pessoais do trustee
poderiam ser mitigados com a instituição de cláusula de impenhorabilidade. Entretanto, na
prática inviabilizaria “uma ágil e eficiente administração dos mesmos, que, em última
instância, é o objetivo principal do negócio, sendo difícil, assim, a transmissão do trust para o
direito brasileiro sem legislação própria.”
16
Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.
17
Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.
72
Desta forma, e na medida em que o aproveitamento direto do trust revelou-se
inviável nos países de base romanística, por afrontar ao princípio da exclusividade da
propriedade, passou-se à busca por institutos que exerçam funções análogas aos do trust, seja
em relação à sua estrutura e funcionamento internos, seja nos seus efeitos patrimoniais, tanto
em relação às partes envolvidas, quanto em relação a terceiros.
Para tanto, vislumbrou-se nos modernos desdobramentos da fidúcia romana a
solução para o problema, nos seguintes termos:
Entretanto, há que se remarcar, mais uma vez, que o trust contempla,
necessariamente, como característica fundamental, a dicotomia do direito de
propriedade, pela qual podem coexistir sobre um mesmo bem dois direitos de
propriedade (a legal property, do trustee, e a equitable property, do beneficiário ou
cestui que trust), peculiar do direito anglo-saxão e não acolhido pelos sistemas de
tradição romana. O trust em sua concepção natural só pode ter acolhida em países
que adotem a dualidade da propriedade. Essa peculiaridade torna impossível a
recepção pura e simples do trust pelos ordenamentos jurídicos de origem romana,
daí porque a configuração de um instituto que possa exercer as mesmas funções do
trust passa por uma construção doutrinária e legislativa assentada na possibilidade
de separação de patrimônio e, consequentemente, na criação de patrimônios de
afetação – nesse conceito, o proprietário de certos bens transmite-os a outrem para
atender a determinados fins (de investimento, garantia ou administração, por
exemplo), atribuindo a essa transmissão caráter puramente fiduciário; aquele que
recebeu os bens tem sobre eles um domínio restrito (domínio fiduciário) e com essa
propriedade fiduciária constitui um patrimônio de afetação, com a destinação
específica e única de cumprimento da finalidade definida no ato de sua constituição.
(CHALHUB, 2006, p. 33-34).
Desta forma, em princípio, seria possível alcançar os principais elementos do trust
através do desenvolvimento de institutos jurídicos dos sistemas de base romanística, que com
funções análogas atendam aos anseios demandados pelo mundo globalizado.
É o que se passa a analisar, com ênfase nas principais características do negócio
fiduciário, das figuras similares já positivadas no ordenamento jurídico pátrio, e na
possibilidade de constituição de um patrimônio separado, em busca dos efeitos econômicos e
jurídicos do trust, “isto é, mediante a atribuição de um direito patrimonial – propriedade
fiduciária – a alguém, para que o administre no interesse de outrem, mantendo-se a
propriedade fiduciária em patrimônio apartado.” (CHALHUB, 2006, p. 36).
73
4 A FIDÚCIA
4.1 A fidúcia romana
O que hoje se convencionou chamar negócio fiduciário tem sua origem na fidúcia
romana, razão pela qual, antes de se pretender analisar a feição alcançada pelo instituto na
sociedade hodierna, imperiosa se faz a elucidação de sua gênese.
Os historiadores alegam a dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de precisar o
surgimento da fidúcia na sociedade romana. Otto de Souza Lima, dentre os doutrinadores
pátrios talvez o que mais tenha se debruçado sobre o tema, com base em Vicenzo Ragusa,
(1962, p. 11-12) revela os primeiros vestígios da fidúcia na Lei das XII Tábuas, em específico
na Tábua VI – I, de onde se colhe: “Quum nexum faciet mancipiumque, uti língua
nuncupassit, ita jus esto”.18
Cretella Júnior (2007) informa que no antigo direito a fidúcia fundava-se apenas na
lealdade e na confiança, não existindo qualquer sanção, o que somente passa a ocorrer nos
últimos tempos da República. É o que se confirma, com maior riqueza de detalhes, do
seguinte trecho:
Surgiu, depois, como um pacto adjecto, como um acôrdo, como uma convenção não
formalista, através de uma cláusula secreta, como o quer Ihering, ou como “une
contre-lettre”, segundo Geny. Aderia a uma convenção solene, translativa da
propriedade – a mancipatio, ou a in jure cessio. Apresentava-se, portanto, à época da
Lei das XII Tábuas, com aquelas palavras solenemente pronunciadas, a que a Tábua
VI – I emprestava a fôrça de lei. Se não podemos ver neste texto, por falta de
referência expressa, qualquer sanção, não há dúvida de que nele percebemos
nìtidamente a existência da fidúcia. (LIMA, 1962, p. 13).
Não obstante, o material arqueológico existente permite chegar com segurança a
vários aspectos da fidúcia romana, mormente de obras jurídicas como as Institutas de Gaio, as
Sentenças de Paulo, a Collatio, Fragmentos do Vaticano, Fórmula Bética e as Tábuas de
Pompéia, com destaque para as duas primeiras.
O contrato de fidúcia deve ter desaparecido antes do Império, face à ausência de
vestígios no período. Mas teve grande aplicação no direito clássico, conforme se observa:
18
“Será lei entre as partes, quando sejam cumpridas as solenes formalidades verbais prescritas para assumir uma
obrigação (nexum) ou para transferir a propriedade de uma coisa.” (RAGUSA apud LIMA, 1962, p. 10). Ou,
ainda, “se alguém emprenha a sua coisa ou vende em presença de testemunhas, o que prometeu tem força de lei”
(RESTIFFE NETO, 1975, p. 2)
74
Apresentou-se sob feições e funções diversificadas, compreendendo os seguintes
tipos: a) fiducia cum amico, muito parecida com o comodato, em que um amigo
entrega a outro uma coisa com transferência da propriedade, para dela fazer uso até
ser pedida em restituição; b) fiducia cum creditore, em que o devedor, por força do
contrato, transfere a propriedade da coisa ao credor, em garantia do pagamento de
uma dívida, comprometendo-se o credor a retransmitir a propriedade ao devedor
após o recebimento do que lhe é devido; c) fiducia remancipationis causa, pacto
pelo qual o paterfamílias vende um filho a outro paterfamílias, com a obrigação
assumida por este de libertá-lo em seguida, de forma tal que se obtenha o fim visado,
que é a emancipação do filho.
Destacava-se, entre elas, a fiducia cum creditore contracta (letra b, acima), que é a
que nos interessa mais de perto dentro do objeto desta obra, e importava na perda da
propriedade dos bens fiduciados, acarretando, como observa Nestor José Forster
(Alienação Fiduciária em Garantia, ed. Sulina, 1970, pág. 11), o surgimento de
figuras menos drásticas, como a hipoteca e o penhor, que não traziam tal
conseqüência. (RESTIFFE NETO, 1975, p. 2)
De fato, a fiducia cum amico prestava-se a várias finalidades, mormente para suprir a
insuficiência da lei.
Em seus primórdios, não admitia o direito antigo a transferência da propriedade ad
tempus. Por isso, aquêle que quisesse fazer a um amigo um empréstimo de uso valiase da fiducia cum amico, e, assim, assumia esta forma de fidúcia o seu papel de
comodato. Assim, antes de surgir esta figura jurídica no cenário romano, sua função
era exercida através da fiducia cum amico. (LIMA, 1962, p. 73).
E, mesmo depois de surgido o comodato, durante algum tempo passaram os
institutos a coexistir, com funções semelhantes.
Essa modalidade de fidúcia também exercia a função de depósito, nos tempos de
disputas políticas internas, em que o lado mais frágil por vezes se via obrigado a fugir,
valendo-se daquela para abrigar seus bens nas mãos de um amigo, evitando-se o confisco.
A seu turno, a fiducia cum creditore, dentre todas, além de ser a de maior utilidade, é
a que possui maior referência no acervo arqueológico encontrado.
Tinha como função, como o próprio nome indica, a garantia de um crédito, tal como
hoje se faz através do penhor e da hipoteca, com a diferença de apresentar ainda maior
segurança, dada a efetiva transferência da propriedade. Sob outro enfoque, este era também
seu grande inconveniente, por importar no desapossamento dos bens fiduciados,
impossibilitando o devedor de gerar renda com o uso dos bens. Partiu desse inconveniente o
surgimento daquelas duas outras formas de garantia, muito embora com elas tenha continuado
a existir, por conferir maior garantia ao credor.
Das Sentenças de Paulo colhem-se importantes aspectos, como o fato da fidúcia, em
sua modalidade cum creditore, ter dado origem ao penhor, mas com ele coexistindo. É o que
melhor elucida Lima:
75
Já se salientou que o penhor não transfere a propriedade ao credor. A fidúcia, ao
contrário, quer pela mancipatio, quer pela in jure cessio, importava em transmissão
da propriedade, de modo que, apesar da possibilidade da remancipatio, tornava-se o
credor proprietário da coisa. Por isso, não podia ela ser-lhe vendida, como possível
era em relação ao penhor. Para o nosso estudo, esta passagem é de subida relevância,
como, no momento próprio, se verá. (LIMA, 1962, p. 33).
Essa modalidade de fidúcia apresenta um caráter acessório, por ter pressuposta a
existência de uma dívida. Revelava-se mais eficiente que o penhor, já que neste, se invalidada
a obrigação, também o será a garantia.
Das Institutas de Gaio colhe-se o fato de que “a fidúcia se fazia pela mancipatio e
pela in jure cessio, ficando, portanto, afastada a traditio, que, segundo alguns escritores, era
também usada para a constituição da fidúcia.” (LIMA, 1962, p. 28). Para confirmar esse
entendimento, da não realização pela traditio, basta observar que a “mancipatio foi
substituída pela traditio, após o período de Justiniano quando se aboliu a distinção entre res
mancipi e res nec mancipi.” (ARAGÃO NETO, 2002, p. 25).
A mancipatio era uma venda imaginária (imaginaria venditio), denominação
emprestada pelo próprio Gaio. Era precedida de um ato solene, presenciado por pelo menos
cinco testemunhas, cidadãos romanos, no qual o comprador, empunhando uma balança e
tocando-a com uma barra de bronze, pronuncia determinadas palavras, invoca a venda,
entregando o metal ao vendedor, simbolizando a confirmação do negócio, assim como
simbólico o pagamento e preço figurativo. Entretanto, “o formalismo distingue a compra e
venda da mancipatio: nesta só o adquirente fala e actua, enquanto o alienante se limita ao
papel de mudo espectador e recebedor do dinheiro.” (KASER, 1999, p. 65).
Mas, ao contrário do que possa parecer, nem de perto se aproxima de uma venda
fictícia ou de um negócio simulado. Antes, trata-se de um modo abstrato de transferir a
propriedade e, “como salienta o Prof. Alexandre Correia, a palavra imaginaria aqui não
significa fictícia, mas correspondente à realidade visível” (LIMA, 1962, p. 49). Em outras
palavras, transferência independente da causa da alienação, o que a configurava como modo
geral de transmissão da propriedade. Como conseqüência, tem-se:
O fiduciário, mancipio accipiens, torna-se o proprietário da coisa fiduciada e poderia
alienar a terceiros com eficácia real, mesmo quando não fossem preenchidos os
pressupostos da perda do direito do fiduciante de reaver a coisa. Porque neste caso,
se a alienação da res fiduciária fosse realizada secundum jus, não era permitido ao
fiduciante perseguir judicialmente o terceiro adquirente, e sua ação restringia-se ao
fiduciário infiel. Pode-se dizer que este poderia validamente gravar de jura in re a
coisa recebida, dispor por legado, tomar medidas contra qualquer detentor na
76
qualidade de proprietário, [...] em que é manifesto o sinal de seu pleno direito.
(MESSINA apud LIMA, 1962, p. 49-50, tradução nossa)19.
Tal constatação se depreende também de outros autores, nos seguintes termos:
O fiduciário do Direito romano investia-se na plena titularidade dominial do bem
fiduciado, dele sendo exclusivo senhor. Esta a razão pela qual só restava ao
fiduciante confiar na lealdade e honestidade do fiduciário em retransmitir a coisa,
pois que a única sanção, para o caso de violação desse dever por parte do fiduciário
que dispusesse da coisa ou direito, era de ordem pessoal, relacionada com o direito
do fiduciante de pleitear indenização, sem atingir o terceiro a quem a coisa foi
alienada. (RESTIFFE NETO, 1975, p. 3-4).
A seu turno, a in iure cessio, ou “cessão perante o tribunal” (KASER, 1999, p.67),
outra forma solene de transferência da propriedade, distingue-se daquela fundamentalmente
pela forma, de natureza processual, mas com a mesma eficácia.
Operava-se perante um magistrado, através de uma reivindicação fictícia, com o
emprego figurativo de uma forma processual, solene, a confirmar a transferência do domínio.
Basicamente, o interessado na coisa a ser cedida comparece perante o magistrado e invoca
para si a propriedade, como se sua já fosse, momento no qual o magistrado interroga o
cedente sobre eventual oposição. No silêncio, ocorre a transferência da coisa ao vindicante.
Percebe-se, destarte, possuir caráter abstrato, tal como a mancipatio, sem indicação
da causa, sendo também um modo geral de aquisição da propriedade. Observava-se esta
forma e a “in iure cessio, como a mancipatio, pode ter por fundamento todas as causas acima
enumeradas [compra e venda, doação, constituição de dote, legado etc]; e, no seu efeito, é
independente da validade da causa (que não é mencionada na forma do acto); é também um
negócio abstracto” (KASER, 1999, p. 149). Em outras palavras, “tinha-se a transferência
solene da propriedade ou da coisa, apresentando-se com a mesma eficácia que a mancipatio.
Aliás, é o próprio Gaio quem o diz: ‘Quod autem valet mancipatio, idem valet et in iure
cessio’ (II, § 23).” (LIMA, 1962, p. 53).
Portanto, a fidúcia importava na transferência da coisa ou de um direito, o que se
dava pela mancipatio ou pela in iure cessio, dois modos solenes de translação do domínio no
Direito romano, da titularidade plena do direito. Transmissão esta, importante destacar, feita
19
Il fiduciário, mancipio accipiens, diveniva proprietario della cosa fiduciata e di essa poteva disporre
liberamente di fronte ai terzi con efficacia reale, pur allora quando non fossero adempiuti i pressupposti di
decadenza del fiduciante dal diritto di riavere la cosa. Poichè in tal caso, se l’alienazione della res fiduciaria
fosse avvenuta secundum jus, non era consentito al fiduciante di molestare giudizialmente i terzi acquirenti, e la
sua azione restringevasi al fiduciario infedele. Va da sè che questi poteva validamente gravare di jura in re la
cosa ricevuta, diporne per legato, agire contro ogni detentore di essa in veste di proprietario, [...] nel Che è il
segno manifesto del suo pieno diritto.
77
em caráter definitivo, embora limitada por uma obrigação de restituição, que, uma vez
cumpridos os termos pactuados, se dava pela mesma forma, ou seja, pela mancipatio ou pela
in iure cessio, o que confirma a plenitude da transferência.
Transmitida a propriedade, o fiduciário adquiria todos os direitos daí decorrentes,
inclusive em relação aos frutos da coisa. Mas, sob pena de enriquecimento indevido, o Direito
romano garantia ao fiduciante a diminuição do seu débito.
Nos Fragmentos do Vaticano encontra-se a confirmação do elemento real da fidúcia,
de seus efeitos, do fiduciário como dominus e, assim sendo, titular de todos os direitos daí
advindos:
A ação de reivindicação pertence, evidentemente, ao fiduciário, como dominus que
é; não pertence, ao contrário, ao fiduciante, porque, como o disse Gaio, em relação a
ele, há simplesmente uma res aliena. Esta ação poderá ser exercida contra terceiros
que detenham a coisa, ainda mesmo com a vontade do fiduciante, indicando o
Fragmenta Vaticana a hipótese em que o fiduciário poderá obter o fundo que o
fiduciante, mantido na posse, deu em dote ao próprio genro, sem poder transferir-lhe
a propriedade, porque dela não era titular. Esta ação poderá ser exercida, também,
contra o próprio fiduciante que tenha, ab initio, conservado a posse da coisa, ou que
nela tenha entrado posteriormente. (LIMA, 1962, p. 81).
Mas, essa hipótese de ser o fiduciante mantido na posse da coisa era pouco comum,
tendo em vista os riscos que decorriam para o credor. Através da usureceptio, modalidade de
usucapião, que dispensava a existência de justo título ou boa-fé, acaso mantido o devedor na
posse por um ano, readquiria a propriedade da coisa transmitida, fosse ela móvel ou imóvel.
Portanto, destacam-se da fidúcia romana dois elementos: a transferência da coisa,
elemento real do negócio; e o elemento obrigacional (convenção), para dar à coisa destinação
preestabelecida e respectiva restituição.
Na sua etiologia, desdobra-se o negócio fiduciário em dois momentos: a) um real e
ostensivo, que consiste na transmissão dos bens ao fiduciário em caráter de venda
aparentemente pura e simples, pois do instrumento nada consta sugerindo a presença
do elemento fiduciário; b) outro pessoal e secreto, que se formula na “ressalva” dada
ao fiduciante, contendo a obrigação de retransferir a coisa adquirida, dentro do prazo
e sob a condição estipulada. (PEREIRA, 1995, p. 277).
Essa obrigação de restituição encontra-se consubstanciada no pactum fiduciae,
entendida da seguinte forma:
O segundo elemento da fidúcia romana é o pactum fiduciae, através do qual o
fiduciário assumia a obrigação de restituir, ou, segundo a linguagem romana,
remancipare, a res a ele transmitida. É o elemento obrigatório do negócio, do qual
deriva a obrigação do fiduciário, afirmando, mesmo, alguns autores que ele é o
78
centro de gravidade da operação fiduciária. Limitava os efeitos da datio, porque esta
tinha por fim transferir a propriedade. Não se conclua, daí, que houvesse uma
alienação condicionada resolutivamente, porque a mancipatio não condizia nem com
uma condição, nem com um termo, tendentes a uma restituição. (LIMA, 1962, p.
58).
Verifica-se, assim, que a fidúcia não é uma operação una, tratando-se o pactum
fiduciae de um elemento obrigacional, de caráter pessoal, com fins de restituição, sem retirar a
eficácia translativa da propriedade operada em primeiro lugar e pela forma retro exposta, que
constitui o elemento real da operação. Extinto o crédito garantido, emerge a obrigação de
restituir, sendo que o pagamento apenas parcial da dívida não tinha esse condão, na medida
em que a garantia fiduciária era tida como indivisível.
De tudo isso exterioriza-se o objeto da fidúcia, que não pode ser confundido com a
remancipatio, mas, sim, a coisa fiduciada. Aquela nada representava senão o cumprimento do
próprio pactum fiduciae, após observado o preenchimento das respectivas condições.
Estes dois elementos, real e obrigacional, compõem a operação fiduciária, o que pode
ser convencionado conjuntamente, ou em separado, sendo certo que o primeiro tem existência
própria e independente. O mesmo não acontece com o elemento obrigacional, já que a
obrigação de restituir pressupõe, logicamente, um ato anterior. Daí por que, para se realizar a
obrigação contida no pactum fiduciae, de remancipar a coisa, indispensável será a realização
de outro ato translativo, igual ao anterior, via mancipatio ou in iure cessio, conforme o caso.
Portanto, o pactum fiduciae não possui vida própria, restando seus desejados efeitos
dependentes de um novo ato jurídico. Em decorrência disso, alguns autores concluem não ser
um contrato, mas tão somente um pacto, em que pese a polêmica existente sobre essa
específica distinção, decorrente da imprecisão romana entre pactum e contractus, o que foge
ao objeto do presente trabalho.
Nesse sentido, colhem-se os apontamentos feitos por dois destacados autores:
A observação da operação jurídica ainda nos revela outra faceta que inclui,
evidentemente, o pactum fiduciae como um simples pactum. A fidúcia é negócio
abstrato e está sujeito a um evento futuro, que é o preenchimento do fim que teve em
vista. Assim, o pactum fiduciae só terá realidade, quando do advento desse evento
futuro. Trata-se, pois, evidentemente, de um pactum subordinado a uma conditio. Só
terá existência quando realizada a condição. Ora, parece evidente que esta situação
não se condiz com a natureza Contrato. (LIMA, 1962, p. 66).
No direito pré-clássico, embora muito utilizada, a fidúcia, mediante a mancipatio ou
a in iure cessio, transmitia a propriedade sobre a coisa do fiduciante ao fiduciário,
mas o pactum aposto a esse ato de alienação, e pelo qual se comprometia o
fiduciário a restituir a coisa ao fiduciante ou a dar-lhe determinada destinação, era
um nudum pactum (pacto nu), e, portanto, desprovido de actio (assim, o fiduciante
tinha de confiar apenas na fides do fiduciário, pois não dispunha de ação para
79
compeli-lo a restituir a coisa ou a dar-lhe a destinação convencional). Segundo
parece – a matéria é muito controvertida -, foi o pretor, no direito clássico, quem
sancionou esse pactum (denominado pelos autores modernos pactum fiduciae),
mediante uma actio in factum. Posteriormente, nos fins da república, surgem duas
ações in ius (o que significa que o ius civile reconhecia a fidúcia como um
contractus) transmissíveis ativa e passivamente:
a) a actio fiduciae directa (que era concedida ao fiduciante quando o fiduciário não
restituía a coisa ou não lhe dava o destino combinado); e
b) a actio fiduciae contraria (concedida ao fiduciário no caso de o fiduciante se
negar ao cumprimento das obrigações que eventualmente surgissem para ele).
(ALVES, 2008, p. 487).
Outro aspecto de relevo trata da hipótese do credor, por interposta pessoa, pretender
a alienação da coisa, em desacordo com o pacto firmado, o que não se admitia, conforme se
verifica:
Refere-se, pois, o texto, à supposita persona, à persona terza, ao chamado testa-deferro, que nós conhecemos como interposta pessoa. Fornece-nos, portanto, esta
passagem subsídio valioso para a compreensão sobretudo dos arts. 1.132, quando há
interposição de pessoas, e 1.720, de nosso Código Civil. Viu-se que o jurista romano
afirma inexistir compra quando ela se faz per suppositam personam. Salienta, como
se viu, o comentador que, em qualquer tempo, pode o devedor reaver a coisa, porque
o penhor e a fidúcia, assim, não podem terminar. De fato, se o credor pignoratício
não pode, diretamente, alienar a coisa, por não ser dela proprietário, não poderá,
igualmente e pelo mesmo motivo, adquiri-la através de interposta pessoa e o motivo
no-lo dá, magnìficamente ALVES MOREIRA: “não pode praticar-se indiretamente
o que a lei diretamente não permite” (39). Em relação à fidúcia, ocorre o mesmo. O
credor, que tem a titularidade mercê da fidúcia e, conseqüentemente, o poder de
abuso, poderá alienar o objeto em questão, mas não a si mesmo, porque já é
proprietário. Por isso mesmo, não poderá fazê-lo por interposta pessoa, visando,
assim, a afastar a remancipatio. Veda-o a própria natureza do instituto. (LIMA,
1962, p. 33-34).
A vedação da venda pelo credor encontra-se expressamente referida nas Sentenças de
Paulo, em seu Livro Segundo, sem, contudo, impedir sua ocorrência, mormente na hipótese
de insolvência do devedor, não tendo este a actio fiduciae nessa hipótese, mas somente para
vindicar eventual excesso. Afinal, por se tratar de simples obrigação, com base na fides, o
inadimplemento não gera senão o dever de indenizar.
Colhem-se também das Institutas de Gaio, de forma expressa, as ações que tutelam a
fidúcia, denominadas actio fiduciae, dentre as ações bonae fidei, das quais resultam, inclusive,
a pecha de infamante aos condenados, conforme bem descreve o seguinte excerto:
O fiduciante tem contra o fiduciário a actio fiduciae, que inicialmente se baseia
apenas na fides (como dever de cumprir a palavra). No direito clássico, esta actio faz
parte dos bonae fidei iudicia (infra §33 IV 3) e, com estes, do ius civile. [...] Quando
a dívida for paga (ou for constituída outra garantia em vez da fiducia, ou o fiduciário
incorrer em mora de aceitação), pode exigir-se a devolução com esta acção. Se a
dívida não foi paga e a coisa foi vendida, a acção visa a restituição do mencionado
80
superfluum. Se o fiduciário não pode devolver a coisa ou só a devolve deteriorada,
ou se procedeu na venda de forma desleal, responde por dolus (infra § 36 III 2 ). A
condenação com base na actio fiduciae traz consigo a infâmia.
Para exigir a indemnização pelos gastos que o fiduciário teve com a coisa e para
outras pretensões (p. ex., por prejuízo causado pelo fiduciante) concede-se ao
fiduciário contra o fiduciante uma reconvenção (actio fiduciae contraria),
igualmente configurada como bonae fidei iudicium. (KASER, 1999, p. 181-182).
Também expressa é a referência à ação do credor para se ressarcir das despesas e
benfeitorias feitas na coisa fiduciada. E, conforme já demonstrado anteriormente, ainda que
coubesse ao devedor ação contra o credor que não restituísse a coisa, caso esta tivesse sido
alienada a terceiro de boa-fé, apenas lhe caberia direito a indenização, como decorrência do
caráter absoluto da transferência realizada pelo fiduciário, titular da propriedade.
Moreira Alves, ao tratar da fiducia cum creditore, à qual aponta como sendo a
garantia real mais antiga que se encontra no direito romano, em decorrência das
características retro expostas, assevera não ser um direito real sobre coisa alheia, na medida
em que a transferência da propriedade é efetiva. Justamente por isso, via inconvenientes tanto
para o credor como para o devedor, conforme ora se destaca:
a) para o devedor, porque ele tinha de transferir a propriedade da coisa ao credor,
não podendo fruí-la enquanto não se extinguisse o débito: além disso, às vezes, o
devedor era obrigado a transferir a propriedade de coisa de valor bem superior ao do
débito, não podendo, portanto, utilizar-se dela para a obtenção de outros créditos; e,
enfim, o devedor, para reaver a coisa, ficava, primitivamente, na dependência
exclusiva da vontade do credor, pois não dispunha contra este de uma actio (ação)
para compeli-lo à restituição da coisa; e, mesmo mais tarde, quando surgiu a actio
fiduciae, era ela uma ação pessoal contra o credor, razão por que, se este alienasse a
coisa a terceiro, em vez de restituí-la, o devedor, pela actio fiduciae, podia obter
apenas indenização pelo não-cumprimento do pacto de restituição da coisa (pactum
fiduciae), e não a anulação da venda ao terceiro;
b) para o credor, porque, embora com a transferência da propriedade da coisa ficasse
ele perfeitamente garantido, se ela recaísse na posse do devedor, este, ao fim de
apenas um ano (mesmo se se tratasse de imóvel), recuperaria a propriedade sobre
ela, mediante uma modalidade especial de usucapião denominada usureceptio.
É certo que o inconveniente que a fiducia cum creditore apresentava para o credor e
um dos que ela acarretava ao devedor (privá-lo do uso da coisa) podiam ser
remediados se credor e devedor concordassem – o que, por certo, nem sempre
ocorreria – em que a coisa continuasse na posse do devedor, a título de precário ou
de locação. Assim, o devedor continuava a usar da coisa, e o credor não podia perdêla pela usureceptio, porquanto a posse (ou a detenção) do devedor era a título de
precário ou de locação, e não de propriedade.
Mas, para os outros inconvenientes, com relação ao devedor, não havia remédio
jurídico.” (ALVES, 2008, p. 363).
Assim, torna-se possível vislumbrar os contornos da fidúcia romana, ainda que seja
necessária uma depuração de sua definição. Segundo Jacquelin, “um acordo baseado na boafé, com um ato solene translativo de um direito de propriedade ou direito de poder, sujeito a
81
um outro ato jurídico contrário para anular os efeitos do primeiro.” (JACQUELIN apud
LIMA, 1962, p. 40, tradução nossa)20.
Verifica-se que a essência da fidúcia encontra-se na boa-fé e, justamente por isso,
teve grande aplicação no Direito romano, mormente em seu início, como forma de quebrar,
ainda que parcialmente, sua solenidade. “Trata-se da idéia-mãe da fidúcia. Um meio extralegal, com base na boa-fé, para contornar a lei.” (JACQUELIN apud LIMA, 1962, p. 41,
tradução nossa)21.
O referido autor, após trazer ainda mais definições, propostas por diversos outros
autores, dentre eles, Giuseppe Messina, Pietro Bonfante e Carlo Longo, sintetiza:
Todas estas definições e todos estes elementos permitem-nos dizer que a fidúcia é
uma convenção, pela qual aquêle que recebeu uma coisa ou um direito, pela
mancipatio ou pela in jure cessio, se obriga à restituição, quando satisfeito o fim ou
preenchida a destinação. Esta é a fidúcia que os romanos nos legaram e que
influência marcante exerce na conceituação do negócio fiduciário da atualidade.
(LIMA, 1962, p. 44).
Estas são as principais fontes históricas e entendimentos sobre a fidúcia romana.
Entretanto, com as compilações realizadas por Justiniano, que reinou entre 527 a 565
d.C., às quais se passou a denominar Corpus Iuris Civilis22, a fidúcia foi substituída pelo
penhor, pelo depósito, pelo comodato e pelo mandato, prejudicando outras análises. Em
outras palavras, “quando o comodato, o depósito e o penhor se tornam contratos distintos,
para os quais basta a transferência da posse, perde a fidúcia a utilidade de que se reveste, não
sendo, pois, invocada pelos contratantes.” (CRETELLA JÚNIOR, 2007, p. 188).
Justiniano via a fidúcia como instituto antiquado. A mancipatio e a in iure cessio,
que eram modos formais de transferência da propriedade, haviam desaparecido, tendo a
fidúcia caído em desuso. Nesse período, “em face das modificações ocorridas, a traditio
passou a prevalecer, provocando o desuso da mancipatio e da in jure cessio.” (ARAGÃO
NETO, 2002, p. 25). Também quanto a isso:
Em suma, pode-se concluir que a fidúcia, após ter existência viva e aplicação
variada no direito romano clássico, servindo, não só a funções de garantia, mas
também, pela forma da fiducia cum amico, as finalidades as mais diversas, passou a
entrar em declínio, pelo declínio da mancipatio e da in iure cessio, e, por fim,
desapareceu, por completo, da legislação de Justiniano, onde só encontramos
20
Une convention basée sur la bonne foi, ayant pour cause un acte solennel translatif d’un droit de propriété ou
d’un droit de puissance, et pour objet un autre acte juridique inverse tendant à anéantir les effets du premier.
21
Eis por que o próprio Jacquelin, em página magnífica, ressalta, indicando “L’idée-mère de la fiducie” e seu
destino, que ela é ‘um moyen extra-légal, basé sur la bonne foi, en vue de tourner la loi” [...].
22
Denominação utilizada em 1538 pelo romanista francês Dionísio Godofredo.
82
vestígios de sua existência pelo exame de textos, alguns visìvelmente interpolados,
e, outros, de interpolação duvidosa. Mas, a realidade é que este instituto ressurgiu no
direito moderno, como uma imposição da própria vida jurídica e para preencher,
como no direito romano, lacunas e deficiências da legislação atual. (LIMA, 1962, p.
87).
Mas, indubitavelmente, a fidúcia, desde seus primórdios, “serviu de meio adequado
ao atendimento de finalidades queridas pelas partes, mas que não encontravam no sistema
jurídico vigente o instrumental adequado.” (RESTIFFE NETO, 1975, p. 5).
4.2 A fidúcia no Direito Germânico
Os povos germânicos tinham no costume a mais importante fonte do direito, ao
menos até o século XVI. Desta forma, poucas eram as leis e, ainda assim, raramente cuidavam
do Direito Privado. Não obstante, com o aumento do tráfego negocial ocorreu a recepção do
direito romano. E, isso, não pela boa técnica e sistematização desse direito. Na verdade, a
necessidade que emergiu da expansão mercantilista se associou mais ao fato de se
considerarem os sucessores dos romanos.
Entretanto, em específico quanto à fidúcia, não é correto dizer tenha ela sido adotada
de forma idêntica à dos romanos, muito embora apresente de forma indubitável algumas
características, principalmente no que se refere às finalidades almejadas, mas se distanciando
quanto à natureza e limitações sobre a pessoa do fiduciário em relação à coisa.
Otto de Sousa Lima (1962) exemplifica com base na fidúcia pignoris iure, que
segundo alguns autores teriam tido continuidade no direito longobardo com o mesmo nome
ou nomes similares.
E, de fato, é no penhor da propriedade que se observam os elementos de cunho
fiduciário na transferência fiduciária da propriedade, através do qual se operava a transmissão
da coisa entre devedor e credor, mas com a realização de um pacto adjeto que a condicionava,
tendo por objeto a restituição do bem.
Esclarece o retro citado autor:
MESSINA, que também identifica essa instituição à fidúcia romana, ao descrever
sua forma, deixa bem claro que ela, realmente, tinha todos os característicos da
transmissão fiduciária. Por ela, o devedor transferia ao credor, com escopo de
garantia, um fundo, mediante a entrega de uma carta venditionis. O credor
contemporâneamente prometia, através de uma contracarta, restituir, não só o
83
documento, mas também o próprio fundo, no caso de tempestivo pagamento do
débito.
Ora, esta venda, através da carta venditionis, dava ao penhor imobiliário do direito
longobardo, a mesma característica da operação real, na fidúcia romana. De outro
lado, a obrigação de restituir, que o credor assumia com a entrega da contracarta,
configura, como na fidúcia romana, o elemento obrigacional. Nada mais, portanto,
será preciso consignar para a demonstração da equivalência deste instituto à fidúcia
romana. (LIMA, 1962, p. 92).
Mas outras figuras também existiam, com outras peculiaridades e características.
Uma delas consiste no manusfidelis, que era um intermediário, partícipe de atos inter
vivos ou causa mortis, chamado para determinados atos de liberalidade ou para a manumissão
de um escravo após a morte de seu dono, denominados esses atos de donatio pro anima.
Tal intervenção por parte do manusfidelis se fazia necessária em decorrência de
excessivas formalidades demandadas para esse ato, o que, como regra, impedia o doador de
realizá-las oportunamente. Então, a transmissão dos bens do doador era feita àquele, pessoa
de confiança, com amplos poderes de disposição, para que, “a seu critério, praticasse atos
necessários à salvação da alma do doador. O poder conferido ao manusfidelis não se limitava
à redação de uma carta donationis, ou carta elemosinaria, implicando, também, a própria
venda do patrimônio para o fim de aplicar o produto em pio escopo.” (LIMA, 1962, p. 93).
Sequer era necessária a pré-determinação do destinatário dos bens, sendo realmente
amplos os poderes do manusfidelis no cumprimento da vontade do doador, inclusive estando
este ainda vivo.
Outra figura de interesse para as manifestações da fidúcia encontra-se no salmann,
também um intermediário, que no antigo direito medieval era incumbido pelo proprietário de
realizar a transferência de determinados bens que recebia, a um terceiro. Já no novo direito
medieval, diferia-se pelo fato de fazer as vezes de fiduciário do adquirente dos bens, e não do
alienante, tendo, assim, poderes para tal mister, vale dizer, para adquirir em nome daquele, ou
para intervir como reforço do direito do adquirente.
Importante destacar que o Salmann, que não se confunde com um mandatário, e
diferentemente das hipóteses do direito romano, tornava-se titular de um direito real, mas
limitado pela vinculação a um fim determinado. Exercia esse direito real como verdadeiro
titular, até o implemento da futura transmissão ao destinatário. Descumprida essa obrigação,
com indevida alienação a terceiros, tinha o destinatário ou seus herdeiros direito de retomar a
coisa, a denotar grande diferença em relação a fidúcia romana, o que também pode ser
destacado do seguinte excerto:
84
Na estrutura do direito germânico, no que interessa às considerações sobre a
evolução da fidúcia e dos institutos afins, sobreleva a figura de intermediários
denominados manusfidelis e salmann.
Era o manusfidelis pessoa de confiança a quem competia, em cumprimento a
atribuições a ele conferidas, transmitir bens a um beneficiário ou praticar atos de
liberalidade visando a doações pro anima.
O salmann era um intermediário através do qual se fazia a transmissão de um bem
do proprietário para o adquirente/beneficiário. Anota Messina que, no antigo direito
medieval germânico, o salmann recebia seus poderes do alienante, obrigando-se, de
forma solene, a transmitir os bens ao terceiro destinatário, enquanto que no novo
direito medieval germânico o salmann passara a ser fiduciário do adquirente, e não
do alienante, de modo que os poderes por ele recebidos não o eram para transmitir o
bem ao destinatário, mas para adquirir o bem para este, ou com este intervindo para
reforçar o direito do adquirente. O salmann recebia efetivamente a propriedade e
passava a exercer sobre ela um direito real, enquanto não transmitisse a propriedade
ao destinatário determinado, sendo certo que esse direito real era limitado pelo fim
que determinava a intervenção do salmann. Desse modo, o disponente e seus
herdeiros tinham o direito de retomar a coisa do poder de terceiros, em caso de
infidelidade do salmann, dispondo de um direito real de reversão. (CHALHUB,
2006, p. 18)
Desta forma, verifica-se que tanto na fidúcia romana quanto na germânica há efetiva
transferência da propriedade. Mas, enquanto naquela tal transmissão conferia poder ilimitado
ao fiduciário, o que implicava em relegar o fiduciante, com base em obrigação pessoal, a
perdas e danos, no direito germânico o fiduciário encontrava-se limitado pela condição
resolutiva da propriedade, com eficácia erga omnes.
Em outras palavras, a propriedade fiduciária resultante do negócio fiduciário do tipo
germânico equivale a uma propriedade limitada pela sua destinação, “porque subordinada a
condição resolutiva (o pagamento do débito pelo devedor), motivo por que, se o credor, antes
de ocorrida a condição, a transferir a terceiro, este a adquirirá também como propriedade
resolúvel, perdendo-a para o devedor, se a dívida não for solvida.” (ALVES, 1973, p. 135).
4.3 A fidúcia moderna
A realização desse percurso histórico sobre as manifestações da fidúcia em diferentes
territórios e circunstâncias, separadas também pelo tempo, fez-se relevante para que do cotejo
dessas diferentes situações se pudesse extrair uma constatação no mínimo interessante, qual
seja, de que a fidúcia tinha por função preponderante preencher as lacunas do sistema jurídico
vigente, que não possuía instrumental adequado, de modo a atender à finalidade almejada
pelas partes. Sistemas esses dotados de diversas debilidades, mormente no que pertine ao
85
demasiado apego à forma e à observância de solenidades, incompatíveis com a dinâmica
social.
Otto de Sousa Lima, com muita propriedade, destacou, ainda, o seguinte:
Mas, as necessidades da vida e o desenvolvimento das atividades humanas exigiam,
sempre, novas formas e novos tipos jurídicos. De outro lado, é evidente que
qualquer sistema jurídico não poderá ser renovado diàriamente para a satisfação
daquelas novas necessidades e, aí, torna-se imprescindível a sua adaptação, visando
a normalizar aquelas novas exigências sociais. Eis, pois, o campo de aplicação da
fidúcia: tornar dúctil um sistema jurídico fechado.
E aquelas necessidades e atividades em desenvolvimento constante, ainda hoje
ocorrem e com maior intensidade. Hoje, como ontem, a vida humana, em seu evoluir
contínuo e constante, exige do sistema jurídico de qualquer povo a ductilidade
necessária para tornar jurídicas as mais variadas manifestações da atividade humana.
[...] qualquer sistema jurídico moderno terá que fugir, sempre, à rigidez e estreiteza,
para adaptar-se convenientemente às novas exigências sociais. Não poderá, portanto,
apresentar-se com o mesmo caráter de outrora, em que a estreiteza e a solenidade
eram traços característicos. Não poderá, assim, sob pena de faltar à sua própria
finalidade, fechar-se em numerus clausus e dentro de formas típicas e evidentemente
insuficientes. Deverá ter, portanto, a elasticidade necessária para acompanhar a
evolução da sociedade, satisfazendo, dessa forma, às novas necessidades ou
exigências da vida humana.
E hoje, como ontem, a fidúcia preenche plenamente esta função.
[...]
Assim, segundo Jacquelin, é a fidúcia um meio extralegal, baseado na boa-fé, que
permite preencher as lacunas da lei e quebrar-lhes as imperfeições. (LIMA, 1962, p.
127-128).
Os argumentos ora colacionados, apesar de contarem com quase meio século,
possuem atualidade extrema e vêm sendo repisados cotidianamente por diferentes
doutrinadores.
O demasiado apego à forma, a visão cerrada em um sistema que por vezes parece
não se referir a uma ciência social, e que de maneira quase cartesiana parece pretender
adequar a realidade ao direito, e não o contrário, termina por faltar com sua própria finalidade.
Ao invés de trazer segurança jurídica, faz o contrário, relegando à incerteza aqueles que
procuram clareza na prática de uma atividade lícita, própria da realidade de uma época, mas
que o direito não conseguiu acompanhar.
Pela simples existência de lacunas, de situações não previstas, o que de certo
acontecerá mais e mais na atualidade, não pode e não deve qualquer sistema jurídico relegar
essas mesmas situações a uma seara de quase marginalidade, como se vedadas fossem.
E disso também não se descurou o retro festejado autor, ao qual mais uma vez se
socorre, para que o afirmado acima não seja mal compreendido:
86
De fato, constituindo um dos direitos individuais mais legítimos, o de fazer tudo o
que não é vedado por lei, não poderia a Justiça, sob a alegação de que o meio usado
não é previsto, deixar de admitir o ato. Quando, entretanto, este ato é vedado por lei;
quando o meio empregado não é admitido em Direito, inválido seria o ato, porque,
então, não se estaria suprindo lacunas da legislação, mas sim infringindo suas
disposições. Desta forma, desde que o ato não seja vedado e desde que o meio
empregado não seja proibido por lei, plenamente válido será ele, por constituir o
exercício de uma liberdade individual. Assim, pois, dentro da sistemática de um
corpo legislativo, será sempre permitida a prática de qualquer ato, desde que não
vedado e desde que sua forma não seja proibida. (LIMA, 1962, p. 129).
Lado outro, verifica-se também das diversas manifestações da fidúcia no decorrer da
história tratar-se de um instituto que foi sendo adaptado para o atendimento das exigências de
determinada época, de forma lenta e gradual, ora suprindo lacunas, sem o comprometimento
do sistema vigente, ora dando azo ao surgimento de novas figuras, inovando o ordenamento.
Aliás, tal evolução é uma constante do gênero humano, que por sua criatividade faz
inovar a vida social que fatalmente não terá, em dado momento, previsão específica a regular
as novas relações surgidas das necessidades de um determinado local e época. É o que
assinala, também, o autor abaixo transcrito:
Surgem num dado momento da vida social vicissitudes que não hão de encontrar
previsão nos padrões assentados que lhes dêem provimento.
E como tudo o que diga respeito ao relacionamento humano acaba por interferir com
a ordem jurídica, os reflexos acabarão detectados e a partir de um dado momento
iniciar-se-á o processo de conscientização e de equacionamento por construções, de
início supralegais, que preencham as lacunas naturais do sistema codificado. Tais
construções exteriorizam-se de conformidade com os princípios e normas de caráter
positivo, mas ocultam internamente uma vontade extravasante, não sancionada,
ainda, pelo Direito vigente.
Funciona a fidúcia, então, como uma espécie de acelerador que imprime força
dinâmica à inércia jurídica de que fala Tullio Ascarelli. Abre e, na feliz expressão
de Otto de Sousa Lima, torna dúctil um sistema jurídico fechado (ob. cit., pág. 127).
(RESTIFFE NETO, 1975, p. 6)
É o que se constata em relação à fidúcia, que na sua modalidade cum creditore do
direito romano deu origem, por exemplo, à hipoteca, vindo a ser esquecida à época das
compilações de Justiniano, mas certamente incorporado no ordenamento jurídico de então,
ainda que sob diferentes rubricas. Veio a ressurgir em diferentes momentos e lugares, com
diferentes feições, também na busca da satisfação de novas exigências sociais, sendo que, na
atualidade, “sob seu velho arcabouço, debaixo de sua estrutura, se abriga o moderno negócio
fiduciário, cujo estudo se funda atualmente naquele instituto...” (LIMA, 1962, p. 131).
Curioso notar também que a fidúcia romana, destinada à garantia, continuou a existir
por algum tempo mesmo após o surgimento da hipoteca e do penhor, dada a maior segurança
que proporcionava ao credor. O mesmo se constata na atualidade, já que nas diversas
87
manifestações do comércio tem-se a necessidade de uma garantia realmente segura, mas,
principalmente, é o que se verifica na realidade do mercado de capitais, no qual a
incolumidade do lastro patrimonial necessário à emissão de títulos apresenta-se como
indispensável não apenas ao seu funcionamento, mas também como proteção à economia
popular.
De resto, forçoso reconhecer que as garantias reais, principalmente as decorrentes do
penhor e da hipoteca, tiveram sua eficácia bastante reduzida na atualidade, face às proteções e
presunções outorgadas aos créditos tributários e trabalhistas, créditos de natureza privilegiada,
que terminam por vulnerar aquelas em caso de confronto. E mesmo em regular concurso de
credores, há preferência do crédito trabalhista em relação aos demais.
Tais aspectos também não passaram despercebidos do retro mencionado autor que,
após citar outros exemplos de relativização das garantias reais no ordenamento jurídico pátrio,
e destacar a importância do crédito, conclui:
Nestas condições, o cerceamento do crédito pelo enfraquecimento das garantias
constitui, sem dúvida alguma, mormente na época atual, uma mal sem remédio. Daí,
como conseqüência, a necessidade indeclinável de uma revisão da matéria, para que
o crédito, obtendo garantia suficiente, continue a desempenhar o papel que sempre
desempenhou nas sociedades, de propulsor do progresso e de elemento decisivo no
desenvolvimento das atividades humanas. E a sabedoria dos antigos vem-nos
indicar, para esse fim, o velho instituto romano da fidúcia, em suas novas vestes e
sua denominação atual de negócios fiduciários. E para acentuar essa necessidade
indeclinável, nada melhor do que ressaltar com Dutot, que “o crédito bem dirigido
eleva ao décuplo os fundos de um comerciante; ele ganha tanto pelo seu crédito
como se tivesse dez vezes outro tanto em dinheiro. O crédito é, portanto, a maior
riqueza para quem exerce o comércio”.
Em suma, o reexame da fidúcia romana e o estudo do moderno negócio fiduciário,
sôbre constituir tema sedutor, é uma imposição da sociedade atual, visando a melhor
garantir o crédito, para que êle se torne mais fácil e possa, dessa forma, exercer sua
alta importância econômica. (LIMA, 1962, p. 137).
Se por séculos garantias como a hipoteca e o penhor se prestaram de forma eficiente
aos fins almejados, a partir do final do século XIX esse quadro restou modificado, seja em
decorrência da constituição de créditos privilegiados, seja também pela necessidade de se
adequar a execução dessas garantias ao ritmo demandado para a circulação de riquezas, que
teve ainda maior impulso com o desenvolvimento do capitalismo financeiro. Nesse sentido:
É nesse contexto que juristas europeus, em reposta a esses reclamos, cunharam a
figura do negócio fiduciário, inspirados na fidúcia cum creditore do direito romano,
procurando viabilizar a transmissão da propriedade como meio de proteger mais
eficazmente o crédito, não só através da rápida composição das situações de mora,
como, também, mediante afastamento da concorrência dos créditos preferenciais.
(CHALHUB, 2006, p. 38).
88
Mister destacar ainda outra relevante questão, sob o enfoque do devedor. Conforme
elucidado quando da abordagem da fidúcia romana, existia a preocupação de garantir o
credor, mas da forma menos onerosa àquele, buscando-se, a partir disso, uma via para que
pudesse permanecer na posse dos bens, mantendo-o, assim, com os meios necessários à sua
subsistência e ao pagamento do débito.
Hodiernamente tais aspectos apresentam-se com muito maior intensidade, dada a
intensidade e o dinamismo do comércio no mundo globalizado, do qual emerge a relevância
do crédito para todos.
Após ponderar a necessidade de conciliação dessas circunstâncias, que demandam a
evolução do direito moderno, José Carlos Moreira Alves arremata:
Para atingir esse objetivo, o direito moderno, atentando para o manifesto desapreço
do crédito pessoal em nossos dias, em virtude do ritmo febricitante da circulação de
bens aliado ao crescimento constante e progressivo da população, tem modelado,
principalmente através de construção doutrinária, garantias reais que decorrem da
conjugação da transferência da propriedade com o não desapossamento da coisa que
era do devedor e que serve para garantir o pagamento do débito. A utilização do
direito de propriedade com escopo de garantia já ocorreu, em Roma, na fidúcia, e,
atualmente, se verifica, entre outros exemplos, nos negócios fiduciários dos tipos
romano e germânico.
O que é certo, portanto, é que, a partir, precipuamente, do século passado, se tem
sentido, cada vez mais, a necessidade da criação de novas garantias reais para a
proteção do direito de crédito. As existentes nos sistemas jurídicos de origem
romana – e são elas a hipoteca, o penhor e a anticrese – não mais satisfazem a uma
sociedade industrializada, nem mesmo nas relações creditícias entre pessoas físicas,
pois apresentam graves desvantagens pelo custo e morosidade em executá-las, ou
pela superposição a elas de privilégios em favor de certas pessoas, especialmente do
Estado. (ALVES, 1973, p. 2-3).
Passa-se, desta forma, à análise do negócio fiduciário, de suas principais
características e, posteriormente, de sua viabilidade como instrumento jurídico hábil a atribuir
segurança nas operações de securitização de crédito no Brasil.
89
4.4 O negócio fiduciário em sentido estrito
4.4.1 Principais características
Como visto, os estudos desenvolvidos sobre a fidúcia se deram após a perda de
eficácia das garantias tradicionais, do prejuízo causado ao crédito e, ainda, em face da
necessidade de conciliação dos interesses do credor e devedor. Com base nela se buscou a
formação de um instrumento jurídico hábil à solução desses problemas, acrescidos, ainda, da
dinâmica demandada pelo capitalismo, que passou a precisar de novos instrumentos jurídicos
que assegurassem as novas modalidades de negócios, dentre eles, mais recentemente, a
securitização de crédito.
Mas, antes de se adentrar na análise das principais características do negócio
fiduciário, uma distinção terminológica se faz necessária, evitando-se confusões.
Foi nessa busca por novos instrumentos jurídicos, com base na fidúcia romana, que
inicialmente surgiu a figura do negócio fiduciário que, enquanto gênero, é tido como
sinônimo de fidúcia. Todavia, com sua assimilação nos ordenamentos jurídicos modernos,
tendo sido positivadas algumas das manifestações da fidúcia, dotadas, portanto, do arcabouço
necessário à regulação dessas relações, essas figuras são consideradas como espécies
daquelas, conhecidas por fidúcia legal, e serão abordadas mais adiante, nas quais a lei tornou
real o direito à restituição da coisa.
Àquelas manifestações da fidúcia, não reguladas pelo ordenamento jurídico, é que se
denomina no presente trabalho de negócios fiduciários stricto sensu.
Feitos estes esclarecimentos, passa-se, em primeiro plano, à análise das principais
características do negócio fiduciário stricto sensu.
José Carlos Moreira Alves (1973) informa ter sido do jurista alemão Regelsberger o
primeiro artigo a tratar do negócio jurídico fiduciário e, de 1878, outro, do jurista Kohler, que
fez a distinção entre este e o negócio indireto. Destaca, ainda, com suporte em Lothar Kaul,
que também tratou do tema em dissertação no ano de 1910, a existência de diferentes opiniões
nesses trinta anos, dada a ausência de disciplina legal. “Nesse ponto, de 1910 a esta parte, o
panorama pouco mudou” (ALVES, 1973, p. 5).
Na busca por uma conceituação do negócio fiduciário, o retro citado autor fez a
seguinte tradução de trecho do artigo de Regelsberger:
90
Ainda nesse trabalho, esclarecia Regelsberger que a característica do negócio
fiduciário se encontrava na desproporção entre o fim e o meio, e arrematava: “Para a
obtenção de determinado resultado é escolhida forma jurídica que protege mais do
que é exigido para alcançar aquele resultado; para a segurança do uso é atribuída a
possibilidade do abuso na compra. [...]”
Portanto, já para Regelsberger, na fase inicial da construção da teoria do negócio
fiduciário, este se desfigurava quando, de alguma forma, se vinculasse a posição do
fiduciário ao escopo a que se visava com o negócio, porquanto, nesse caso,
desapareceria a desproporção entre o fim e o meio.
Posteriormente, em 1893, nas Pandekten, Regeslberger aludiu, também, embora sem
maior ênfase, à fides (confiança) do fiduciante no fiduciário. (ALVES, 1973, p. 23).
Essa pioneira concepção foi criticada, na medida em que, ao invés de conceituar,
termina por destacar elementos do negócio fiduciário, dentre eles, e um dos mais marcantes, a
desproporção entre o fim visado e o meio empregado, mas sem permitir que se extraia dessa
menção a compreensão da essência do negócio fiduciário.
O retro mencionado jurista pátrio traz à baila o surgimento de importante inovação
no curso da definição do negócio fiduciário, em relação ao qual, posteriormente, deu azo à sua
concepção dualista:
Mas foi Goltz quem, oito anos mais tarde, trabalhando sobre a concepção de
Regelsberger, deixou bem claro que o negócio fiduciário, em sua estrutura íntima,
resulta da conjugação de dois contratos:
a) de contrato real positivo, em virtude do qual se dá a transferência normal do
direito de propriedade ou de direito de crédito; e
b) de contrato obrigatório negativo, pelo qual nasce para o fiduciário a obrigação
de, após utilizar-se de certa forma do direito que lhe foi transmitido, o restituir ao
fiduciante ou o retransferir a terceiro. (ALVES, 1973, p. 23-24).
Francisco Ferrara, após trazer à baila esses mesmos ensinamentos de Goltz, traz
esclarecimentos mais precisos quanto aos efeitos de um e de outro contrato, nos seguintes
termos:
Este segundo contrato tende a reservar ao fiduciário uma certa influência sôbre a
coisa transmitida, de modo a que possa impor ao fiduciário o usar sòmente da sua
posição jurídica para fins determinados, e obrigá-lo à restituição do direito ou da
equivalência obtida; e, em caso de violação, obter a indemnisação do dano. Esta
influência, no entanto, é puramente indirecta, porquanto a convenção negativa não
afecta a eficácia real da transmissão; não a limita nem subordina – a transferência da
propriedade ou do crédito subsiste pura e incondicionada – antes se trata duma
protecção indirecta por meio de uma obrigação pessoal do fiduciário. Assim, pois, o
transmitente, uma vez despojado definitivamente do seu direito, não pode reclamá-lo
já, não pode voltar a tirá-lo das mãos do fiduciário ou de terceiros, e possue sòmente
um crédito para a sua restituição. Os dois negócios, o real e o obrigatório, caminham
paralelamente entre si e ficam de certo modo independentes, mesmo quando o
segundo representa um constrangimento a não abusar da eficácia do primeiro.
(FERRARA, 1939, p. 78).
91
Já Grassetti, citado por Otto de Souza Lima, compreende por negócio fiduciário
“uma manifestação de vontade pela qual se atribui a outrem um direito de propriedade, mas
no interesse do transferente ou de um terceiro”23 (GRASSETTI apud LIMA, 1962, p. 161,
tradução nossa).
Após trazer outros esclarecimentos de Grassetti à sua conceituação, o retro citado
autor pontua os principais:
Esta definição já é mais precisa. Acentua a atribuição plena que o fiduciante faz ao
fiduciário de seu direito. Afirma a natureza real dessa atribuição e, por via de
conseqüência, afirma, também, o poder de abuso. Ressalta, mormente na explicação
dada, o elemento confiança. Nega, porém, Grassetti, a desproporção entre o meio e
fim, afirmando que o meio empregado é o único capaz de levar ao fim colimado. Por
esta definição, em suma, já se tem, mais ou menos, uma noção precisa do que seja o
negócio fiduciário. (LIMA, 1962, p. 162).
Esses mesmos esclarecimentos sobre a teoria de Grassetti foram feitos também por
Moreira Alves (1973, p. 26), mas acrescenta que foi o referido jurista quem, em 1936, criticou
a concepção dualista, já que o negócio fiduciário, “ao invés de resultar da conjugação de dois
negócios jurídicos intimamente vinculados, é negócio unitário e causal. Sua causa é a causa
fiduciae atípica, porque não está disciplinada na lei.” Esta a concepção monista do negócio
fiduciário, existindo ainda hoje adeptos de ambas, mas com maioria na teoria dualista.
Judith Martins Costa (1990, p. 40-41) informa que essa divergência doutrinária
causou forte discussão quanto à possibilidade de adoção do negócio fiduciário em
determinados sistemas, tendo em vista que, se aceita a concepção dualista, ou seja, a
existência de dois negócios, forçoso seria admitir a abstração de causa e, portanto, admissível
apenas nos ordenamentos jurídicos em que os atos de transferência do domínio fossem
abstratos. Nessa hipótese, e com suporte em Massimo Nuzzo, chegar-se-ia à conclusão de que
esse negócio reclamaria dois elementos, sendo “um negócio idôneo à transferência do
domínio, separado do negócio causal, e a abstração desse negócio, de modo a produzir efeitos
reais mesmo na hipótese de falta de uma causa idônea à transferência do domínio.”
Assim ocorrendo, assevera que a solução estaria na tese unitária que, conforme
também apontado por Nuzzo, o negócio fiduciário seria “negócio causal uno e incindível que
se projeta na direção de um escopo unitário’, composto por duas partes, e instrumentalmente
dirigido a um escopo diverso do fim típico.” (COSTA, 1990, p. 41).
23
“Per negozio fiduciario intendiamo una manifestazione di volontà con cui si attribuisce ad altri una titolarità di
diritto a nome proprio ma nell’interesse, o anche nell’interesse, del trasferente o di un terzo”.
92
Todavia, referida autora traz à baila, ainda, o escólio de Clóvis Couto e Silva, que
permite a solução dessa celeuma, nos seguintes termos:
No entanto, compreendida a relação obrigacional como processo onde se encadeiam
suas diversas fases ou planos – o do nascimento e desenvolvimento e o do
adimplemento – é possível ultrapassar tais divergências. Em sistemas de separação
absoluta dos planos, o negócio dispositivo tem vida autônoma, exigindo, em
conseqüência, vontade diversa da do ato que cria dever e, assim, causa também
diversa. Mas, como se sabe, o sistema brasileiro, afastando-se de concepção
estritamente causalista do Código Napoleônico, adota sistema de separação relativa
dos planos, não tendo “o negócio dispositivo, vida autônoma a ponto de exigir
vontade diversa do ato que cria dever” de modo que “a declaração de vontade que dá
conteúdo ao negócio dispositivo pode ser considerada como co-declarada no
negócio obrigacional antecendente”, pois “na vontade de criar obrigações insere-se
naturalmente a vontade de adimplir o prometido”.
A percepção deste fenômeno, colocando a questão da causa em suas efetivas
dimensões conduz à separação das dificuldades por onde navegaram – e por vezes
naufragaram – os doutrinadores ao tratar das particularidades geradas pela estrutura
do negócio fiduciário tendo em vista a possibilidade de sua inserção nos diferentes
sistemas de transmissão do domínio. (COSTA, 1990, p.41).
Não obstante, importante constatar que a opção por uma ou outra concepção não
acarreta divergência entre os autores quanto aos efeitos da transmissão e a relação meramente
obrigacional advinda do pacto fiduciário.
Pontes de Miranda (1954, p. 115-116) entende que todas as vezes em que a
transmissão de um direito ou de uma propriedade “tem um fim que não é a transmissão
mesma, de modo que ela serve a negócio jurídico que não é o de alienação àquele a quem se
transmite, diz-se que há fidúcia ou negócio jurídico fiduciário.” Posteriormente (1966, p.
341), analisando a questão sob o enfoque do elemento obrigacional, ou elemento vinculativo
do fiduciário, assevera como característico do negócio fiduciário o fato de que, se de um lado
essa transferência da propriedade possui eficácia erga omnes, “a relação jurídica entre o
fiduciante e o fiduciário persiste entre figurantes, intra partes, se o sistema jurídico, na
espécie ou no caso, não atribuiu, também, a essa relação jurídica a eficácia erga omnes, como
se dá, por exemplo, nos fideicomissos.”
Otto de Sousa Lima, após a análise das definições apresentadas por diversos
doutrinadores, realiza a sua própria:
Apresentadas tôdas estas noções e tendo em vista seus elementos essenciais,
poderemos tentar nossa definição, escrevendo:
Negócio fiduciário é aquêle em que se transmite uma coisa ou direito a outrem, para
determinado fim, assumindo o adquirente a obrigação de usar deles segundo aquêle
fim e, satisfeito este, de devolvê-los ao transmitente.
São postos, assim, em relevo a transmissão fiduciária, isto é, determinada por um
fim convencionado e a obrigação de restituição, preenchido aquêle fim. O negócio
93
aparece, desta forma, em todos os seus elementos essenciais e, por isso, devidamente
conceituado. (LIMA, 1962, p. 170).
Assim sendo, no negócio fiduciário tem-se uma transferência da propriedade de bens
ou a titularidade de um direito, mas sendo certo que não é essa transmissão pura e simples o
fim desejado pelas partes. Lado outro, funda-se na confiança e conta com um elemento de
natureza real, advindo dessa transmissão, e outro de natureza obrigacional, consubstanciado
na restituição desse mesmo bem ou direito ao transmitente ou a terceiro, após alcançado o
objetivo almejado. Nesse sentido, colhe-se:
Na verdade, trata-se de dois momentos de um mesmo negócio. Num primeiro
momento, ter-se-ia contrato de efeitos reais, pelo qual o fiduciante transfere a
propriedade de uma coisa ou a titularidade de um direito para o fiduciário. Num
segundo momento, ter-se-ia um contrato, denominado pactum fiduciae, pelo qual o
fiduciário se obrigaria a remancipar os bens adquiridos, uma vez cumprida a
finalidade do negócio. Este pacto fiduciário tem natureza creditícia, não gerando, em
princípio, qualquer direito real de (re)aquisição para o fiduciante. É pacto, por assim
dizer, oculto, uma vez que não ganha publicidade, sendo ato de interesse exclusivo
dos celebrantes. Se não cumprido, porém, admite execução específica e, se esta for
inviável, por perdas e danos. Vê-se, pois, que os negócios fiduciários são moeda de
duas faces, havendo até quem defenda que se cuida, na verdade, de dois negócios
distintos, embora alinhavados como se fossem um só. (FIUZA, 2000, p. 15).
Verifica-se, desta forma, que essa conjunção de dois momentos distintos em um
mesmo negócio é traço característico do negócio fiduciário, no sentido de que não se buscou a
transferência da propriedade de um bem, pois, caso assim fosse, ter-se-ia uma compra e
venda. Encontra-se essa transferência, no contexto do negócio fiduciário, voltada para o
cumprimento de uma finalidade específica, prevista pelas partes, que pode ser para a
administração em benefício de outrem, como para fins de garantia, dentre outros.
A realização da transferência é fundamental, pois caso contrário poderia ser
confundida, por vezes, com o mandato.
Portanto, revela-se no negócio fiduciário uma incongruência entre o escopo
estabelecido e a via utilizada, já que se vale de um contrato típico, mas destinado a alcançar
finalidade outra. Ou, sob outro enfoque, tem-se o estabelecimento de um negócio jurídico
cujos efeitos não se encontram em perfeita consonância com o fim econômico pretendido.
Pelo contrário, esses efeitos extravasam o resultado econômico normalmente obtido pelo
contrato típico, mas com as temperanças da fidúcia, modesta garantia para que o fiduciante
transfira de forma ilimitada a propriedade de bens ou a titularidade de direitos ao fiduciário.
Nas palavras de Pontes de Miranda (1954, p. 117), nos negócios jurídicos fiduciários, “o fim é
o fim próprio do negócio, mas há outro que coincide ser o fim econômico. Dá-se, então,
94
diferenciação entre o fim técnico do negócio jurídico. Em verdade, negócio jurídico fiduciário
é negócio jurídico + fidúcia.”
Também sobre essa discrepância entre o fim jurídico e o econômico colhe-se:
Desta análise deduz-se que o negócio fiduciário provoca um efeito jurídico mais
amplo para conseguir um fim económico mais restrito. Transfere-se o domínio para
obter o fim limitado da garantia. Cede-se o crédito para obter o fim do recebimento.
Existe, pois, uma contradição entre o fim e o meio empregado: usa-se um meio mais
forte para obter um resultado mais fraco, emprega-se uma forma jurídica mais
importante, para obter um efeito menor. E eis a essência do negócio fiduciário. E’
um negócio que vai mais além da finalidade das partes, que supera a intenção
prática, que tem mais conseqüências jurídicas do que as que seriam necessárias para
se alcançar o fim em vista.
[...]
Nota-se, pois, como diz Kohler, uma incongruência entre o aspecto económico e o
aspecto jurídico do negócio. Quere-se um negócio, mas com fins econômicos que
não são homogêneos com as conseqüências jurídicas do próprio negócio.
(FERRARA, 1939, p. 78-79).
Quanto ao requisito confiança, posto encontrar sua origem na fidúcia romana, possui
a mesma ênfase de outrora e guarda as mesmas características na atualidade, conforme
pontifica o autor a seguir:
O fator confiança, que remonta às origens da fidúcia e lhe justifica o nome, continua
presente nos negócios fiduciários da atualidade: o transferente confia na lealdade e
honestidade da outra parte em se servir da propriedade ou direito solenemente
transferido, apenas para a destinação internamente convencionada, cumprindo a
seguir a obrigação de retransmitir. (RESTIFFE NETO, 1975, p. 11-12).
É nesse segundo momento do negócio fiduciário que se destaca o fator confiança,
traço marcante, consistente no risco, ou situação de perigo, a que fica sujeito o fiduciante em
relação ao fiduciário. Sendo este o real proprietário da coisa ou titular do direito, pode dar a
ela o destino que bem entender, de forma contrária à finalidade estipulada, sem que conte o
fiduciante com um direito de seqüela.
Em outras palavras, o cumprimento da finalidade pretendida com o negócio
fiduciário pactuado depende exclusivamente da boa-fé, da conduta do fiduciário, com total
vulnerabilidade do fiduciante. Afinal, o pacto fiduciário, tal como já apontado desde a sua
gênese romana, não tem o condão de neutralizar o efeito real operado pela transferência da
coisa, que se opera erga omnes. Vale dizer, não tem aquele eficácia em relação a terceiros, o
que se confirma também neste trecho:
95
É característica do negócio fiduciário, assim, tal como destacado por René
Jacquelin, a articulação entre a transmissão da propriedade e uma convenção
firmada entre as partes com o fim de neutralizar os efeitos do direito real
transmitido, pois embora aquela transmissão torne o fiduciário proprietário pleno e
definitivo da coisa, ressalva-se que ela se efetiva só com o propósito de dar ao
fiduciário as condições necessárias para administrar um patrimônio, ou para outra
finalidade que as partes tiverem definido no pactum fiduciae, como pode acontecer
com o endosso pleno de uma cambial, que, embora tornando o endossatário titular
pleno do direito de crédito nela expresso, é formalizado tão-só para que se efetive a
cobrança do título. Assim, muito embora consubstancie uma transmissão de
propriedade, o negócio fiduciário tem o seu efeito de direito real parcialmente
anulado por um pacto adjeto, como assinala Tullio Ascarelli: “o característico do
negócio fiduciário decorre do fato de se pretender, ele, a uma transmissão da
propriedade, mas de ser, o seu efeito de direito real, parcialmente neutralizado por
uma convenção entre as partes em virtude da qual o adquirente pode aproveitar-se da
propriedade que adquiriu, apenas para o fim especial visado pelas partes, sendo
obrigado a devolvê-la desde que aquele fim seja preenchido. Ao passo que os efeitos
de direito real, isoladamente considerados e decorrentes do negócio adotado, vão
além das intenções das partes, as ulteriores convenções obrigacionais visam
justamente restabelecer o equilíbrio; é assim possível o uso da transferência da
propriedade para finalidades indiretas (ou seja, para fins de garantia, de mandato, de
depósito).”
Evidentemente, a eventual neutralização, por meio do pactum fiduciae, do efeito do
direito real transmitido, resulta exclusivamente da boa-fé, pois, uma vez transmitido
o direito ao fiduciário, fica o fiduciante sujeito ao arbítrio daquele. (CHALHUB,
2006, p. 43-44).
Portanto, no negócio fiduciário estricto sensu revela-se a existência desses dois
momentos, sendo o primeiro o elemento real, operado pela transferência plena, ampla e
ilimitada da propriedade de um bem ou da titularidade de um direito, adquirindo o fiduciário
definitivamente a propriedade ou titularidade.
No segundo momento, exsurge o elemento obrigacional, de natureza pessoal,
consubstanciado pelo pactum fiduciae, através do qual o fiduciário é obrigado a se valer da
coisa fiduciada em consonância com os fins estabelecidos e, uma vez alcançados, deverá
restituir aquela ao fiduciante.
Pela conjugação desses dois momentos é que se manifesta, por via indireta, a vontade
das partes contratantes, ainda que com vulnerabilidade do fiduciante, mas sendo certo que é
também nesse aspecto que se caracteriza o negócio fiduciário. Afinal, conforme elucida
Ferrara (1939), a proteção que se alcança por via da obrigação pessoal em face do fiduciário é
insuficente e precária, posto não abarcar a integralidade do interesse que visa resguardar,
resultando o negócio fiduciário em um expediente dotado de vantagens, mas também de
riscos contrários aos propósitos das partes.
E esse inconveniente resulta especificamente dos dois efeitos emanados do negócio
fiduciário, sendo o primeiro decorrente da transferência da propriedade, dotado de efeito real,
e o segundo, consubstanciado no pacto fiduciário, dotado de eficácia pessoal.
96
Outros interessantes esclarecimentos são feitos por Ferrara (1939) que, além de
destacar os efeitos emanados do negócio fiduciário, faz também o necessário contraponto
entre o fim econômico e o jurídico, de forma a não permitir possa ser confundido com outros
instrumentos jurídicos já existentes, assim como destaca as conseqüências da transferência da
propriedade. É o que se colhe do seguinte excerto:
O negócio fiduciário produz a transferência plena e absoluta do direito: a finalidade
limitada para a qual se realisa não limita jurìdicamente a disposição. O fiduciário
torna-se proprietário e credor perante todos e pode usar como entender oportuno do
direito adquirido. E’, pois, inexacta a concepção de Dernburg que distingue no
negócio fiduciário duas relações, uma externa e outra interna, e ao mesmo tempo
que reconhece a plena titularidade do fiduciário em relação a terceiros, considera
que, em relação ao fiduciante, o fiduciário não passa dum simples mandatário.
Confunde-se aqui o fim económico da disposição com a sua forma jurídica. Verdade
é que as partes quiseram conseguir o objectivo prático da representação; mas, para o
conseguir, servem-se duma forma jurídica mais forte, com efeito mais amplo, da
transmissão do direito, e portanto assumiram até os riscos de semelhante posição. O
fiduciário não se reveste simultâneamente duma dupla qualidade, mas converte-se
em titular do direito perante o proprio alienante, sem que o fim económico da
transmissão se desenvolva fora da relação obrigatória; de modo que quando este fim
se efectiva, a propriedade ou o crédito não voltam ipso iure ao transmitente ou
cedente, mas este sòmente pode exigir a retrocessão.
Derivam várias conseqüências da plena titularidade que o fiduciário adquire.
Antes de mais nada, pode alienar vàlidamente a coisa recebida sub fiducia e a
alienação é eficaz mesmo que o adquirente conheça a sua qualidade. Por outro lado,
toda a disposição ou emprego da coisa fiduciária, mesmo em oposição com o fim
expresso no contrato obrigatório, constitue um exercício legítimo do direito.
(FERRARA, 1939, p. 85-86).
Essa a desvantagem existente no negócio fiduciário, já que a transferência realizada
outorga ao fiduciário a titularidade plena e absoluta, podendo-se valer da coisa para finalidade
outra, diversa da pactuada, mas sendo certo que também nisso reside uma de suas
peculiaridades.
O pacto fiduciário realizado não tem o condão de resguardar o fiduciante em sua
integralidade, já que, como visto, seus efeitos se limitam a obrigar pessoalmente o fiduciário,
de usar da propriedade do bem ou da titulariade do direito transferido apenas para a
persecução do fim estabelecido, com posterior restituição, seja para o fiduciante, seja para
determinada pessoa. Mas, não tem efeito em relação a terceiros e, portanto, não atribui direito
de seqüela, mas tão somente direito de indenização em face do fiduciário infiel. Consoante
adverte Francisco Ferrara (1939, p. 89), caso o fiduciário abuse de sua posição jurídica
“alienando ou utilisando em proveito próprio o direito de que se trata, é responsável pela
indemnisação de perdas e danos. E’ esta a única defesa com que fica o transferente no caso
em que o fiduciário atraiçoe as suas esperanças.”
97
Desta forma, todo negócio fiduciário stricto sensu conta com a existência dos dois
elementos, um real e outro obrigacional, com suas respectivas eficácias. À falta de qualquer
deles, não há falar-se em negócio fiduciário stricto sensu.
Portanto, e tendo em vista a complexidade e distintos momentos encontrados no
negócio fiduciário stricto sensu, trata-se de contrato atípico, posto não regulado por lei
específica. É consensual, já que resulta de um acordo de vontades, podendo ser solene, ou
não, conforme exista previsão legal quanto à necessidade de cumprimento de certas
formalidades para a transmissão da coisa ou, caso contrário, satisfaça-se por simples tradição.
E, em qualquer caso, sempre terá natureza real, posto depender da efetiva entrega do bem.
Por fim, poderá ser oneroso ou gratuito, a depender do arranjo estipulado, vale dizer,
se ambas as partes, fiduciante e fiduciário auferirem vantagem. É bilateral, na medida em que
encerra obrigações para ambas as partes. Será principal, “como são os casos em que a
transmissão da propriedade se dá para efeito de administração patrimonial, ou acessório,
quando a transmissão da propriedade se efetiva para fins de garantia, como nos contratos de
empréstimo em geral, em que este, o de empréstimo, é o contrato principal.” (CHALHUB,
2006, p. 48).
Como já informado quando da análise da fidúcia romana, o objeto do negócio
fiduciário é a coisa transmitida que, segundo o entendimento abaixo colacionado, deve ser
sempre um bem infungível:
Conseqüência direta do elemento obrigacional da restituição, inerente ao negócio
fiduciário, que corresponde, no momento de sua pactuação, à esperança-confiança
do fiduciante em recuperar a res pela lealdade e honestidade do fiduciário, é que as
coisas fungíveis frustram os pressupostos da edificação do instituto, que não têm
previsão legal.
Assim, são as coisas infungíveis as únicas que permitem ao fiduciante acreditar na
recuperação e que tornam viável a assunção da obrigação de restituir por parte do
fiduciário. Elas é que podem, portanto, ser objeto do pacto fiduciário. (RESTIFFE
NETO, 1975, p. 9-10).
Dentre as finalidades a que se prestam os negócios fiduciários, podem ser destacadas
duas modalidades, quais sejam, a de garantia e a de administração.
Dentre os negócios fiduciários mais comumente utilizados encontra-se a compra e
venda para fins de garantia que, aliás, é a modalidade mais antiga, desde os romanos. Por essa
via, o devedor-fiduciante transfere ao credor-fiduciário um bem em garantia ao cumprimento
de sua obrigação, sendo facultado ao fiduciário a alienação do bem caso não ocorra o
pagamento pelo fiduciante, sendo-lhe restituída eventual diferença.
98
Há também o negócio fiduciário para fins de administração, utilizado em situações
em que a outorga de um simples mandato não se apresenta recomendável. Assim, transfere-se
a propriedade de bens ou a titularidade de direitos ao fiduciário, para que possa o fiduciante,
ou o beneficiário, tal como aponta Chalhub (2006), conservar, administrar ou explorar esses
bens transferidos.
Importante o destaque feito por esse mesmo autor, de ser essa modalidade uma das
modalidades mais utilizadas no mercado de capitais:
Atualmente, esta é uma das hipóteses mais freqüentes e que desperta maior
interesse, dada sua relevância na economia contemporânea. É o caso típico de
fundos de investimento, em que o fiduciante entrega ao fiduciário certa soma de
dinheiro para que faça inversões em negócios que dêem rentabilidade e promova sua
administração, com a obrigação do fiduciário de restituir o capital e seus
rendimentos. Nessa modalidade de negócio as instituições administradoras devem
ser previamente credenciadas pelas autoridades monetárias, devendo, para tanto,
preencher determinados requisitos, e são submetidas a rigoroso controle e
fiscalização por partes dessas autoridades, dado o interesse público que envolve a
economia popular.
No negócio de administração é também muito comum a gestão de negócios
imobiliários. (CHALHUB, 2006, p. 63).
Os negócios fiduciários são também utilizados para fins de recomposição de
patrimônio, nas hipóteses em que o fiduciante, não sendo insolvente, não se sente habilitado a
realizar a administração dos seus bens com essa finalidade.
Há, ainda, a cessão fiduciária para fins societários, recorrente principalmente no
âmbito das sociedades anônimas, através da qual o titular de ações, por não se sentir
confortável para votar diretamente sobre determinados assuntos, evitando qualquer
indisposição com os administradores, cede fiduciariamente suas ações a determinada pessoa
para que o faça em seu próprio nome.
Essas as principais modalidades encontradas na prática dos negócios fiduciários
stricto sensu.
4.4.2 Negócio fiduciário e negócio simulado: uma distinção necessária
Não obstante a existência de dois momentos distintos de um mesmo negócio, e a
desproporção entre o meio utilizado e o fim desejado, mas sendo certo que essa finalidade é
prevista e desejada pelas partes, importante destacar que o negócio fiduciário não pode ser
considerado como uma simulação.
99
Conforme asseverado por Otto de Sousa Lima (1962, p. 192), “a confusão do
negócio fiduciário com o negócio simulado tem constituído um dos maiores entraves ao
perfeito conhecimento de nosso instituto, causando incertezas várias sôbre êle.” Relembra a
origem do instituto, das formas de transferência da propriedade, quais sejam, a mancipatio,
que nos dizeres de Gaio seria uma imaginaria ventidito, e a in iure cessio, correspondente a
uma reivindicação fictícia, e com base nesses fundamentos compreende a confusão que alguns
autores, “desatentos à própria natureza do negócio, viam nele, apenas, uma simulação.”
Ademais, adverte que aqueles que confundem negócio fiduciário e simulação não
acompanharam a evolução daquele instituto, as funções a que se presta a fidúcia, mormente
para dar azo às manifestações da autonomia da vontade, suprindo-se deficiências do
ordenamento, com a criação de novas formas jurídicas, satisfazendo-se as demandas sociais, e
arremata:
Não se visava, com a fidúcia, como não se visa hoje com o negócio fiduciário, a
simular coisa alguma. Procura-se, tão-só, completar o sistema legal, com a adoção
de formas jurídicas não previstas, expressamente, em lei.
[...]
O negócio fiduciário não visa a fraudar a lei. Se o visasse seria necessàriamente
nulo. Visa a tutelar negócios que se não enquadram em dado sistema legal. Seria,
como já disse alguém, uma espécie de contrato inominado. Ora, o contrato
inominado não encontra, também molde legal, mas, nem por isso, será um contrato
in fraudem legis. [...]
Não há dúvida que o negócio fiduciário poderá constituir, como, aliás, qualquer
outro ato jurídico, uma fraude à lei. Nestes casos, sua nulidade é evidente, mas não
simplesmente por ser negócio fiduciário, mas por conter uma fraude à lei. (LIMA,
1962, p. 193-194).
Ademais, esclarece que, diferentemente do que se passa em um negócio simulado, no
negócio fiduciário não há simulação na causa desse mesmo negócio. Existe verdadeira
intenção de alienar, que efetivamente ocorre, a tanto que mesmo nos primórdios da fidúcia a
mancipatio e a in iure cessio eram formas solenes de transmissão da propriedade. E, de outro
lado, há a real intenção de se alcançar o escopo, lícito, visado pelas partes. Sob outro enfoque,
não há que se falar na existência de simulação em um negócio real pelo simples fato das
partes envolvidas terem utilizado um meio que não corresponde perfeitamente ao fim.
Francisco Ferrara (1939), muito citado por diversos autores nesse particular aspecto,
inicia a distinção entre os negócios simulados e os negócios fiduciários, lembrando que os
primeiros são negócios fingidos, formulados na exclusiva busca de uma situação aparente.
Trata-se de negócio vazio de consentimento, não pretendendo alcançar resultado econômico
100
ou jurídico, sendo absolutamente nulo, não acarretando a transferência de direitos e, por isso,
aquele que simula continua como proprietário.
Referido autor destaca a seriedade dos negócios fiduciários e, portanto, realizados de
forma efetiva entre as partes, as quais buscam a realização de um determinado efeito,
desejando o negócio com todas as suas consequências jurídicas. E, ainda, elucida:
As partes, para realizarem os seus fins, vêm-se constrangidos a escolher uma forma
divergente e mais ampla do que a que seria oportuna. Mas como querem conseguir
aqueles fins a todo o custo, assumem os riscos e inconvenientes do meio perigoso de
que usaram, fiando-se no compromisso fiduciário. Esta divergência entre o fim
económico e o meio jurídico, dá um caráter especial ao negócio fiduciário que
apresenta uma fisionomia ondulante e equívoca. Daí nascem as intrincadas
confusões em que caem a doutrina e a jurisprudência ao apreciar todos estes
negócios, que se subordinam ao conceito de simulação. (FERRARA, 1939, p. 79).
Esse mesmo autor, após citar conclusão formulada por Goltz, no sentido de que o
negócio fiduciário é uma mistura de verdade e aparência, um meio termo entre negócios reais
e simulados, não deixa de realizar necessária contextualização:
Esta maneira de pôr a questão é inexacta, porque se é certo que, económicamente, as
partes perseguem um efeito diferente daquele que o meio jurídico a que recorreram
exprime e que, dêste modo, chegam a ocultar a sua finalidade econômica, isso não
impede que o negócio seja sério e real no seu revestimento jurídico e que o fim
particular com que as partes contrataram careça de importância sob o ponto de vista
do direito. Encontramo-nos, quando muito, perante um dissimulo económico, visto
que o patrimônio do fiduciário parece ter aumentado, quando, na realidade, por
efeito da obrigação negativa que neutraliza o da transferência, permanece como
estava – mas isso influência alguma pode ter na decisão do caráter jurídico do
negócio. A venda continua sendo venda, ainda que o preço seja tão pequeno que não
tenha qualquer equivalência com a coisa. [...]
Por estas razões me parece mais justo chamar ao negócio fiduciário, como faz
Regelsberger, um jogo com as cartas a descoberto, - já que os contratantes
concluem um negócio real e visível para alcançar uma finalidade lícita – do que
aproximar esta figura da da [sic] dissimulação. (FERRARA, 1939, p. 79-80).
Também nesse sentido doutrina José Xavier Carvalho de Mendonça (1960, p. 86-87),
na medida em que as partes que entabulam negócio fiduciário efetivamente o concluem, na
busca de determinado resultado prático, assumindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios,
ainda que exista diversidade em relação ao fim econômico. “É justamente sob êsse ponto de
vista que o negócio fiduciário se distingue do negócio fraudulento. Ambos constituem uma
forma única de negócio, mas o primeiro visa a fim econômico fora da lei, o segundo fim
econômico contra a lei.”
Portanto, os negócios fiduciários são válidos, posto encerrar a realidade das
manifestações de vontade ali exaradas e, ainda que existente a desproporção entre o
101
instrumento jurídico utilizado e o fim econômico almejado, há efetiva transmissão da coisa,
passando o fiduciário a ser o proprietário perante todos, inclusive o fiduciante.
Sobre não se tratar o negócio fiduciário de simulação, assim como sobre sua
validade, existem vários julgados perante os tribunais pátrios, sendo pertinente trazer à
colação ao menos um, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso abaixo colacionado,
apreciou-se um negócio fiduciário em garantia, no qual os fiduciantes-devedores transferiram
sua propriedade ao fiduciário-credor, com a obrigação deste devolver a coisa após o integral
pagamento. Sobrevindo o falecimento deste último, mas tendo sido paga toda a dívida, a
viúva negou a devolução do bem, tendo sido proposta pelos fiduciantes ação declaratória,
tendo por objeto a confirmação de existência de negócio fiduciário. Em contestação,
sustentou-se a existência de prescrição, por tratar o caso, sob o enfoque da viúva e sucessora,
de ação anulatória de contrato por simulação.
O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando o sofisma
engendrado pela defesa, foi o seguinte:
CIVIL. NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE
IMÓVEL EM GARANTIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DO PACTO. EFEITO NATURAL DE RETORNO AO ESTADO
ANTERIOR, COM ANULAÇAO DA ESCRTIRUA. PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 177 E NÃO DO ART. 178, §9º, V, b, CC.
INEXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA E NEM MESMO DE SIMULAÇÃO.
RESCURSO DESACOLHIDO.
I – O negócio fiduciário, embora sem regramento determinado no direito positivo, se
insere dentro da liberdade de contratar própria do direito privado e se caracteriza
pela entrega fictícia de um bem, geralmente em garantia, com a condição de ser
devolvido posteriormente.
II – Reconhecida a validade do negócio fiduciário, o retorno ao estado anterior é
mero efeito da sua declaração de existência, pelo que o bem dado em garantia de
débito deve retornar, normalmente, à propriedade do devedor.
III – Inocorre, assim, qualquer pretensão desconstitutiva de contrato, mas sim
declarativa de validade, o que afastaria a prescrição definida no art. 178, §9º, V, b do
Código Civil. E nem mesmo se trata de simulação, porque no negócio simulado há
um distanciamento entre a vontade real e a vontade manifestada, inexistente no
negócio fiduciário. (BRASÍLIA, 1997).
Chalhub (2006, p. 66) informa ainda ser escassa a jurisprudência pátria sobre
negócios fiduciários. Traz à colação alguns acórdãos dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais
e de São Paulo, reconhecendo a validade dos mesmos, para os quais “com base na autonomia
da vontade e na liberdade contratual, é lícita a criação de negócios jurídicos inominados,
desde que tal criação não afronte o ordenamento jurídico, a ordem pública ou a moral,
revestindo-se, portanto, de plena validade e eficácia.”
102
Importante esclarecer que não há que se confundir simulação com fraude, que possui
natureza distinta, não sendo um negócio aparente. O negócio fraudulento é desejado em seus
efeitos, mas visa uma violação indireta da lei. Trata-se de uma manobra, por vias transversas,
tendente a escapar de determinada norma jurídica, mas de forma a não poder “ser diretamente
reprovada e que, com o conjunto de meios oblíquos empregados, venha a conseguir-se o
resultado que a lei queria impedir.” (FERRARA, 1939, p. 93). Em síntese, no negócio
fraudulento busca-se uma alteração do estado fático regulado pela lei, de forma a tentar
impedir a sua subsunção. Sequer é essencial no negócio fraudulento a consciência de que se
busque alcançar um fim proibido.
De certo que é possível que determinado negócio fiduciário se preste à realização de
negócio fraudulento ou, por vezes, mesmo sem o pretender, apresente-se como ineficaz em
relação a determinadas pessoas. Mas, nem por isso, pode-se questionar de sua validade, ainda
que passível de ser anulado em algumas situações.
A eventual existência de circunstância capaz de causar nulidade ou anulabilidade do
negócio é questão à parte. Do trecho que ora se colaciona, podem ser colhidos
esclarecimentos mais precisos quanto à validade dos negócios fiduciários:
O negócio jurídico fiduciário pode ser fraudulento. Então, está exposto à
anulabilidade por fraude contra credores (arts. 106-113), direito formativo extintivo
cuja ação prescreve em quatro anos (art. 178, §9º, V, b), ou à execução, se em fraude
de execução, por ser sem eficácia contra o exeqüente (nossos Comentários ao
Código de Processo Civil, VI, 76, 80s. e 109 s.). Dá-se o mesmo por ineficácia, se é
em fraude de arresto ou de seqüestro, ou outra medida constritiva. Noutros sistemas
jurídicos, o negócio jurídico, se houve fraude, é nulo; no direito brasileiro, apenas é
anulável. No direito comercial, persistiu, por insistência de conceito histórico, a
revogabilidade, com base no art. 53 do Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945
(lei de falências). Portanto, não se pode pensar em invocar-se o art. 622, parágrafo
único. A transmissão da propriedade opera-se. O credor fraudado pode penhorar a
pretensão restitutória do fiduciante contra o fiduciário, se a coisa lhe havia de ser
devolvida; se, em vez disso, a entrega há de ser a outrem, o credor fraudado nada
encontra no patrimônio do credor que possa penhorar. Nos casos de fraude à
execução, ou ao arresto, ou ao seqüestro, ou outra medida de segurança, o ato do
fiduciário, alienando, ou gravando, é ineficaz, porque o foi, ab initio, o ato do
fiduciante. (MIRANDA, 1954, p. 124-125).
E, mais adiante, Pontes de Miranda (1954, p. 127) arremata a questão, informando
que “se o ato de disposição fiduciária é in fraudem legis, ou em fraude contra credores,
permitindo, respectivamente, a alegação de nulidade, ou de anulação (no direito falencial, a
revogação), é outra questão; nada tem com a existência do ato mesmo de disposição
fiduciária”.
103
4.4.3 Consequências perante credores do fiduciante e do fiduciário
De todo o exposto, verifica-se que pela estrutura e conseqüências jurídicas de um
negócio fiduciário stricto sensu, através do qual o fiduciário passa a ser o proprietário do bem
ou titular do direito transferido, estes integram seu patrimônio para todos os fins. Ao
fiduciante restará tão somente um vínculo obrigacional com o fiduciário, um direito de crédito
contra este.
Assim ocorrendo, referidos bens ou direitos não mais comporão o patrimônio do
fiduciante como garantia de seus credores. Lado outro, a recíproca é verdadeira, no sentido de
que os credores do fiduciário poderão, sem qualquer reserva, satisfazer eventuais débitos
através da penhora dos bens transferidos, os quais, inclusive, integrarão eventual concurso de
credores, hipótese na qual estariam os bens “sujeitos a uma eventual falência do fiduciário
(art. 39 da Lei de Falências) pois, a falência compreende todos os bens do devedor.”
(PEREIRA, 1995, p. 111).
Pontes de Miranda apresenta o seguinte entendimento sobre o tema:
A relação jurídica entre o fiduciante e o fiduciário de modo nenhum atinge a relação
jurídica do fiduciário com terceiros, quer se trate de sujeito passivo total, quer não
(e.g., o devedor do crédito cedido). A relação jurídica de fidúcia é pessoal e sòmente
estende a terceiros a sua eficácia segundo os princípios que regem, de ordinário ou
de maneira especial, a extensão. Os direitos, formados ou formativos, que entram,
com a aquisição, no patrimônio do fiduciário, podem ser objeto de execução por
parte dos seus credores, inclusive execução concursal. Mas, de acôrdo com os
princípios, o fiduciante é credor concursal, ou o é o terceiro a quem deve ser
devolvido o bem da vida, pelo seu direito à devolução. O direito à separação ou
restituição da coisa (Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, arts. 76-79), ou a
pretensão à execução por coisa certa (Código de Processo Civil, arts. 992-997) só
existe se a transferência se deu sob condição resolutiva e essa se realizou. Na
execução concursal do fiduciante, o fiduciário pode exercer o seu direito à
restituição ou separação, salvo se o alcança alguma regra jurídica dos arts. 52-58 do
Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945. Se a transmissão foi para garantia, o
credor-fiduciário tem direito à restituição, ou separação, quanto a todo o objeto,
enquanto não se lhe paga a dívida. O síndico da execução concursal apenas pode
exigir que se venda o bem e se entregue o resto à massa concursal. O mesmo há-se
de observar quanto à cessão de crédito para garantia: o crédito não entra no
concurso, porque não é mais do fiduciante, posto que o resto do que se apurar se
haja de entregar à massa concursal. Num e noutro caso, a venda do bem ou a
cobrança do crédito não é feita pelo síndico. (MIRANDA, 1954, p.119).
Também esse o entendimento esposado por Chalhub (2006) que, aliás, colaciona o
retro transcrito posicionamento de Pontes de Miranda, esclarecendo a correspondência dos
104
dispositivos legais invocados aos da atual Lei de Recuperação Judicial24. Aponta no sentido
de que, caso a falência ou insolvência seja do fiduciário, a coisa fiduciada deverá integrar a
massa, restando ao fiduciante tão somente a condição de credor, conseqüência do pacto
fiduciário realizado.
Afinal, conforme assevera, “a insolvência do fiduciário é um dos riscos a que o
fiduciante está sujeito quando celebra o negócio fiduciário, é uma situação de perigo tanto
quanto o é a possibilidade de o fiduciário vender a coisa a terceiros, contra os quais o
fiduciante carece de ação reivindicatória” (CHALHUB, 2006, p. 58). Caso o concurso de
credores se dê em relação à pessoa do fiduciante, somente o direito de crédito contra o
fiduciário é que comporia a massa. Ressalta, ainda, que se o bem estiver na posse do
fiduciante, admissível o direito do fiduciário de requerer a separação mas, sendo o valor do
bem maior que o da dívida, assegurado à massa a realização do pagamento para retomar a
propriedade da coisa.
Francisco Ferrara (1939, p. 88) revela seu entendimento nesse mesmo sentido, de
que, no caso de quebra do fiduciário, nenhum direito de separação caberia ao fiduciante.
Ademais, tece críticas ao posicionamento de Regeslberger e Kohler, os quais, com apego a
“sentimentos de equidade mal compreendidos”, entendem pelo direito do fiduciante em
cobrar a restituição dos bens, excluindo-os da falência. Entendem que o contrário significaria
uma injustiça econômica, já que tendiam as partes contratantes apenas conseguir, via negócio
fiduciário, a finalidade econômica do mandato, representando “uma consequência tão cruel
que o direito não poderia aprová-la, e por isso se deve admitir a favor do fiduciante uma
reivindicatio utilis.” (KOHLER apud FERRARA, 1939, p. 88). Para demonstrar o não
cabimento de tal posicionamento, esclarece:
Mas Kohler não tem consciência de que precisamente esta incongruência, como êle
escreve noutro lugar, entre o fim económico e a forma jurídica é que constitue a
essência do negócio fiduciário e que aquele que realisa este negócio se expõe a um
perigo que pode ser-lhe fatal. Por outro lado, como observa Lang, isto é justo,
porque doutro modo o credor teria todas as vantagens sem correr risco algum, e pode
servir de correctivo contra as possibilidades de abuso duma tal forma jurídica.
(FERRARA, 1939, p. 88-89).
Também Otto de Sousa Lima (1962, p. 146) aponta para essa impossibilidade por
parte do fiduciante. Pela teoria romanística, operada a transferência dos bens o fiduciário é o
titular exclusivo dos direitos daí advindos, os quais serão abarcados pela massa no caso de sua
falência. “Coerentemente, dão ao fiduciante, na falência do fiduciário, apenas, os direitos
24
Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
105
obrigacionais decorrentes do pactum fiduciae, que constituem simples créditos quirografários,
sem qualquer eficácia real.”
4.4.4 Negócio fiduciário e trust
Do quanto foi exposto, verifica-se a similitude estrutural existente no trust e no
negócio fiduciário, de forma a apontá-lo, sob esse enfoque, como instrumento capaz de
satisfazer às mesmas finalidades daquele. Todavia, tendo em vista a diversidade de efeitos
emanados de um e de outro, especificamente no que se refere à natureza do vínculo
obrigacional operado e, consequentemente, à segurança das partes envolvidas em relação a
terceiros credores, a situação é totalmente distinta.
Conforme visto, nos negócios fiduciários stricto sensu o fiduciante fica à mercê da
boa-fé do fiduciário, não contando com instrumentos eficazes no caso do abuso de confiança
deste, que poderá alienar os bens a terceiros ou utilizá-los em proveito próprio, de forma
diversa do pactuado, restando àquele apenas direito a indenização. Ademais, integrando ao
patrimônio do fiduciário os bens fiduciados, de igual sorte sofreria o fiduciante as funestas
consquências da transferência dos bens, posto mero credor quirografário junto às massa
concursal.
E não obstante aquela parcial e minoritária divergência doutrinária encabeçada por
Regelsberger e Kohler, no sentido de ser possível a reivindicatio utilis dos bens, ainda que tal
fosse possível, essa mera possibilidade e percalços daí advindos já seriam suficientes para
inviabilizar a utilização do negócio fiduciário stricto sensu em operações de securitização de
crédito. Em se tratando de operações inseridas no contexto do mercado de capitais, em
específico nas de securitização de crédito, a simples existência de risco em relação aos bens
transferidos, lastro dos valores mobiliários a serem emitidos, é o quanto basta para dificultar a
utilização desse valioso instrumento de circulação de riquezas, assim como por vulnerar o
público investidor.
Nesse aspecto, importante ressalva foi realizada nos seguintes termos:
Do que precede, resulta claro que as conseqüências da insolvência do fiduciário
tornam o negócio fiduciário, na configuração de negócio inominado de cunho
romano, absolutamente imprestável para garantia das operações de crédito que se
realizam em larga escala na economia moderna, ou para a administração fiduciária
do tipo dos fundos de investimento, pois nada justificaria colocar a grande massa de
106
investidores sob o risco de figurar apenas como credores quirografários na hipótese
de quebra (ou liquidação extrajudicial) do fiduciário.
Por isso mesmo, para aplicação em larga escala, envolvendo o interesse de grande
massa de investidores, negócios de natureza fiduciária só são admissíveis se vierem
a ser regulamentados pelo direito positivo – quando passariam a ser tidos como
negócios fiduciários impróprios -, hipótese em que (1) a propriedade da coisa ou do
direito objeto do negócio ou da garantia haveria de submeter-se a limitações que a
vinculassem ao fim convencionado no contrato, promovendo-se a afetação da coisa
ou do direito, e (2) a coisa ou o direito haveria de constituir um patrimônio
funcionalmente autônomo, um núcleo patrimonial separado em relação aos
patrimônios do fiduciante e do fiduciário, patrimônio esse que somente existiria
enquanto perdurasse a razão de ser da fidúcia. (CHALHUB, 2006, p. 59).
Portanto, forçoso reconhecer que o negócio fiduciário stricto sensu, face à sua
atipicidade, não confere ao fiduciante qualquer prerrogativa em relação a terceiros a quem o
fiduciário infiel venha a transferir a coisa fiduciada. Admitir o contrário seria aceitar a
possibilidade de constituição de patrimônio de afetação por vontade das partes, o que será
analisado mais adiante.
E de forma a melhor esclarecer o caminho que será seguido, serão analisados alguns
exemplos de negócios fiduciários positivados no ordenamento jurídico pátrio, ou seja, a retro
mencionada fidúcia legal, e sua diferenciação em relação ao negócio fiduciário stricto sensu
para, então, estabelecer a relação dessas leis com as operações de securitização de crédito e
avaliar a possibilidade de constituição de patrimônio de afetação em relação aos bens
destinados a servir de lastro nas operações de securitização de crédito.
4.5 Os negócios fiduciários impróprios
Com a utilização de negócios de natureza fiduciária em diversas situações, e
levando-se em consideração o interesse público existente, passaram a ser tipificados pelo
ordenamento jurídico de diversos países, dada a importância e consequente necessidade de se
regular essas relações, nos moldes do trust dos países de tradição anglo-saxônica. No Brasil,
tal também se deu conforme o interesse do Legislador em regular determinadas situações ou
através da instituição de direitos reais de garantia de natureza fiduciária, que serão analisados
no decorrer deste trabalho.
O que se destaca destas formas tipificadas é sua característica preponderante de
afetação dos bens transferidos à finalidade almejada. Nesses casos, o fiduciante encontra-se,
por força de lei, em uma situação mais segura nas hipóteses de descumprimento das
107
obrigações por parte do fiduciário, inclusive com direito de seqüela em relação ao bem
transferido.
Por conta disso, estabeleceu-se a discussão sobre a possibilidade dessas formas,
expressamente previstas em determinado ordenamento, continuarem a se enquadrar no gênero
negócio fiduciário. Nesses casos, tem-se a figura da fidúcia legal, ou seja, por encontrar-se
tipificada em lei, com maior garantia na restituição do bem, não haveria espaço para que o
elemento confiança se apresentasse de forma preponderante. Vale dizer, não se encontrando o
fiduciante em situação de evidente desvantagem em relação ao fiduciário, não precisando se
apegar com exclusividade à boa-fé deste, o elemento fidúcia restaria desaparecido.
Nesse aspecto encontram-se os seguintes esclarecimentos:
A fidúcia regulada em lei apaga-se de certo modo a si-mesma. Apenas alude a que,
nas origens do instituto, ela estêve; não está mais. A confiança, que é ato de confidare (latim popular, em vez de fidere) é entre declarantes ou manifestantes de
vontade, um dos quais confia (espera) que o outro se conduza como êle deseja, e
pois tem fé (fidúcia); à diferença da fiança, que é prestação de fé. Se a lei transforma
êsse material de confiança, criado no terreno deixado à autonomia das vontades, e o
faz conteúdo de regras jurídicas cogentes, a fidúcia passa a ser elemento puramente
histórico do instituto, salvo no ato mesmo de se escolher a categoria. Foi o que se
passou com os testamenteiros e outros administradores de patrimônio alheio.
(MIRANDA, 1954, p. 118).
Mas há também fortes argumentos no sentido de que esse menor apego à confiança
não desnaturaria as características do negócio fiduciário, pois continuaria existente essa
mesma confiança, ainda que reduzida a situação de perigo a que se expõe o fiduciante e,
ademais, tendo em vista que a estrutura interna é a mesma em ambos, a incongruência entre o
meio utilizado e o fim econômico almejado, de igual sorte, persistiria. Portanto, ainda que
positivada determinada modalidade de negócio fiduciário, continuaria a merecer a
classificação como tal, como se colhe:
Ocorre que, a despeito de não repousar a fidúcia legal exclusivamente na confiança
depositada no fiduciário, pode ser incluída no rol dos negócios fiduciários. Em
primeiro lugar, por que o elemento de confiança não desapareceu por completo. O
fiduciante ainda corre o risco de não obter a retransferência dos bens alienados,
tendo que se contentar com as perdas e danos. Além do mais, continua sendo
característica da fidúcia legal o fato de que o contrato de alienação tem objetivo
diverso dos contratos de alienação em geral. Em outras palavras, quando o
fiduciante aliena um bem ao fiduciário, seu objetivo não é o de tão-somente
transmitir o direito de propriedade, como ocorre na simples compra e venda. O
objetivo é o de que o bem seja fonte de renda ou de garantia, com a ulterior
retransmissão da propriedade. Verifica-se, na verdade, que a fidúcia, seja típica ou
atípica, dirige-se a objetivo diverso do fim natural do contrato de alienação puro e
simples. Na alienação fiduciária em garantia, por exemplo, o objetivo da alienação é
garantir uma obrigação, diversamente do fim típico da alienação pura e simples
108
(compra e venda, troca, doação), que consiste, somente e em última análise, na
transmissão do direito de propriedade.
Nesse sentido, mesmo a fidúcia legal se considera negócio fiduciário. (FIUZA,
2000, p. 16).
Não obstante, o que realmente importa destacar, posto indispensável à avaliação da
possibilidade do negócio fiduciário atribuir segurança nas operações de securitização de
crédito, refere-se à possibilidade de sua utilização para a constituição de um patrimônio
separado. Este, aliás, o principal contraponto existente entre os negócios fiduciários
tipificados e os não tipificados.
Chalhub (2006, p. 79) relembra que essa necessidade da fidúcia legal partiu
exatamente da fragilidade e riscos inerentes ao negócio fiduciário stricto sensu e, portanto, “a
construção de figuras de natureza fiduciária e sua tipificação legal, ou seja, a fidúcia legal,
reveste-se de especial interesse e atende a uma exigência de ordem pública, com vistas à
estabilidade das relações jurídicas.” Lado outro, contextualiza essa necessidade nos países de
tradição romano-germânica, que buscam na criação de um instrumento versátil e seguro como
o trust anglo-saxão, a resposta a esses anseios e, em síntese, uma harmonização nesse sentido
adviria da criação, “por lei: (1º) a criação de um direito real limitado – propriedade fiduciária
– e (2º) a afetação do patrimônio que se constitui com os bens objeto da propriedade
fiduciária.”
Conforme se passa a analisar, é através da constituição de um patrimônio separado,
afetado a uma finalidade, que reside a principal distinção entre os negócios fiduciários stricto
sensu e os negócios fiduciários impróprios, ou fidúcia legal, que, portanto, são dotados de
distintas conseqüências jurídicas.
Passa-se, assim, à análise da afetação patrimonial e da propriedade fiduciária.
4.5.1 A afetação patrimonial
Antes de se pretender tratar da separação, segregação ou afetação patrimonial,
imperiosa se faz a conceituação daquilo que se entende por patrimônio, o que não é tarefa
simples, tendo em vista que “a idéia de patrimônio não está perfeitamente aclarada entre os
modernos juristas, talvez em razão de não ter o direito romano fixado com segurança as suas
linhas.” (PEREIRA, 1994, p. 245). No direito romano o patrimônio equivalia apenas a coisas
e direitos, mas não um instituto.
109
As concepções atuais de patrimônio guardam forte relação com a evolução do direito
das obrigações e sua execução forçada e, em específico, com a alteração da garantia dessas
mesmas obrigações.
Era a Lei das XII Tábuas que no decorrer da civilização humana regia a questão,
submetendo o devedor, ou algum familiar, a pagar com a própria vida pelo não cumprimento
de uma obrigação. Somente com o advento da Lex Poetelia, em 326 a. C., é que a sujeição
física cedeu espaço para a sanção pecuniária, dotando de caráter patrimonial a maior parte das
normas a serem aplicadas, de forma a humanizar a execução forçada.
Nesse sentido aponta o seguinte excerto:
Na Roma antiga, até a lei Poetelia (326 a.C.) os credores encontravam garantia à
satisfação das obrigações na pessoa do devedor ou, ainda, na pessoa de algum
familiar deste. Devido aos abusos e absurdos cometidos pelos patrícios-credores
contra os plebeus-devedores, houve um movimento de opinião que se consumou na
mudança do sistema. Esta alteração deslocou a garantia à satisfação do credor da
esfera da pessoa do devedor, ou de familiar seu, para o patrimônio do devedor. Na
lição de Darcy BESSONE: “A obrigação, antes vínculo físico, adquiriu o caráter de
vínculo jurídico, passando a encontrar garantia de elementos exteriores”. (FACHIN,
2006, p. 73).
Como decorrência desse processo de patrimonialização do direito é que começaram a
surgir formas de garantia como, por exemplo, o pactum fiduciae e o pignus. Vale dizer,
ocorreu o deslocamento da garantia da pessoa do devedor para o seu patrimônio, tendo-se,
assim, por costume, admitir este último como sendo o conjunto dos bens do devedor, dando
azo, posteriormente, à concepção de que seria uma personalidade abstrata, uma
universalidade. A execução dos credores recaía, então, sobre os elementos que compõem o
patrimônio.
Mas foi somente após a edição do Código Civil napoleônico que se teceram
questionamentos mais precisos sobre o patrimônio, com fortes influências ainda hoje, em que
pesem as incontáveis críticas existentes, fruto da ausência de regulamentação pelo direito
positivo, que não fixa os elementos que o compõem.
Também o ordenamento jurídico pátrio emprega apenas referências esparsas sobre o
patrimônio. Veja-se que o art. 5725 do Código Civil de 1916 apenas o definia, tal como a
herança, como uma universalidade de direito. Já o Código Civil de 2002 dispôs no art. 91, tão
somente que “Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma
pessoa, dotadas de valor econômico.”
25
Dispunha o art. 57 do Código Civil de 1916: “O patrimônio e a herança constituem coisas universais, ou
universalidades, e como tais subsistem, embora não constem de objetos materiais.”
110
No século XIX, os juristas franceses Aubry e Rau elaboraram sua teoria sobre o
patrimônio, conhecida como teoria clássica ou personalista, por vislumbrarem o patrimônio
como emanação da própria personalidade, como a personalidade do homem considerada nas
suas relações com os objetos exteriores. Assim, com base nessa premissa, vale dizer, por
tratar o patrimônio como emanação da personalidade, possui características desta, como a
intransmissibilidade, a unidade e a indivisibilidade, de forma que uma pessoa possui
necessariamente um único patrimônio, de natureza incorpórea, razão de sua indivisibilidade.
Para referidos juristas o patrimônio compreende a integralidade dos bens de uma
pessoa, inclusive os bens futuros, dada a potencialidade para essa aquisição, e, ainda, aqueles
bens inatos, direitos da personalidade, tendo em vista a indenização devida em caso de sua
violação.
Defendem que todos esses bens que compõem o patrimônio submetem-se aos
mesmos princípios, da unidade e indivisibilidade, que regulam a personalidade. É uno, posto
independente dos elementos que o compõe, sobrevivendo mesmo na hipótese de nenhum bem
material possuir determinada pessoa e, ademais, a natureza incorpórea do patrimônio não
permitiria seu fracionamento em partes materiais. Afinal, sempre existiria um substrato
patrimonial mínimo, inerente à noção de personalidade.
Sylvio Marcondes sintetiza as conclusões dos referidos juristas nos seguintes termos:
O princípio de base está na relação assentada entre o patrimônio e a personalidade,
doutrinando aquêles juristas: a idéia do patrimônio deduz-se diretamente da de
personalidade e, sendo aquêle a emanação desta, é a expressão da potência jurídica
em que uma pessoa, como tal, se acha investida. Daí, como consequência, resulta:
1.º, que sòmente as pessoas podem ter um patrimônio; 2.º, que tôda pessoa tem,
necessàriamente, um patrimônio; 3.º, que cada pessoa não pode ter senão um
patrimônio. (MARCONDES, 1970, p. 85).
Admitindo-se o princípio de que o patrimônio é uno e indivisível, apresentar-se-ia
como inviável a separação patrimonial, posto representar a admissão da coexistência de dois
ou mais núcleos patrimoniais na esfera jurídica de uma mesma pessoa. Segundo o pensamento
de Aubry e Rau, tal como exposto por Sylvio Marcondes (1970, p. 87), “são anomalias,
desnaturações, os desvios a êstes princípios que excepcionalmente se encontram nas leis;
como tais deve considerá-los a doutrina jurídica.”
E a partir disso se desenvolvem evoluções dessa teoria, assim como críticas por parte
da denominada teoria moderna, ou objetiva, do patrimônio. Apesar de reconhecerem a lógica
interna dessa teoria, acusam-na de se afastar da realidade fática, de tal sorte que não
conseguem descrever fatos observados empiricamente.
111
Sylvio Marcondes (1970) sintetiza as principais críticas de diversos autores à teoria
clássica.
Aponta que, para Gary, Brunet, Baudry-Lacantinerie e Cunha Gonçalves, deve ser
conservada essa teoria quanto a íntima ligação entre patrimônio e personalidade, assim como
sua unicidade, indivisibilidade e inseparabilidade. Todavia, não se deve deduzir da premissa
de que o patrimônio é emanação da personalidade toda a teoria do patrimônio. As exceções
existentes não podem ser consideradas anomalias. “Deve conservar-se a teoria clássica (1.ª
concepção), mas acomodando-a à realidade e privando-a da sua rigidez excessiva e do seu
logicismo intransigente” (p. 87).
Para Geny, Colin-Capitant, Vacher-Lapouge, Azevedo e Silva, insistir nessa íntima
ligação entre a pessoa e o seu patrimônio seria excessivo e errado. Não aceitam a unicidade e
indivisibilidade do patrimônio, entendendo que a teoria do patrimônio deve se fundar na
premissa de que a personalidade é um pressuposto do patrimônio, sendo este uma universitas
juris, não sendo correto estreitar, por princípio, os laços entre a noção de patrimônio e a de
personalidade.
Brinz, Bekker, Demelius, Bonelli, Forlani, Plastara, Saleilles e Gazin vêem o
patrimônio como “um conjunto de direitos subjetivos (ou de bens, objeto dêsses direitos
subjetivos), que ora aparece como pertencente a uma pessoa, ora é constituído por direitos
sem sujeito, e pertence, então, meramente ao fim a que esses direitos estão afetos.”
(MARCONDES, 1970, p. 88).
A seu turno, Duguit entende por patrimônio tão somente um conjunto de riquezas
afetas a um fim, sendo relevante apenas essa idéia de vinculação a uma finalidade, inclusive
no que se refere ao patrimônio geral de uma pessoa.
Mais modernamente, as principais críticas à teoria clássica cindem-se na sua
premissa de que o patrimônio seria emanação da própria personalidade de um indivíduo. Com
isso, termina-se por confundir a própria pessoa com o seu patrimônio, como se este fosse o
próprio sujeito de direitos. Em outras palavras, confunde-se o patrimônio com a capacidade
patrimonial, assim entendida como a capacidade para ser sujeito de relações patrimoniais.
Lado outro, importante também considerar o fato de que o ordenamento jurídico
concebe o patrimônio como instituto jurídico destinado à garantia geral dos credores e, mais
modernamente, o concebe também no sentido de assegurar a dignidade da pessoa humana, já
que excepciona determinados bens daquela garantia geral. Desta forma, apresenta uma
natureza finalista, afastada da capacidade patrimonial e, tampouco, revela-se como
pressuposto indispensável à personalidade.
112
Uma hipótese comumente utilizada para refutar a premissa de que o patrimônio seria
emanação da personalidade é o da sucessão causa mortis. Afinal, se aceita essa premissa,
seria insustentável pretender a transmissibilidade de um direito que, posto inerente à pessoa,
seria inalienável e intransmissível.
Como é cediço, no direito brasileiro, a morte põe fim à personalidade, mas o
patrimônio
permanece,
sendo
imediatamente
transmitido
aos
herdeiros
os
bens
economicamente apreciáveis, por força do direito de saisine.
De resto, critica-se a teoria clássica também por não se apresentar de modo
consentâneo com a realidade, já que patrimônios separados são criados por lei ou, em outras
palavras, é possível a existência de mais de um núcleo patrimonial na esfera jurídica de uma
mesma pessoa, o que impede a aceitação da unidade patrimonial defendida pela teoria
clássica.
Quanto a isso, veja-se a herança a benefício de inventário, outro exemplo utilizado na
crítica doutrinária à teoria personalista.
Aberta a sucessão, transmitem-se direitos, bens e obrigações, suscetíveis de avaliação
pecuniária. Essa transmissão se dá de forma imediata e independentemente de ciência ou
aceitação expressa do herdeiro. Não obstante, posteriormente, é necessária a aceitação da
herança, como se colhe, no Brasil, nos termos do art. 1.804 do Código Civil26.
Por força da herança a benefício de inventário faculta-se ao herdeiro se habilitar
como tal, mas resguardando o seu patrimônio pessoal no caso do conjunto de bens que
compõem a herança não for superior às dívidas do de cujus, o que foi adotado no direito
brasileiro como regra geral27, não sendo necessária essa ressalva expressa pelo herdeiro. Desta
forma, em relação ao herdeiro, coexistem o seu patrimônio geral e aquele outro, fruto de
herança, separado, ainda que provisoriamente, para fins de liquidação, de forma a limitar a
responsabilidade do herdeiro caso os encargos superem os bens.
Opera-se, assim, a separação do acervo hereditário em relação ao patrimônio pessoal
do herdeiro. Coexistem, portanto, dois núcleos patrimoniais distintos na esfera jurídica de
uma mesma pessoa, a fulminar a unidade defendida pela teoria clássica. De resto, esse
exemplo revela-se importante, na medida em que permite vislumbrar, com total facilidade,
que a limitação da responsabilidade é a causa da separação patrimonial, e não sua
consequência.
26
Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão.
Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança.
27
Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a
prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.
113
Estas algumas das críticas tecidas à teoria clássica do patrimônio. Não obstante,
forçoso reconhecer a influência que exerce até hoje, inclusive no Brasil.
De qualquer sorte, dentre as noções existentes sobre o patrimônio, Sylvio Marcondes
traz à baila aquelas que entende guardar sintonia entre diversos autores, como elementos
primários do conceito, de comum aceitação, que precedem àquelas divergências retro
mencionadas. A colação realizada pelo referido autor, em que pese extensa, revela-se valiosa
e de conveniente traslado ao presente trabalho, seja pela diversidade que apresenta, seja pela
síntese que faz ao final, como se colhe:
Essa breve pesquisa pode começar na doutrina francesa, cujas concepções deram
impulso à elaboração das teorias. Planiol-Ripert: chama-se patrimônio o conjunto de
direitos e encargos de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro; Colin-Capitant: o
patrimônio compreende os direitos e obrigações pecuniárias de uma pessoa,
formando o ativo os bens corpóreos e incorpóreos de que é titular e constituindo o
passivo as obrigações de que é devedora; Josserand: “é o conjunto dos valores
pecuniários, positivos e negativos, pertencentes a uma mesma pessoa e que figuram,
uns no ativo, outros no passivo”. Entre os autores italianos, Barassi: o patrimônio é
um complexo de relações jurídicas, tanto ativas como passivas, contendo créditos e
débitos, direitos e ônus reais, etc.; Messineo: por patrimônio deve entender-se, não
um complexo de coisas, mas um complexo de relações, isto é, direitos e obrigações
pertencentes a determinado sujeito e entre si conjugados; Biondi: na esfera jurídica
constituída pelas relações e situações da pessoa, o patrimônio compreende as
relações de conteúdo econômico, unificadas por pertencerem a uma determinada
pessoa; Fadda e Bensa: o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, com valor
pecuniário. Quase todos os citados escritores, reportando-se à regra bona non
intelleguntur nisi deducto oere alieno, admitem, à vista do interêsse dos credores, a
validade, não só econômica, mas jurídica, da distinção entre patrimônio bruto (soma
do ativo) e patrimônio líquido (ativo menos passivo). Na doutrina alemã, onde
Dernburg professa que “o patrimônio é o complexo dos direitos de uma pessoa, de
valor econômico”, acrescentando que “se distingue em ativo e passivo”, Tuhr,
contestando Enneccerus e corroborado por Windscheid, esclarece: “Na doutrina
moderna, insiste-se muito em que o passivo não se deve classificar como parte do
patrimônio, e sim como carga do mesmo; creio, porém, que o termo patrimônio se
pode empregar corretamente para indicar, seja a soma do ativo (patrimônio bruto),
seja o conjunto do ativo com dedução do passivo que o grava (patrimônio líquido)”.
Em Portugal, Cunha Gonçalves atende à esfera jurídica da pessoa e conclui que,
nela, o patrimônio é o complexo das relações jurídicas ou de direitos e obrigações
apreciáveis em dinheiro. Na doutrina brasileira, Clovis Bevilaqua, aquilatando as
diversas teorias do patrimônio, sustenta: “Parece melhor fundamentada a opinião dos
que o consideram o complexo das relações jurídicas de uma pessoa que tiverem
valor econômico”.
Essa conceituação, adotada por obras expressivas de teorias desenvolvidas à luz do
ordenamento jurídico em diversos países, permite reunir no bosquejo da noção de
patrimônio os seguintes dados fundamentais, de geral aprovação: a) conjunto de
relações jurídicas; b) apreciáveis econômicamente; c) coligadas entre si, por
pertinentes a uma pessoa.” (MARCONDES, 1970, p. 83-85).
Manuel Domingues de Andrade, doutrinador lusitano, aponta a seguinte definição de
patrimônio que, em sua essência, encontra-se nessa mesma linha:
114
Num primeiro e mais amplo sentido, o património vem a ser, de acordo com a
doutrina tradicional e ainda hoje a mais corrente, o conjunto das relações jurídicas
(diretos e obrigações) com valor económico, isto é, avaliável em dinheiro, de que é
sujeito activo e passivo uma dada pessoa – singular ou colectiva (património
global). Numa fórmula mais sintética mas pouco explícita, podemos defini-lo como
o resultado jurídico-económico da actividade de uma pessoa (G. Moreira).
Nesse sentido o património compreende um lado activo (direito) e um lado passivo
(obrigações ou dívidas). (ANDRADE, 1997, p. 205).
No Brasil pouco se dedicou ao estudo do tema. Mas, conforme se infere do próprio
conceito adotado por Clóvis Beviláqua, contido no trecho retro transcrito, já se percebe a
influência exercida pela teoria clássica, ainda que com algumas reservas.
Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira (1994, p. 225), após trazer à baila o
conceito de Clóvis Beviláqua, destaca que apesar da mesma não recolher “a aprovação
unânime dos escritores, tem, porém, o duplo mérito de abranger todos os bens e direitos na
expressão conjunto das relações jurídicas, sem contudo se dispersar numa abstração
exagerada.”
E é justamente nessa “abstração exagerada” que incidem a maioria das críticas sobre
a teoria personalista. Afinal, enquanto complexo de relações jurídicas de conteúdo econômico
de uma pessoa, o patrimônio possui parâmetros objetivos, separando-o de noções pertinentes
à qualidade de sujeito de direito.
Lado outro, no que se refere à pretendida unidade patrimonial defendida pela teoria
clássica, consequência da concepção personalista de patrimônio, é contestável sua validade,
pois em determinadas circunstâncias o direito positivo reconhece e legitima a separação de
massas patrimoniais na esfera jurídica de uma única pessoa. Vislumbrou-se na separação de
núcleos patrimoniais não uma aberração jurídica, ou uma anomalia, mas sim uma
possibilidade, desde que prevista em lei, restando prejudicada a tese de que cada indivíduo só
pode ser titular de um único patrimônio.
Pontes de Miranda (1955, p. 367-368) associa o patrimônio a uma finalidade, a um
“destino jurídico”. Vislumbra-o como a “sombra” de uma pessoa, ainda que em dado
momento nenhum bem possua. Define o patrimônio como uma esfera jurídica “na qual se há
de alojar os bens e talvez ainda não se aloje nenhum bem, exceto o que é ligado à
personalidade mesma e não entra na definição de patrimônio. Patrimônio é o que seria essa
sombra, menos o que não é patrimonial (vida, saúde, liberdade, etc.).”
Ainda que a vida, a saúde e a liberdade, ou conforme se colhe com certa freqüência
da jurisprudência, esse “patrimônio moral”, possa ser violado, o simples fato de resolver-se
115
em perdas e danos, mediante indenização pecuniária, em nada desnatura essa distinção, já que
dotados de inalienabilidade e, portanto, desprovidos de apreciação econômica.
Assevera o referido jurista que o “patrimônio apresenta certo grau de compactitude”
(p. 369) e mais uma vez destaca a estreita ligação com o fim a que se destina, a que há de
servir, muito embora não seja um fim em si mesmo. Ademais, ressalva que isso não o torna
pessoa, ou detentor de personalidade jurídica, ou, em outras palavras, não apaga “a diferença
entre pessoas naturais e pessoas jurídicas.”
Caio Mário (1994, p. 246-247) traz outros importantes esclarecimentos, no que se
refere ao resultado positivo ou negativo do patrimônio. Informa que as diversas relações
entabuladas por qualquer pessoa vão gerar reflexo de natureza patrimonial, ainda que
indeterminável em um primeiro momento, e ainda que sejam repercussões negativas, com
decréscimo patrimonial. Tal fato seria mesmo desprovido de relevância, já que o patrimônio
não se resume a um conjunto de bens. Caso contrário, a simples constatação de um resultado
negativo importaria na conclusão de que tal não atingiria o patrimônio, o que não é correto. O
patrimônio apresenta tanto um aspecto positivo quanto um negativo sobre o complexo
econômico de uma pessoa, de forma que o integram os direitos, mas também as obrigações.
Esclarece que os que confundem essa noção cometem o erro de tentar “balancear” a
situação, de forma a apurar qual aspecto seria o preponderante em relação a uma pessoa, na
busca em se “verificar o ativo” ou o “patrimônio líquido”. Em seguida, arremata:
Ao economista interessa a verificação. Também o jurista tem de cogitar dela às
vezes, quando necessita de apurar a solvência de um devedor, isto é, a aptidão
econômica de resgatar seus compromissos com os próprios haveres. Mas, em
qualquer hipótese, o patrimônio abraça todo um conjunto de valores ativos e
passivos, sem indagação de uma eventual subtração ou de um balanço. Se
admitíssemos a idéia de verificação de um saldo positivo como característica do
patrimônio, iríamos abatendo do ativo os valores negativos, e, no caso de os dois
lados se representarem por cifras equivalentes, não haveria saldo, e então chegar-seia à negação do patrimônio.
[...]
Se, como vimos, todo homem em sociedade efetua negócios e participa de relações
jurídicas de expressão econômica, todo indivíduo há de ter patrimônio, que traduz
aquelas relações jurídicas. Só em estado de natureza, com abstração da vida social, é
possível conceber-se o indivíduo sem patrimônio. Em sociedade, não. Por isso, em
consequência de não se admitir a pessoa sem patrimônio, é que não é possível
dissociar as duas idéias, e é neste sentido que ele foi definido como a projeção
econômica da personalidade civil. Apesar de o Código Civil alemão, referindo-se ao
patrimônio, significar apenas o seu lado ativo, os doutrinadores tedescos mantêm a
tese da sua abrangência quanto às obrigações do indivíduo. (PEREIRA, 1994, p.
246).
116
Assim, defende o referido autor não ser possível conceber o patrimônio como uma
unidade abstrata, sem relação com os elementos que o compõem. Critica o art. 5728 do Código
Civil de 1916, por ter pretendido, nessa mesma tendência, defender a existência de uma
universalidade que sustenta a si própria.
Também nesse sentido aponta Pontes de Miranda (1955, p. 368), para o qual a
“entrada e saída dos elementos não atinge a identidade do patrimônio, ainda que todos saiam,
ou que todos se mudem. [...] A promessa de transferir o patrimônio constante de a, b e c, não
é promessa de transferência de patrimônio, e sim dos direitos a, b e c.”
Com relação aos elementos que o compõem, como visto pelos conceitos retro
transcritos, há convergência entre os doutrinadores no sentido de ser necessária a sua
suscetibilidade à avaliação econômica, de tal sorte que restariam excluídos os direitos da
personalidade.
Estes são os principais contornos sobre o patrimônio, necessários a uma melhor
compreensão do patrimônio separado.
Além da expressão patrimônio separado são também comumente utilizadas como
sinônimas a afetação patrimonial, segregação patrimonial e o patrimônio especial. Já o
patrimônio autônomo possui acepção diversa, associada ao surgimento de novo sujeito de
direito, como a constituição de uma pessoa jurídica, não sendo, portanto, objeto de direito,
como o é o patrimônio, tanto geral quanto separado.
A separação de patrimônios decorre da configuração de um núcleo patrimonial, ou de
uma massa patrimonial, na esfera jurídica de uma mesma pessoa, mas distinto do seu
patrimônio ordinário, garantia geral dos credores, de tal sorte que passa a ser titular de duas
ou mais massas patrimoniais, autônomas entre si. Através desta separação, opera-se a
limitação da responsabilidade, de forma que as obrigações gerais do seu titular não poderão
ser satisfeitos pelos elementos que compõem o patrimônio separado.
Tendo em vista as conseqüências jurídicas advindas da separação patrimonial, passou
a doutrina a buscar critérios hábeis à sua identificação, sendo, os principais, a circunstância do
patrimônio separado ser subtraído da administração do titular, o escopo especial a que ele se
destina e, ainda, seria o fato dele ser subtraído da garantia geral dos credores.
O primeiro critério foi afastado, na medida em que certamente existem patrimônios
separados que não se sujeitam à administração de pessoa outra que não seja o seu próprio
titular.
28
Art. 57. O patrimônio e a herança constituem coisas universais, ou universalidade, e como tais subsistem,
embora não constem de objetos materiais.
117
O segundo critério também não convence, na medida em que não basta uma
destinação especial, pois disso não se extrai, necessariamente, uma individualidade jurídica
completa, de forma a destacar uma massa patrimonial do restante do patrimônio do seu titular.
Manuel Domingues de Andrade se pronunciou sobre a questão da seguinte forma:
Mas qual será precisamente o critério para se determinar se estamos em face de um
património separado, distinto ou autônomo, sob o ponto de vida do tratamento
jurídico que lhe é aplicado? Para o efeito não basta, decerto, uma especial destinação
atribuída a um dado conjunto de elementos patrimoniais, pois daí não é forçoso
seguir-se que ele tenha uma individualidade jurídica completa ou pelo menos
suficientemente destacada da do restante património do seu titular. De igual modo
não serve o facto de esse agregado patrimonial ter administração separada, “pois que
– nota Ferrara – não deve confundir-se fundo patrimonial com património separado.
O património separado, por vezes, constitui até o inverso do património sob
administração, porque se encontra governado pelo próprio titular e todavia forma um
núcleo autônomo”. (ANDRADE, 1997, p. 218).
Para o referido autor, foi com relação ao terceiro critério que melhor se delineou a
questão, conforme se constata do seguinte trecho:
O critério mais seguro, ou em todo o caso o mais geralmente adoptado, para
reconhecer a existência dum património autónomo é o da responsabilidade por
dívidas. Património autónomo será portanto – e esta noção é a que mais importa
reter – o conjunto patrimonial a que a ordem jurídica dá um tratamento especial,
distinto do restante património do titular, sob o ponto de vista da responsabilidade
por dívidas. (ANDRADE, 1997, p. 219).
Em seguida, referido jurista pontua a imprescindibilidade de que o patrimônio
separado possua, efetivamente, autonomia, separação absoluta, que seja um compartimento
estante em relação ao patrimônio geral de seu titular, de forma a só responder por dívidas
específicas, relacionadas à função que deu azo à sua constituição.
Pontes de Miranda também aponta nesse sentido, do dever de se respeitar a
separação patrimonial e, ainda, faz interessante paralelo entre a sua finalidade e a pessoa do
administrador:
Todo patrimônio especial tem um fim. Êsse fim é que lhe traça a esfera própria, lhe
cria a pele conceptual, capaz de armá-lo ainda quando nenhum elemento haja nele.
[...]
O fim contribui para se determinar a titularidade da administração, que pode não
tocar ao titular do patrimônio especial. Tal distinção de titulares apenas torna mais
visível a separação (patrimônio da mulher e administração dos bens comuns pelo
marido; patrimônio do marido e administração dos bens pela mulher). Quando a
administração cabe ao titular do patrimônio geral, é menos visível a separação, e
toca ao titular o dever de respeitar a discriminação, com as conseqüências de direito
civil, penal e administrativo. (MIRANDA, 1955, p. 379).
118
Mister esclarecer que apesar da não aceitação da destinação especial como critério
para a identificação de um patrimônio autônomo, é forçoso reconhecer a imprescindibilidade
da existência desse escopo especial, como forma de justificar a afetação pretendida.
Somente no decorrer do processo legislativo, no plano da justificação da norma, é
que serão delimitadas as finalidades tidas como coletivamente desejáveis para, assim,
reconhecer-se a possibilidade da garantia e segurança geradas pela afetação patrimonial ou,
sob outro enfoque, excepcionar a regra geral de que o devedor responde com a integralidade
de seus bens perante todos os seus credores. Afinal, dadas as conseqüências para os credores
gerais de uma pessoa, não se limita a responsabilidade do titular de um patrimônio por livre
arbítrio ou sob qualquer pretexto.
Somente à lei compete estabelecer as hipóteses de formação de um patrimônio
separado, o que se revela com clareza no ordenamento jurídico pátrio, pelo disposto no art.
art. 59129 do Código de Processo Civil, que sujeita a integralidade dos bens de uma pessoa,
inclusive os bens futuros, como garantia geral dos credores, mas em sua parte final
excepciona essa regra geral, dispondo: “salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Dada à necessidade de lei para a configuração de um patrimônio separado, associada
à morosidade do processo legislativo, poderia ser desejável uma regulamentação de caráter
geral, e não específico, caso a caso. Afinal, a celeridade exigida hodiernamente na circulação
de riquezas, assim como a existência de instrumentos jurídicos que atendam, com segurança,
à formatação dos negócios, parecem impor essa providência.
É da possibilidade de se constituir um patrimônio separado, vale dizer, de limitar a
responsabilidade patrimonial, que daria azo à concepção de um instrumento jurídico hábil a
solucionar inúmeros problemas sócio-econômicos, como a questão relativa à limitação da
responsabilidade do empresário individual e, em específico, as operações de securitização de
crédito.
Não obstante, e conforme o retro exposto, o fator que melhor enquadra a noção de
patrimônio separado consiste em que os elementos que o compõem não se prestam a garantir
as obrigações gerais do seu titular, tarefa essa desempenhada pelo seu patrimônio ordinário.
Ao patrimônio separado reserva-se a responsabilidade por dívidas próprias, aquelas contraídas
na persecução de sua finalidade.
Este também é o entendimento de Francisco Ferrara, que se manifestou sobre o tema
nos seguintes termos:
29
Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.
119
O único critério seguro para reconhecer a existência de patrimônio separado é o da
responsabilidade pelas dívidas. Patrimônio separado é o patrimônio que tem dívidas
próprias, no qual se localizam as obrigações e responsabilidades a que dá origem e
que não sofre os efeitos de outras obrigações do sujeito do patrimônio. Em mãos de
um só titular, repousam duas esferas jurídicas separadas: o patrimônio geral da
pessoa e um outro centro patrimonial, com obrigações e direitos próprios. Este o
traço verdadeiramente essencial do instituto.
[...]
É precisamente nestes casos que a lei eleva o patrimônio a universitas juris, isto é, a
uma universalidade jurídica, compreensiva de direitos e obrigações em uma massa
única que permanece idêntica, não obstante a mutação de seus elementos, com vida
jurídica própria. (FERRARA apud MARCONDES, 1970, p. 97-98).
Tal compreensão é a mais coerente em relação à função jurídica do patrimônio, de
responsabilidade por dívidas de seu titular, de garantia geral dos credores. Encerra, assim, um
tratamento jurídico particular, já que o patrimônio afetado só responderá por dívidas próprias,
vale dizer, dívidas originadas de sua destinação, as quais não poderão ser imputadas ao
patrimônio geral do titular, e vice-versa.
Entretanto, se por um lado se depreende essa limitação de responsabilidade,
necessária à persecução de uma finalidade, de outro, mas por esta mesma razão, verifica-se
também a limitação dos direitos do titular do patrimônio separado em relação aos elementos
que o compõe. Não mais poderá empreender qualquer uso e gozo em relação aos mesmos,
tampouco contar com a livre disposição dos bens que integram essa massa patrimonial.
Afinal, sempre deverá ter em conta a persecução daquela finalidade, e não o atendimento de
necessidades ou vantagens pessoais, sob pena de desnaturar a afetação patrimonial e,
consequentemente, sujeitar essa massa à garantia geral de seus credores, como se patrimônio
separado não existisse.
Nesse sentido também aponta Pontes de Miranda:
Diz-se limitada a responsabilidade quando sòmente patrimônio especial, ou alguns
elementos do patrimônio podem ser atingidos pela execução forçada. Enquanto o
que deve x pode sofrer penhora de qualquer elemento do seu patrimônio, ou, se
algum ou alguns elementos não bastam, em todo o seu patrimônio, o que é
limitadamente responsável – diferentemente do que é pessoalmente responsável –
pode impedir que certos elementos do seu patrimônio sejam penhorados, sem outra
razão que a limitação da responsabilidade. Se desvia bens, diminuindo o valor que
responderia aos credores, nasce, para êle, responsabilidade pessoal em crédito do
patrimônio especial contra o patrimônio pessoal. É o princípio da incolumidade dos
patrimônios separados. (MIRANDA, 1955, p. 395).
120
Ademais, importante destacar, ainda, que o patrimônio separado é composto não
apenas dos elementos existentes desde sua constituição, mas também daqueles “que derivam
de seu próprio desenvolvimento.” (MARCONDES, 1970, p. 94).
O patrimônio separado é destinado a fazer frente a específicas obrigações, razão pela
qual encontra semelhança com uma pessoa jurídica, em que pese não constituir um novo ente,
dotado de personalidade. Continua uma massa patrimonial, mas destinada a um objetivo
específico, conservando-se na titularidade de determinada pessoa.
Ponto sobre o qual existe menor divergência entre os doutrinadores, reside no fato de
que somente por força de lei é que se há de cogitar das finalidades para as quais se admite a
constituição de um patrimônio separado, não encontrando essa possibilidade adstrita a livre
manifestação de vontade de quem quer que seja. São taxativas as hipóteses legais em que se
admite a limitação da responsabilidade patrimonial através da separação de patrimônios.
No Brasil, existem leis que estabelecem de forma expressa essa afetação.
É o que ocorre, por exemplo, com a já citada Lei nº 8.668/93, que dispõe sobre a
constituição e tributação dos fundos de investimento imobiliário, sob a forma de condomínio,
sem personalidade jurídica, os quais serão geridos por sociedade administradora autorizada
pela CVM, tendo por objeto a captação de recursos para aplicação em empreendimentos
imobiliários.
No art. 6º dispõe que o “Patrimônio do Fundo será constituído pelos bens e direitos
adquiridos pela instituição administradora, em caráter fiduciário.”
Já seu art. 7º “confere ao patrimônio do fundo natureza fiduciária, tornando-o
patrimônio de afetação.” (FIUZA, 2008, p. 658). É o que se colhe da literalidade do referido
artigo:
Art. 7º Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento
Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade da instituição
administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o
patrimônio desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições:
I – não integrem o ativo da administradora;
II – não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição
administradora;
III – não componham a lista de bens e direitos da administradora, para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial;
IV – não possam ser dados em garantia de débito de operação da instituição
administradora;
V – não sejam passíveis de execução por quaisquer credores da administradora, por
mais privilegiados que possam ser;
VI – não possam ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis.
1º No título aquisitivo, a instituição administradora fará constar as restrições
enumeradas nos incisos I a VI e destacará que o bem adquirido constitui patrimônio
do Fundo de Investimento Imobiliário.
121
2º No registro de imóveis serão averbadas as restrições e o destaque referido no
parágrafo anterior.
3º A instituição administradora fica dispensada da apresentação de certidão negativa
de débitos, expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e da Certidão
Negativa de Tributos e Contribuições, administrada pela Secretaria da Receita
Federal, quando alienar imóveis integrantes do patrimônio do Fundo de
Investimento Imobiliário. (Brasil, 1993).
Trata-se, desta forma, de espécie de negócio fiduciário destinado a administração, de
tal forma que o administrador, ao adquirir bens, o faz em seu próprio nome, mas sem que
integrem o seu patrimônio, e sim o do fundo. No que pertine à securitização desses tipos de
ativos, encontra-se regulada pela Resolução CMN nº 2.686/2000, que disciplina a cessão de
créditos imobiliários, e pela Instrução CVM nº 472/08, com as alterações introduzidas pela
Instrução CVM nº 478/09, que disciplina os “Fundos de Investimento Imobiliário – FII”.
Também a Lei nº 4.591/64, ao tratar das incorporações imobiliárias, teve sua redação
alterada pela Lei nº 10.931/04, que introduziu o “Capítulo I-A. Do patrimônio de afetação”,
constante dos arts. 31-A a 31-F, tratando de forma minuciosa sua regulação.
Trata-se de uma faculdade outorgada ao incorporador que, uma vez instituída, atribui
maior transparência ao empreendimento, com a certeza por parte dos mutuários e agentes
financeiros de que os recursos paulatinamente liberados para a construção são, de fato,
aplicados nesta.
A inovação legislativa foi incentivada pela ocorrência de situações em que o
incorporador, ao apresentar problemas financeiros, aplica recursos de um empreendimento em
outro, e assim por diante, até advir a bancarrota, deixando inúmeras obras inacabadas e,
consequentemente, milhares de mutuários e, também, agentes financeiros, à míngua de
qualquer reparação. É o que se deu, por exemplo, no caso da empresa Encol, tão noticiado na
mídia.
Portanto, referida Lei teve o duplo mérito de resguardar a situação dos mutuários,
mas também de agentes financeiros, que mitigaram os riscos relativos às hipotecas realizadas.
Desta forma, na impossibilidade do incorporador dar seguimento a determinado
empreendimento, tal risco fica isolado a esse empreendimento, já que a Lei impõe, inclusive,
contabilidade apartada, não permitindo que recursos que devem ser destinados a determinada
obra sejam utilizados em outra, impedindo, assim, o que ficou conhecido como “efeito
dominó” ou “efeito bicicleta”.
Críticas foram feitas à Lei por não ter efetivamente exigido a afetação patrimonial
para esses casos. Entretanto, forçoso reconhecer o avanço, até mesmo por que o próprio
mercado termina por impor às incorporadoras a adoção desse regime, dada à segurança que
122
representa e, desta forma, será fator determinante na escolha a ser feita por parte dos
compradores de imóveis e também dos financiadores dessas compras.
Importante transcrever alguns dispositivos da referida Lei, no que pertine à
constituição do patrimônio separado e aos efeitos dela decorrentes:
Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao
regime de afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação
imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão
apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação,
destinado à consecução da incorporação correspondente à entrega das unidades
imobiliárias aos respectivos adquirentes.
§1º O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e
obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de
afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à
incorporação respectiva.
§2º O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação.
§3º Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser
objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente
destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades
imobiliárias aos respectivos adquirentes.
§4º No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da
comercialização das unidades imobiliárias componentes da incorporação, o produto
da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação, observado o disposto
no §6º.
[...]
§6º Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados
para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação.
[...]
§12. A contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante
transmissão, para o credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias
integrantes da incorporação, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos
creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a
transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do
cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos
responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis.
[...]
Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do
incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a
massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios,
obrigações e encargos objeto da incorporação.
§1º Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência
civil do incorporador, o condomínio dos adquirentes, por convocação da sua
Comissão de Representantes ou, na sua fala, de um sexto dos titulares de frações
ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará assembléia
geral, na qual, por maioria simples, ratificará o mandato da Comissão de
Representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira convocação, por dois
terços dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta
desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou
particular, e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação do
patrimônio de afetação (art. 43, inciso III); havendo financiamento para a
construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. (Brasil,
2004).
123
Também no que se refere à fiscalização do empreendimento, cuidou a lei de facultar
aos adquirentes e à instituição financiadora sua realização, como se colhe:
Art. 31-C. A Comissão de Representantes e a instituição financiadora da construção
poderão nomear, às suas expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e
acompanhar o patrimônio de afetação.
[...]
Art. 31-D. Incumbe ao incorporador:
I – promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do
patrimônio de afetação, inclusive mediante adoção de medidas judiciais;
II – manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação;
III – diligenciar a captação dos recursos necessários à incorporação e aplicá-los na
forma prevista nesta Lei, cuidando de preservar os recursos necessários à conclusão
da obra;
IV – entregar à Comissão de Representantes, no mínimo a cada três meses,
demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência como o prazo pactuado
ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio de afetação recebidos no
período, firmados por profissionais habilitados, ressalvadas eventuais modificações
sugeridas pelo incorporador aprovadas pela Comissão de Representantes;
V – manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em
conta de depósito aberta especificamente para tal fim;
VI – entregar à Comissão de Representantes balancetes coincidentes com o trimestre
civil, relativos a cada patrimônio de afetação;
VII – assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C o livre acesso à obra, bem
como aos livros, contratos, movimentação da conta de depósito exclusiva referida no
inciso V deste artigo e quaisquer outros documentos relativos ao patrimônio de
afetação; e
VIII – manter estruturação contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela
legislação tributária. (Brasil, 2004).
Importante destacar que o parágrafo único do art. 8º da Lei 9.514/97 permite “a
securitização de créditos oriundos da alienação de unidades em edificações sob regime de
incorporação nos moldes da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964”.
Por fim, merece destaque a referida Lei nº 9.514/97, que instituiu o Sistema
Financeiro Imobiliário e criou a alienação fiduciária de coisa imóvel. Dentre seus dispositivos
colhem-se alguns direcionados à instituição de regime fiduciário e conseqüente afetação
patrimonial, inclusive na securitização de créditos imobiliários, regulamentando de forma
minuciosa a questão, também a revelar, como nas demais, o posicionamento do ordenamento
jurídico brasileiro quanto à sua possibilidade:
Art. 9º A companhia securitizadora poderá instituir regime fiduciário sobre créditos
imobiliários, a fim de lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários,
sendo agente fiduciário uma instituição financeira ou companhia autorizada para
esse fim pelo BACEN e beneficiários os adquirentes dos títulos lastreados nos
recebíveis objeto desse regime.
Art. 10. O regime fiduciário será instituído mediante declaração unilateral da
companhia securitizadora no contexto do Termo de Securitização de Crédito, que,
além de conter os elementos de que trata o art. 8º, submeter-se-á às seguintes
condições:
124
I – a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão;
II – a constituição de patrimônio separado, integrado pela totalidade dos créditos
submetidos ao regime fiduciário que lastreiem a emissão;
III – a afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva série de títulos;
IV – a nomeação de agente fiduciário, com a definição de seus deveres,
responsabilidade e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua
destituição ou substituição e as demais condições de sua atuação;
V – a forma de liquidação do patrimônio separado.
Parágrafo único. O Termo de Securitização de Créditos, em que seja instituído o
regime fiduciário, será averbado nos Registros de Imóveis em que estejam
matriculados os respectivos imóveis.
Art. 11. Os créditos objeto do regime fiduciário:
I – constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da companhia
securitizadora;
II – manter-se-ão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se
complete o resgate de todos os títulos da série a que estejam afetados;
III – destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a que estiverem afetados,
bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações
fiscais;
IV – estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia
securitizadora;
V – não são passíveis de constituição de garantia ou de excussão por quaisquer dos
credores da companhia securitizadora, por mais privilegiados que sejam;
VI – só responderão pelas obrigações inerentes aos títulos a ele afetados.
[...]
Art. 12. Instituído o regime fiduciário, incumbirá à companhia securitizadora
administrar cada patrimônio separado, manter registros contábeis independentes em
relação a cada um deles e elaborar e publicar as respectivas demonstrações
financeiras.
[...]
Art. 15. No caso de insolvência da companhia securitizadora, o agente fiduciário
assumirá imediatamente a custódia e administração dos créditos imobiliários
integrantes do patrimônio separado e convocará assembléia geral dos beneficiários
para deliberar sobre a forma de administração, observados os requisitos
estabelecidos no §2º do art. 14.
Parágrafo único. A insolvência da companhia securitizadora não afetará os
patrimônios separados que tenha constituído. (Brasil, 1997).
Não obstantes esses exemplos, de leis que estabelecem expressamente a formação de
patrimônios separados, há outras, ainda que não de forma explícita, terminam por imprimir os
mesmos efeitos.
Melhim Namem Chalhub (2006, p. 109) ao tecer considerações sobre o patrimônio
de afetação no direito brasileiro, também no sentido da possibilidade de uma mesma pessoa
ser titular de mais de uma massa patrimonial, cada uma com finalidade diversa da outra e com
tratamento jurídico distinto, esclarece “que o fato de não existir um capítulo específico em
nosso Código Civil não implica a inexistência de garantias gerais e específicas das
obrigações.”
Nesse sentido, aponta para as garantias previstas em legislação especial, de natureza
fiduciária, tal como disposto, por exemplo, no art. 66 da Lei nº 4.728/65, que instituiu a
alienação fiduciária em garantia, que “introduziu no direito positivo brasileiro a noção de
125
propriedade fiduciária e do patrimônio de afetação com vistas à estruturação do mercado de
capitais e como garantia de crédito.”
É o que se passa a analisar, de forma a vislumbrar a existência, ou não, da
possibilidade de afetação patrimonial em relação aos ativos que servem de lastro em
operações de securitização de crédito, além dos já apontados neste tópico.
4.5.2 A propriedade fiduciária
Uma vez analisados os contornos do negócio fiduciário stricto sensu, assim como os
almejados efeitos advindos de uma afetação patrimonial, cumpre agora um percurso sobre
algumas das modalidades de negócios fiduciários reconhecidos pelo direito positivo pátrio,
vale dizer, a fidúcia legal, que dão azo à constituição da propriedade fiduciária para, então,
depurar-lhe o sentido e alcance.
Quanto a isso, bastante ilustrativo é o apanhado realizado por André Carvalho
Nogueira:
De importância também esclarecer que o ordenamento jurídico brasileiro admite
várias espécies de propriedade fiduciária, cada uma sob um regime jurídico distinto
(ainda que muitas vezes semelhante). Assim, há propriedades fiduciárias que
possuem a finalidade de garantia e há outras que não a possuem. A propriedade
fiduciária concedida no fideicomisso (art. 1951 e seguintes do CC/2002) e a
propriedade fiduciária concedida às instituições administradoras de fundos de
investimento imobiliário (art. 7º da Lei 8.668/93), possuem, por exemplo, a
finalidade de permitir a administração de bens por terceiros. Já a propriedade
fiduciária concedida a instituições custodiantes de ações fungíveis (art. 41 da Lei
6.404/76) tem como causa a constituição de um depósito. Há ainda negócios
fiduciários que não necessariamente importam na transmissão da propriedade
fiduciária, como é o caso do agente fiduciário de debêntures (art. 66 e seguintes da
Lei 6.404/76), do agente fiduciário para execução de hipoteca (art. 30 do Dec.-lei
70/66) e do comissário de cobrança (art. 45, §4º, da Lei 10.931/2004).
A própria propriedade fiduciária em garantia possui fontes e regimes distintos. Deste
modo, há a propriedade fiduciária em garantia de bens infungíveis (art. 1.361 do
CC/2002), a propriedade fiduciária em garantia concebida no mercado financeiro e
de capitais (art. 66-B da Lei 4.728/65), a de créditos imobiliários (art. 22 da Lei
4.864/65 e art. 18 da Lei 9.514/97), a de imóveis (art. 22 da Lei 9.514/97), e a
concedida a companhias securitizadoras (art. 9º da Lei 9.514/97). Há ainda casos em
que, embora não se faça menção à propriedade fiduciária, possui o instituto
características muito semelhantes, como é o caso do patrimônio de afetação de
incorporadoras imobiliárias (arts. 31-A e seguintes da Lei 4.591/64). (NOGUEIRA,
2008, p. 63-64).
126
E justamente em função dessa semelhança entre as espécies de propriedade
fiduciárias existentes, tem-se por conveniente iniciar a análise de suas características a partir
daquela que foi pioneira no ordenamento jurídico pátrio, qual seja; a constituída a partir da
alienação fiduciária em garantia de que trata a Lei nº 4.728/65, que disciplina o mercado de
capitais, destacando-se suas principais características, assim como suas diferenças em relação
à instituída pelo Código Civil, o que dispensará maior aprofundamento na análise das demais.
De fato, todos esses tipos mencionados, ajustam-se às características que ora se passa
a expor.
A propriedade fiduciária é um direito real de garantia, a qual não deve ser confundida
com a alienação fiduciária em garantia. Conforme alerta Moreira Alves (1973, p. 40) é
comum entre os autores não realizar com a devida clareza a distinção entre um e outro,
resultando disso o equivocado entendimento de que a alienação fiduciária em garantia seria
forma de constituição de garantia real.
A alienação fiduciária em garantia é modalidade do gênero negócio fiduciário, criada
para atender aos anseios de proteção ao crédito. É o contrato que serve de título à constituição
da propriedade fiduciária, no qual são estabelecidos os termos da transferência da
propriedade, ou titularidade dos direitos, assim como as condições para o seu exercício. Deste
“resulta – como contrato, que é, de direito das coisas - o nascimento, para o credor, de direito
potestativo à constituição da propriedade fiduciária.” (ALVES, 1973, p. 127), a qual somente
se perfaz mediante registro daquele. Portanto, não é a alienação fiduciária um direito real de
garantia, mas sim a propriedade fiduciária que, após constituída, resultará direitos e deveres
entre as partes.
Por esta via, o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário a propriedade de uma
coisa, ou a titularidade de um direito, com o objetivo de garantir o adimplemento de uma
obrigação. Em decorrência da cláusula constituti, pressuposto natural da alienação fiduciária,
possibilita-se que o devedor fiduciante seja mantido na posse direta da coisa, principalmente
em se tratando de bens móveis, dela usando e fruindo, mas na condição de depositário. Sendo
o bem um imóvel, o possuirá em comodato.
Já o fiduciário é detentor da nua-propriedade, o qual deve remancipar o direito de
propriedade ou a titularidade do direito após o cumprimento da obrigação, por força do pacto
fiduciário, que transforma esse direito em propriedade resolúvel. A importância deste pacto e
suas conseqüências são bem expostas no seguinte trecho:
127
[...] O pacto de fidúcia tem efeitos reais, na medida em que gera para o fiduciante
direito oponível erga omnes e dotado de seqüela. Não se trata de simples direito real
de aquisição, mas, sim, de verdadeiro direito de propriedade subordinado ao
implemento de condição suspensiva, qual seja, o adimplemento da obrigação
garantida pela coisa alienada. Como ressalta PONTES DE MIRANDA, cuida-se de
direito expectativo e não de expectativa de direito. Nesta, ainda não há suporte fático
que enseje o exercício de ações. Já naquele, há direito eventual, lastreado em suporte
fático, sobre o qual já incide norma jurídica, o que dá a seu titular a legitimidade
para exercer as ações a ele inerentes. (FIUZA, 2000, p. 42).
Conforme relembra Moreira Alves (1973, p. 113-119), a forma escrita é da
substância do ato. Ademais, como já informado, é imprescindível para constituição da
propriedade fiduciária o registro do contrato, também sob pena de não adquirir eficácia erga
omnes.
Outra importante elucidação diz respeito aos bens passíveis de se constituírem
propriedade fiduciária.
A alienação fiduciária em garantia foi instituída no ordenamento jurídico pátrio pela
Lei nº 4.728/65, que disciplina o mercado de capitais, “pelo reconhecimento de que as
garantias tradicionais eram insuficientes para bem tutelar o crédito” (ALVES, 1973, p. 98).
Em sua redação originária, apontava o art. 66 ser objeto da alienação fiduciária bem
móvel. Foi modificado pelo Decreto-lei nº 911/69, que passou a utilizar a expressão coisa
móvel. Ocorre que, o Código Civil de 2002, que também passou a versar sobre a propriedade
fiduciária, restringiu a bens infungíveis a propriedade fiduciária, gerando dúvidas quanto aos
seus impactos no mercado de capitais.
Entretanto, com o avento da Lei nº 10.931/04, que revogou o art. 66 da Lei nº
4.728/65, instituindo o art. 66-B, ficou evidente a inexistência de qualquer restrição, conforme
se infere da literalidade de seu texto:
Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado
financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários,
deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização
monetária, se houver, e as demais comissões e encargos.
§1º Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas
e sinais no contrato de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da
prova, contra terceiros, da identificação dos bens do seu domínio que se encontram
em poder do devedor.
§2º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara
fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, §2º, I, do
Código Penal.
§3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de
direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipótese em que, salvo
disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade
fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor,
que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a
128
terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta
pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da
garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo
da operação realizada.
§4º No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de
crédito aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei n. 9.514, de 20 de
novembro de 1997.
§5º Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os
arts. 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
§6º Não se aplica à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei o
disposto no art. 644 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (BRASIL, 2004).
Esta mesma Lei alterou o Código Civil de 2002, instituindo o art. 1.368-A, que
dispõe:
Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade
fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais,
somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível
com a legislação especial. (BRASIL, 2004).
Destarte, encerrou-se a celeuma, de forma que a alienação fiduciária em garantia, no
âmbito do mercado de capitais, pode ter por objeto também bens fungíveis, sendo certo,
ainda, que deve ser considerada a propriedade em sentido amplo, abarcando tanto as coisas
corpóreas, quanto as coisas incorpóreas.
Pontes de Miranda, logo após a edição da Lei nº 4.728/65, ao abordar o tema da
“alienação fiduciária em segurança”, como preferia designar, também faz interessantes
apontamentos sobre este aspecto, como se colhe do seguinte trecho:
Conforme antes frisamos, a transmissão da titularidade mobiliária em segurança,
como a transmissão fiduciária da propriedade imobiliária, que o sistema jurídico
brasileiro não repele, é eficácia de negócio jurídico de garantia fiduciária, portanto
negócio jurídico de garantia e negócio jurídico fiduciário, e de dois acôrdos de
transmissão, o acôrdo de transmissão da propriedade ao credor e o acôrdo de
transmissão da posse própria imediata ao credor. Se a transmissão é de direito que
não seja direito real, o acôrdo de transmissão não é de propriedade ou de elemento
de propriedade, mas sim de direito pessoal, como se dá com a cessão fiduciária de
crédito, e o acôrdo, terceiro elemento, em vez de ser da posse do bem imóvel ou de
bem móvel, é de transmissão da posse da cártula ou da pertença documental.
(MIRANDA, 1966, p. 346).
Moreira Alves (1973, p. 88), a seu turno, entende ser “possível celebrar contrato de
alienação fiduciária em garantia de coisa futura, ou de que o alienante ainda não seja dono,
casos em que a eficácia desse contrato dependerá da aquisição da propriedade da coisa por
quem a alienou fiduciariamente.”
129
Esse entendimento se deu com base no §2º, do art. 66 da Lei nº 4.728/6530, com a
redação dada pelo Decreto-lei nº 911/69, que expressamente previa essa hipótese. A nova
redação, tal como consta do art. 66-B, não tratou dessa situação, sendo forçoso concluir pela
não existência de proibição nesse sentido. Até mesmo porque, conforme já apontado
anteriormente, a antiga celeuma quanto à possibilidade de cessão de crédito futuro restou
encerrada, uma vez que o atual Código Civil, em seu art. 10431, tornou possível tal realização,
desde que o objeto desse negócio jurídico seja determinável, o que é de se aplicar também à
presente hipótese.
De resto, entende referido autor não ser possível, com base nessa Lei, a alienação
fiduciária em garantia de coisa imóvel. Segundo seu entendimento, tendo em vista que o
Legislador se pautou no modelo anglo-saxônico do trust receipt, destinado apenas a bens
móveis, tal não seria possível, sob pena de nulidade, face à impossibilidade jurídica de seu
objeto. Assim, quem o pretendesse, teria de se valer do negócio fiduciário, nos moldes e
efeitos delineados linhas atrás, quando da abordagem do tema.
Não obstante, hodiernamente essa discussão sobre possibilidade de contratar
alienação fiduciária sobre coisa imóvel se encontra desprovida de sentido, na medida em que
a Lei nº 9.514/97 instituiu essa espécie, inclusive a securitização de ativos de natureza
imobiliária.
Por fim, cumpre apenas destacar que, quando o objeto da alienação fiduciária for
coisa fungível ou direitos, tem o fiduciário o direito de permanecer na posse dos mesmos,
mormente no caso de cessão de direitos sobre bens móveis ou de títulos de crédito, inclusive
para que possa cobrar o respectivo devedor do fiduciante, pagando-se com os valores
recebidos.
César Fiuza (2000) perfaz interessante histórico da alienação fiduciária em garantia.
Após resgatar os primórdios da fidúcia no direito romano, informa que a sua instituição no
direito pátrio não se deu nos mesmos moldes, em que o fiduciário adquiria a propriedade
plena da coisa. Pelo contrário, sofreu adaptação conforme o modelo germânico, no qual se
opera a limitação do domínio fiduciário.
Invocando os apontamentos feitos por Moreira Alves e Orlando Gomes, também
relembra que seu surgimento teve por inspiração o trust receipt, do Direito Americano, que
tinha por objeto o financiamento de revendedores de bens duráveis, os quais recebiam
30
§2º. Se, nada data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto
do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo
devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior.
31
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: (...) II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
130
adiantamento do custo do bem, devendo-se operar o pagamento após a venda da mercadoria.
Mediante registro de documento, a propriedade das mercadorias é transferida ao financiador,
prestando-se como garantia do pagamento da dívida e, portanto, resguardando-se em relação a
outros credores do revendedor. O revendedor, depositário, tinha as mercadorias liberadas na
medida da realização das vendas.
Referido autor relembra, ainda, as vantagens dessa via em relação a outras formas de
garantia, já que a hipoteca e a anticrese limitam-se a imóveis, e o penhor acarreta a perda da
posse direta da coisa por parte do devedor. Entretanto, não obstante essas vantagens, entende
que seria injustificável essa inovação no ordenamento jurídico, já que bastaria a inserção, no
que se refere ao penhor, da cláusula constituti, de modo a permitir ao devedor continuar na
posse do bem. Aliás, assim já ocorria em relação ao penhor agrícola e industrial, por força do
art. 769 do Código Civil de 191632, o que veio a ser ampliado pelo parágrafo único do art.
1.431 do Código Civil de 200233.
Após essas observações, destaca o real motivo da instituição da alienação fiduciária
em garantia no Brasil:
Ocorre que este não é o principal motivo que levou à reconstituição da alienação
fiduciária em garantia, no Brasil. A característica da alienação fiduciária, que a torna
única e muito mais vantajosa que o penhor e a hipoteca, é a afetação do patrimônio
fiduciário, que faz com que o credor fiduciário não tenha que concorrer com os
demais credores em concurso universal.
Seja como for, o Brasil é um dos poucos países, para não dizer o único, em que,
atualmente, vigora esta espécie de negócio fiduciário. (FIUZA, 2000, p. 40).
Ademais, conforme relembra Moreira Alves (1973, p. 47), a alienação fiduciária em
garantia, diversamente do que ocorre com os contratos de penhor, a anticrese e a hipoteca,
“não visa à constituição de direitos reais limitados, mas à transferência do direito de
propriedade limitado pelo escopo de garantia.”
Tratando-se de patrimônio separado, a recíproca é verdadeira. Assim, apesar do
fiduciário se tornar proprietário do bem ou titular do direito, encontra-se a coisa ou o direito
fiduciado “a salvo, portanto, da ação dos credores do fiduciário e dele mesmo.” (FIUZA,
2000, p. 44).
32
Art. 769. Só se pode constituir o penhor com a posse da coisa móvel pelo credor, salvo no caso de penhor
agrícola ou pecuário, em que os objetos continuam em poder do devedor, por feito da cláusula constituti.
33
Art. 1.431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a
quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação.
Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder
do devedor, que as deve guardar e conservar.
131
Será tratada mais adiante a situação do credor-fiduciário no caso de insolvência ou
falência do devedor-fiduciante. Entretanto, desde logo cabe frisar a impossibilidade de se
confundir os efeitos da propriedade fiduciária em relação às outras garantias reais, como a
hipoteca, pelo simples fato de ambas se enquadrarem nesse gênero, conforme se destaca:
Como já dito, a propriedade fiduciária não se confunde com a hipoteca,
fundamentalmente, porque esta é ônus real que incide sobre coisa alheia, enquanto a
propriedade fiduciária é direito próprio do credor, um direito real em coisa própria.
Assim, como o registro do contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se titular
do domínio resolúvel sobre a coisa objeto da garantia, permanecendo sob seu
domínio até que o devedor pague a dívida. Tal distinção implica importantes
conseqüências, sendo a mais relevante delas a segregação patrimonial do bem objeto
da propriedade fiduciária. De fato, por efeito da constituição da propriedade
fiduciária, cria-se um patrimônio de afetação integrado pelo bem em questão, que
não é atingido pelos efeitos de eventual insolvência do devedor ou do credor não
integrando, portanto, a massa falida de um ou do outro. Disso resulta que se cair em
insolvência o devedor fiduciante, o bem objeto da garantia, que foi excluído do seu
patrimônio e passou a constituir um patrimônio de afetação, permanecerá separado
dos bens da massa “até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento da sua
finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da
massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer”
(Lei nº 11.101/2005, art. 119, IX), assegurada ao fiduciário, se for o caso, a
restituição do bem e eventualmente sua venda, aplicando a importância que aí apurar
na satisfação do próprio crédito, sem concorrência com os demais credores (Lei nº
9.514/97, art. 32, e Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º). Já se se tratar de hipoteca,
vindo a falir o devedor hipotecário, o bem objeto da garantia, que permaneceu em
seu patrimônio, será arrecadado pelo síndico e passará a integrar o ativo da massa,
devendo o credor hipotecário concorrer com os demais credores segundo a ordem
legal de preferência. (CHALHUB, 2006, p. 251).
Quanto às pessoas aptas a figurarem como credores-fiduciários, logo após a edição
da Lei nº 4.728/65, se instaurou divergência de opiniões, existindo forte corrente, tal como
aponta Moreira Alves (1973), no sentido de que apenas sociedades financeiras, registradas no
Banco Central do Brasil, é que poderiam sê-lo. Ilustra a questão colacionando acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido, proferido em 13 de fevereiro de 1969.
Entretanto, aponta divergência no mesmo Tribunal, em acórdão que decidiu em
sentido contrário, sob o fundamento de que a lei de regência não estabeleceu qualquer
privilégio àquela categoria.
Após diversas considerações sobre as hipóteses de interpretação restritiva de uma lei,
bem como o interesse público que deve ser tutelado, conclui referido autor que pode ser
fiduciário qualquer instituição financeira em sentido amplo, assim como entidades estatais e
paraestatais.
132
Também Chalhub (2006, p. 160) traz esclarecimentos a essa questão, no sentido de
que somente as “instituições financeiras e outros entes especificamente autorizados em lei” é
que tem legitimidade para figurar como credor-fiduciário, no âmbito do mercado de capitais,
do que decorre que a ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei nº 911/69 somente se
aplica à propriedade fiduciária dos bens móveis de que trata essa lei. Para a propriedade
fiduciária prevista no Código Civil de 2002, resta a ação de reintegração de posse prevista no
Código de Processo Civil.
Mas, no que pertine à propriedade fiduciária instituída pelo Código Civil de 2002,
não há qualquer restrição nesse sentido, sendo legitimadas pessoas físicas ou jurídicas, para
garantia de dívidas de qualquer natureza.
Quanto à natureza jurídica da propriedade fiduciária trata-se de uma garantia real que
não se confunde com os demais direitos reais limitados de garantia, como o penhor, a
anticrese ou a hipoteca e, menos ainda, equivale à propriedade transferida mediante a
realização de um negócio fiduciário stricto sensu, que alguns autores chamam também de
propriedade fiduciária.
Essa propriedade fiduciária, advinda do negócio fiduciário stricto sensu, de tipo
romano, conforme já visto alhures, é propriedade plena, muito embora por vezes transferida
com espoco de garantia, mas que em decorrência de sua atipicidade não confere qualquer
limitação ao direito do fiduciário.
Consoante esclarece Moreira Alves (1973, p. 134) estes seriam “direitos reais EM
garantia, para distingui-la da dos tradicionais direitos reais DE garantia, que são o penhor, a
anticrese e a hipoteca, isto é, direitos reais limitados ou direitos reais sobre coisa alheia.”
No presente trabalho utiliza-se a expressão propriedade fiduciária referindo-se
exclusivamente àquela resultante das modalidades de negócios fiduciários instituídos por lei,
sendo que se difere, ainda, daqueles direitos reais limitados de garantia, já que seus
respectivos titulares não são proprietários da coisa, ao contrário do que acontece naquela.
A propriedade fiduciária é, sem dúvida, direito real, mas dotada de diversas
peculiaridades. Trata-se de uma espécie de propriedade resolúvel, mas que se distingue
daquela prevista no art. 1.359 do Código Civil34. Nesta, a condição ou termo encontra-se
prevista pelas próprias partes que, uma vez verificada, opera a resolução da propriedade. Na
alienação fiduciária não ocorre a imposição dessa condição resolutiva própria, qual seja, a
34
Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento de condição ou pelo advento do termo, entendem-se
também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a
resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.
133
condicio facti, fixada conforme a vontade das partes. Pelo contrário, a resolução decorre da
verificação de condicio iuris, fixada por lei. Trata-se, portanto, de elemento próprio da
estrutura da propriedade fiduciária.
Mas, não é só. Moreira Alves (1973) lança outras luzes sobre essa distinção.
Relembra que a propriedade resolúvel se caracteriza pelo fato de seu titular, pendente
conditione, ter todas as prerrogativas da propriedade plena, mas restringida pela possibilidade
de eventualmente deixar de ser proprietário, no caso de verificação da condição resolutiva,
hipótese em que a resolução confere efeitos ex tunc, retornando a propriedade ao alienante
(impleta conditione). Não verificada a condição, a propriedade torna-se plena para o
adquirente.
Na propriedade fiduciária, por sua vez, as características são bem distintas, já que o
fiduciário não pode desfrutar de todas as faculdades jurídicas da propriedade, tendo em vista o
desdobramento da posse. Ademais, vencida a dívida, e não paga, a propriedade continua
resolúvel, cabendo ao fiduciário a venda do bem, para a satisfação do débito. E, importante
notar, que nessa hipótese, o fiduciário, que não é proprietário pleno, transfere ao terceiro
comprador, por força de lei, a propriedade plena do bem.
Daí porque, para o retro mencionado autor, a propriedade fiduciária é uma nova
espécie de propriedade limitada, dada as restrições que, por força de lei, sofre em seu
conteúdo. Possui característica acessória, já que se presta a garantir a satisfação de um crédito,
que é o principal, “razão também por que não pode ela ser transmitida a terceiro
independentemente da cessão do crédito que garante” (ALVES, 1973, p. 164), cessão esta que
também deverá ser registrada. Aliás, cumpre esclarecer que uma vez registrado o contrato
pelo credor primitivo, constituindo-se a propriedade fiduciária, o que se transfere a outrem
não é a sua posição contratual, mas, sim, além de seu crédito, seu direito real sobre a coisa,
vale dizer, a propriedade fiduciária.
E por ser contrato de natureza acessória, permite-se que a alienação fiduciária seja
entabulada após a celebração do contrato principal, no qual se estabelecem obrigações e
dívidas a serem garantidas.
Chalhub (2006), ao tecer comentários gerais sobre a propriedade fiduciária, e não
especificamente sobre aquela decorrente da alienação fiduciária em garantia, também faz
interessantes apontamentos nos seguintes termos:
134
A propriedade fiduciária é direito real caracterizado pelo fato de que é constituído
precipuamente para determinado fim e somente para perdurar enquanto existir o
escopo para o qual foi constituída. A propriedade, nesse mister, não é atribuída em
caráter perpétuo, mas constitui-se como um direito real temporário, que é limitado
para atender à finalidade para a qual foi constituída. Sua duração, portanto, está
subordinada ao implemento da condição sob a qual foi constituída. É neste aspecto
que a propriedade fiduciária se distingue com maior nitidez da propriedade plena –
aquela é limitada pela sua própria finalidade, pelo escopo para o qual foi criada; a
transmissão da propriedade para o fiduciário não se faz de forma plena e definitiva,
mas de forma restrita e temporária. (CHALHUB, 2006, p. 120).
Desta forma, segundo também esclarece, o fiduciário possui poderes limitados pela
finalidade que deu azo à constituição da propriedade fiduciária, encontrando-se munido tão
somente das prerrogativas necessárias à persecução deste escopo, que uma vez atingido opera
a extinção daquela. Por essa razão, traz ainda os seguintes característicos:
Efetivamente, a transmissão fiduciária nada acresce ao patrimônio do fiduciário,
sendo este apenas um elemento catalisador da consecução do fideicomisso,
recebendo a propriedade tão-somente para dar àqueles bens a destinação
determinada no ato constitutivo, tal como o trustee, que no trust é tão-somente uma
figura a que se atribui o encargo de implementar na prática a afetação que se deu a
determinado bem, que é o objeto do trust. Enfim, a transmissão da propriedade,
quando se faz em caráter fiduciário, não tem como causa a troca de uma coisa pelo
seu equivalente em dinheiro, mas apenas constitui um veículo para consecução de
outros negócios, que são o objeto do fideicomisso ou dos outros negócios de
natureza fiduciária, como é o caso da alienação fiduciária do direito brasileiro.
[...]
Em suma, o certo é que a propriedade fiduciária é aquela transmitida ao fiduciário
com exclusão ou limitação de alguns poderes, sendo-lhe retiradas algumas de suas
faculdades, que, entretanto, podem vir a ser atribuídas ao fiduciário dependendo da
evolução do negócio em virtude do qual lhe foi transmitida a propriedade em caráter
fiduciário. (CHALHUB, 2006, p. 123-124).
Essas as principais características e efeitos da constituição da propriedade fiduciária.
Por garantir ambas as partes dessa relação, fiduciante e fiduciário, na vinculação da
coisa fiduciada ao escopo pretendido, salvaguardando-a dos credores de um e de outro,
inclusive nos casos de falência ou insolvência, aspecto este que será melhor analisado adiante,
termina por imprimir efeitos próprios de uma afetação patrimonial. Daí alguns dos autores
retro transcritos poderem afirmar taxativamente tratar-se a propriedade fiduciária de um
patrimônio separado.
135
4.5.3 A propriedade fiduciária instituída pela Lei nº 9.514/97 e a securitização de créditos
imobiliários
No decorrer deste trabalho a Lei nº 9.514/97 foi analisada de forma apenas ilustrativa
os aspectos relativos à securitização dos créditos imobiliários, assim como da afetação
patrimonial que institui. Quanto à propriedade fiduciária ali também prevista, as
características gerais traçadas no tópico anterior são igualmente aplicáveis.
Cabem, neste tópico, destacar algumas peculiaridades dessa Lei, assim como tecer
alguns esclarecimentos quanto ao âmbito de sua abrangência.
De certo que a atribuição de segurança jurídica nas operações de securitização é
requisito fundamental à sua viabilização, com reconhecimento das garantias que a
propriedade fiduciária e a conseqüente afetação patrimonial outorgam aos bens a eles
vinculados. Entretanto, igualmente certo é que também deverão ser observadas formas ágeis
de execução dessas mesmas garantias, principalmente em decorrência de litígios, que não
podem ser óbice à recomposição da situação de forma célere, compatível com a dinâmica do
mercado de capitais.
Também sob esse enfoque se apresentam deficitárias as formas tradicionais de
garantia, como o penhor, a hipoteca e a anticrese, que não satisfazem aos anseios da economia
moderna, dada a morosidade na sua execução.
Melhim Namem Chalhub, após considerar essa situação, faz importantes
apontamentos em relação à Lei nº 9.514/97, assim como no que se refere à não existência de
cunho restritivo em relação à legitimidade para sua utilização, que permite a constituição da
garantia de que trata também em relação a outros tipos de obrigações. É o que se colhe:
Dada essa realidade, considerando que a morosidade da execução das garantias inibe
a aplicação de recursos no setor imobiliário, a nova lei tem em vista criar as
condições necessárias para revitalização e expansão do crédito imobiliário e,
partindo do pressuposto de que o bom funcionamento do mercado, com permanente
oferta de crédito, depende de mecanismos capazes de imprimir eficácia e rapidez nos
processos de recomposição das situações de mora, permitiu a utilização da alienação
fiduciária como garantia nos negócios imobiliários.
Presumivelmente, a aplicação da propriedade fiduciária de bens imóveis em garantia
há de se fazer com mais freqüência e em maior porção no mercado de produção e de
comercialização de imóveis com pagamento parcelado, dado que é aí que se verifica
a concessão de crédito imobiliário em maior escala. Isso não obstante, a lei que a
regulamenta não tem sentido restritivo, permitindo, ao contrário, que essa
propriedade especial seja constituída para garantia de quaisquer obrigações, nada
importando o fato de ter sido disciplinada no contexto de uma lei na qual prepondera
a regulamentação de operações típicas do mercado imobiliário, financeiro e de
136
capitais. São nesse sentido as disposições do parágrafo único do art. 22 da Lei nº
9.514/97, pelo qual a alienação fiduciária pode ser contratada por qualquer pessoa,
física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema de
financiamento imobiliário, e o art. 51 da Lei nº 10.931/2004, pelo qual as obrigações
em geral poderão ser garantidas por propriedade fiduciária de coisa imóvel.
Na configuração dessa nova modalidade de garantia, adota-se a concepção básica do
art. 66 da Lei nº 4.728/65, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 911/69, e alguns
aperfeiçoamentos, inclusive mediante adoção de princípios que norteiam a
configuração da propriedade fiduciária constante no Projeto de Código Civil, que,
quando da formulação do Projeto de Lei que veio a ser convertido na Lei nº
9.514/97, ainda tramitava no Congresso Nacional, e, obviamente, com as adaptações
requeridas pela natureza peculiar da propriedade imobiliária, sobretudo quanto aos
aspectos registrários. (CHALHUB, 2006, p. 248-249).
O art. 22 da Lei nº 9.514/97 restou alterado pela Lei nº 11.481/2007, mas apenas para
ampliar seu objeto, como se colhe:
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é negócio jurídico pelo qual o
devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor,
ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
§1º A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não
sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da
propriedade plena:
I – bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se
houver a consolidação do domínio útil do fiduciário;
II – o direito de uso especial para fins de moradia;
III – o direito real de uso, desde que suscetível de alienação;
IV – a propriedade superficiária.
§2º Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos III e IV do §1º deste
artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham
sido transferidos por período determinado. (BRASIL, 2007).
E para que não restem dúvidas quanto à interpretação realizada pelo retro
mencionado autor, transcreve-se a literalidade do art. 51 da Lei nº 10.931/2004:
Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral
também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de
direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de
direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de
venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel. (BRASIL, 2004).
Outrossim, conforme consolidado, “O contrato de alienação fiduciária em garantia
pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor” (Súmula 28 do Superior
Tribunal de Justiça).
Portanto, a propriedade fiduciária disposta nos referidos dispositivos legais, passa a
representar valiosa forma de garantia a obrigações de qualquer natureza, o que certamente
servirá para o fomento da economia, que por longo tempo amargava as deficiências das
demais garantias reais. E como destaca o retro mencionado autor, a generalização feita pelo
137
Legislador através da aplicação da Lei nº 9.514/97, revela sua intenção de fomentar o setor
imobiliário, em toda sua amplitude, incluindo-se a busca pelo desenvolvimento de um
mercado secundário de créditos imobiliários, conforme destaca:
E não poderia ser de outra forma, pois o funcionamento de um mercado secundário
de créditos imobiliários se faz, necessariamente, mediante uma dinâmica pela qual
os créditos imobiliários, em geral, gerados por qualquer pessoa física ou jurídica,
que produz ou comercialize imóveis, bem como pelos que emprestem dinheiro,
possam circular no mercado. Ora, sendo esse o propósito da lei, é evidente que, para
ser descontável no mercado, mediante cessão, o crédito deverá estar constituído de
acordo com determinado padrão, válido para todos os níveis em que se desenvolvem
as operações do mercado, notadamente com as garantias nele utilizadas. Observe-se
que, ainda com esse mesmo propósito de viabilizar o funcionamento do mercado
secundário, a Lei 9.514/97 também autorizou a que em qualquer operação de
comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, sejam aplicadas todas as
demais condições permitidas para as entidades que operem no sistema de
financiamento imobiliário, como, por exemplo, a contração de seguros, a
capitalização de juros e os critérios e índices de reajuste monetário, entre outras.
Visa a lei, assim, que o mercado harmonize suas linhas de operação, de forma a
viabilizar a constituição de créditos homogêneos, e por isso suscetíveis de circular
com mais facilidade, sem obstáculos no mercado, ensejando a captação de recursos
em larga escala para esse setor da produção. (CHALHUB, 2006, p. 255-256).
Desta forma, será de maior ocorrência as situações de aquisição de imóveis, seja de
forma direta, entre vendedor e adquirente, seja com a intervenção de uma instituição
financiadora. Vale dizer, será a construção civil que deverá gerar o maior volume de créditos
a serem negociados no mercado secundário, não se encontrando restrita a alienação fiduciária
desse jaez às instituições financeiras.
E, repise-se, “admitem-se quaisquer outras operações em que se possa transmitir a
propriedade de coisa imóvel para garantia de qualquer operação de crédito, e não somente
para garantia do financiamento utilizado na aquisição do imóvel, tal como soe acontecer, por
exemplo, com um empréstimo comum com garantia hipotecária.” (CHALHUB, 2006, p. 258).
Esse o espírito da Lei, que visa a circulação do crédito imobiliário sem quaisquer obstáculos,
permitindo seu desconto por quem quer que seja seu titular, mediante cessão a uma
companhia securitizadora, a qual promoverá a circulação no mercado financeiro, razão pela
qual procurou, ainda, padronizar as formas de garantia, tal como se constata do art. 1735 e do
art. 22.
35
Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por: I – hipoteca; II –
cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis; III – caução de direitos
creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis; IV – alienação
fiduciária de coisa imóvel.
138
Quanto à celeridade de execução dessas garantias previstas na Lei nº 9.517/97, o
Legislador cuidou também dessa relevante questão, já que a via judicial revela-se
incompatível com a dinâmica do mercado, o qual necessitava, com urgência, de instrumentos
jurídicos que permitam a rápida recomposição das situações de mora.
Assim, também prevê a Lei nº 9.514/97 procedimentos extrajudiciais para tanto, bem
como procedimentos judiciais mais céleres.
Pela via extrajudicial autoriza, uma vez constituído em mora o fiduciante por oficial
do Registro de Imóveis competente, e não paga a dívida no prazo de quinze dias, que seja
realizada a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Em seguida,
deverá o fiduciário realizar leilão público, restituindo o que sobejar ao fiduciante.
Para a reintegração da posse ao fiduciário, cessionário, sucessores ou adquirente do
bem em leilão, determina-se a concessão de liminar para desocupação em sessenta dias,
assegurando-se, ainda, na hipótese de insolvência do fiduciante, a restituição do imóvel ao
fiduciário.
De todo o exposto, em se tratando de securitização de créditos imobiliários, a Lei nº
9.514/97 é de inconteste serventia pois, a um só tempo, constitui afetação patrimonial sobre
esses ativos que servirão de lastro a emissão dos valores mobiliários, institui regime
fiduciário, de forma a impedir que outras operações realizadas pela sociedade de propósito
específico e respectivas dívidas desta possam comprometer esses mesmos ativos. De igual
sorte, a segurança daí advinda, associada à padronização dos contratos e créditos que servirão
de substrato patrimonial para os títulos emitidos, propiciam o desenvolvimento do mercado
secundário.
Ademais, por generalizar a instituição de propriedade fiduciária sobre bens imóveis e
sobre créditos de natureza imobiliária, legitimando como credores-fiduciários quaisquer
pessoas físicas e jurídicas, e não apenas instituições financeiras, revela sua utilidade também
em operações de securitização de ativos de outra natureza, de duas formas distintas.
Para as empresas comerciais, prestadoras de serviços e de quaisquer atividades, que
vislumbrem interesse em antecipar receitas, podem entabular com seus devedores a alienação
fiduciária em garantia de bem imóvel, o que acarretará não apenas a melhoria da qualidade
dos créditos que possuem, mas igualmente a securitização desses créditos, como se ativos de
natureza imobiliária fossem, já que, ao fim e ao cabo, encontram-se, de fato, garantidos por
propriedade fiduciária sobre bem imóvel.
139
Entretanto,
para
as
empresas
que
atuam
no
varejo
e,
assim,
pela
desproporcionalidade entre o valor devido pelos seus produtos ou serviços, não encontrem
viabilidade na constituição de propriedade fiduciária com seus devedores, ou mesmo para as
hipóteses em que os devedores não possuam um bem imóvel para tal finalidade, pode a
empresa-originadora entabular com a sociedade de propósito exclusivo alienação fiduciária
em garantia de imóvel de sua propriedade, como garantia colateral, de forma a melhorar o
rating da operação. Ademais, esta restará desonerada, posto desnecessária a contratação de
seguro ou fiança bancária e outra sorte de garantias colaterais, como, por exemplo, a cessão
de um maior volume de ativos do que o necessário a fazer frente ao numerário antecipado na
operação.
4.5.4 O contrato de fidúcia
A essa altura é de se questionar o porquê de não ter o Legislador pátrio cuidado de
melhor sistematizar a matéria, estabelecendo uma lei única a disciplinar a constituição da
propriedade fiduciária, permitindo-se, assim, sua aplicação irrestrita aos mais diversos tipos
de negócio, inclusive em operações de securitização de crédito.
A resposta remonta décadas.
Conforme já mencionado anteriormente, são antigos os questionamentos tendentes a
buscar, no seio de um ordenamento jurídico de origem romano-germânica, um instrumento
capaz de alcançar efeitos similares ao do trust anglo-saxão.
As figuras retro analisadas foram positivadas para atendimento de finalidades
específicas, mas que não abarcam a securitização de todos tipos de créditos. Os efeitos
almejados para tanto poderiam ser obtidos pela via do negócio fiduciário, mas desde que
contasse com uma afetação patrimonial em relação aos bens transferidos pelo fiduciante, o
que, como visto, não ocorre, somente sendo possível através de lei que regule a questão.
Após o negócio fiduciário prestar-se a suprir lacunas, transformando-se em
modalidade de negócio pela mescla de um contrato tipificado e do elemento confiança, em
dado momento pretendeu-se revesti-lo de nova feição, tendente à afetação patrimonial, tanto
naqueles contratos em que a transferência é realizada com escopo de garantia, como para fins
de administração em proveito do fiduciante ou de terceiro, para alcançar efeitos similares ao
do trust.
140
Conforme entendimento esposado por Orlando Gomes (1965), ainda que não seja
possível transplantar o trust para outros ordenamentos jurídicos em sua inteireza, com todas
suas implicações teóricas e práticas, é possível fazê-lo em relação à sua idéia dominante,
consistente na formação de patrimônio separado, através de construção de instituto similar, o
contrato de fidúcia, que se pretendeu positivar no Anteprojeto do Código de Obrigações de
1965, o qual pode ser conceituado da seguinte forma:
A fidúcia é o negócio jurídico pelo qual, mediante a transferência de bens móveis ou
imóveis que formem patrimônio separado, confere uma pessoa a outra o encargo de
administrá-los em proveito de outrem, a quem deve entregá-los a certo tempo ou sob
determinada condição. Nada impede se constitua em benefício do próprio
transmitente.
[...]
Embora seja, de fato, inconcebível a dissociação da propriedade nos termos
admitidos no direito inglês, pode-se naturalizar o instituto, considerando-se resolúvel
a propriedade do fiduciário em relação aos imóveis, ainda tendo êle a faculdade de
disposição, mas obrigado, quanto aos móveis que alienar, a sub-rogá-los em outros.
[...]
Necessário assim, que tais bens constituam patrimônio separado. Não podem
confundir-se com os do fiduciário, estando subtraídos, portanto, à execução de seus
credores, ainda em processo de falência. (GOMES, 1965, p. 12-13).
Com base nesses esclarecimentos, o referido autor decompõe o contrato de fidúcia
como sendo a transferência gratuita, mas efetiva, da propriedade ao fiduciário, mas
encontrando-se este último vinculado a praticar a gestão da massa patrimonial nos moldes
instituídos pelo fiduciante. “Tem-se, assim, o que se poderia denominar direito funcional, isto
é, propriedade que não configura pleno direito subjetivo com a faculdade, por conseguinte, de
gôzo no interesse próprio.” (GOMES, 1965, p. 13). O fiduciário adquire a propriedade de
bens de forma temporária, para usá-los em benefício e fruição de outros.
As obrigações do fiduciário, diferentemente do que se passa nos negócios fiduciários
stricto sensu, são de natureza real, vinculadas à propriedade dos bens, devendo reverter os
bens aos beneficiários. Em que pese exista a possibilidade de venda dos bens no contrato de
fidúcia, restaria a obrigação de substituí-los por outros. Verifica-se, assim, que não se ousou
criar uma dupla propriedade sobre os bens transmitidos. Estes são do fiduciário, mas
constituem uma universalidade (patrimônio separado), os quais deverão ser revertidos, e não
alienados, a favor dos beneficiários.
Desta forma, seriam características do contrato de fidúcia a transmissão da
propriedade, a afetação dos bens transmitidos, a temporariedade e a reversão.
141
Encontram-se presentes a figura do instituidor, do fiduciário e do beneficiário. Este
último é o destinatário dos proveitos da administração do patrimônio separado, que lhe
pertence, mas sem disposição até que cesse o direito do fiduciário. Mas são partes da relação
jurídica apenas o instituidor e o fiduciário, não sendo necessária a aceitação do beneficiário,
em que pese seja pessoa indispensável à persecução da finalidade do contrato, podendo,
inclusive, ser o próprio instituidor.
Conforme esclarece Chalhub (2006), a razão dessa restrição encontra-se diretamente
relacionado ao receio de viabilização da prática de negócios usurários, dos quais resultariam
incontestes prejuízos ao fiduciante. Mister trazer à baila seus apontamentos, inclusive por
mencionar os ensinamento de Moreira Alves, que já se pronunciara quanto ao tema quando da
análise do Anteprojeto das Obrigações:
O propósito da restrição era dificultar a utilização dessa garantia em negócios
usurários, daí porque, como observa José Carlos Moreira Alves, a generalização do
Código Civil há de ser complementada por legislação processual que, “pelo menos
no tocante à utilização dessa garantia por outrem que não qualquer das referidas
entidades [financeiras], possibilite ao devedor defesa mais ampla quando da busca e
apreensão.” Pondera Moreira Alves, entretanto, que essa forma eventual de
obstaculização à prática da usura não é a maneira mais adequada de coibi-la, sendo
certo que “o justo temor da usura deve levar ao combate desta, e não à limitação de
uma garantia que se vem impondo por sua maior eficácia em face das até então
admitidas.” (CHALHUB, 2006, p. 131-132).
Os desdobramentos desse Anteprojeto, como se sabe, não foram fecundos,
inviabilizando o estabelecimento da fidúcia em termos gerais, muito embora as discussões
estabelecidas tenham servido para elaboração de leis específicas, como é o caso das já
mencionadas.
Na atualidade encontra-se em tramitação o Projeto de Lei nº 4.809, de 1998, de
elaboração de Melhim Namem Chalhub, constando como autor o Deputado José Chaves e
como Relator o Deputado Max Rosenmann, que versa sobre o contrato de fidúcia, tendo sido
reconhecida pela Câmara dos Deputados sua relevância, mas sem ter desatado a questão até o
presente momento.
Ainda que à guisa de esclarecimentos, merecem ser transcrito alguns dos artigos
desse Projeto de Lei:
Art. 1º Pelo contrato de fidúcia uma das partes, denominada fiduciante, transmite a
propriedade fiduciária de bens ou direitos a outra, denominada fiduciário, para que
este os administre em proveito de um terceiro, denominado beneficiário, ou do
próprio fiduciante, e os transmita a estes ou a terceiros, de acordo com o estipulado
no contrato.
142
§1º A fidúcia requer forma escrita e pode ter como objeto bens e direitos presentes e
futuros, com caráter revogável ou irrevogável.
§2º Na fidúcia para fins de garantia o fiduciário pode ser o beneficiário, nas
condições estabelecidas no contrato.
[...]
Art. 3 Os bens e direitos objeto da fidúcia, bem como seus frutos e rendimento,
constituem propriedade fiduciária, limitados os poderes a ela inerentes na
conformidade do que dispuser o contrato de fidúcia.
§1º Considera-se fiduciária a propriedade de coisa, ou a titularidade de direito,
subordinada a durar somente até o implemento de uma condição resolutiva ou até o
advento de um termo, quando se opera a transmissão da coisa ou do direito ao
beneficiário, ao fiduciante ou a terceiros ou sua consolidação no fiduciário,
conforme o caso, nos termos do contrato.
§2º O caráter fiduciário da propriedade produzirá efeitos perante terceiros a partir do
registro do contrato de fidúcia, no Serviço de Registro ou no órgão público
competente, conforme a natureza dos bens objeto da fidúcia.
§3º Quando previsto no contrato, o fiduciário investir-se-á na propriedade fiduciária
dos bens ou direitos que vier a adquirir com os frutos ou rendimentos do objeto da
fidúcia, ou com o produto da alienação desses bens, devendo dos atos de aquisição
constar a origem dos recursos.
§4º Nos condomínios organizados para fins de investimento, de qualquer natureza,
nas sociedades sob a forma mutualista, ou sob qualquer outra forma, que tenham por
finalidade o autofinanciamento dos associados, a entidade administradora figurará
como proprietária fiduciária dos bens objeto dos respectivos negócios do grupo.
Art. 4º Os bens e direitos objeto da fidúcia manter-se-ão apartados dos ativos do
fiduciário e do fiduciante e constituem patrimônio autônomo, afetado à finalidade
determinada no título de constituição da fidúcia, não respondendo pelas dívidas
pessoais do fiduciário ou do fiduciante, salvo, quanto às do fiduciante, nos casos de
fraude.
§1º O fiduciário poderá dispor ou gravar os bens dados em fidúcia, nas condições e
para os fins previstos no contrato de fidúcia.
§2º O fiduciário deverá diligenciar para que os bens objeto da fidúcia não se
comuniquem, nem se confundam, com os bens e direitos do seu patrimônio ou de
outros patrimônios sob sua administração.
§3º As obrigações inerentes ao patrimônio fiduciário serão satisfeitas
exclusivamente com o fruto e rendimentos por ele produzidos, ou com o produto da
alienação dos bens ou direitos dele integrantes, procedendo-se, em caso de
insuficiência, nos termos que dispuser o contrato de fidúcia.
[...] (CHALHUB, 2006, p. 472-474).
Verifica-se, assim, que a referida proposição apresenta todas as características
necessárias a implementar quaisquer tipos de negócios fiduciários, seja para fins de
administração, seja para fins de garantia, além de dotá-lo de estrema flexibilidade, por facultar
as partes estipular as minúcias, conforme o objetivo visado, no próprio contrato.
A opção do legislador brasileiro, na edição de diversas leis, objetivando prestigiar
apenas alguns setores, preponderantemente o imobiliário, representa, sem dúvida, um entrave
a diversos negócios, da mais variadas naturezas, não apenas à securitização de créditos,
conforme restará mais claro no tópico a seguir, do seu confronto com a opção realizada pela
maioria dos países da América Latina.
143
4.5.5 O fideicomisso nos países da América do Sul
Apesar de no Brasil a palavra fideicomisso remeter a figura de natureza sucessória,
em alguns países da América do Sul tal tem sido empregado em sentido mais amplo, nos
moldes do negócio fiduciário para fins de administração, utilizado nas mais diversas
situações.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desenvolveu
estudo específico sobre o tema, denominado o “Fideicomisso como Facilitador do Crédito na
América do Sul”. Neste, aponta o fideicomisso como instrumento adequado à execução de
projetos de infra-estrutura, já que possibilita a transferência da titularidade de ativos com a
constituição de um patrimônio de afetação, na mesma linha do que foi analisado no presente
trabalho.
Acrescenta a inexistência de lei similar no ordenamento jurídico brasileiro36, o que
seria de vantajosa ocorrência para fomentar investimentos em infra-estrutura.
Para justificar esse posicionamento, descreve o período de turbulência econômica
vivenciado nos países emergentes na década de 90, com retração das linhas de crédito
externas, aumento de risco, com encarecimento do crédito e fuga de capitais. De forma a
tornar suas economias menos vulneráveis a crises financeiras internacionais, alguns países da
America do Sul buscaram constituir bases para um crescimento sustentável, com prioridade
aos grandes investimentos em infra-estrutura, como setores de transporte, energia e
telecomunicações.
Todavia, essa empreitada demandaria enormes investimentos, e não contavam com
recursos públicos, dada a delicada situação fiscal da maioria desses países, já com alto grau de
endividamento. Agravando essa situação, quaisquer aplicações de recursos por eventuais
investidores interessados acabariam sendo comprometidos por dívidas pré-existentes.
Como solução para atração de capital privado para essas empreitadas, buscou-se uma
via que reduzisse essa preocupação por parte dos investidores, a qual necessariamente deveria
ter como premissa o isolamento dos novos fluxos de capital, dos passivos já existentes.
E foi então que se formulou a idéia do negócio fiduciário, na busca dos efeitos do
trust, conforme aponta o artigo em comento:
36
Acredita-se que nesse particular esteja se referindo a negócios fiduciários para fins de administração
destinados a quaisquer tipos de atividades, com ênfase em projetos de infra-estrutura, já que referido artigo data
de março de 2007, época em que o ordenamento jurídico pátrio já havia, há algum tempo, regime fiduciário
devidamente instituído na área imobiliária, tal como visto neste trabalho.
144
Foi nesse contexto que alguns países sul-americanos realizaram alterações na
legislação que regula o fideicomisso, um dos mais antigos institutos jurídicos,
derivado do direito romano. Essas modificações permitiram a criação de um marco
regulatório que levou à execução de projetos que, de outra forma, seriam pouco
atrativos ao setor privado.
O “fideicomisso sul-americano” guarda semelhanças com o trust e serve como
instrumento para segregar ativos e para canalizar o recebimento de recursos privados
e aportes governamentais. Além da vantagem jurídica de proteger o fluxo de caixa
de um investimento dos riscos a que pode estar sujeito o patrimônio da empresa
beneficiária, o fideicomisso elimina possíveis conflitos de interesse durante a
execução do projeto, confere transparência na gestão dos recursos e centraliza a
tomada de decisões envolvendo os investimentos em infra-estrutura. (BNDES, 2007,
p. 179).
Dispensam-se maiores explicações sobre o negócio fiduciário empregado nessa
empreitada, com finalidade de administração, tendo em vista que o descrito nesse artigo
encontra-se em consonância com o já apontado no decorrer deste trabalho.
O artigo ora analisado revela-se interessante por demonstrar a relevância econômica
da regulamentação dessa modalidade de negócio fiduciário, demandada cada vez mais na
atualidade, em que as estruturas negociais, com diversos partícipes, associado ao extremo
dinamismo em que se dão, demandam formas seguras no seu desfecho.
A afetação patrimonial decorrente desse instrumento é indispensável, seja para
garantia das partes e investidores, seja por dispensar maiores aprofundamentos sobre a higidez
financeira dos contratantes, o que demandaria tempo e desnecessário dispêndio de recursos.
Ademais, terminaria por causar a ruína de empresas em situação financeira irregular, pois
seriam excluídas do mercado, por não contarem com as características demandadas.
Sob qualquer aspecto que se analise a instituição do negócio fiduciário para fins de
administração, sua introdução é medida que se impõe, não apenas para resolver, de vez, os
anseios das operações realizadas no mercado de capitais, mas igualmente por solucionar
diversos outros entraves, na obtenção de financiamentos de suma importância para o país.
De qualquer sorte, outro aspecto interessante deste artigo, é a colação de leis sobre
fideicomisso de diversos países da América do Sul, em relação às quais se recomenda a
transcrição, quando menos, de alguns artigos daquela de origem argentina, a Lei 24.441, de 24
de dezembro de 1994:
Art. 1º Haverá fideicomisso quando uma pessoa (fiduciante) transmitir a propriedade
fiduciária de determinados bens a outra (fiduciário), que se obriga a exercê-la em
benefício de quem for especificado em contrato (beneficiário), e a transmiti-los ao
fiduciante, ao beneficiário ou ao fideicomissário após o decurso de um prazo ou
condição.
[...]
145
Art. 14 Os bens fideicomitidos constituem um patrimônio separado do patrimônio
do fiduciário e do fiduciante. [...]
Art. 15 Os bens fideicomitidos restarão excluídos da ação singular ou coletiva dos
credores do fiduciário. Tampouco poderão agredir os bens fideicomitidos os
credores do fiduciante, ressalvando-se os casos de fraude [...] (BNDES, 2007, p.
181, tradução nossa37).
Conforme também destaca o estudo realizado pelo BNDES (2007, p. 182), as
“alterações na legislação dos países sul-americanos que instituíram o fideicomisso, tal como
utilizado na Argentina, foram realizadas na Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela”.
E assim tem sido feito nos referidos países da America do Sul, na utilização do
fideicomisso na estruturação financeira de diversas operações, o que revela considerável
êxito, já que, por exemplo, na Colômbia, foram transferidos recursos a fideicomissos privados
da ordem de treze bilhões de dólares no ano de 2000 e de aproximadamente vinte e quatro
bilhões em 2004, conforme também aponta o estudo realizado pelo BNDES.
37
Art. 1º Habrá fideicomisso cuando uma persona (fiduciante) transmita La propriedad fiduciaria de bienes
determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato
(beneficiario), y a transmitirlo ao cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al
fideicomisario.
Art. 14 Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del
fiduciante.
Art. 15 Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del
fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la
acción de fraude.
146
5 A LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
Conforme visto nos tópicos anteriores, algumas das leis analisadas estipulam a
criação de patrimônios separados, assim como, em relação à propriedade fiduciária, sua
constituição é dotada dos mesmos efeitos daqueles, de forma a excluir os bens afetados dos
integrantes da insolvência ou falência, seja do credor, seja do devedor. Hipótese contrária
seria, no mínimo, contraditória, na medida em que fulminaria a própria ratio legis
demonstrada pelo Legislador na sua criação e, ademais, esvaziaria sua utilidade.
Desta forma, as leis analisadas, que cuidaram de instituir a afetação de determinado
patrimônio a uma finalidade, expressamente cuidaram de excluir os elementos que o compõe
de eventual liquidação, insolvência ou falência de seus respectivos titulares ou
administradores. É o que se colhe dos já citados art. 7º, inc. III, da Lei nº 8.668/93, do art. 31F da Lei nº 4.591/64, com a alteração da pela Lei nº 10.931/04, assim como do parágrafo
único do art. 15 da Lei nº 9.514/97.
No que se refere especificamente à propriedade fiduciária, as conseqüências são as
mesmas, seja em relação aos efeitos da falência ou insolvência do devedor-fiduciante, seja em
relação à do credor-fiduciário. Afinal, ao contrário do que ocorre em um negócio fiduciário
stricto sensu, a constituição de propriedade fiduciária “implica a afetação do bem ou do
direito objeto da garantia fiduciária, excluindo-os dos efeitos da insolvência.” (CHALHUB,
2006, p. 178). Assevera esse mesmo autor:
A garantia real constituída mediante registro do contrato de alienação fiduciária é
representada pela propriedade resolúvel do bem, vale dizer, a propriedade é
transmitida ao credor, mas com escopo de garantia. De outra parte, na medida em
que é propriedade resolúvel do fiduciário, esse bem constitui propriedade potencial
do devedor-fiduciante, sendo este titular de um direito eventual, também chamado
direito expectativo, à propriedade plena do bem.
Essa peculiar situação decorrente da alienação fiduciária implica necessariamente a
criação de um patrimônio de afetação, que tem por objeto o bem alienado
fiduciariamente. Por isso, o domínio que o credor tem sobre o bem deve “durar
somente até o cumprimento da condição resolutiva, para o efeito da restituição da
coisa ao seu antigo dono.” (CHALHUB, 2006, p. 242).
147
Na falência do devedor alienante, dispunha o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 7º38,
o direito do proprietário fiduciário pedir a restituição. Tal possibilidade foi mantida, já que
constante do art. 20 da Lei nº 9.514/9739, também aplicável à alienação fiduciária em garantia
de que trata a Lei nº 4.728/65, conforme disposto no parágrafo 4º, do art. 66-B. Neste caso,
após realizada a restituição do bem, será realizada a venda do mesmo, devolvendo-se o que
sobejar a favor da massa.
Caso a falência seja do credor-fiduciário, a massa falida irá assumir a posição
daquele e, após o pagamento da dívida pelo devedor, o bem há de lhe ser entregue. Não
ocorrendo o pagamento, será realizada a venda da coisa, restituindo-se ao devedor o que
ultrapassar o crédito devido.
Não bastasse o trato dessa questão em leis específicas, assim como o entendimento
doutrinário a respeito, cuidou também a Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, de
expressamente consolidar essa situação, de forma a não deixar quaisquer dúvidas quanto a
esses efeitos. É o que se colhe, primeiramente, do art. 49, §3º, que exclui a propriedade
fiduciária dos efeitos da recuperação judicial:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos.
[...]
§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere
o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. (BRASIL, 2005).
Quanto ao patrimônio de afetação, o art. 119, inc. IX, é que cuida de excepcioná-lo,
além de seu inc. VIII determinar o vencimento antecipado das obrigações constituídas no
âmbito do sistema financeiro nacional:
38
Art. 7º. Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietários fiduciário o direito de
pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente. Parágrafo único. Efetivada a
restituição o proprietário fiduciário agirá na forma prevista neste decreto-lei.
39
Art. 20. Na hipótese de falência do devedor cedente e se não tiver havido a tradição dos títulos representativos
dos créditos cedidos fiduciariamente, ficará assegurada ao cessionário fiduciário a restituição na forma da
legislação pertinente. Parágrafo único. Efetivada a restituição, prosseguirá o cessionário fiduciário no exercício
dos seus direitos na forma do disposto nesta seção.
148
Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes
regras:
[...]
VIII – caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do
sistema financeiro nacional, nos termos da legislação vigente, a parte não falida
poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, hipótese em que será
liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de
eventual crédito que venha a ser apurado em favor do falido com créditos detidos
pelo contratante;
IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação
específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus
bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo
termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador
judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o
crédito que contra ela remanescer. (BRASIL, 2005).
Assim ocorrendo, se insolvente o credor-fiduciário, a massa assume sua posição, o
mesmo ocorrendo no caso da recuperação judicial de empresa, cabendo trazer os
apontamentos a seguir:
Por essa forma, o crédito do credor-fiduciário permanece afastado dos efeitos da
recuperação judicial da empresa devedora, mantendo o contrato seu curso normal até
a integral extinção da dívida, quando se dará o cancelamento da propriedade
fiduciária; colocando-se em mora ou tornando-se inadimplente o devedor, estará o
credor legitimado a adotar os procedimentos previstos na legislação especial que
disciplina os meios de realização da garantia fiduciária. A exclusão de que trata esse
dispositivo alcança a garantia fiduciária constituída sobre bens móveis, imóveis, e,
bem assim, sobre os direitos e títulos de crédito a que se refere o art. 66B da Lei nº
4.728/65, com a redação data pela Lei nº10.931/2004, devendo-se entender que a
expressão “propriedade fiduciária” foi empregada pelo legislador em sentido
abrangente, compreendendo não só a propriedade sobre bens corpóreos, mas,
também a titularidade fiduciária sobre direitos e sobre títulos de crédito. É que,
como já visto, a constituição de garantia fiduciária, de qualquer espécie, importa na
afetação do bem ou do direito objeto da garantia, de modo tal que ele permanece
segregado e imune aos efeitos da insolvência tanto do credor como do devedor, com
vistas ao cumprimento de sua destinação. Nesse sentido, o inciso IX do art. 119 da
Lei nº 11.101, de 2.8.2005, coerentemente com as disposições específicas da
legislação especial sobre as garantias fiduciárias, enuncia uma regra genérica de
exclusão dos patrimônios de afetação, em geral, dos efeitos da falência, estando
compreendidos nesses patrimônios especiais todas as espécies de garantia fiduciária,
sejam aquelas que tenham por objeto os bens móveis ou imóveis como aquelas
constituídas sobre direitos, sobre móveis ou imóveis, e títulos de crédito; para todas
essas hipótese, esse dispositivo prescreve que esses “bens, direitos e obrigações”
permanecerão separados, prosseguindo o curso normal dos respectivos contratos até
o cumprimento da finalidade da afetação, isto é, da garantia fiduciária.”
(CHALHUB, 2006, p. 244-245).
Apesar da literalidade dos referidos dispositivos não deixar dúvidas quanto à não
sujeição da propriedade fiduciária e do patrimônio de afetação à recuperação judicial, cumpre
esclarecer também os fundamentos econômicos que influíram na redação da Lei em comento.
149
E, quanto isso, colhem-se os ensinamentos de Jean Carlos Fernandes (2009). Antes
mesmo de abordar a Lei de Recuperação de Empresas, referido autor traz apontamentos
relativos à recuperação de empresas e aos contratos de garantia financeira na Comunidade
Européia, a qual buscou regulamentar normas aplicáveis aos Estados-Membros. São
preservados os direitos reais no processo de insolvência, podendo seus respectivos titulares
liquidar ou exigir a liquidação de tais direitos, além de outras prerrogativas, e destaca, dentre
outros aspectos, o escopo dos regulamentos lá instituídos:
Nota-se, portanto, que o Regulamento (CE) n. 1346, de 2000, seguindo a diretriz da
União Européia de criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça,
estabeleceu que, para o bom funcionamento do mercado interno, os processos de
insolvência se efetuem de forma eficiente e eficaz, protegendo, principalmente, os
credores ou terceiros titulares de direitos reais, incluindo cessão de crédito a título de
garantia.
Complementando tal orientação, veio a Diretiva n. 2002/47/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de junho de 2002, que entrou em vigor na data da sua
publicação, relativa aos acordos de garantia financeira.
[...]
A Diretiva n. 2002/47/CE reconheceu que a ausência de um quadro jurídico
uniforme sobre o regime de garantias afeta a conclusão das operações, e,
indiretamente, o nível global de eficiência dos mercados. Objetivou, portanto,
assegurar um mercado financeiro europeu integrado, com a redução dos riscos de
crédito, diante da necessidade de harmonização da constituição, proteção,
transferência e execução das garantias. (FERNANDES, 2009, p. 154-155).
Posteriormente, esse mesmo autor, ao tratar dos motivos ensejadores da exclusão, na
recuperação judicial, dos créditos relacionados no §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
aponta para o princípio da redução do custo do crédito como determinante desta opção, e
elucida:
O princípio da redução do custo do crédito no Brasil consta expressamente no
Relatório da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o PLC n. 71, de 2003,
oriundo do PL n. 4.376, de 1993, que originaram a Lei n. 11.101, de 2005, nos
seguintes termos: “é necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital,
com preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação de
créditos na falência, a fim de que se incentive a aplicação de recursos financeiros a
custo menor nas atividades produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento
econômico” (MACHADO, Rubens Approbato (Coord.). Comentários à nova lei de
falências e recuperação de empresa. São Paulo: Quartier Latin, 2005, PP. 343-383).
(FERNANDES, 2009, p. 191).
Esse entendimento resta ainda mais confirmado quando se percebe, de forma
evidente, esse mesmo espírito em outros dispositivos da Lei em comento, tal com se dá no
retro transcrito art. 119, incisos VIII e IX. Como se tal não bastasse, encontra-se ainda outra
importante inovação no art. 136, §1º, a revelar mais uma vez a preocupação do Legislador
150
com a proteção do crédito e, consequentemente, dos investidores e com o desenvolvimento do
mercado de capitais:
Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as
partes retornarão ao estado anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à
restituição dos bens ou valores entregues ao devedor.
§1º Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a
ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de
valores mobiliários emitidos pelo securitizador. (BRASIL, 2005).
Conforme aponta Fábio Ulhoa Coelho (2005, p. 357), “Caso a ineficácia não fosse
por lei expressamente afastada na securitização de recebíveis, essa alternativa de
financiamento da atividade empresarial simplesmente deixaria de existir”.
De fato, nos termos analisados no decorrer deste trabalho, a securitização é
estruturada a partir da premissa de que houve a segregação dos riscos próprios do originador
em relação à sua atividade, de tal sorte que o rating da operação se dá apenas com enfoque na
SPE, passando-se as informações assim obtidas ao mercado, para que os investidores tomem
sua decisão.
Os investidores sabem que há risco relativo à adimplência, ou não, dos devedores dos
créditos cedidos, mas que tal risco encontra-se diluído, “pulverizado” como se costuma dizer,
dentro da massa de créditos formada de tal sorte que, associado à diversidade dos créditos
utilizados e garantias colaterais prestadas, se obtém uma melhoria do crédito com um todo,
razão da atratividade dos valores mobiliários emitidos.
Assim ocorrendo, fosse possível cogitar que riscos próprios da atividade do
originador viessem a afetar esse substrato patrimonial, lastro indispensável ao resgate dos
títulos, equivaleria a remeter o público investidor a uma álea de difícil ou impossível
mensuração, a desaconselhar fortemente essa forma de desintermediação financeira.
Daí a singular relevância econômica da securitização de créditos, que tem a aptidão
de proporcionar a diversas atividades e projetos, público e privados, o necessário
investimento, a um custo menor daquele obtido junto a instituições financeiras, o que, de
resto, a depender do tamanho da empreitada, sequer seria possível.
Quanto a isso, vale a transcrição da opinião abaixo, que destaca parte desses
aspectos, voltados ao fomento da atividade empresarial, revelando, mais uma vez, a intenção
do Legislador em proteger os investidores e, com isso, o próprio mercado de capitais:
151
Com a securitização tem-se um processo pelo qual as empresas podem captar
recursos no mercado mediante antecipação no recebimento de créditos vincendos
sem afetar o nível de endividamento do seu balanço. Surgiu, assim, interesse de
investidores de mercado, que podem conflitar com interesse dos credores do falido.
O legislador ao incorporar o dispositivo do §1º do art. 136, protegeu os portadores
de valores mobiliários que adquiriram os recebíveis, pois estes participam do
importante papel de financiar as atividades empresariais, obtendo como garantia
indireta a obrigação ativa de que é credora a empresa beneficiada pela compra dos
securities e como garantia direta o patrimônio do securitizador.
[...]
Tratando-se de processo moderno para a captação de recursos no mercado, a fim de
agilizar a atividade empresarial, é evidente que as soluções aventadas na Resolução
n. 2493 do Conselho Monetário Nacional, estão de acordo com o legislador que
editou a Lei 11.101/2005, especialmente na necessidade de se promover a
recuperação de empresas viáveis. A securitização é, na verdade, um dos processos
de viabilização para a recuperação da atividade empresarial e não poderia, portanto,
ser desprestigiada num diploma legal que tem como seu ponto forte, justamente, o
incentivo à recuperação de empresas. (MARTIN, 2006, p. 473).
A Resolução nº 2.493/98 do CMN foi revogada pela Resolução nº 2.686/2000, que
estabelece condições para a cessão de créditos a sociedades anônimas de objeto exclusivo e a
companhias securitizadoras de créditos imobiliários, e dispõe em seu art. 5º, parágrafo único,
inc. II, a necessidade de previsão no instrumento de emissão dos valores mobiliários o
tratamento a ser dado no caso de insolvência ou falência ou liquidação de seus devedores.
Não obstante todos os aspectos retro delineados, imperioso perquirir quanto ao real
alcance da ineficácia disposta nesse dispositivo, que não pode ter pretendido ressalvar até
mesmo hipóteses de fraude que, infelizmente, podem surgir, como em qualquer outro negócio
jurídico. É o que se colhe da interessante hipótese abaixo cogitada:
Quis o legislador, nesse dispositivo, incorporado ao texto da lei pela Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado, proteger os investidores e a própria atividade de
securitização de créditos, mas, no seu afã, saiu-se com redação muito infeliz, que
pode permitir aos desavisados o entendimento de que se concedeu uma espécie de
carta de corso à securitização, que poria à salvo de questionamento judicial qualquer
fraude que por meio dela se perpetrasse. Muito obviamente, não é essa a correta
leitura do §2º do art. 136.
A interpretação que me parece acertada é a seguinte: se houve um conluio
fraudulento entre o falido e o securitizador, não se poderá retirar eficácia da cessão
dos créditos que lastrearem a emissão dos títulos, sem prejuízo de se exigir
reparação desse último. Se, no entanto, da fraude participaram também os
investidores, a alienação dos créditos deverá cair sob o golpe da revocatória. Tomese um exemplo: uma rede de varejo securitiza uma carteira de crédito direto ao
consumidor (CDC), emitindo títulos por um preço absurdamente vantajoso, e, sem a
participação da securitizadora, faz com que testas-de-ferro subscrevam esses valores
mobiliários. Obviamente essa cessão tem de ser privada de efeitos – pensar o
contrário equivale a supor que a lei criou uma hipótese de fraude legalmente
permitida, o que agride até mesmo o bom senso. (TEPEDINO, 2007, p. 410-411).
152
De fato, não há como se pretender uma proteção absoluta. Como em todo negócio
jurídico, na ocorrência de fraude devem ser considerados ineficazes os atos praticados, e
buscar a restituição ao status quo ante. Entretanto, por certo que a intenção do Legislador foi
preservar o crédito e, consequentemente, os investidores, tal como se colhe da literalidade do
referido artigo e de uma interpretação sistemática da Lei em comento, de tal sorte que
somente quando houver participação dos investidores em eventual fraude praticada é que em
relação a esses não valerá o beneplácito do parágrafo 1º, do art. 136.
Portanto, deve-se ter em vista que as operações de securitização de crédito, dada a
sua importância no contexto do desenvolvimento do sistema financeiro nacional e da
economia, demandou a efetiva proteção do público investidor, contando, assim, com
particular proteção nos casos de falência do originador.
153
6 CONCLUSÃO
Conforme visto, as securitizações de créditos imobiliários já se encontram
satisfatoriamente regulamentadas. Contando com a instituição de regime fiduciário e
consequente segregação dos ativos que servirão de lastro a emissão dos valores mobiliários,
afastam-se os temores relativos à solvabilidade da originadora, assim como da própria
securitizadora, quando esta se prestar a mais de uma operação. Afinal, os valores mobiliários
ou títulos emitidos encontram-se estritamente vinculados aos ativos, não podendo servir de
garantia a outras dívidas que não aquelas próprias da securitização em que se encontram. De
igual sorte, a segurança daí advinda, associada à padronização dos títulos emitidos, propiciam
o desenvolvimento do mercado secundário.
Entretanto, para as demais espécies de ativos, inclusive aqueles oriundos da atividade
empresarial e financeira, a questão não se encontra tão clara, dada a falta de regulamentação
adequada, o que impõe, na estruturação da operação, a busca por instrumentos hábeis a
atribuir a segurança almejada.
Após a análise da propriedade fiduciária instituída pela Lei nº 4.728/65, com as
alterações da Lei nº 10.931/2004, que acrescentou o art. 66-B, verifica-se a possibilidade de se
conferir os efeitos almejados.
Para tanto, na transferência dos créditos que servirão de lastro à emissão de valores
mobiliários, ao invés de se utilizar uma cessão ordinária, torna-se possível a realização de
uma cessão fiduciária dos mesmos. As conseqüências, como visto, serão aquelas próprias da
constituição de um patrimônio separado.
O parágrafo terceiro do art. 66-B faculta ao credor fiduciário a posse direta do bem
cedido, e seu parágrafo quarto estende a aplicação dos arts. 18 a 20 da Lei nº 9.514/97, os
quais, por sua vez, permitem a cobrança direta pela cessionária dos devedores dos créditos
cedidos, restituindo-se ao cedente o que eventualmente ultrapassar o valor devido ou, pelo
contrário, cobrar o saldo remanescente, nas condições convencionadas no contrato.
Essa última disposição revela, assim, a faculdade das partes contratantes regerem a
forma de amortização e final quitação do débito, sem que a alienação fiduciária instituída pela
referida Lei imponha, necessariamente, a devolução dos títulos ao cedente, ou que o
pagamento da dívida seja feita por ele próprio. Faculta-se, pelo contrário, que a amortização
da dívida, até sua final quitação, seja feita pelo próprio cessionário, através da cobrança dos
devedores dos créditos cedidos.
154
Ademais, por força do art. 35 da Lei 9.514/97, dispensa-se a notificação dos
devedores dos créditos nas cessões de que trata o art. 18, do que decorre o benefício de
verem-se minorados os ônus financeiros decorrentes da estruturação da operação.
A opção ora apontada também não encontraria óbice no argumento de que essa
operação somente estaria legitimada quando operada por instituição financeira, na medida em
que se encontra prevista na própria Lei nº 4.728/65, que disciplina o mercado de capitais e as
operações a ela relacionadas, sendo os Fundos de Investimento e as companhias
securitizadoras, indubitavelmente, integrantes desse mercado. Não à toa, diversas ações de
busca e apreensão são comumente ajuizadas pelos mesmos.
Lado outro, e conforme já demonstrado anteriormente, as instituições financeiras
encontram-se presentes na estruturação da securitização, seja na condição de companhia
securitizadora, seja na condição de administradora de fundos de investimento, de onde se
extrai sua legitimidade para esse mister. É o que dispõe a Instrução CVM nº 356/2001, que
institui o Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, e em seu art. 33 atribui poderes à
administradora para “exercer os direitos inerentes aos direitos creditórios que integrem a
carteira do fundo”.
Mas a questão ganhou novos ares com o advento da Lei nº 9.514/97. Conforme visto,
referida Lei generalizou a instituição de propriedade fiduciária sobre bens imóveis e sobre
créditos de natureza imobiliária, legitimando como credores-fiduciários quaisquer pessoas
físicas e jurídicas, e não apenas instituições financeiras, a revelar sua utilidade também em
operações de securitização de ativos de outra natureza, de duas formas distintas.
Para as empresas comerciais, prestadoras de serviços e de quaisquer outras
atividades, que vislumbrem interesse em antecipar receitas, podem entabular com seus
devedores a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, o que acarretará não apenas a
melhoria da qualidade dos créditos que possuem, mas, igualmente, permitirá a securitização
desses créditos, como se ativos de natureza imobiliária fossem, já que, ao fim e ao cabo,
encontram-se, de fato, garantidos por propriedade fiduciária sobre bem imóvel.
Entretanto,
para
as
empresas
que
atuam
no
varejo
e,
assim,
pela
desproporcionalidade entre o valor devido pelos seus produtos ou serviços, não encontrem
viabilidade na constituição de propriedade fiduciária com seus devedores, ou mesmo para as
hipóteses em que os devedores não possuam um bem imóvel para tal finalidade, pode a
empresa-originadora entabular com a sociedade de propósito exclusivo alienação fiduciária
em garantia de imóvel de sua propriedade, como garantia colateral, de forma a melhorar o
rating da operação. Ademais, esta restará desonerada, posto desnecessária a contratação de
155
seguro ou fiança bancária, bem como qualquer outra sorte de garantias colaterais, como, por
exemplo, a cessão de um maior volume de ativos do que o necessário a fazer frente ao
numerário antecipado na operação.
Já a utilização da propriedade fiduciária prevista no Código Civil de 2002, a seu
turno, não se mostra a mais recomendável quando se trata da conjugação de instrumentos
jurídicos para realização de uma securitização de créditos, tendo em vista que, mesmo se tiver
como objeto bens infungíveis, a cessionária não contaria com a ação de busca e apreensão, ou
com o procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, se necessário fosse, mas tão somente com
uma ação de reintegração de posse.
Com relação à segunda etapa da operação, com a emissão de títulos e o vínculo que
passa a se formar entre investidores e a sociedade de propósito exclusivo, a questão se
encontra de difícil solução, nos casos em que esta última se preste à realização de mais de
uma operação.
Caso existisse a previsão legal de um negócio fiduciário com finalidade de
administração, os créditos que servem de lastro à operação, indubitavelmente, configurariam
patrimônio separado, a salvo de outros credores.
Mas, infelizmente, a tanto não chega a propriedade fiduciária, como a própria
denominação aponta, para fins de garantia.
Não obstante, ainda assim é de se questionar a real necessidade de edição de lei
específica para o trato, de forma geral, das operações de securitização de créditos.
A Lei nº 9.514/97 criou importantes instrumentos jurídicos ao desenvolvimento da
economia, principalmente daqueles relacionados ao mercado de capitais. Eventuais restrições
de sua aplicação, impostas pelos órgãos reguladores, como, por exemplo, a impossibilidade de
coobrigação da originadora pelos créditos cedidos, em razão da necessidade de maior
fiscalização e controle em alguns setores e atividades, é matéria afeta à política econômica a
ser adotada e, consequentemente, não aponta necessariamente para a deficiência do
ordenamento jurídico pátrio.
A evolução legislativa dos últimos anos revela o reconhecimento da necessidade de
instituir garantias efetivas a fomentar a concessão de crédito e a circulação de riquezas, assim
como busca o desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais, indispensáveis ao
financiamento de projetos, geração de empregos e, portanto, ao crescimento da economia,
inclusive com atração de investidores externos.
Até que sejam devidamente sedimentadas essas recentes inovações, e considerando,
ainda, a constante mutação das necessidades comerciais, pode ser precipitada a edição de lei
156
tendente a regular de forma genérica a operação de securitização de créditos, aplicável a
qualquer tipo de ativos, sob pena de dificultar a fiscalização pelos órgãos reguladores, ou
engessar a operação em relação a modalidades negociais ainda não previstas.
Entretanto, o mesmo não se pode dizer quanto à conveniência de se regulamentar, de
uma vez por todas, os negócios fiduciários para fins de administração, nos moldes já
analisados, em situação análoga ao do trust anglo-saxão.
As operações realizadas no mercado financeiro apontam para a relevância social e
econômica dessa medida, com efetiva necessidade de proteção do público investidor e da
própria economia popular, e uma inovação desse jaez em nada comprometeria a fiscalização
por parte do poder público. Muito pelo contrário, já que a segregação patrimonial daí
decorrente é sinônimo de transparência e segurança. E por não impor de forma obrigatória sua
utilização às operações de securitização de crédito, não haveria risco de comprometer outros
futuros modos de estruturação da operação.
De resto, quanto aos alegados inconvenientes advindos de possível malversação do
negócio fiduciário em sua livre utilização nas mais variadas relações civis e comerciais,
inclusive para camuflar negócios usurários, acredita-se que esse receio não justifica o atraso
na edição da lei em comento, e sequer é a forma adequada de combate à usura.
Não é pela ausência dessa lei que a prática da usura deixou de existir, muito pelo
contrário, é feita por outras vias e contratos, na tentativa de esconder sua prática.
Ademais, em específico no que se refere ao mercado de capitais, há natural regulação
exercida pelo próprio mercado, em conjunto com aquela desempenhada pelos órgãos
reguladores e demais partícipes de uma securitização, dificultando a ocorrência de negócios
fraudulentos.
É de indiscutível relevância uma inovação dessa natureza no ordenamento jurídico
pátrio. A falta de lei sobre o negócio fiduciário, com a conseqüente segregação patrimonial
que encerra, causa prejuízos diários ao país, que se relega a situação de evidente desvantagem
em determinados setores, quando comparado com seus concorrentes da América Latina que já
cuidaram de proporcionar o instrumental adequado à dinâmica e segurança exigidas na
atualidade.
Portanto, conclui-se que apesar de não ser recomendável uma lei que regulamente, de
forma genérica, as operações de securitização de créditos em todas as suas facetas, o mesmo
não se pode dizer quanto à conveniência de se instituir os negócios fiduciários para fins de
administração, com a conseqüente afetação do substrato patrimonial envolvido.
157
Caso tal se desse, de forma similar ao regime fiduciário das leis que versam sobre as
operações imobiliárias, os principais receios quanto à insolvência do originador e da
sociedade de propósito exclusivo restariam mitigados. Lado outro, não estaria presente
qualquer inconveniente de cunho econômico, na medida em que a constituição desse regime
seria uma faculdade, a ser instituída conforme o perfil do negócio, e tampouco impediria a
regulação do mercado nos moldes a serem determinados pelos órgãos competentes.
Acredita-se fortemente que a instituição de negócios fiduciários desse jaez são
sinônimos de transparência e segurança, o que em muito acrescentará para o desenvolvimento
da economia pátria e, em específico, da própria operação de securitização de créditos.
158
REFERÊNCIAS
ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. São Paulo:
Saraiva, 1973.
ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense,
2008.
ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol. I.
Coimbra: Livraria Almedina, 1997.
ARAGÃO NETO, Orlando. O penhor no direito brasileiro. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002.
BANCO CENTRAL. Circular do Banco Central n. 1.979/1991. Dispõe sobre a
captação de recursos externos, com estabelecimento de vínculo a exportações – Res. nº
1.834, de 26.06.91. Disponível em: <http: //www.bcb.gov.br> Acesso em: 28 set.
2009.
BANCO CENTRAL. Circular do Banco Central n. 3.027/2001. Programa Nacional
de Desburocratização. Disponível em: <http: //www.bcb.gov.br> Acesso em: 28 set.
2009.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. O
fideicomisso como Facilitador de Crédito na América do Sul. BNDES Setorial, Rio de
Janeiro, n. 25, p. 175-214, mar. 2007. Disponível em: <http:
//www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/BNDES_pt/Galeria/Arquivos/co
nhecimento/bnset/set2507.pdf> Acesso em: 21 jul. 2009.
BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Validade da transferência da propriedade
imóvel para fins de garantia através de negócio jurídico fiduciário. 4ª Turma, REsp.
57.991-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Diário Oficial da União. Brasília
29 de set. 1997.
BRASIL. Código Civil (2002). Brasília: Senado, 2002.
BRASIL. Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias, Diário Oficial da União, Brasília, 21 dez.
1964.
BRASIL. Lei 4.728, de 14 de julho de 1965. Disciplina o mercado de capitais e
estabelece medidas para o seu desenvolvimento, Diário Oficial da União, Brasília, 16
jul. 1965.
BRASIL. Lei 4.864, de 29 de novembro de 1965. Cria medidas de estímulo à Indústria
de Construção Civil, Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez. 1965.
159
BRASIL. Decreto-Lei 911, de 1º de outubro de 1969. Altera a redação do art. 66, da
lei nº4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de processo sôbre alienação
fiduciária e dá outras providências, Diário Oficial da União, Brasília, 3 out. 1969.
BRASIL. Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, Diário Oficial da União,
Brasília, 9 dez. 1976.
BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por
Ações, Diário Oficial da União, Brasília, 17 dez. 1976 (suplemento).
BRASIL. Lei 8.668, de 25 de junho de 1993. Dispõe sobre a constituição e o regime
tributário dos Fundos de Investimentos Imobiliário e dá outras providências, Diário
Oficial da União, Brasília, 28 jun. 1993.
BRASIL. Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre o Sistema de
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras
providências, Diário Oficial da União, Brasília, 21 nov. 1997 e retificado no DOU de
24 nov. 1997.
BRASIL. Lei 10.198, de 14 de fevereiro de 2001. Dispõe sobre a regulação,
fiscalização e supervisão dos mercados de títulos ou contratos de investimento
coletivo, e dá outras providências, Diário Oficial da União, Brasília, 16 fev. 2001.
BRASIL. Lei 10.214, de 27 de março de 2001. Dispõe sobre a atuação das câmaras e
dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no âmbito do sistema de
pagamentos brasileiro, e dá outras providências, Diário Oficial da União, Brasília, 28
mar. 2001 (edição extra).
BRASIL. Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001. Altera e acrescenta dispositivos na
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre a Sociedade por Ações, e
na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, Diário Oficial da União,
Brasília, 1º nov. 2001.
BRASIL. Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004. Dispõe sobre o patrimônio de afetação
de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito
Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro
de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de
1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências, Diário Oficial
da União, Brasília, 3 ago. 2004.
BRASIL. Medida Provisória nº 221, de 1º de outubro de 2004. Dispõe sobre o
Certificado de Depósito Agropecuário – CDA, o Warrant Agropecuário – WA, dá
nova redação a dispositivos das Leis nº 9.973, de 29 de maio de 2000, que dispõe
sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, 8.427, de 27 de maio de
1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito
rural, e 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de
Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, e altera a
160
taxa de Fiscalização de que trata a Lei nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, Diário
Oficial da União, Brasília, 4 out. 2004.
BRASIL. Lei 11.076, de 30 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Certificado de
Depósito Agropecuário – CDA, o Warrant Agropecuário – WA, o Certificado de
Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, a Letra de Crédito do Agronegócio –
LCA e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA, dá nova redação a
dispositivos das Leis nº 9.973, de 29 de maio de 2000, que dispõe sobre o sistema de
armazenagem dos produtos agropecuários, 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe
sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural, 8.929, de
22 de agosto de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural – CPR, 9.514, de 20 de
novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui
a alienação fiduciária de coisa imóvel, e altera a taxa de Fiscalização de que trata a Lei
nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, e dá outras providências, Diário Oficial da
União, Brasília, 31 dez. 2004.
BRASIL. Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, Diário Oficial da
União, Brasília, 9 fev. 2005 (edição extra).
BRASIL. Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de
Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação
- REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas
Exportadoras – RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos
fiscais para a inovação tecnológica, Diário Oficial da União, Brasília, 22 nov. 2005.
BRÍGIDO, Renato Sampaio. Rating e Risco-País. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, Ano XLIII, n. 134, p. 164-174,
abr./jun. 2004.
CAMINHA, Uinie. Securitização. 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007.
CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 2ª edição, Rio de Janeiro:
Renovar, 2006.
CHAVES, Natália Cristina. Direito Empresarial: Securitização de Crédito, Belo
Horizonte: Del Rey, 2006.
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de
empresas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM n. 205/94. Dispõe
sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento
Imobiliários. Disponível em: <http: //www.cvm.gov.br> Acesso em: 28 set. 2009.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM n. 356/2001.
Regulamenta a constituição e o funcionamento de fundos de investimento em direitos
creditórios e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios. Disponível em: <http: //www.cvm.gov.br> Acesso em: 15 jul.
2009.
161
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM n. 404/2004. Dispõe
sobre o procedimento simplificado de registro e padrões de cláusulas e condições que
devem ser adotados nas escrituras de emissão de debêntures destinadas a negociação
em segmento especial de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão
organizado. Disponível em: <http: //www.cvm.gov.br> Acesso em: 01 set. 2009.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM n. 409/2004. Dispõe
sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações
dos fundos de investimento. Disponível em: <http: //www.cvm.gov.br> Acesso em: 14
ago. 2009.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução CVM n. 472/2008. Dispõe
sobre a constituição, a administração, o funcionamento, a oferta pública de
distribuição de cotas e a divulgação de informações dos Fundos de Investimento
Imobiliário - FII. Disponível em: <http: //www.cvm.gov.br> Acesso em: 27 ago. 2009.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução CMN n. 1.834/1991. Faculta a
captação de recursos no exterior, com estabelecimento de vínculo a exportações.
Disponível em: <http: //www.bcb.gov.br> Acesso em: 18 jun. 2009.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução CMN n. 2.026/1993. Faculta a
aquisição e a retrocessão de direitos creditórios oriundos de operações comerciais ou
de prestação de serviços pelas instituições que especifica. Disponível em: <http:
//www.bcb.gov.br> Acesso em: 27 ago. 2009.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução CMN n. 2.248/1996. Dispõe
sobre aplicação de recursos de capital estrangeiro em quotas de Fundos de
Investimento Imobiliário, constituídos de acordo com a Instrução CVM nº 205, de
14.01.94, e regulamentação subseqüente. Disponível em: <http: //www.bcb.gov.br>
Acesso em: 13 set. 2009.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução CMN n. 2.493/1998.
Estabelece condições para a cessão de créditos a sociedades anônimas de objeto
exclusivo. Disponível em: <http: //www.bcb.gov.br> Acesso em: 27 ago. 2009.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução CMN n. 2.517/1998.
Considera como valores mobiliários os Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI,
de que trata o art. 6º da Lei nº 9.514, de 20.11.97. Disponível em: <http:
//www.bcb.gov.br> Acesso em: 17 jun. 2009.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução CMN n. 2.686/2000.
Estabelece condições para a cessão de créditos a sociedades anônimas de objeto
exclusivo e a companhias securitizadoras de créditos imobiliários. Disponível em:
<http: //www.bcb.gov.br> Acesso em: 18 set. 2009.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução CMN n. 2.907/2001. Autoriza
a constituição e o funcionamento de fundos de investimento em direitos creditórios e
de fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Disponível em: <http: //www.bcb.gov.br> Acesso em: 15 jul. 2009.
162
COSTA, Judith H. Martins. Os negócios fiduciários. Considerações sobre a
possibilidade de acolhimento do “trust” no Direito brasileiro. Revista dos
Tribunais, ano 79, vol. 657, p. 37-50, jul./1990.
CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito romano: o direito romano e o direito
civil brasileiro no Novo Código Civil. 30ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
DILORENZO, Thomas J. As raízes da crise imobiliária. Disponível em
<http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=124>. Acesso em: 01 ago. 2009.
EFC Engenheiros Financeiros & Consultores. Operações financeiras de
securitização de recebíveis e de fundos de direitos creditórios: conceitos e
aplicações para financiamento de exportações, construção habitacional,
rodoaneis, saneamento empresarial, alongamento de passivos caros, etc. Diponível
em
<http://www.efc.com.br/docs/SECURITIZACAO_DE_RECEBIVEIS.pdf>.
Acesso em: 10 mar. 2009.
FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006.
FAGUNDES, João Paulo F. A. Os fundos de investimento em direitos creditórios à
luz das alterações promovidas pela instrução CVM 393. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, Ano XLII, n. 132, p. 96105, out./nov. 2003.
FERNANDES, Jean Carlos. Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito. A Posição do
Credor Fiduciário na Recuperação Judicial da Empresa. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2009.
FERRARA, Francisco. A Simulação dos negócios jurídicos. Tradução de A. Bossa.
São Paulo: Saraiva & Cia., 1939.
FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 11ª ed. Revista, atualizada e ampliada.
Belo Horizonte: Del Rey, 2008.
GAGGINI, Fernando Schwarz. Securitização de Recebíveis. São Paulo: Universitária
de Direito, 2003.
GOMES, Orlando. Contrato de fidúcia (“trust”). Revista Forense. Rio de Janeiro,
vol. 211, p. 11-20, jul./set. 1965.
HUDSON, Michael. Salvar o Freddie Mac e a Fanny Mae é má política
econômica. Disponível em <http://resistir.info/crise/hudson_15jul08.html>. Acesso
em: 01 ago.2009.
KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradução de Samuel Rodrigues e Ferdinand
Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.
163
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. O conceito de “security” no direito norteamericano e o conceito análogo no direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 14, p.
41-60, 1975.
LIMA, Otto de Souza. Negócio Fiduciário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1962.
MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil. São Paulo: Max Limonad,
1970.
MARTIN, Antônio. Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei
11.101/2005. In: SOUZA JÚNIOR, F. S. de; PITOMBO, A. S. M. (Coord.). São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro.
Vol. VI, 6ª edição. , Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III, 2ª
edição. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1954.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo V, 3ª
edição. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1955.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo LII.
Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1966.
MOODY’S INVESTORS SERVICE. Desmistificando a Securitização. Disponível
em:
<http://www.moddys.com.br/brasil/pdf/desmistificando%20securitizacao.pdf>
Acesso em: 10 mar. 2009.
NOGUEIRA, André Carvalho. Propriedade Fiduciária em garantia: o sistema
dicotômico da propriedade no Brasil. Revista de Direito Bancário e do Mercado de
Capitais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Ano 11, n. 39, p. 56-78, jan./mar.
2008.
PENTEADO JR., Cassio Martins C. A securitização de recebíveis de créditos
gerados em operações dos bancos – a Resolução n. 2.493 em sua perspectiva
jurídica. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo,
Ano XXXVI, n. 111, p. 120-124, jul./set. 1998.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. I, 6ª edição, Rio de
Janeiro: Forense, 1994.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. II, 14ª edição, Rio
de Janeiro: Forense, 1995.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. III, 10ª edição, Rio
de Janeiro: Forense, 1975.
164
PORTUGAL. Decreto-Lei 453, de 5 de novembro de 1999. Estabelece o regime das
cessões de créditos para efeitos de titularização e regula a constituição e
funcionamento dos fundos de titularização de créditos, das sociedades de titularização
dos créditos e das sociedades gestoras daqueles fundos, Diário da República, 1ª Série
A, nº 258, pág. 7682, 05 nov. 1999.
RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia Fiduciária: direito e ações. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1975.
RODRIGUES. Silvio. Direito civil. Vol. II, 23ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995.
STUBER, Walter Douglas. A legitimidade do “trust” no Brasil. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, Ano XXVIII, n. 76, p. 103108, out./dez. 1989.
SALOMÃO NETO, Eduardo. O Trust e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1996.
TEPEDINO, Ricardo. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de. ABRÃO, Carlos H.
(Coord.) Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2007.
THORNTON, Mark. A bolha imobiliária em 4 etapas. Disponível em
<http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=168> Acesso em: 01 ago. 2009.
WALD, Arnoldo. Da natureza Jurídica do fundo imobiliário. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, Ano XXIX, n. 80, p. 15-23,
out./dez. 1990.
WALD, Arnoldo. Obrigações e contratos. 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1955.
WARDE, Ibrahim. Fannie Mae e Freddie Mac vão para o brejo. Disponível em
<http://diplo.uol.com.br/2008-10,a2656> . Acesso em: 01 ago. 2009.