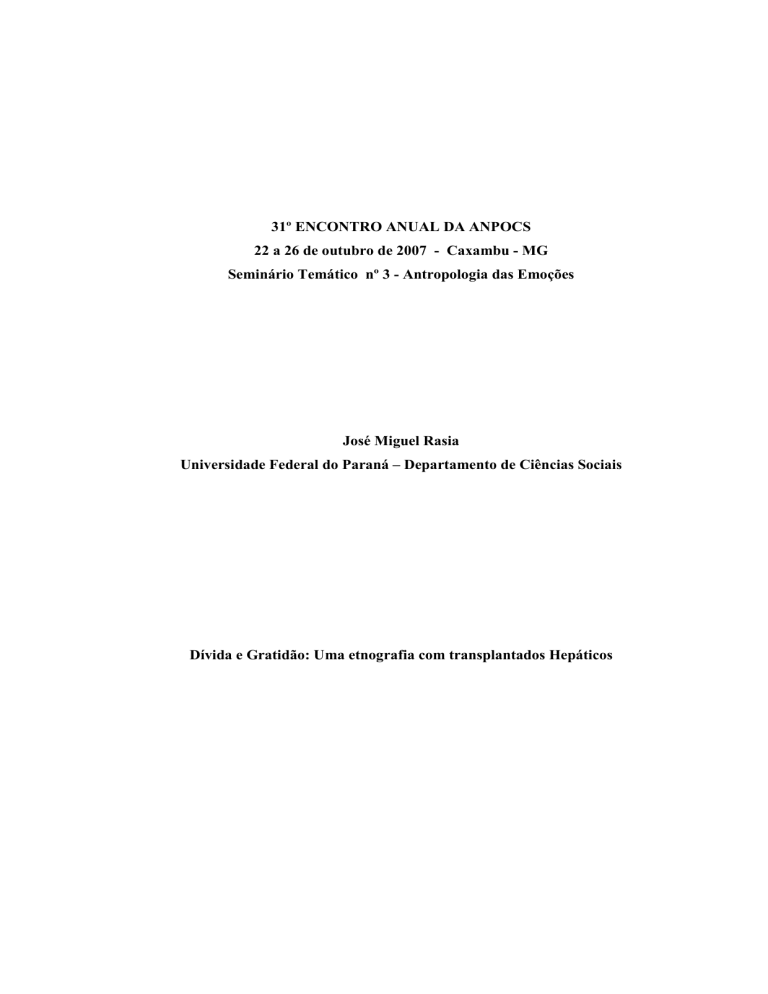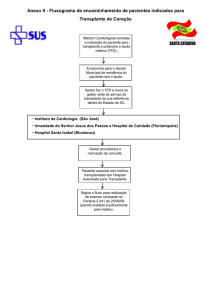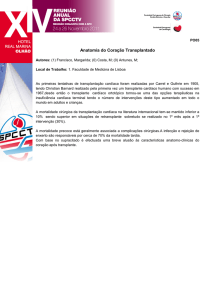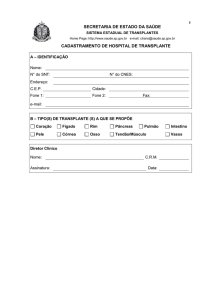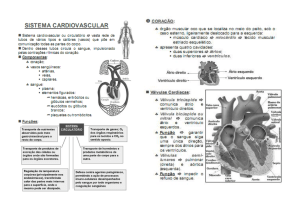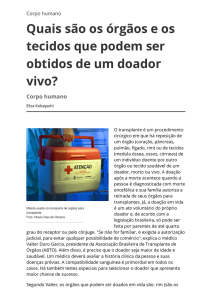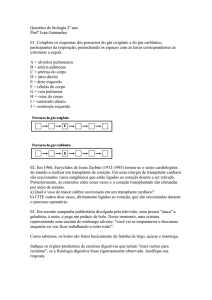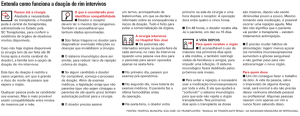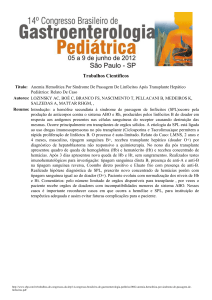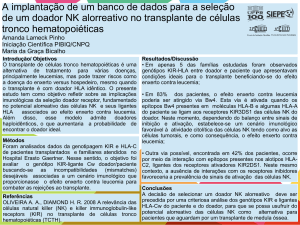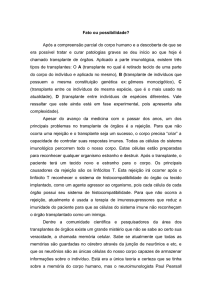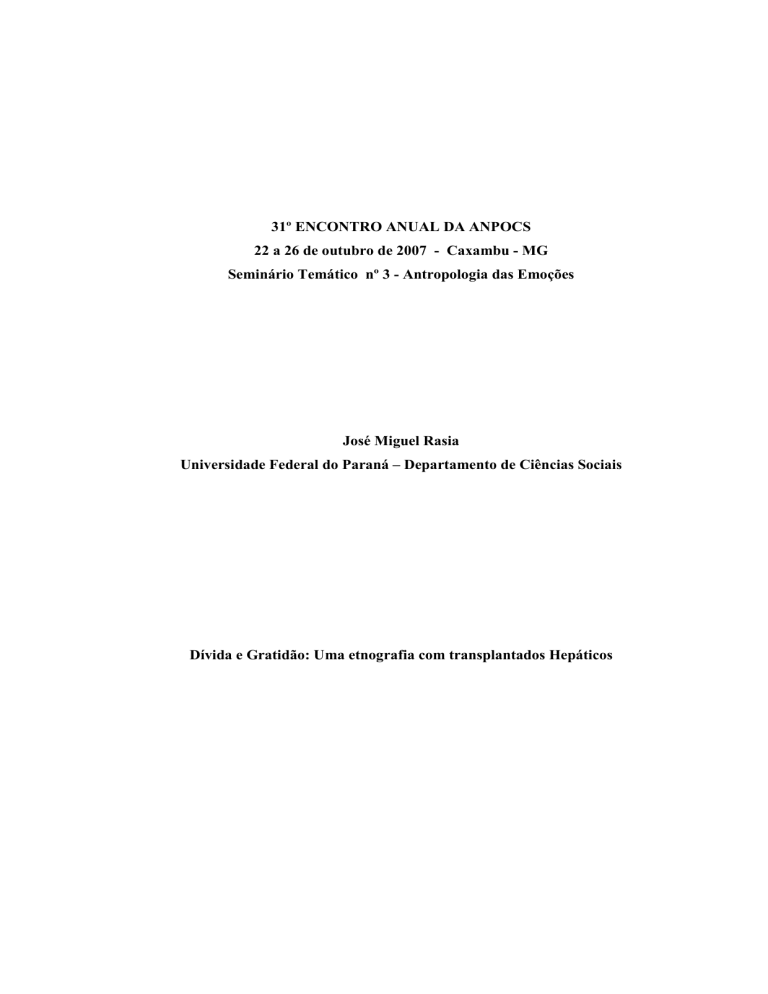
31º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS
22 a 26 de outubro de 2007 - Caxambu - MG
Seminário Temático nº 3 - Antropologia das Emoções
José Miguel Rasia
Universidade Federal do Paraná – Departamento de Ciências Sociais
Dívida e Gratidão: Uma etnografia com transplantados Hepáticos
Dívida e Gratidão: Uma Etnografia com Trasnpalntados Hepáticos
José Miguel Rasia
D.C.S.-HC-UFPR
[email protected]
Introdução
Esta comunicação é parte de um conjunto de pesquisas1 que estamos realizando com
transplantados hepáticos, do Serviço de Transplante Hepático, do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná. As pesquisas em questão tomam como foco teórico
fundamental para a compreensão das questões envolvidas na doação e no transplante de
órgãos o Ensaio sobre a Dádiva de Mauss (1923/4) e os trabalhos que a reinterpretam na
contemporaneidade.
Os dados a que se refere esta comunicação foram extraídos da pesquisa sob minha
responsabilidade, Itinerário Terapêutico, Dádiva e Identidade entre Transplantados
Hepáticos. O objeto da pesquisa é a compreensão da atribuição de significados para os
processos de doação de órgãos e do transplante, entre transplantados hepáticos, e, como
esta atribuição está determinada pelo itinerário terapêutico, a forma como se dá a doação e
a produção de uma nova identidade: a de sujeito transplantado.
O método utilizado consiste na reconstrução etnográfica da forma como os
transplantados se situam diante do processo de transplante, compreendido desde o
diagnóstico de sua necessidade, ou seja, a de ser um sujeito portador de uma doença
hepática grave, até o período do pós-transplante. Os sujeitos – homens e mulheres – aos
quais se refere a etnografia são doentes hepáticos, que haviam realizado transplante a pelo
1
O conjunto de pesquisas a que me refiro compreende: J.M.Rasia: Itinerário terapêutico, dádiva e identidade
entre transplantados hepáticos; C. T. Lazzaretti: O doador no transplante hepático inter-vivos e S. M. Maciel
de Lima: Subjetividade médica e uso de alta tecnologia: o caso do transplante hepático.
menos três meses antes do início do trabalho de campo. Não foram tomados sujeitos no
pós-transplante imediato pelo fato destes estarem muito inseguros com o processo de
recuperação e suas preocupações voltarem-se essencialmente para as possibilidades de
rejeição do enxerto ou de outras intercorrências. Nesse sentido, saber deles sobre o objeto
da pesquisa apresentou-se como uma impossibilidade. Os dados coletados e os resultados
são ainda parciais, pois o trabalho de campo ainda está em andamento, mas já se pode
adiantar algumas conclusões. O que se apresenta aqui são resultados provisórios do
trabalho realizado entre abril de 2006 e março de 2007.
2- Complexidade e Fragilidade: Pacientes e Equipe de Cuidados
A primeira questão que precisamos considerar quando se trata de doentes hepáticos
graves, candidatos a transplantes e transplantados é o alto grau de sofisticação da tecnologia
empregada no processo de transplante. Isto compreende não só o ato cirúrgico através do
qual se enxerta, via de regra, o órgão ou parte deste, mas também os exames para
determinar a gravidade da doença e acompanhar sua evolução, finalizando com os cuidados
médicos e o auto-cuidado após o transplante. No tempo que se segue ao transplante os
cuidados são fundamentais para o sucesso da cirurgia. E aqui se apresenta a primeira
questão no tocante ao transplante, que por ser um ato de alta complexidade do ponto de
vista médico, exige cuidados redobrados da equipe de cuidadores (médicos responsáveis
pelo acompanhamento clínico, residentes, enfermeiros e psicólogos) dentro do hospital, do
próprio transplantado e de sua família na volta para casa.
Do ponto de vista dos pacientes ainda observamos um outro problema grave para
aqueles que dependem exclusivamente do sistema público de saúde: a dificuldade e a
demora na
realização de exames, o que implica em longas esperas e a dificuldade que
periodicamente se apresenta para conseguir medicamentos. Em alguns momentos, a falta de
medicamentos retrovirais e imunossupressores no sistema público de saúde, põe em risco
pacientes que esperam por um transplante ou estão se recuperando da cirurgia e também,
pacientes já transplantados, que procuram manter boas condições de vida.
Uma das questões que mais chama atenção é a fragilidade emocional do
transplantado. A equipe hospitalar e a família precisam estar atentas para atender o
paciente, não só no que diz respeito ao medicamento e outros cuidados típicos das cirurgias
com alta complexidade, mas também dar-lhe suporte para as questões subjetivas que o
transplante suscita. Assim, a complexidade dos cuidados acompanha, pari passu, a
complexidade do ato cirúrgico. A racionalidade médica encontra sua contra parte nas
vicissitudes de um pós-cirúrgico delicado.
No caso do HC permissões especiais são dadas aos familiares para acompanhamento
do paciente durante a internação no pós-transplante imediato. A maior dificuldade
observada diz respeito à constituição das equipes de cuidados, em geral, muito pequenas e
assoberbadas de trabalho, tendo que tomar conta de muitos pacientes ao mesmo tempo. E
mais, pacientes em condições muito diversas: pacientes no pós-transplante imediato,
pacientes re-internados por alguma intercorrência - rejeição e processos infecciosos estão
dentre as mais comuns -, exigindo cuidados a partir de protocolos específicos. O que se
observa também é que a composição das equipes tem um tamanho aquém do ideal ou que
muitas vezes o adoecimento freqüente dos cuidadores os afasta do trabalho por longos
períodos. Isto resulta num acréscimo de trabalho para aqueles que permanecem trabalhando
e, obviamente, pode implicar na redução da qualidade dos cuidados. O volume de trabalho
e o nível de stress a que continuamente estão submetidos os cuidadores podem ser fatores
de risco para o sucesso do transplante. A racionalidade implicada no ato cirúrgico, por
vezes não tem seu correspondente no nível dos cuidados. Não que falte preparação técnica
ou dedicação dos cuidadores, mas pela insuficiência numérica destes em relação à carga de
trabalho a que estão submetidos e ao tipo de demanda que o transplantado representa.
Se por um lado, está posta na medicina hospitalar a questão da humanização dos
cuidados, por outro as equipes que assumem para si a responsabilidade sobre o cuidado do
transplantado, não são cuidadas com a intensidade devida.
O que observamos é que se o discurso da humanização da relação médico- paciente,
corrente no discurso médico contemporâneo, os limites de sua realização na prática médica
concreta ainda estão longe de serem superados de forma satisfatória. No caso que estamos
estudando não existe uma política de cuidados para dar conta das questões que os
cuidadores enfrentam ao lidarem constantemente com pacientes em situação de tal
dimensão: doença grave, risco de morte e complexidade cirúrgica.
As tensões que se concentram do lado dos cuidadores, nem sempre têm o melhor
destino. E como já dissemos, produzem muitas vezes longos afastamentos e constantes
ausências do trabalho. Além do mais as condições oferecidas pelo hospital no que diz
respeito a espaço para interações e convívio social entre os cuidadores não existe. A
unidade de internamento, onde os cuidadores atuam, não possui nenhum lugar específico
para uma pausa para o café, por exemplo. Foi feita uma reforma na unidade transformando
um pequeno espaço em cozinha e no fundo desta uma porta que dá num corredor estreito,
conduz a um banheiro com um vazo sanitário e uma pequena pia. O balcão no qual de fato
se pode lavar as mãos, dentro dos padrões exigidos de higiene, se situa numa área de
circulação da unidade. Na medida em que não se tem um espaço adequado para um
intervalo e um lanche é comum encontrar cuidadores tomando um café ou fazendo um
pequeno lanche na sala de enfermagem ou mesmo na sala na qual se analisam os
prontuários, se comentam os casos e se tomam decisões sobre as condutas clínicas para
cada paciente.
Assim, as tensões que vão se acumulando no trabalho só são resolvidas
individualmente pelas estratégias de defesa que cada um possa encontrar. E na medida do
seu acúmulo muitas vezes o adoecimento se manifesta como resultado dessas tensões
sobre o corpo dos cuidadores. Neste sentido, podemos afirmar que ao conjunto de medidas
de cuidados que se põe em prática, no que concerne aos pacientes, não corresponde a
nenhuma medida mais efetiva em relação aos próprios cuidadores. O discurso da
humanização no interior da prática médica e do hospital e as exigências dele decorrentes
revelam uma decalagem entre o cuidado do outro e o cuidado de si.
A noção de cuidado de si perde-se no emaranhado das solicitações quase sempre
urgentes dos pacientes. Há uma ética do cuidado, constituída entre os cuidadores, para a
qual as demandas do paciente são sempre soberanas. Ou seja, são elas que conduzem e
imprimem o ritmo de funcionamento da rotina entre os cuidadores. Assim, poderíamos
pensar com Bourdieu (2006), que o que prevalece aqui é um habitus do cuidado, que se
desdobra nas mínimas atividades que cada cuidador realiza. Tudo é regrado pelas normas
que regem o funcionamento de uma unidade médica de alta complexidade. O que estamos
dizendo, é que não há espaço para o improviso, nem para um saber particular do sujeito que
cuida. Com isto, não estamos afirmando que exista uma ritualização burocrática que
destitui de significado a atividade de cuidar. Ao contrário, o que existe é uma ritualização
que reforça a cada atividade, a cada dia, o significado do cuidado em seus mínimos
detalhes. Por exemplo, coisas tão simples como a higiene do paciente, assume um caráter
ritual, no sentido de que se não for feita de acordo com certo protocolo, pode comprometer,
não só o sucesso do transplante, mas a vida do paciente. Os perigos da contaminação
(DOUGLAS, 1976) que se listam entre as grandes ameaças externas para pacientes tão
delicados, estão incorporados no conjunto daquilo que se constitui no habitus dos
cuidadores. O uso de sapatilhas, máscaras, luvas e jalecos de proteção, na maioria das
situações, se constituem numa extensão do corpo do cuidador. Todo este aparato de
proteção, segundo os cuidadores mais que uma regra da boa prática dos cuidados e do dever
de proteger, os livra do medo e dos perigos de contaminar um paciente. Assim, para além
das funções práticas, o uso do material de proteção, aponta para uma dimensão imaginária,
qual seja a de afastar de si a responsabilidade por algum procedimento que possa ter
contaminado o paciente. Ao pensarem nesta responsabilidade, os cuidadores não estão
senão marcando o espaço da tensão que vivenciam no cotidiano, pois como dizem, “não
adianta fazer uma cirurgia tão complexa e com tantos riscos se depois não tomarmos o
máximo de cuidados. Sem isto, tudo o que foi feito pode ser perdido2”.
Um ato tão complexo como a cirurgia para o enxerto só atinge, de fato, os resultados
esperados por todos, se a equipe responsável pelos cuidados estiver “muito afinada com os
cirurgiões”, na compreensão de todos os aspectos que envolvem o transplante e que
perdura, mesmo depois do pós-transplante imediato. Cada vez que um transplantado volta
para o serviço de transplante, a equipe toda se sensibiliza com sua presença. Quando o
paciente está bem e vem para a rotina programada, todos fazem questão de encontrá-lo, de
saber como está. Se não podem vê-lo, os que o vêem transmitem aos outros as notícias do
estado de saúde do paciente. Nessa circulação da informação, são comuns as manifestações
de sentimentos de gratificação e recompensa pelo trabalho realizado. O encontro com um
transplantado em bom estado de saúde reatuliza, para todos os vínculos simbólicos
desenvolvidos durante o pré-transplante e o pós-transplante. Se poderia pensar, que nestas
situações estamos diante de um fenômeno que se aproxima da “expressão obrigatória de
2
Todas os trechos entre aspas e em itálico nesta comunicação, são parte de falas dos informantes, sejam eles
da equipe de cuidados ou pacientes.
sentimento”(MAUSS,1999). Esta expressão tem aqui um caráter mutuo. Ou seja, o paciente
exprime sua gratidão aos que o cuidaram, “que o livraram de uma morte com dia marcado
para acontecer.” Do ponto de vista dos cuidadores o que se reforça é o sentimento do
“esforço correspondido pelo paciente que também sabe se cuidar depois que saiu do
hospital” e ainda, de um vínculo que nomeiam como familiar. É corrente entre os
cuidadores o sentimento de que pertencer à unidade de transplante é “fazer parte de uma
mesma família”
O sentimento de pertencimento a uma mesma família produz certa identidade social
para os cuidadores e uma filiação simbólica a uma instituição; funciona ainda como
elemento de distinção na comparação que fazem das atividades desenvolvidas em outras
unidades ou serviços médicos do hospital, não tão complexas. Estes sentimentos, porém,
não desfazem o sentido da hierarquia entre os cuidadores. Encontramos sempre no topo
desta os médicos responsáveis pela clínica, a psicóloga do serviço, os residentes R3 da
unidade, os residentes R2 e R1, a enfermeira chefe, os outros enfermeiros, os técnicos de
enfermagem e os funcionários burocráticos.
Para efeitos dessa hierarquização, embora não tenhamos colocado os cirurgiões pela
preocupação em mostrar as posições ocupadas pelos responsáveis pelos cuidados, a
etnografia nos mostrou, que para além das funções de direção da unidade, o trabalho do
cirurgião, considerado altamente complexo pelos demais membros da unidade, o coloca na
posição hierárquica mais elevada na unidade.
Além dessas questões discutidas brevemente aqui, observamos ainda que na equipe
predomina um sentimento de solidariedade entre seus membros. A divisão do trabalho
reforça entre eles a visão de que o sucesso do transplante é de responsabilidade de todos.
Se por um lado, podemos observar a existência desse sentimento, por outro, muitas vezes
também percebemos manifestações de descontentamento e de reprovação dentre os ao
cuidadores. Não se pode pensar que toda a equipe funcione coesa e sem conflitos. Muitas
vezes os conflitos tem origem em situações muito simples, como o julgamento de um dos
membros da equipe que se acha prejudicado por estar trabalhando mais em determinado
momento ou ter mais atribuições que o outro, numa mesma posição hierárquica. Ao nos
aprofundarmos na observação foi possível perceber que o conflito apresentado sob a forma
de queixa, está muitas vezes relacionado com situações de tensão geradas por um paciente
que teve seu estado piorado ou pela ocorrência de um óbito, ou ainda a falta de
medicamentos em determinados momentos. Em outros, se pode observar também que a
situação conflituosa teve origem em situações domésticas como desentendimentos com o
cônjuge, a falta de dinheiro, problemas com os filhos etc...
Assim, as situações de conflito que puderam ser observadas estão sempre
relacionadas às condições de ordem material ou subjetiva dos envolvidos. A principal
causa, porém diz respeito ao estado de um paciente que não apresenta melhoras em seu
estado. O ambiente ao tornar-se tenso, neste caso, contamina os cuidadores, que num
circuito de culpabilização e deslocamentos, atribuem a outro cuidador a causa do paciente
não estar bem ou não ter apresentado melhoras.
Não se pode perder de vista também que muitos dentre os cuidadores disputam a
atenção e o amor do paciente e seus familiares. Querem ser reconhecidos como os
principais credores pelo bom estado do paciente e o sucesso do transplante.
Assim, numa situação que compreende uma prática médica de alta complexidade
técnica, de muita especialização e do emprego de cuidados e medicação de ponta, o que
podemos observar foi a presença em alto grau de pontos de muita fragilidade. Ou seja,
mesmo que muitos dos
fatores envolvidos neste tipo de prática médica possam ser
controlados, ressaltamos dentre os que escapam à racionalidade da medicina
contemporânea aqueles que dizem respeito à subjetividade dos envolvidos nesse tipo de
tratamento.
3– Doar e Receber: Quem Pode3?
Quando falamos de transplante, as decisões consentir com a cirurgia, doar e aceitar a
doação não é um ato de vontade pura e simplesmente. É sempre uma decisão conjunta
envolvendo o médico, o doador e o receptor. Para o entendimento do ato de doação,
partimos do modelo da troca simbólica desenvolvido por Mauss (1923/24), mas tivemos
que introduzir nele um elemento novo, ou seja, o fiador simbólico da doação. A doação
para o transplante só se efetiva se passar pela aprovação da equipe médica. Isto compreende
a avaliação clínica e os exames de compatibilidade, passando pela escuta analítica da
3
Os dados referentes aos doadores aqui mencionados foram coletados na pesquisa que vem sendo realizada
por Claire Lazzaretti, citada na nota 1 desta comunicação.
psicóloga da equipe. Portanto, as questões de ordem subjetivas, como os afetos, que podem
aproximar doador e receptor, sempre são “filtradas” pelo saber médico. Sempre que um
candidato a doador precisa ser rejeitado, independentemente do motivo, o que se apresenta
como justificativa para o candidato a doador e ao receptor “fica” no âmbito da razão
médica: incompatibilidade de ordem clínica. Mesmo quando os motivos são de ordem
subjetiva, como a obrigação moral de doar, a satisfação de uma expectativa familiar para
quem se erige em doador ou a valorização heróica do ato de doação, todos os motivos para
descarte de um doador, aparecem sempre como clínicos e como tais são comunicados pelo
responsável da equipe de transplantes ao par doador-receptor. Em nenhuma comunicação
de incompatibilidade observamos a presença de motivos subjetivos para tanto. Esta prática
é utilizada para minimizar os possíveis danos produzidos por uma comunicação que
pudesse prejudicar a relação entre doador e receptor, o lugar ocupado pelo doador na
estrutura familiar e sua posição na configuração social a qual pertencem.
A confiança que doador e receptor, nos transplantes com doador vivo, possuem na
equipe médica, não é suficiente para as garantias que necessitam diante do risco que se
propuseram correr. Mesmo sabendo que a grande maioria dos transplantes já feitos obtivera
êxito, a confiança na racionalidade técnica do procedimento médico, na competência da
equipe, não é suficiente para tranqüilizá-los e garantir que tudo vai correr bem. O que se
pode afirmar ainda sobre este ponto é que sempre que a vida está em jogo, a razão por si só
não consegue dar ao doador e ao receptor, todas as garantias de que eles necessitam. O
conhecimento dos riscos que correm, pois ambos se submetem a procedimentos cirúrgicos,
para um e outro aponta sempre para a possibilidade de que a racionalidade do ato está
marcada pela possibilidade da “falha”. Nestas condições a invocação da proteção divina é
uma forma de revestir de significados, situações que tocam no limite da existência humana,
remetendo à condição de mortalidade.
Para ambos a razão não basta nem é compreendida como tendo o poder de sustentar
algo tão complexo e distante de sua compreensão como o transplante, apesar de muito
desejado. Neste sentido o que parece funcionar no processo de transplante não é só o saber
e o discurso médicos, fundados na razão, mas entra na sustentação do ato, e posteriormente
na explicação do sucesso, um elemento mágico representado pela intercessão divina:
“Agradeço muito aos médicos, pois devo minha vida a eles, mas não esqueço de agradecer
também a Deus, porque se ele não quisesse os médicos nada poderiam”.
Assim, estamos diante de uma decalagem entre a longa convivência com exames
sofisticados que se repetem periodicamente, a doença grave que por vezes parece insolúvel,
o saber médico que nomeia, classifica e dá sentido ao que se passa no corpo do candidato a
doador e ao candidato a transplante e as explicações mescladas de razão e fé que possuem.
Quando a intervenção mais radical no corpo se faz necessária e está em vias de se
concretizar pela cirurgia, a razão médica e todo seu corolário clínico não são suficientes
para sustentá-los diante da iminência do ato:
“O senhor não tenha medo, diz uma mulher transplantada a um candidato a
transplante sentado a seu lado na sala do ambulatório. Tem que ter fé em Deus. Eu quando
vim pra cá para fazer a cirurgia, parecia que não ia sobreviver. Era isso o que mais me
preocupava. A doutora dizia para eu parar com isso, que ia dar tudo certo. Mas eu quase
não acreditava que era possível sobreviver. Por isto digo ao senhor: tem que ter fé em
Deus, que tudo dá certo”.
Muitas vezes irrompe no receptor um medo paralisante na iminência do transplante,
como pode ser observado neste relato:
“Na véspera da viagem para cá (a paciente não reside em Curitiba) para o
transplante briguei com todos em casa. Briguei com minha filha que vinha para ser
doadora. Não vou!...Não vou...Não quero ir. Não quero mais fazer esse transplante, quero
morrer em paz, não vai adiantar mesmo!
Minha filha disse: tá bom, a gente não vai.
Pode rasgar a passagem, eu disse. Não vou mais fazer esse transplante!
Pois não é que ela rasgou as passagens na minha frente. Aí eu me acalmei.
De tarde ela me chamou e disse: Mãe eu rasguei as passagens velhas. E então, ela
perguntou, vamos para Curitiba?
Aí eu vi que ela estava muito decidida.
- A gente vai, eu disse. A gente entrega na mão de Deus e vai.
Foi tão engraçado porque eu fiquei tão calma...
Em outras situações o medo que toma conta dos pacientes os leva a desistir do
transplante na hora em que são chamados e assim adiam a cirurgia por algum tempo. Este
tempo talvez não se configura num tempo qualquer. Mas é o tempo que necessitam para
elaborar subjetivamente o que possa se passar com eles durante a cirurgia:
“Eu vou lhe contar que quando ligaram do hospital, dizendo que era para vir que
tinham conseguido um fígado para mim, eu disse não, pode passar pra outro, eu não vou.
Passaram três meses me ligaram de novo e eu repeti: Não, podem passar para outro.
Só vim para a cirurgia na terceira vez que me chamaram. Na verdade eu amarelei
duas vezes. Mas não sou só eu. Todo mundo na última hora fica com medo da cirurgia”.
A equipe médica lida com esse tipo de situação dando mais tempo para o paciente
decidir. Quando se trata de transplante com órgão de cadáver o candidato fica na espera e é
chamado outro candidato. Como dissemos, há um tempo no qual é possível realizar o
transplante. Em todas as situações os pacientes que desistiram uma ou mais vezes quando
chamados apontaram sempre que não estavam suficientemente preparados para o
transplante e que fizeram o que era certo naquele momento. Não explicitam de que estão
falando quando dizem que não estão preparados para o transplante, mas podemos levantar a
hipótese de que estão falando de condições emocionais para enfrentar, não só a cirurgia,
mas a vida como transplantados. Mesmo sabendo que suas condições gerais melhoram, que
sua vida ganha em qualidade, admitem que é difícil adaptar-se ao ritmo impresso pela nova
condição. Ficam muito assustados com o fato de saberem que terão que tomar
medicamentos e fazer acompanhamento médico para o resto de suas vidas.
Para a equipe médica embora cada transplante seja único, existe um cálculo do risco
que assegura o sucesso, não só do ato cirúrgico, mas do transplante como um todo. Mesmo
as intercorrências, quando acontecem, estão na ordem do previsível e dos fatores a serem
controlados. Esta certeza se deve ao grau de desenvolvimento da medicina contemporânea
e ao conjunto de conhecimentos acumulado sobre transplante; deve-se também considerar a
sofisticação técnica a que se chegou na medicina contemporânea, quer do ponto de vista
dos exames apurados para o estabelecimento de diagnóstico e acompanhamento da
evolução da doença, quer do ponto de vista dos recursos farmacológicos e também das
técnicas cirúrgicas. Nesse sentido para explicar os diferentes níveis de compreensão que a
equipe médica possui do ato de transplantar e a explicação dada para este mesmo ato ao
paciente, repousam não só no uso da razão, mas também no nível de complexidade a que
chegou o saber e o fazer médicos na contemporaneidade. É o conhecimento e seu domínio,
que tornam possíveis ao médico este tipo de intervenção.
4 – A Expressão Simbólica do Transplante
No transplante hepático dominam duas formas: o transplante inter-vivos em que o
receptor recebe parte do fígado do doador vivo e o transplante com doador cadáver, no qual
o receptor recebe, via de regra, o órgão inteiro.
Tanto num caso como no outro o nível de complexidade do ato cirúrgico exige um
alto grau de habilidade técnica da equipe. No caso de transplante inter-vivos existe uma
peculiaridade que deve ser ressaltada: a retirada de parte do órgão do doador e seu enxerto
no receptor são cirurgias que ocorrem simultaneamente. Isto comporta dois corpos “lado a
lado”, e como já observou Lazzaretti (2002), analisando transplantados renais inter-vivos a
troca se faz corpo a corpo.
O nível de complexidade da cirurgia de retirada é um pouco mais simples do que o da
implantação do enxerto. Porém, para os transplantados inter-vivos, esta simultaneidade e o
fato de doador e receptor estarem passando no mesmo momento por um ato cirúrgico na
situação lado a lado, representa “uma comunhão de sentimentos, a divisão de um mesmo
espaço e o compartilhar de um mesmo sofrimento”.
Neste sentido, o tempo imediato que antecede a cirurgia é um tempo compartilhado.
Doador e receptor ficam próximos, embora em quartos separados e, em geral, na véspera da
cirurgia à noite “vão até a capela do hospital, ou no próprio quarto rezam juntos e pedem
proteção divina para que tudo corra bem com os dois”. Nas palavras de uma informante:
“A gente ficou conversando até tarde, eu e minha filha, perguntei mais uma vez se de
fato ela estava certa do que estava se dispondo fazer, correndo risco para me dar parte de
seu fígado. Aí ela me respondeu que não tinha a menor dúvida, que queria doar, que daria
a vida por mim. Eu continuei e disse se tu tens algum medo, a gente ainda pode desistir.
Ela respondeu com firmeza que sabia o que estava fazendo, e que nada aconteceria nem
para mim nem para ela. Depois a gente se deu às mãos, rezamos e pedimos a Deus para
que tudo corresse bem. Pedimos que Deus guiasse as mãos dos médicos...E como o senhor
vê, hoje estou curada e minha filha está muito bem já terminou a Faculdade...E eu peço
que Deus não pare de abençoá-la, por tudo que ela fez por mim.”
Deste depoimento tomarei dois elementos para comentar. O primeiro deles é o fato da
mãe (receptora) e filha (doadora) reconhecerem-se em situação de igualdade quanto ao
risco representado pela cirurgia e o segundo, o fato das duas pedirem a Deus que guiasse a
mão dos médicos durante a cirurgia.
O primeiro elemento nos permite pensar que a situação de prontidão para a doar e
receber estavam efetivamente consolidadas entre mãe e filha. E que a mãe só aceitara
receber a doação porque entende que a filha reafirma horas antes da cirurgia que estava
absolutamente certa do que estava fazendo. A disposição para doar e receber é reafirmada
neste momento por ambas. Ou seja, um novo laço, que não somente o de mãe e filha já
estava inaugurado, laço este ancorado na dádiva, estabelecido bem antes da troca se
realizar. Ou melhor, se estabelece como condição para que a troca se realize.
Para tornar mais claro o que estamos afirmando sobre a fundação do laço entre a mãe
receptora e a filha doadora, neste caso, retomaremos um pouco a situação que precede seu
estabelecimento. Primeiro, ressaltando o momento em que se faz imperativa a existência de
um doador do ponto de vista médico e segundo, como a filha decide doar.
Como estamos dizendo a fundação do laço possui um momento bem demarcado que
se inaugura quando a busca por um doador se torna necessária e explícita. Ou seja, quando
o médico aponta o transplante como a única medida terapêutica possível para que o
paciente possa continuar vivo. Isto cria no paciente uma necessidade de aceitar o outro.
Este momento é vivenciado com grande conflito pelo receptor. A decisão de aceitar algo
do outro, quando a vida é que está em jogo, coloca o paciente numa situação de escolha
entre continuar vivo ou morrer. A concorrência do médico e também da equipe é
fundamental nesse momento, ou como afirma Mary Douglas (2007), nas questões de vida e
morte nunca se pode decidir sozinho. O que estamos afirmando aqui vale não só para a
paciente e a doadora citadas, mas para todos os casos observados. Constitui-se numa regra
para todos os pacientes que observamos. Para tanto não basta somente o diagnóstico de
doença hepática crônica. É necessário que a doença tenha atingido um estagio de
desenvolvimento no qual a medicação se torne ineficaz para manter a vida do doente com
qualidade. A palavra do médico possui o efeito de predispor o doente e seus familiares a se
mobilizarem no sentido de encontrar alguém dentre eles que possa ser o doador. A mesma
informante havia dito numa conversa anterior:
“Num domingo os três filhos reunidos na hora do almoço disseram que queriam
conversar comigo. Aí falei o que foi? Ai a filha mais velha disse: “Mãe nós vamos ver
quem de nós pode ser doador e vamos resolver o teu problema. Eu falei que não queria por
a vida deles em risco. Aí a filha mais velha disse, mãe tu não vai morrer. Se precisar eu até
morro por ti. Eu vou ser a doadora. Eu já estava no fim, só tinha uma célula viva no meu
corpo...”
A construção do laço entre mãe e filha se completa quando os exames médicos
confirmam a possibilidade médica da troca entre elas. O que num primeiro momento. se
apresenta como disposição para doar e prontidão para receber precisa, agora, concretizar-se
na compatibilidade clínica entre mãe e filha. A compatibilidade clínica ao ser constatada
confirma a decisão da filha em doar e a prontidão da mãe para receber. O que de pronto se
reconhece aqui é a dívida simbólica entre mãe e filha, e não só a dívida da mãe para com a
filha:
“Eu peço a Deus que não pare de abençoá-la por tudo que ela fez por mim”- diz a
mãe. Ao passo que ao falar da filha doadora diz: “desde o primeiro momento em que
pensamos na possibilidade do transplante ela disse que queria ser doadora”. A mãe
prossegue: “aí eu falei, mas tu vai correr risco por mim, tu sabe disso? Será que vale a
pena?” Ao que a filha, segundo a mãe respondeu: “E tu não me deste a vida!”
Observe-se na fala da filha a reciprocidade da dívida. É a reciprocidade que irá
permitir a aceitação pela mãe que a filha possa correr todos os riscos implicados numa
cirurgia para tornar-se doadora. Porém não basta que haja o reconhecimento da
reciprocidade somente entre doador e receptor, para que a doação se concretize é necessário
o reconhecimento dessa qualidade da troca pela equipe responsável pelo transplante. E
neste ponto é necessário reconhecer a função mediadora da escuta feita pela psicóloga da
equipe, que funciona como fiadora simbólica da doação, interpondo-se entre o par doadorreceptor e a equipe cirúrgica.
O que afirmamos até aqui refere-se a transplantados que receberam órgão de doador
vivo.
O conjunto dos informantes são receptores que passaram pelo transplante inter-vivos
ou tiveram que se submeter a um segundo transplante com doador cadáver e ainda há entre
eles aqueles que passaram por um único transplante com doador cadáver, o que podemos
perceber é que a forma como se situam diante da dívida simbólica contraída para com o
doador não é a mesma quando o enxerto que vinga provém de um doador vivo de quando o
enxerto que vinga provem de um doador cadáver. E, mais a dívida simbólica sempre se
estabelece para com o doador cujo enxerto vingou. Assim, um transplante inter-vivos, cujo
enxerto precisou se substituído, pouco tempo depois da cirurgia, por outro transplante agora
com doador cadáver a dívida é nestes casos é para com este último. que se estabelece
Dívida e gratidão como formas de reconhecimento ao doador só se constituem após
um longo percurso de elaboração do que significa o transplante e o órgão recebido. Não há
uma construção imediata possível, até mesmo porque no pós-transplante imediato, inferior
a três meses4, o sentimento que domina os transplantados é de insegurança em relação ao
sucesso do transplante e de certo estranhamento em relação à presença em seu corpo de um
órgão que veio de outro corpo.
Para os transplantados que receberam órgão de cadáver o primeiro problema que
enfrentaram ocorre “logo quando a gente acorda da cirurgia. Na UTI ainda a gente se dá
conta que tem um pedaço (um órgão) de um estranho dentro da gente. É um problema
saber que agora, daqui para frente vai ser assim. Viver carregando parte de um estranho
dentro da gente”.
Antes de qualquer possibilidade de atribuição de significado ao órgão recebido o que
os transplantados verbalizam é da ordem da realidade, na qual o que está presentificada é a
morte do outro, e algumas informações sobre esse outro: jovem, saudável e que morreu em
circunstâncias não naturais, em geral de acidente ou outra forma de morte violenta. “No
meu caso é um moço de 18 anos, que levou um tiro na cabeça”.
Este dado sobre a morte violenta do doador ainda é um dado que não se confirma
para todos os informantes. Mas o que sabemos é que sempre as informações chegam aos
receptores, e muitas vezes, atravessadas pelo imaginário que impera na sala do ambulatório,
4
Este tempo é um tempo médio definido pelos pacientes e não tem nenhuma relação com o tempo real
observado pela equipe médica para saber se o enxerto vingou ou não. E, além do mais para cada paciente este
tempo pode ter uma duração. Ver a este respeito RASIA, J. M. Temporalidade e subjetividade em presença do
Câncer.In: RASIA, J. M. & GIORDANI, R.C.F (orgs). Olhares e Questões Sobre a Saúde, a Doença e a
Morte. Curitiba: Editora da UFPR, 2007, p.73.98
que freqüentaram para tratamento no pré-transplante e onde fazem também o
acompanhamento pós-transplante. Mesmo havendo a possibilidade de estarem fantasiando
sobre a morte do doador, não é de todo incorreto afirmar que muitos dos doadores
morreram em situações violentas.
Os efeitos imaginários da condição do doador podem ser percebidos mesmo nas
poucas informações que os transplantados possuem sobre os doadores. A vida do doador
morto coloca interrogações para o receptor, que dizem respeito à elaboração dos
significados atribuídos ao órgão recebido. Na maioria das vezes a morte por acidente é a
condição mais fácil de ser trabalhada. Porém, quando sabem que o órgão recebido vem de
alguém cuja forma de vida o transplantado reprova, porque é socialmente reprovada,
coloca-se
um novo problema para este. Não basta somente “apropriar-se” do órgão
recebido, mas também elaborar a história de uma vida moralmente reprovável:
“Veja o senhor, não está sendo fácil pra mim. Soube que o fígado que recebi
pertenceu a um sujeito qualquer. Dizem que era um bandido, que matou e roubou. Ficou
preso muito tempo. Não sei se não morreu na cadeia! Imagine eu com o fígado de um
assassino! Nunca nem imaginaria uma coisa dessas pra mim, mas foi o que veio, tenho que
aceitar. Quem sabe ele quis ser doador para ser perdoado? A única coisa que posso fazer é
rezar muito pra ele nas minhas orações. Pedir que Deus lhe dê um bom lugar no céu,
afinal ele me devolveu a vida. Acho que ele já está perdoado. O que o senhor acha?”
Em outros casos, o doador por ter sua identidade conhecida publicamente e ter vivido
uma vida moralmente aceita, acaba sendo “adotado” pelo receptor. Encontramos esta
situação num caso em que a doadora foi uma moça, morta num acidente que teve grande
repercussão na cidade. Ao referir-se ao fígado recebido a transplantada afirma: “agora nós
vamos embora”. Nós quem? - lhe foi perguntado. Ao que ela responde: “eu e a Y ...
(dizendo o nome da doadora).
O fato do órgão recebido, ser nomeado com o nome do doador, não significa
necessariamente que será mais fácil para o receptor resolver os problemas subjetivos
decorrentes da presença de um órgão de um outro em seu corpo. O que está definitivamente
marcado em todos os casos de transplante com órgão de cadáver é a condição de
mortalidade.
Para os pacientes que receberam órgão de cadáver a dívida e a gratidão apresentam
um duplo aspecto, pois incluem não só o morto, mas a família doadora “que soube
compreender a necessidade do outro (doente) e ao mesmo tempo revelou um grande
desprendimento, doando o órgão de um parente morto” e mais do que isso, “fez isto num
momento de muita dor”.
A inclusão da família do doador, no círculo da dádiva, nos faz pensar novamente na
presença nesta situação de mais um elemento que não está presente nos elementos que
participam da troca simbólica tal qual apresentada por Mauss.
A expressão desse sentimento em relação à família doadora é atravessada por muita
emoção, no sentido que “foi preciso uma morte para que a vida pudesse ser continuada”.
O morto e a família doadora são, para este tipo de transplantado, considerados próximosdistantes. Pouco sabem deles ou quase nada querem saber. Predomina entre os receptores
de órgão de cadáver um medo fantasmático que a família exija que o receptor cuide do que
recebeu. Perguntado se sabia quem havia sido o doador um informante responde:
“Um pouco a gente sempre sabe. Mas não quero saber muito. Não é uma ingratidão
com a família. Mas tenho medo que a família fique me cobrando: ‘cuide bem desse fígado
porque ele era do fulano’. Seria difícil conviver com essa cobrança. Talvez um dia queira
saber mais sobre o doador e a família, mas por enquanto não quero.”
Volta a insistir: “não é questão de ingratidão é um certo medo da cobrança que a
família possa me fazer, no sentido de me lembrar o tempo inteiro que tenho que cuidar do
fígado que recebi como se ele fosse o fulano. É só isso”.
Este depoimento revela que para os transplantados os cuidados a que a família se
refere, transcendem ao órgão doado. Esta demanda por cuidados é tomada como um
imperativo: cuide o que vive em ti daquele que morreu!
A situação delicada que enfrentam, nestas condições é uma outra forma de medo,
decorrente de um possível contato com a família doadora. No caso do contato, imaginam
que a família procurará estabelecer vínculos afetivos e que reconheça no transplantado a
continuação do parente morto. O que todos procuram evitar é a possibilidade deste vínculo
se transformar numa forma de parentesco simbólico.
Nesse sentido, embora expressem dívida e gratidão, os transplantados procuram se
manter o mais distante possível da família doadora. A maioria admite que “só depois de
muito tempo transcorrido do transplante e, portanto da morte do doador, conseguiriam
conversar com a família”. O que se teme nestas situações também é “reviver uma dor
muito profunda para os familiares do morto, devido às circunstâncias da morte do
doador”.
Quando se considera os transplantes inter-vivos, os informantes também se sentem
em dívida para com o doador e expressam o mesmo sentimento de gratidão, observado
entre os transplantados com órgão de cadáver. Algumas diferenças, porém, foram
observadas.
O fato do transplante inter-vivos ser feito com parte do fígado do doador, não diminui
a dívida simbólica nem o sentimento de gratidão. O que dizem os transplantados é que o
doador só se propôs a doar porque “já possuía um vínculo afetivo muito profundo com o
receptor”. Em geral, os doadores são parentes muito próximos, pai, mãe, irmãos ou tios.
Outro fato importante para os transplantados na produção de sentido que lhes facilita
entender o ato da doação é o fato de que o órgão do qual se retirou uma parte se regenera. O
medo que se apresenta para eles, não tem uma característica fantasmática, mas inscreve-se
no processo de transplante: “quem se dispõem a doar está correndo risco, porque tem que
passar por uma cirurgia”, mas consentir na doação implica numa “solidariedade que tem
como base a plena compreensão do sofrimento e da necessidade do outro. Isto não é para
qualquer um”.
Mesmo quando o receptor reconhece o grau de solidariedade do outro, não está livre
do sentimento de gratidão e nem da dívida simbólica. Ao contrário, reconhece no outro seu
salvador, “alguém que lhe deu uma segunda vida, pela qual agora deve cuidar”.
Se o ato de doar e receber revela entre os vivos a prontidão para a troca, é aí que se
funda o verdadeiro sentido da dívida e da gratidão. No caso de transplante inter-vivos , não
há um terceiro elemento ( a família doadora) como nos transplantes com órgão de cadáver,
envolvido na troca. E nas avaliações que os transplantados fazem do doador e seu gesto,
redefine-se as posições sociais do doador no interior da configuração familiar.
5 – A Vida Depois do Transplante: Da Normalidade Possível
Se por um lado, o fato de ter passado por um transplante hepático impõe ao sujeito
transplantado a necessidade de atribuir um sentido para o enxerto, por outro, isto não
esgota o conjunto de questões que uma experiência de doença e de um tratamento tão
longo e delicado no pré-transplante e que se prolonga pela vida toda após o transplante.
Não vamos discutir aqui todas as implicações possíveis postas pela situação. Mas vamos
apenas retomar a experiência de doença e a normalidade possível, como as mais visíveis e
objetivamente vivenciadas pelos transplantados.
A experiência de doença mesmo depois do transplante feito continua a ditar o ritmo
da vida de cada um, através da rotina de medicamento, dos cuidados com alimentação, das
atividades que lhe são interditadas e da freqüência com que precisam retornar ao
ambulatório para as rotinas de acompanhamento médico.
“- É claro que não é uma vida como era antes de adoecer. A gente tem que se cuidar
muito mais. Tem uma rotina de medicamento que não dá para descuidar. Tem dias que a
gente está bem, tem dias que na, mas a gente tem que ter objetivos isso eu aprendi com a
minha doença ...
-... Se não estou muito bem, me deito um pouco, espero passar. Mas não quero ficar
dependendo dos outros. Sabe a gente não morre por qualquer coisa. A minha vida, mesmo
com este tipo de problema é boa, muito boa, depois do transplante melhorou muito.”
Aqui nos encontramos com as teses de Canguilhem(1995) sobre a normalidade na
experiência de doença. Ao mesmo tempo, podemos afirmar que do ponto de vista do sujeito
que adoece gravemente o período da doença, introduz uma ruptura na linha traçada por sua
biografia, o que exige dele constantes reformulações subjetivas, para que possa se colocar
na perspectiva da produção de sentido diante da adversidade de uma doença grave e crônica
e que, no limite, exigiu uma intervenção radical não só terapêutica (o transplante), mas nos
seus hábitos e na sua forma de viver. Quando estas situações ocorrem o transplantado
constitui para si normas próprias que o permitem continuar sua vida:
“Quando fiquei doente e sabia que tinha que fazer transplante me separei do marido
alcoólatra (sic). Não queria mais me incomodar com ele. E quando esperava na fila do
transplante minha filha mais velha engravidou. O que eu mais pedia a Deus era que ele me
deixasse ver meu neto que ia nascer. Agora tenho quatro netos dos meus três filhos. Eu
quero ver eles crescerem, me dão muitas alegrias. Eu sou uma pessoa alegre agora,
porque depois de tudo o que eu passei eu não tenho como não ser alegre. A gente nunca
imagina quanto a gente é forte e pode resistir a doença. Hoje sei que a gente não morre
por qualquer doencinha, ainda mais se a gente quer viver. Por que lhe digo isto? Porque
se eu quisesse poderia ter ficado doente para o resto da minha vida, na cama com todo
mundo em volta de mim. Mas isso eu não quero. Quero ter minha própria vontade. Um dia
estou bem, no outro nem tanto, mas vou vivendo com alegria, não me entrego.”
São muitos os elementos que apontam para uma reformulação subjetiva nesta
paciente. A fala da paciente considera a experiência de doença como algo não só vivido,
mas incorporado à sua condição de sujeito. Para esta mulher, a doença e o transplante
fazem parte da sua vida como o ex-marido “alcoólatra”, os filhos e os netos. O julgamento
contido na afirmação “a gente não morre por qualquer doencinha, ainda mais se a gente
quer viver”, recoloca a paciente na perspectiva de compreender que a experiência de
doença assume o lugar que lhe cabe em sua vida. Ou seja, um acontecimento que embora a
tenha marcado para sempre, sua vida não se reduz à condição de doente. E, ainda que estar
bem ou estar mal, são situações que se alternam em sua vida, mas isto não a impede de
viver. Trata-se, pois de uma normalidade conquistada pela paciente e que só a ela se aplica.
Quando se trata de pensar a normalidade, não como medida estatística, não se
encontra uma regra que possa ser observada entre os pacientes. Cada um a constrói de
forma muito particular, ou como os próprios pacientes dizem, “é preciso dar um jeitinho
para continuar”. Nesta perspectiva vejamos a estratégia desenvolvida por um
outro
paciente transplantado, para constituir o que ele considera ser normal: “Agora sei que posso
viver muito bem com a minha doença. Faço planos para cada três anos. De três em três
anos de vida planejo tudo. Agora estou no segundo ano, depois que passar esse ano,
completo três anos e faço plano para mais três anos. É assim que vou vivendo, de três em
três”.
Nesta perspectiva temos observado entre os pacientes uma compreensão muito clara
que após o transplante, e isto vale para todos os transplantados observados, não se pode
voltar a uma condição anterior não só ao transplante, mas ao aparecimento da doença, seus
sintomas e seu diagnóstico.
“Eu sempre fui um sujeito muito forte. Trabalhava no pesado. Tudo começou quando
comi um pedaço de chocolate, perto da Páscoa e não me senti bem. E aí foi. Desse mau
estar passou para uma hemorragia. No fim foi diagnosticado hepatite B. Não teve mais
jeito, não consegui mais trabalhar no mesmo ritmo que trabalhava. Tinha épocas que
ficava melhor, tinha épocas que piorava, mas sempre me tratamento e sabia que não
poderia escapar sem um transplante. Nunca mais fui o que eu era antes da doença
aparecer...”
Se este paciente, hoje transplantado se diz que está vivendo bem. Este “vivendo
bem” significa que melhoraram muito, suas condições de vida depois do transplante. Mas
mesmo assim, não considera que esteja na mesma situação que se encontrava antes dos
primeiros sintomas da doença e seu diagnóstico.
O diagnóstico de doença grave e crônica marca para os pacientes um momento de
passagem para uma outra forma de vida que inclui a de dependência de medicamentos, de
hospital, de acompanhamento clínico, de exames etc...Enfim, imprime-lhes um outro ritmo
e introduz outros hábitos em suas vidas.
O transplante embora seja a solução terapêutica possível nestes casos, mesmo que
imprima novas condições de vida com mais qualidade, não livra os doentes de certa
dependência. Diminuem os internamentos, diminui a freqüência dos exames, muda os
hábitos alimentares e introduz uma rotina de medicamentos. A manutenção pelo paciente
dos resultados terapêuticos produzidos pelo transplante implica na obediência da prescrição
médica para o resto de suas vidas.
6 -Referências Bibliográficas
BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006
CAILLÈ, A. A antropologia do dom. Petrópolis: Vozes, 2002
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995
DOUGLAS, M. Como as instituições pensam. São Paulo: Edusp, 2007
DOUGLAS, M. Pureza e Perigo. São Paulo: Perspectiva, 1976
GODBOUT, J. & CAILLÉ , A. (Col). O espírito da dádiva. Rio de Janeiro: FGV, 1999
LAZZARETTI, C. T. Transplante renal: trajetória e reconstrução de identidade social.
Curitiba:UFPR – programa de Pós-Graduação em Sociologia, 2002 (Diss. de Mestrado)
LAZZARETTI, C. T. & RASIA, J. M. Kidney transplant: the search for better quality of
life. In: MANCUSO, D. W. (Editor). New York: Nova Science Publishers, 2006, p.105-22
MAUSS, M. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify.2003
MAUSS, M. Antropologia. São Paulo: Atica. 1979
RASIA, J.M. Temporalidade e subjetividade em presence do cancer. In: RASIA, J. M. &
GIORDANI, R. C. F. (orgs). Olhares e questões sobre a saúde, a doença e a morte. Curitba:
Editora da UFPR, 2007. p.73-98