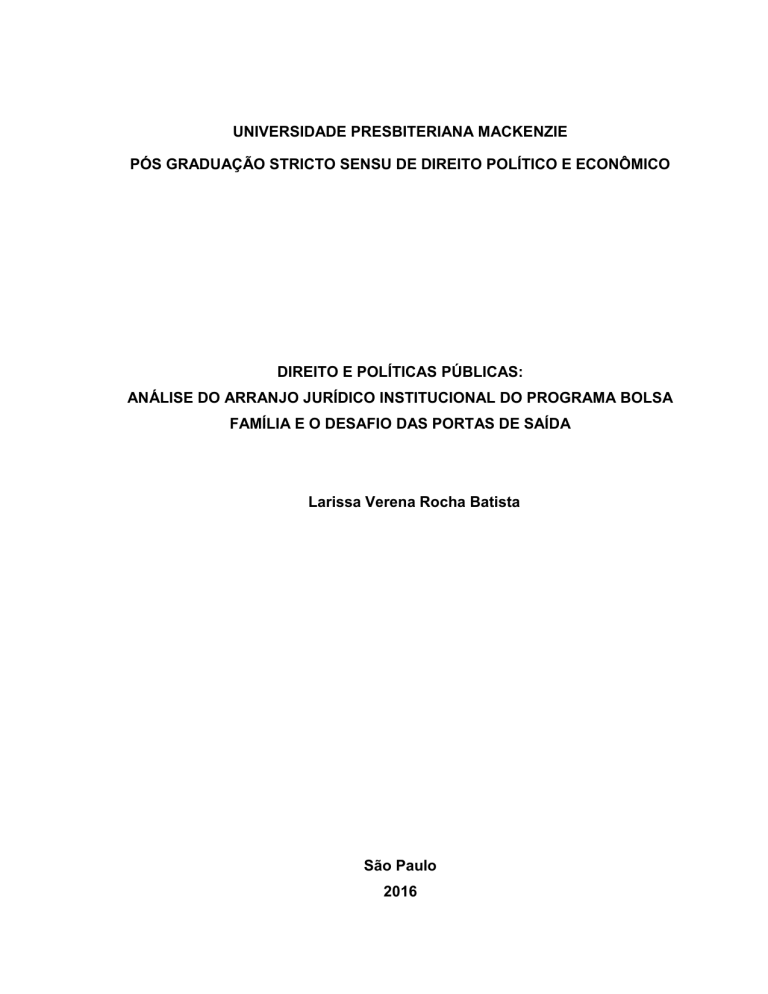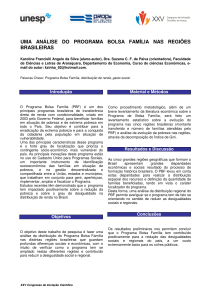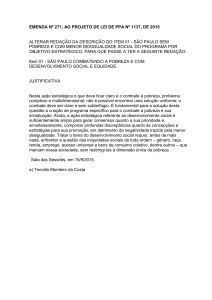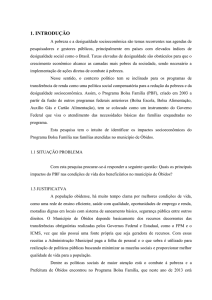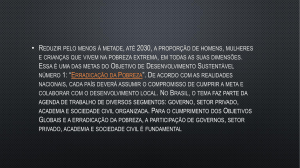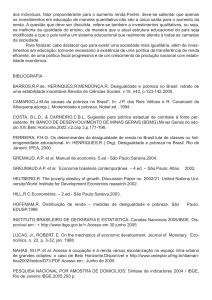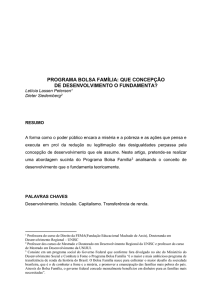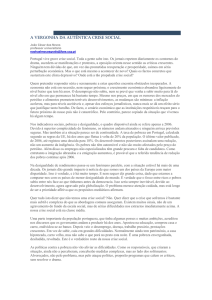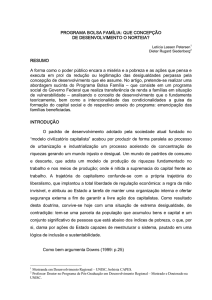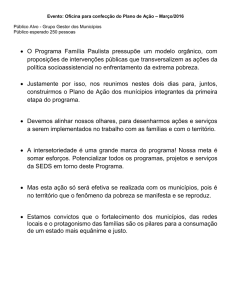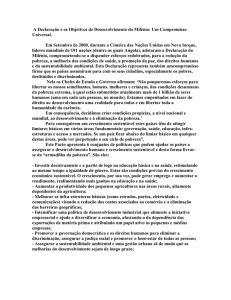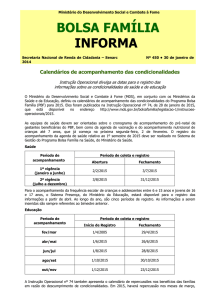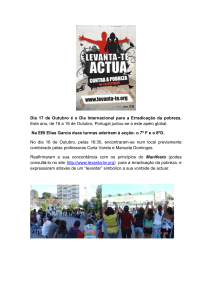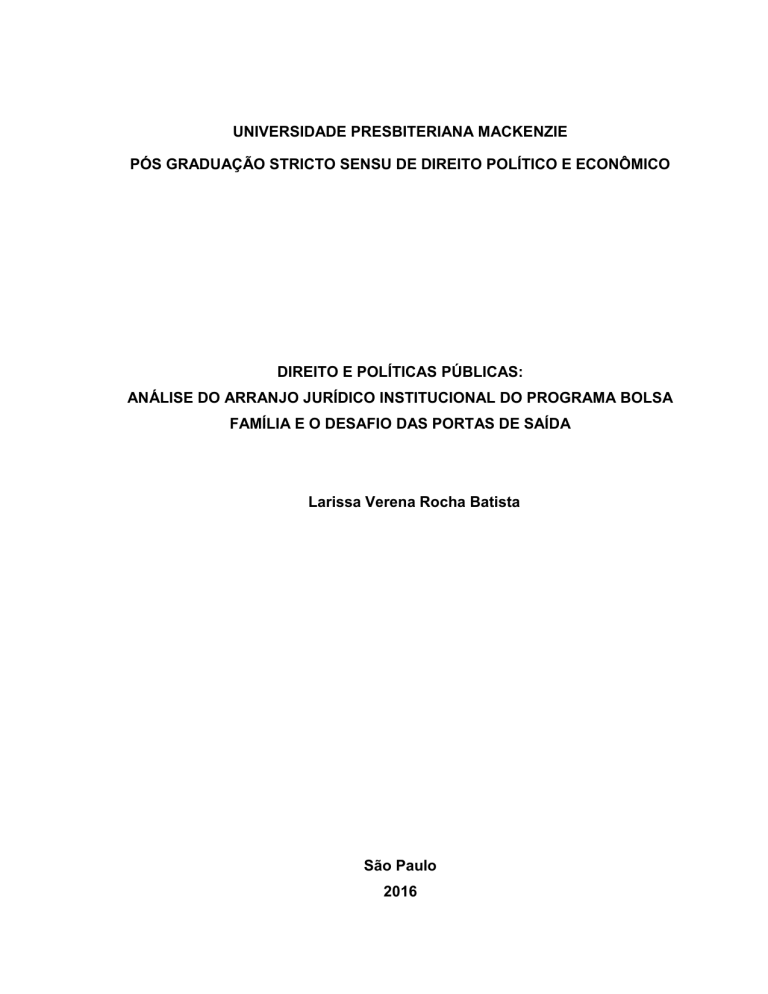
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DE DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO
DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS:
ANÁLISE DO ARRANJO JURÍDICO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA E O DESAFIO DAS PORTAS DE SAÍDA
Larissa Verena Rocha Batista
São Paulo
2016
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DE DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO
DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS:
ANÁLISE DO ARRANJO JURÍDICO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA E O DESAFIO DAS PORTAS DE SAÍDA
Larissa Verena Rocha Batista
TIA: 7135039-1
Dissertação
apresentada
à
Universidade
Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial
para obtenção do Título de Mestre em Direito
Político e Econômico.
Orientador: Professor Doutor Hélcio Ribeiro
São Paulo
2016
B333d
Batista, Larissa Verena Rocha
Direito e políticas públicas: análise do arranjo jurídico institucional do
programa bolsa família e o desafio das portas de saída. / Larissa Verena Rocha
Batista. – 2016.
270 f.; 30 cm
Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016.
Orientador: Hélcio Ribeiro
Bibliografia: f. 252-270
1. Arranjo jurídico-institucional. 2. Políticas públicas. 3. Programa bolsa família.
4. Programas complementares. 5. Portas de saída. I. Título
CDDir 341.252
LARISSA VERENA ROCHA BATISTA
TIA: 7135039-1
DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS:
ANÁLISE DO ARRANJO JURÍDICO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA E O DESAFIO DAS PORTAS DE SAÍDA
Dissertação
apresentada
à
Universidade
Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial
para obtenção do Título de Mestre em Direito
Político e Econômico.
Aprovada em ___/___/___.
BANCA EXAMINADORA
Professor Doutor Hélcio Ribeiro - Orientador
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Professor Doutor Arthur Roberto Capella Giannattasio
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Professora Doutora Camila Villard Duran
Universidade de São Paulo
Dedico esse trabalho ao meu
sonho em forma de gente e que
traz já no nome a sua real doçura,
Mel. Ela que ainda na barriga da
minha irmã trouxe-me para São
Paulo, para mais perto deste outro
sonho, o mestrado. Uma nova
história. Novos sonhos.
AGRADECIMENTOS
Ao Senhor que reina sobre minha vida e que sonhou esse sonho antes
mesmo do meu nascimento. Deus, obrigada pela vida de todos aqueles que, de
maneira especial, colocastes em meu caminho, tornando-o florido e acolhedor.
Somente a Deus, toda Honra e toda Glória. Para as flores do meu caminho, um
agradecimento especial...
Ao meu porto seguro de todo os dias, minha irmã Lidi, meu cunhado Roberto
e nosso sonho em forma de gente, a Mel; obrigada por serem, respectivamente, minha
inspiração de mulher, meu pai-irmão presente em todas as boas e más horas e meus
muitos motivos para sorrir e acreditar. Lidi, desde sempre, tudo começa com você,
passa por você e se realiza graças a você. Obrigada por ter nascido antes e sempre
preparar meus caminhos.
A minha mãe Lulu e queridas tias-mães Regina e Aidil porque mesmo longe
se fazem perto e sempre estarão na primeira fila da vida, torcendo e acreditando.
Aos meus amigos de longe, minha superliga da amizade nascida e crescida
em Recife com integrantes que alçaram voos bem longínquos, mas todos com coração
e alma pernambucanos, para sempre. Cynthia, Tiago, Mateus, Olga e Remulo,
obrigada pelas gargalhadas virtuais garantidas quase que de forma ininterrupta. E no
meio desse caminho, ainda foram eu mesma, dada a minha ausência, no momento do
Adeus a minha dama de ferro, Tia Olga, mulher forte que plantou as minhas sementes
morais e intelectuais, deixando um exemplo inabalável de retidão e generosidade.
À amiga de longe que veio para perto, Marcela, como é bom ter você perto e
como foi restaurador passarmos tardes juntas no meio da semana. Aos amigos de
perto que se fazem presentes de tantas formas. Alci, Gigicotinha, Cris e nosso eterno
chefe Pierre, essa que sempre será minha equipe de trabalho, porque são dessa gente
que gosta de gente e faz questão de extrapolar os limites das baias de trabalho e
serem os melhores exemplares de pessoas para se conviver.
As minhas Bonitas dessa caminhada no Mackenzie, Cintia Flor, Maricotinha
e Ju que tornaram suaves e acolhedoras as nossas aulas; A Paula Brasil, por ser gente
que muda a vida da gente! Paulinha, você entrou e tomou conta, com sua segurança e
disposição de ser o que é. Em tempos difíceis, você foi abrigo acolhedor e força para
continuar. Chegou, ficou e de quebra, foi diretamente responsável por restaurar uma
família. Eu e a nossa Fran lhe seremos eternamente gratas.
A querida demais Vanessa Cardoso, representando a minha Igreja da
Comunhão Ágape Butantã, com sua doce e firme presença essencial nos últimos
tempos; foi com ela que chorei lágrimas de angustia porque tudo parecia não
acontecer...e foi ela instrumento de Deus para orar e interceder pela minha vida. Van,
obrigada pelo coração disposto, pelo incentivo e, sobretudo, por me ensinar caminhos
para romper em Fé.
Ao Seu Mario Randich e família, a minha eterna gratidão por terem
reconhecido em mim talentos que me trouxeram até aqui. E mais, agiram e fizeram
acontecer esse sonho. Seu Mario, você foi um pai em momentos decisivos. Amou,
cuidou, agiu e acreditou em mim. Obrigada por ter tornado esse sonho possível.
Aos queridos professores Gianpaolo Smanio e Solange Teles por terem sido
incentivadores das minhas ideias, ainda nas primeiras aulas de Ensino e Pesquisa; O
Prof. Smanio ainda me deu a honra de estar na Banca de Qualificação e contribuir com
todo seu conhecimento de forma humilde e humana. À Maria Paula Dallari Bucci cuja
tutoria foi uma grata realidade que saltou dos meus sonhos enquanto estudava os seus
livros. Foi precioso esse começo. À Patrícia Tuma por ser o que é...humana por
excelência, profissional que inspira e mulher que muda a forma de ser mulher.
Obrigada desde o começo e para sempre por ser uma referencia. A Cristiane e ao
Gabriel da Coordenação pela presteza e olhares compreensivos em meio as nossas
dificuldades. Ao Mackenzie, pela oportunidade.
Ao professor Hélcio Ribeiro, meu orientador, não bastarão todas as palavras
de agradecimento pela seriedade, disponibilidade, paciência e acima de tudo
competência. Cabeça pensante e brilhante, sem dúvida, mas, em especial, sua
generosidade e olhar humano impressionaram-me e foi capaz de fazer-me forte para
continuar quando eu achava que não conseguiria. Obrigada por permitir que este
trabalho seja apresentado à comunidade acadêmica e, sobretudo, obrigada por não
desistir de mim e por me conduzir por águas mais tranquilas, ainda que as
circunstâncias tenham sido turbulentas. É orientador e humano porque ensina
enquanto compreende o outro.
Toda a minha gratidão e respeito à Professora Camila Villard Duran que
como examinadora da Banca de Qualificação descortinou um novo caminho de ideias
desafiadoras, com sugestões de mudanças estruturais, repleta de excelentes
indicações bibliográficas, olhar e críticas que me levaram por uma estrada menos
cômoda e por isso, mais difícil. Certamente, a segurança e conhecimento de uma
pesquisadora conceituada que de forma humilde trouxe valiosos ensinamentos
permitiu-me chegar até aqui. Espero que a minha pesquisa ao final corresponda de
alguma forma à valorosa contribuição da Prof. Camila que passou a ser uma
inspiração. Obrigada por isso também!
Por último e porque comecei falando de flores...todo o meu amor e gratidão
aquele que me descobriu flor e transformou a minha vida num jardim cuidado e amado,
em cada detalhe; ao jardineiro da minha vida.... ele tira os espinhos, poda os excessos,
coloca adubo e faz novos plantios para evitar a solidão. Você que é meu Coração
Valente que cuida e guarda o meu coração. O meu presente de Deus com o qual
sonhei a vida toda e chegou infinitamente melhor que o sonho; o homem da minha vida
que me deu de presente uma família abençoada que passou a ser minha também; a
sua mãe, Dona Deci, mulher de Deus que nos cobre com suas orações e muito tem me
ensinado com seu exemplo de fé e inteligência emocional, mesmo em meio aos dias
tão chuvosos. Obrigada, meu amor, pelos incentivos sem fim, pelo apoio incondicional
sob todos os aspectos. Meu suporte espiritual, por tantas vezes financeiros e,
sobretudo, emocional pelo que tem me ensinado a viver. Denis, o amado da minha
alma, a quem agradeço por me trazer à vida com o doce sabor do amor.
Com relação às grandes aspirações dos homens de boa vontade, já estamos demasiadamente
atrasados. Busquemos não aumentar esse atraso com nossa incredulidade, com nossa
indolência, com nosso ceticismo. Não temos muito tempo a perder.
(Noberto Bobbio, em A Era dos Direitos)
RESUMO
Adotando-se o entendimento de que o estudo das políticas públicas favorece a
concretização de previsões constitucionais, como a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades sociais, situa-se o debate dentro de um contexto mais
amplo da institucionalidade das políticas sociais no país, buscando-se compreender as
origens do Programa Bolsa Família e as relações de suas ferramentas com aspectos
históricos. A partir da análise da relação entre o Direito e o Bolsa Família evidencia-se
a necessidade de um olhar mais apurado sobre o descompasso entre a caixa de
ferramentas do direito e o mundo que ele pretende descrever, analisar e operar.
Aborda-se ainda, a necessidade de adensamento de políticas públicas voltadas para
inclusão social dos beneficiários desse Programa que completou dez anos, em 2013,
sendo o mais amplo programa de transferência de renda da história do Brasil. O foco
está no seu terceiro eixo cujo objetivo oficial é promover o desenvolvimento de capital
humano e a autonomização das famílias beneficiárias para que consigam superar a
situação de vulnerabilidade e de pobreza. A perspectiva de inclusão social pressupõe a
oferta de serviços de qualidade de educação e de saúde e de programas
complementares pelas esferas governamentais, em parceria com a sociedade civil
organizada, o que constitui um eixo essencial para a efetividade do combate à pobreza,
contribuindo para as chamadas ―portas de saída‖ do Programa. Aponta-se para o
desafio dessas iniciativas estarem afinadas às necessidades dos beneficiários,
considerados os potenciais e as lacunas locais. O PBF não constituirá um programa
estruturante sem a oferta de reais condições ao seu público alvo para a superação da
pobreza e ampliação das chances de vida.
Palavras-chave: arranjo jurídico-institucional; políticas públicas; programa bolsa
família; programas complementares; portas de saída.
ABSTRACT
Adopting the understanding that the study of public policy favors the implementation of
constitutional provisions, such as the eradication of poverty and the reduction of social
inequalities, It lies the debate within a wider context of institutions of social policies in
the country, seeking to understand the origins of the Bolsa Família Program and the
relations of their tools with historical aspects. From the analysis of the relationship
between law and the Bolsa Família Program arises highlighted the prompting jurists to
the need for a closer look at the mismatch between the law in theory and the world that
we all intend to describe, analyze and operate.This research focuses on the study of the
need for public policies of consolidation aimed at social inclusion for the beneficiaries of
the family scholarship program, which has completed ten years in 2013, with the title of
widest income transfer program in Brazilian history. Focus is on his third basis of
support structure whose official purpose is to promote the development of human
capital and the empowerment of beneficiary families, so that they are able to overcome
the situation of vulnerability and poverty in which they live. In this sense, the prospect of
social inclusion requires the provision of quality education and health services and
complementary programs by the governments, in partnership with organized civil
society, which is a key aspect for the effectiveness of the fight against poverty,
contributing to the way out of the program. The research focusses on the challenge of
these initiatives are tuned with the needs of beneficiaries, considering the potential and
the problems caused by government negligence. The family scholarship program
cannot be a structural program if it cannot offer real conditions to its target audience to
overcome poverty and expansion of life chances.
Keywords: legal and institutional arrangement; public policy; family scholarship
program; complementary programs; getaway doors.
ABREVIATURA E SIGLAS
Benefício de Prestação continuada da Assistência Social – BPC
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL
Comissão Intergestores Tripartite - CIT
Constituição Federal da República de 1988 – CFR/88
Controladoria-Geral da União - CGU
Coordenadoria Geral da Política de Alimentação e Nutrição – CGPAN
Departamento de Atenção Básica - DAB
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH
Índice de Exclusão Social – IES
Índice de Gestão Descentralizado - IGD
Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada – IPEA
Índice de Pobreza Multidimensional - IPM
Instâncias de Controle Social – ICS
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS)
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS
Ministério da Educação e Cultura – MEC
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate a Fome – MDS
Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar - MESA
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Organização das Nações Unidas- ONU
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO
Objetivos do Milênio – ODM
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD
Plano Brasil Sem Miséria – BSM
Política Nacional de Assistência Social – PNAS
Produto Interno Bruto - PIB
Programa Bolsa Família - PBF
Programa Brasil Alfabetizado - PBA
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI
Programa de Garantia de Renda Mínima - PGRM
Programa de Fortalecimento da Agricultura Família - PRONAF
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Programas de transferências condicionadas de renda - PTCR
Relatório de Desenvolvimento Humano - RDH
Secretaria de Articulação Institucional e Parcerias – SAIP
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS
Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação – SAGI
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD
Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – SENARC
Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN
Sistema de Condicionalidades - SICON
Sistema de Gestão de Benefícios – SIBEC
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN
Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - SISOBI
Sistema Único de Assistência Social – SUAS
Sistema Único de Saúde - SUS
Tribunal de Contas da União – TCU
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO...............................................................................................................13
CAPÍTULO 1. O BOLSA FAMÍLIA E O DESAFIO DAS PORTAS DE SAÍDA.............17
1.1. Dez anos de Bolsa Família......................................................................................19
1.1.1. Crescimento econômico e Desigualdade social................................................35
1.1.2. Impacto no quadro social de pobreza................................................................49
1.1.3. Pesquisas qualitativas e a voz dos beneficiários...............................................68
1.2. Exigência e viabilização das condicionalidades: punição ou incentivo?...............76
1.3. Gargalo do programa: inclusão social produtiva.....................................................98
CAPÍTULO 2. O ARRANJO JURÍDICO INSTITUCIONAL DO BOLSA FAMÍLIA......107
2.1. Teoria da constituição e constitucionalismo social................................................111
2.2. Direito e políticas públicas para erradicação da pobreza......................................126
2.2.1. Inclusão social e Programas de transferência de renda.................................145
2.3. Capacidades políticas e institucionais do Bolsa Família.......................................166
2.3.1. Ciclo das políticas públicas e o desafio da definição de competências.........176
2.3.2. Ferramentas e instrumentos jurídicos do Programa........................................181
2.4. Cultura política da cidadania e judicialização de políticas públicas......................190
2.4.1. Modelo distributivo, descentralização e participação......................................198
CAPÍTULO 3. PARA ALÉM DO BOLSA FAMÍLIA.....................................................207
3.1. A articulação entre políticas púbicas sociais.........................................................208
3.2. Programas complementares e a inclusão social dos beneficiários.......................215
3.2.1. Programas complementares federais e Boas práticas locais...........................223
3.3. Direito, Desenvolvimento e Novos desafios na agenda governamental..............229
CONCLUSÃO...............................................................................................................243
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................252
13
INTRODUÇÃO
A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais, previstas no inciso III do artigo 3º da Constituição
Federal de 1988, entre os seus objetivos sociais e, numa perspectiva de virar a outra
face da moeda, a necessidade da inclusão social e produtiva destacam-se como
desafio de uma realidade diária de milhões de brasileiros que consiste no extremo
oposto dessa previsão constitucional que se assenta no pilar de um Estado
Democrático de Direito, nos termos do artigo 1º, caput, da Magna Carta de 1988, num
contexto de Direitos Sociais garantidos constitucionalmente.
O enfrentamento da pobreza no Brasil deve levar em consideração a
magnitude da população pobre e sua heterogeneidade, a natureza multidimensional da
questão e as dificuldades existentes na matriz institucional das políticas sociais,
marcada pela falta de articulação, ausência de sistemas integrados de informação e da
de portas de entrada efetivas para o sistema de proteção social que assegurem o
acesso a todas as políticas sociais por parte das populações mais pobres de modo que
tenham o acesso pleno a todos os serviços sociais e direitos de cidadania.
Em meados da década de noventa, considerando-se que o simples
crescimento econômico não havia trazido avanços referentes à inclusão social, passouse a considerar a necessidade de construção de uma estrutura institucional abrangente
de desenvolvimento social. O governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (jan/1995 a dez/2002) apresentou um viés social, em conjunto com estratégias
econômicas (plano real) dando início a uma estabilidade econômica que abriu caminho
para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Algumas políticas foram
implementadas objetivando a melhoria da renda e da qualidade de vida da população
mais pobre como, por exemplo, o Programa de Erradicação do trabalho Infantil (PETI),
o Agente Jovem, o Sentinela, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás.
Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) assumiu a presidência da República em
janeiro de 2003, defendendo a continuidade dos avanços econômicos conquistados
pelo governo anterior, mas reconhecendo o momento de priorização de projetos de
inclusão social como o Fome Zero e, posteriormente, o Programa Bolsa Família – PBF.
14
O PBF é a principal política social do governo federal e nessa pesquisa
serão apresentados dados e estudos que confirmam sua relevância, ressalvados os
seus limites e desafios. Apesar dos seus expressivos ganhos redistributivos e da sua
contribuição para melhoraria das condições de vida dos beneficiários, tem-se que o
programa por si só não garante a efetiva inclusão social do seu público alvo. Aponta-se
para
uma
necessária
articulação
com
outras
políticas
públicas
rumo
ao
desenvolvimento das capacidades dos beneficiários.
Num contexto do arranjo jurídico institucional do PBF e sua articulação com
programas complementares, importa pensar sobre questões como: na perspectiva de
ação do poder público, por que, apesar da existência de ações e programas
implementados no curso do PBF, eles não estariam trazendo os efeitos esperados no
tocante às portas de saída do programa por parte dos beneficiários, apontando-lhes e
garantindo-lhes uma efetiva inclusão social? na perspectiva dos beneficiários, por que
não estamos vendo repercussões do seu papel ativo nesse conjunto de ações com
vistas ao seu exercício consolidado da cidadania?
No decorrer desta pesquisa, algumas questões parecem insistir como
problemas. A falta de articulação entre políticas públicas que, não dialogando entre si
comprometem a efetivação dos direitos sociais e descortina a necessidade do
enfrentamento da desarticulação de estratégias governamentais, ao passo que se
busque soluções para promover uma integração entre os atores envolvidos nas
diferentes etapas do ciclo dessas ações que pode ter na centralização um dos seus
grandes obstáculos a serem superados.
O grande desafio de pautar e priorizar o público atendido pelo PBF, uma
parcela da população não acostumada com o exercício da cidadania, abrindo-lhes
novos espaços de inclusão e ampliando os existentes. Os motivos e condições da
saída do programa compõem um cenário cujo plano de fundo deve ser o planejamento
de uma saída sustentável. É pensar para além do bolsa família; é a estruturação da
vida pós bolsa família rumo a efetivação da cidadania ativa e participativa.
Para tal intento, a presente pesquisa presta-se a analisar o papel do direito
na história da implementação do PBF. Revisita o padrão de políticas sociais
historicamente seguido no Brasil a partir de 1930, a literatura sobre a criação do
15
Programa, percebendo-o como representativo de um modelo de política social que
contém novos atributos, apontando para a tendência de um arranjo mais distributivo,
descentralizado e participativo, ainda que com muitos desafios nesse sentido.
Apresentam-se algumas das suas ferramentas de gestão, bem como seus
mecanismos de implementação, a sua correspondência com instrumentos jurídicos, a
partir do que se percebe haver uma distância entre a forma dinâmica como o direito
das políticas públicas opera na prática e o modo estático como ele é sistematizado e
apresentado em manuais, o que pode prejudicar a orientação dos gestores e dos
juristas que as operacionalizam.
Ao que parece, a análise das características do programa e dos processos
de mudanças pelos quais passou desde sua criação aponta para uma ―caixa de
ferramentas‖ dos juristas com ―apetrechos enferrujados‖, segundo a analogia sugerida
por Maria Paula Bucci. É que o PBF tem ilustrado a distância entre a perspectiva de
análise comumente adotada em manuais que apresentam e sistematizam categorias
do direito e a forma como as políticas públicas vão se estruturando no dia-a-dia de sua
implementação concreta. Eis um ponto de desafio para o pesquisador na área jurídica:
estudar políticas públicas ―sujando as mãos‖. É preciso ir além dos manuais.
Acredita-se que o ensino/pesquisa do direito estar restrito ao uso de
manuais é privar o pesquisador das informações e elementos necessários para
enfrentar os desafios impostos pela sociedade e pelo próprio ordenamento jurídico. É
preciso suscitar uma visão critica e dialética sobre as questões que se colocam,
ultrapassando o nível do sentido ―comum teórico dos juristas‖ que valoriza quase que
exclusivamente uma abordagem sistemática e lógico-dedutiva, ―abrindo caminho para
que o ‗pedantismo da ligeireza‘ sirva de critério para o prevalecimento, no âmbito do
corpo docente, de um tipo modal de mestre acrítico, burocrático e subserviente aos
clichês e estereótipos predominantes entre os juristas de ofício‖.1
Trata-se de uma batalha travada contra o formalismo jurídico e a
permanência de uma visão disciplinar estanque que impede que os juristas enxerguem
os problemas jurídicos em seu contexto político, social e econômico. Diante disso, a
1
FARIA,José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor 1987.p.47
16
opção dessa pesquisa por uma perspectiva interdisciplinar, capaz de integrar os
indispensáveis elementos de economia e política ao direito, buscando refletir sobre as
finalidades e elementos constitutivos do saber jurídico, a noção de justiça, a construção
socioeconômica dos conflitos e a observação da produção, prática e efeitos do direito
nas políticas públicas, intento que é estimulado e instrumentalizado graças ao caráter
multidisciplinar do programa de direito político e econômico desta Instituição.
O cénario é uma sociedade variada demais e complexa demais para
análises sob óticas disciplinares únicas e excludentes. Considera-se, por exemplo, as
implicações jurídicas decorrentes da implantação, consolidação e expansão do
fenômeno sócio-econômico-cultural da globalização no mundo contemporâneo, e
ataques a direitos fundamentais dos cidadãos conquistados ao longo de séculos. 2 São
tempos em que se alega crise do Direito como reflexo do declínio do Estado nação,
bem como declínio da cidadania e da democracia representativa.
(...) qual é a viabilidade do ―direito social‖ num período histórico em que
a maioria dos países, principalmente os em desenvolvimento, vêm
competindo acirradamente entre si para oferecer um ambiente interno
―atraente‖ para esses investimentos? Em suma, que nível de efetividade
poderá esse tipo de direito realmente alcançar numa societas
mercatorum e numa ―economia-mundo‖, em cujo âmbito os homens
estão deixando de ser ―sujeitos de direito‖ para se converterem em
―sujeitos organizacionais‖.3
É um cenário de mundo globalizado, descortinado em alguns dos seus
possíveis desdobramentos institucionais, tal como se pôr em xeque a eficiência da
intervenção governamental, a força e soberania do estado nação. É um tempo fruto do
desenvolvimento humano, da capacidade criativa e transformadora do homem e que
parece não apontar vilões únicos e isolados nos conflitos que apresenta, em especial a
realidade dos interesses cada vez mais (apenas) mercantilistas de um sistema de
produção/consumo atentatório aos direitos humanos fundamentais e direitos sociais
que vem sendo conquistados ao longo de uma história profundamente marcada por
mazelas sociais. Eis o Brasil de hoje, na expectativa de que não seja o de amanhã.
2
3
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo, Malheiros, 2004.
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo, Malheiros, 2004.
17
CAPÍTULO 1. O BOLSA FAMÍLIA E O DESAFIO DAS PORTAS DE SAÍDA
O PBF foi concebido no âmbito das políticas públicas como direito no
contexto do desenvolvimento econômico e social, sempre envolto em discursões sobre
seu assento numa visão meramente compensatória e assistencialista que marcou a
história da política social no Brasil. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento
Social e de Combate a Fome – MDS são 14 milhões de famílias alcançadas pelo
programa e um histórico de retirada de 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza4.
O valor médio do benefício passou de R$ 73,70 em outubro de 2003 para R$
167,79 em abril de 2015. O programa custa o equivalente a 0,5% do PIB 5, um custobenefício apontado por Marcelo Néri como a maior vantagem desse modelo brasileiro
de transferência de renda condicionada, considerando que cada R$ 1 transferido para
as famílias se transforma em R$ 1,78 na economia do país.6 Dada a magnitude
alcançada pelo Programa, visto sob a perspectiva orçamentária e financeira (segundo o
MDS, uma década após a sua criação fechou 2013 com o recorde de R$ 24,5 bilhões
transferidos a famílias de baixa renda; o programa transferiu R$ 164,7 bilhões nos seus
dez anos), e ainda, pela sua abrangência social (numero de beneficiários) tem-se que
ele figura no centro de grande debate.
Fala-se em armadilha da pobreza como o fenômeno ao qual estariam
sujeitos os programas de transferências de renda, considerando-se que iniciativas
assim podem resultar em estimulo aos seus beneficiários para que permaneçam nessa
condição e assim possam continuar alvos do benefício. Contrariamente:
O PBF inicia a superação da cultura de resignação e propõe-se a mudar
o cenário político, ajudando a combater o clientelismo eleitoral. Pode
ser visto como um programa de política de urgência moral, entretanto,
possui em germe condições de se transformar em política pública de
cidadania (…) Trata-se da sua potencialidade de dar início ao círculo
4
CAMPELLO, Tereza. Sobre os resultados do PBF nos seus 12 anos de história. Disponível em:
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2015/outubro/tereza-campello-destaca-avancos-do-bolsafamilia-nos-ultimos-12-anos. Acesso em 04 de dezembro de 2015.
5
MDS.Disponível:http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2015/abril/mais-de-3-1-milhoes-defamilias-sairam-voluntariamente-do-bolsa-familia. Acesso em 29 de abril de 2015.
6
Marcelo Neri era o presidente do IPEA em 2013 quando o programa completou uma década. Disponível
em:http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/05/bolsa-familia-75-4-dos-beneficiarios-estaotrabalhando. Aceso em 25 de maio de 2015.
18
vicioso de direitos (um direito se expande e dá origem a novas
reivindicações por outros direitos e assim indefinidamente, acabando
com o ciclo vicioso da pobreza.7
O PBF é o programa social em vigor de maior destaque e tem o mérito de
enfrentar importantes questões ligadas à pobreza, apresentando resultados positivos ao
longo dos seus mais de dez anos, sobretudo com a retirada de alguns milhões de
pessoas do estado agudo e absoluto de pobreza. Contudo, não pode distanciar-se do
alvo de uma efetiva mudança econômica e social de seus beneficiários de forma que
consigam superar em definitivo a condição de vulnerabilidade em que se encontram. O
Programa dever ser, portanto, uma grande porta de entrada para a cidadania.
Considera-se o seu impacto a curto prazo na vida dos beneficiários e passase a necessidade de uma abordagem sobre as chamadas portas de saída, ponderandose sobre os seus efeitos a médio e longo prazo, considerando fatores tais como o
programa estar associado a mudanças estruturais, afinal se os determinantes da
pobreza não forem alterados, novos contingentes nessa situação surgirão.
Como bem se considerou na apresentação do Plano Brasil Sem Miséria BSM, em 2011, com o objetivo de superar a extrema pobreza, a renda é variável
fundamental, mas a extrema pobreza se manifesta de múltiplas formas (insuficiência de
renda, insegurança alimentar e nutricional, baixa escolaridade, pouca qualificação
profissional, fragilidade de inserção no mundo do trabalho, acesso precário à água, à
energia elétrica, à saúde e à moradia são apenas algumas delas) e por isso, superar a
extrema pobreza requer a ação intersetorial do Estado.8
Ao que parece, fórmulas messiânicas que prometem acabar com os maiores
males do Brasil de uma só vez não são a saída. Um dos caminhos, talvez, seja dotar o
país de um sistema eficiente e democrático de proteção social, uma tarefa complexa
que não se esgota nas responsabilidades do governo federal e não se realiza de uma
hora para outra. Exige a ação responsável dos três poderes da República, o
envolvimento empenhado dos demais setores de governo, a participação ativa e
responsável da sociedade civil e de suas organizações. Uma tarefa de toda a Nação.
7
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Liberdade, dinheiro e autonomia: O caso do Bolsa
Família. In: Política e Trabalho. Revista de Ciências Sociais, 38, Abril de 2013, pp.21-42.
8
Plano Brasil Sem Miséria. Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao. Acesso 24
de maio de 2015.
19
1.1. Dez anos de Bolsa Família
Identificam-se
diferentes
momentos
dentro
da
própria
história
da
implementação do PBF. A divisão a seguir considera a existência de quatro fases,
aproveitando ideias presentes nas sistematizações de Coutinho9 que identifica três
períodos diferentes na história do programa (2003-2004; 2005- 2006 e 2007-2008), e de
Paiva, Falcão e Bartholo10 que incluem uma quarta fase de 2009 a 2010. Uma quinta
fase é adicionada a essas, buscando-se compreender o período de 2010 a 2013.
Na primeira fase do programa (2003-2004) foram enfrentadas dificuldades
políticas e operacionais referentes à tarefa de implementar novas políticas, enquanto
gerenciava-se as anteriores.11 Também considera-se nessa fase, o incremento da
cobertura do programa (incluindo a migração de famílias já beneficiárias e a inclusão
das que ainda não recebiam transferência de renda) e as fragilidades iniciais da
construção do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico,
ferramenta que concentra os registros dos potenciais beneficiários do programa.12
A segunda fase (2005-2006) foi marcada por esforços para consolidar a
moldura legal do programa, havendo uma intensa ―juridificação‖ e um fortalecimento
nas relações com estados e municípios e entre os ministérios responsáveis por sua
execução.13 Destacam-se a criação do Índice de Gestão Descentralizada - IGD para
9
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Decentralization and Coordination in Social Law and Policy: The Bolsa
Família Program. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.; COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro
(orgs.). Law and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New
York: Cambridge University Press, 2013.
10
PAIVA, Luis Henrique; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília:
IPEA, 2013.
11
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Decentralization and Coordination in Social Law and Policy: The Bolsa
Família Program. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.; COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro
(orgs.). Law and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New
York: Cambridge University Press, p. 321.
12
PAIVA, Luis Henrique; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília:
IPEA, 2013.p. 28.
13
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Decentralization and Coordination in Social Law and Policy: The Bolsa
Família Program. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.; COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro
(orgs.). Law and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New
York: Cambridge University Press, 2013.p.321.
20
mensurar a qualidade da gestão local e determinar a transferência de recursos - e uma
remodelagem no acompanhamento das condicionalidades em articulação com os
Ministérios da Saúde e da Educação.14
Na terceira fase (2007-2008) começou a ser discutida a questão das ―portas
de saída‖, entendidas como medidas graduais para os beneficiários que alcançassem
um nível de renda que os colocasse fora do público-alvo do programa.15 O PBF passou
a incorporar uma regra de permanência, segundo a qual, dentro de um período de dois
anos, a renda familiar per capita poderia variar acima do critério de elegibilidade sem
que a família tivesse que deixar o programa.16
Em uma quarta fase (2009-2010) foram ampliadas as estimativas de
atendimento alcançando o número de 13 milhões de famílias. Houve um avanço na
aproximação com a rede de assistência social na medida em que as famílias
beneficiárias em situação de descumprimento de condicionalidades passaram a ter
prioridade de acompanhamento por essa rede.17
É possível perceber, nesse sentido, um estreitamento das relações entre o
PBF e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS nos últimos anos, a exemplo da
aprovação, pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), do Protocolo de Gestão
Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda que evidenciou a
interdependência entre o SUAS, o CadÚnico e o PBF.18
14
PAIVA, Luis Henrique; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília:
IPEA, 2013.p.28
15
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Decentralization and Coordination in Social Law and Policy: The Bolsa
Família Program. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.; COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro
(orgs.). Law and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New
York: Cambridge University Press, 2013. p.321.
16
PAIVA, Luis Henrique; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília:
IPEA, 2013.p. 28.
17
PAIVA, Luis Henrique; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília:
IPEA, 2013.p.29.
18
COLIN, Denise Ratmann Arruda; PEREIRA, Juliana Maria Fernandes; GONELLI, Valéria Maria de
Massarani. Trajetória de construção da gestão integrada do Sistema Único de Assistência Social, do
Cadastro Único e do Programa Bolsa Família para a consolidação do modelo Brasileiro de proteção
21
Com o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria em 201119 identifica-se uma
quinta fase que trouxe uma ampliação da agenda de superação da miséria. O Plano
apresenta como eixos a garantia de renda, o acesso a serviços e a inclusão produtiva.
O BSM levou ao reajuste de benefícios, ao aumento do limite de benefícios variáveis
por família de três para cinco, à implementação efetiva de benefícios para nutrizes e
gestantes, à adoção da estratégia de ―busca ativa‖ e, mais para frente, a um novo
benefício chamado de ―Benefício de Superação da Extrema Pobreza‖ para fazer com
que a renda das famílias alcançasse esses setenta reais por pessoa por mês.20
O PBF foi criado em outubro de 2003 pelo então Presidente Lula, através da
Medida Provisória nº 132 e confirmado pela Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004
21
, regulamentado pelo Decreto nº 5.209 de 17/09/04 e alterado pelo decreto n°
6.157 de 16/07/2007 e surgiu do processo de unificação dos programas: Nacional de
Renda Mínima vinculado à saúde – Bolsa Alimentação, associado à educação – Bolsa
Escola, acesso à alimentação – Cartão Alimentação e o Auxílio Gás. Em 2005, foram
incluídos também o PETI e o Agente Jovem.
Draibe identifica que a criação do PBF veio acompanhada do discurso de
superação das falhas detectadas no período anterior, destacando-se a realização de
ações integradas para superação da fragmentação e superposição de esforços, a
aplicação de enfoque intersetorial, a associação com a sociedade civil organizada e a
conjugação de esforços e recursos com estados e municípios.22
social. In: CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão
e cidadania. Brasília: IPEA, 2013.
19
Segundo dados oficiais, em março de 2013, os últimos brasileiros do PBF que ainda viviam na miséria
transpuseram a linha da extrema pobreza. Com eles, 22 milhões de pessoas superaram tal condição
desde o lançamento do Plano. Mas ainda há três grandes desafios pela frente. Um deles é o da busca
ativa para que nenhuma família com o perfil do BSM fique fora do CadÚnico. O segundo é o de
aperfeiçoar ainda mais as estratégias de inclusão produtiva. E o terceiro é o de ofertar mais serviços de
qualidade, concebidos de forma a acolher e incluir quem mais precisa.
Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao. Acesso 24/05/15
20
PAIVA, Luis Henrique; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília:
IPEA, 2013.
21
BRASIL. Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.
Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/Lei/10836.htm>.
22
DRAIBE, Sonia Miriam. Brasil: Bolsa-Escola y Bolsa-Família. In: COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando
(coords.) Transferencias com corresponsabilidad. Uma mirada latinoamericana. Cap. III. México D. F.:
FLACSO, 2006.
22
Assim, o PBF se traduz na transferência de renda às famílias pobres e
extremamente pobres e, estrategicamente, tem como foco a unidade familiar e não
mais os seus membros separadamente considerados23. Acredita-se que a partir da
interação entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, a liberação dos recursos
tornou-se mais rápida, com menos burocracia e com melhor sistema de controle.
Embora a estratégia de programas de transferência de renda tenha sido
pensada e considerada por vários políticos e governantes como Eduardo Suplicy,
Cristovam Buarque e Antônio Palocci, o PBF propriamente dito foi instituído pela Lei
10.836/04, vinculado e subordinado diretamente ao Gabinete da Presidência da
República. Em janeiro de 2004, migrou para o MDS que passou a fazer a sua gestão e
do CadÚnico por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC).
Atualmente, o PBF integra o Plano BSM24 que tem como foco de atuação os
milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$77 mensais e, segundo
discurso oficial possui três eixos principais: a transferência de renda promove o alívio
imediato da extrema pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais
básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas
complementares, numa perspectiva de inclusão produtiva para aumentar as
capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda, de modo que os
beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.
O
PBF
é
um
programa
de
transferência
direta
de
renda
com
condicionalidades que atende famílias pobres (renda mensal por pessoa entre R$ 77,01
e R$ 154) e extremamente pobres (renda mensal por pessoa de até R$ 77). São vários
tipos de benefícios, utilizados para compor a parcela mensal que os beneficiários
recebem e são baseados no perfil da família registrado no CadÚnico. Entre as
informações consideradas estão a renda mensal por pessoa, o número de integrantes,
o total de crianças e adolescentes de até 17 anos e a existência de gestantes. 25
23
WEISSHEIMER, Marco Aurelio. Bolsa família: avanços, limites e possibilidades do programa que está
transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006.
24
Em 2 de junho de 2011, o Governo Federal lançou, por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem
Miséria (BSM) com o objetivo de superar a extrema pobreza até o final de 2014. Disponível em:
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao. Acesso em 24 de maio de 2015.
25
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios. Acesso 24 de maio de 2015.
23
São estabelecidos os seguintes tipos de benefícios: Benefício Básico de R$
77 concedido apenas a famílias extremamente pobres; Benefício Variável de R$ 35
concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade; Benefício
Variável à Gestante de R$ 35 concedido às famílias que tenham gestantes em sua
composição; Benefício Variável Nutriz de R$ 35 concedido às famílias que tenham
crianças com idade entre 0 e 6 meses em sua composição. Os benefícios variáveis
referidos acima são limitados a 5 (cinco) por família. O Benefício Variável Vinculado ao
Adolescente de R$ 42 é concedido a famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17
anos, limitado a dois benefícios por família; Benefício para Superação da Extrema
Pobreza a ser calculado e transferido às famílias atendidas pelo PBF que continuem em
situação de extrema pobreza, mesmo após o recebimento dos outros benefícios.26
O artigo 8º da lei que criou o PBF dispõe que a execução e gestão do
programa são políticas públicas e governamentais. O município ou estado comprometese, numa espécie de pacto de adesão, com o desenvolvimento de ações específicas no
sentido de apoiar a implementação, a gestão, o controle social e a fiscalização. A
integração entre ele e as iniciativas próprias dos estados e municípios no tocante à
transferência de renda são resultado dessa pactuação.27
Dessa forma, a gestão do programa é descentralizada e compartilhada entre
a União, estados, Distrito Federal e municípios. Os entes federados devem trabalhar em
conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução. A seleção das famílias é feita
com base nas informações registradas pelo município no Cadastro Único, instrumento
de coleta e gestão de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de
baixa renda existentes no Brasil. Com base nesses dados, o MDS seleciona as famílias
que serão incluídas para receber o benefício. Contudo, o cadastramento não implica a
entrada imediata das famílias no programa e o recebimento do benefício. 28
È prevista a participação da sociedade em sua implementação e fiscalização,
competindo aos Estados proporcionar estrutura para funcionamento do programa, além
de sensibilizar e articular os gestores municipais. Aos municípios compete a
26
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios. Acesso 24 de maio de 2015.
BRASIL. Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.
Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/Lei/10836.htm>.
28
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia Acesso dia 24 de maio de 2015.
27
24
administração mais imediata, como estabelecer a inscrição dos beneficiários; constituir
uma coordenação intersetorial que será responsável pelas ações do programa no
âmbito municipal; constituir órgão de participação social; promover a articulação entre
os demais membros da federação, para o acompanhamento das condicionalidades.29
Pesquisas qualitativas e percepções do programa pelos beneficiários,
exploradas em tópico adiante, apontam significativa melhora na qualidade de vida dos
mesmos, em especial, quanto ao acesso à alimentação, à educação e à saúde. Ainda
assim, há que se considerar também as severas críticas das quais é alvo.
Alguns o têm na esteira de tantos outros programas assistencialistas que
marcaram a história do Brasil que em lugar de provocar a emancipação dos seus
beneficiários, mantém-nos marginalizados, excluídos nessa condição de dependência,
sem acesso aos seus direitos de cidadania. Afirma-se que são verdadeiros estímulos à
vagabundagem, muitas vezes destinado a quem dele não precisa. É comum em rodas
de conversas, as pessoas siarem com frases do tipo ―as mulheres vão ter mais filhos
para receber mais dinheiro do governo‖; ―as pessoas vão deixar de trabalhar para viver
de benefício social‖; ―é claro que as famílias vão gastar mal o dinheiro‖.
Durante os protestos de junho de 2013 alguns cartazes pediam a revogação
do direito de voto dos beneficiários do Bolsa Família. Um eco das ideias veiculadas nas
redes sociais depois das eleições de 2010, segundo os quais a atual presidente da
República, Dilma Rousseff só se elegera por causa dos votos das famílias beneficiárias,
assim como teria acontecido com a reeleição do Lula em 2006, fortemente associada
aos ditos retornos eleitorais frutos da ampliação do PBF, envolto ao que se chamou de
Lulismo, dado a centralidade da figura do Lula.
Também sob a forma de críticas destacam-se as divergências relacionadas à
eficácia e, antes disso, à necessidade das condicionalidades associadas ao programa,
assunto explorado em tópico adiante. No rol de criticas ainda, estão questões
envolvendo os impactos efetivos do programa, o que abrange discussões no entorno
das chamadas "portas de saída" para os beneficiários, além de tantas dúvidas
associadas a sua sustentabilidade política e econômica, considerando um longo prazo.
29
Artigos 11, 14 e 15 do Decreto nº 5.209 de 17/09/04 e alterado pelo decreto n° 6.157 de 16/07/2007.
25
A focalização versus a universalização das políticas sociais, mais adiante
abordada, constitui-se em outro ponto de tensão no entorno do programa. A focalização
que consiste em estabelecer critérios de seleção da população-alvo do programa,
considerando aqueles que dele mais necessitem, foi apresentada como forma de
inserção dos mais pobres, dos excluídos do processo produtivo. Essas políticas de
tratamento diferenciado propõem-se a instrumentalizar o acesso a direitos negados, a
conta de uma posição oposta ao modelo universalista e isonômico da cidadania.
Ocorre que o artigo 5º da CFR/88 estabelece uma igualdade que não atinge
a grande maioria da população. A questão do direito de acesso às políticas públicas
perpassa os aspectos formal e material do princípio da igualdade. Se por um lado
exige-se a universalidade no acesso às políticas públicas, por outro, as prestações
sociais destinam-se à correção das desigualdades sociais. Nesse contexto, revela-se a
importância da reflexão sobre o papel do Estado na inclusão social de forma efetiva,
com planejamentos, estratégias e, consequentemente, ações.
A partir das dimensões de cidadania definidas por Marshall30 que entende a
cidadania como um sistema de direitos civis (surgidos no século XVIII), políticos
(surgidos no século XIX) e sociais (surgidos no século XX) e traduzindo-se no exercício
dos direitos e não nos direitos em si mesmo, considera-se que no Brasil a cronologia e
lógica da sequência descrita por Marshall foram invertidas. Primeiro os direitos sociais
foram implantados, num contexto político no qual um ditador que se tornou popular
suprimiu direitos políticos e reduziu direitos civis. Noutro período, caracterizado por uma
ditadura popular, a ampliação dos direitos sociais também estava em foco.
A partir do pensamento de Marshall, tem-se que a cidadania da sociedade
moderna foi sendo estruturada ao passo que o capitalismo ―que é um sistema não de
igualdade, mas de desigualdade‖31, também se desenvolvia. Pobreza e desigualdade,
analisadas na perspectiva das imperfeições do mercado da economia moderna, são um
problema do Estado e da sociedade civil e cuja superação perpassa o entendimento de
que o mundo contemporâneo, visto quanto à sua organização social, resulta da
evolução dos direitos civis, políticos e sociais.
30
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe Social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe Social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p.76.
31
26
Para Smanio, ―O Brasil teve uma formação dos direitos de cidadania tardia,
uma vez que, realizada, em suma, no decorrer do século XX e sempre com matriz
excludente, pois nunca foram direitos universalizados, o que reflete a desigualdade
social que persiste e é de difícil superação em nossos dias‖.32
Hoje, as grandes questões estão relacionadas à ampliação dos demais
direitos civis e políticos e à universalização dos direitos sociais. São objetivos
institucionalizados na CFR/88 a serem alcançados via políticas públicas sociais33, dado
que a institucionalização formal não tem garantido a igualdade e universalização
desses direitos, apresentando muitos limites à realização da cidadania plena.
A CFR/88 reflete os interesses das mais diversas camadas da sociedade
brasileira e a expressiva gama de direitos fundamentais é um forte indicativo disso.
Mas, o grande desafio está na sua efetivação, sobretudo os direitos sociais que exigem
a atuação direta e efetiva do Poder Público. Para Bonavides, a supremacia da
Constituição e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são dois traços
característicos fundantes do Estado constitucional de direito, um modelo de Estado de
direito pautado pela força normativa dos princípios constitucionais e pela pretensão de
consolidação de um modelo de justiça substancial.34
Enquanto isso, para Faria, no mundo globalizado a estrutura jurídica revestese de um caráter pluralista e ao mesmo tempo autônomo, fragmentado e ao mesmo
tempo harmônico, descentralizado e ao mesmo tempo autorregulador, formando em
sua essência um paroxismo próprio da miscelânea cultural, organizacional presente em
diversos Estados-Nações. Nesse contexto, surge uma corrente de juristas que
defendem a aplicação do Direito Reflexivo como uma forma de acompanhar as
evoluções trazidas com a expansão do fenômeno da globalização.
Faria ressalta que os teóricos desse direito reflexivo ressaltam que a
desterritorialização da produção industrial, a produção de cadeias produtivas
controladas em escala mundial por instituições financeiras internacionais e por
32
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Patrícia Cristina; (Orgs.). O Direito na fronteira das políticas
públicas. São Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2015.
33
CARVALHO, José Murilo. A Cidadania no Brasil: O longo caminho. São Paulo: Civilização Brasileira,
2008. p.219.
34
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.p.584.
27
conglomerados internacionais ou companhias globais, a proliferação de subsistemas
econômicos autorregulados e a perda tanto da centralidade quanto da exclusividade do
Estado-nação acabaram trazendo consigo um novo tipo de democracia,
a
organizacional35 que estaria preterindo ou colocando em segundo plano os direitos
oriundos da prática da cidadania, fator extremamente negativo sob o ponto de vista da
sociedade dos homens do mundo explorado ou subdesenvolvido que perdem espaço
conquistado ao longo de séculos de lutas e discursos das legítimas autoridades
legislativas da democracia representativa.
Segundo Faria, com o advento da globalização estaria havendo um maior
―pressionamento‖ por parte dos Estados desenvolvidos em relação aos Estados do
mundo subdesenvolvido para que estes procedam a alterações constitucionais e
legislativas com vistas à flexibilização dos direitos fundamentais e sociais. A este
fenômeno de flexibilização dos direitos legais e constitucionais chama o autor de
―desconstitucionalização‖ e ―deslegalização‖, o que levaria ao enfraquecimento dos
direitos fundamentais.36 Para o autor, são os reflexos do fenômeno da globalização
sobre a economia e ainda sobre a relativização dos direitos individuais e que produzem
mudanças na competitividade, na produtividade e na integração, no plano econômico,
produzindo ainda a fragmentação, exclusão e marginalidade no plano social.
Para atenuar tais distorções surge a necessidade do fortalecimento do
Direito Social. Para Faria, ao contrário dos direitos individuais, civis e políticos e das
garantias fundamentais desenvolvidos pelo liberalismo burguês com base no
positivismo normativista, cuja eficácia requer apenas que o Estado jamais permita sua
violação, os direitos sociais não podem simplesmente ser atribuídos aos cidadãos;
necessitam de ampla e complexa gama de programas governamentais e de políticas
públicas dirigidas a segmentos específicos da sociedade; políticas e programas
especialmente formulados, implementados e executados com o objetivo de concretizar
tais direitos e atender às expectativas gerados pelo mesmo com a sua positivação.
Sob outra perspectiva, Yazbek destaca as tensões que envolvem as políticas
atuais, cada vez mais restritas, com alto grau de seletividade, voltando-se paras ações
35
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo, Malheiros, 2004.
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo, Malheiros, 2004.
36
28
extremas. Nesse contexto, a autora assente que tais políticas são feitas nesses moldes,
pois existe uma ―incompatibilidade entre os ajustes estruturais da economia à nova
ordem capitalista internacional e os investimentos sociais do Estado‖37.
Os programas de natureza compensatória originaram-se da prática
assistencialista iniciada pela Igreja, objetivando o aumento do bem comum para alívio
das implicações da pobreza. Sua base é a solidariedade e não a equidade, sendo
focalizados e não universais. Os programas compensatórios não são dispensáveis,
apesar de não alterarem significativamente o nível de bem estar dos beneficiários, pois
a magnitude de indigência que ainda hoje compromete o desenvolvimento do país não
permite que se descartem essas medidas38.
Kowarick expõe a questão social traduzida em termos de comiseração:
Em consequência, tem ocorrido amplo e diverso processo de
desresponsabilização do Estado em relação aos direitos de cidadania,
dando lugar a ações de cunho humanitário que tendem a equacionar as
questões da pobreza em termos de atendimento particularizado e local.
Dessa forma, veem-se atuações no mais das vezes marcadas pela boa
vontade do espírito assistencial, voltadas a resolver problemas
emergenciais, descapacitando os grupos a enfrentar suas
marginalizações sociais e econômicas, pois essas vulnerabilidades
deixam de aparecer como processos coletivos de negação de direitos39.
Diante disso, Yazbek avalia que, no caso do Brasil, considerando a
dificuldade em se estabelecer o limiar entre as políticas assistencialistas e os direitos de
cidadania, é necessário rever-se o papel do Estado proposto pelo neoliberalismo.40 O
direito não é o mesmo para incluídos e excluídos. A sua utilização como instrumento de
igualdade e a constatação prévia de que direito é discurso de universalidade, contrasta
com a realidade e suas marcas de desigualdades tão elevadas.
Para Neves, as discriminações sociais negativas contra minorias seria
37
YAZBEK, Maria Carmelita. O Programa Fome Zero no contexto das políticas sociais brasileiras. São
Paulo.
Perspec.,
São
Paulo,
v.18,
n.
2,
abr./jun.
2004.
Disponível
em:>
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392004000200011&script=sci_arttext>.
38
LAVINAS, Lena, Combinando compensatório e redistributivo: o desafio das políticas sociais no Brasil.
Texto para discussão n. 748. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. p.8-9.
39
KOWARICK, Lucio. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano. jul2002.
http://www.uff.br/observatoriojovem/sites/default/files/documentos/20080627_viver_em_risco_1.pdfp15-16
p.20. Acesso em 24 de abril de 2015.
40
Yazbek. Maria Carmelita. O Programa Fome Zero no contexto das políticas sociais brasileiras. São
Paulo.
Perspec.
São
Paulo,
v.18,
n.
2,
abr./jun.
2004.
Disponível
em:>
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392004000200011&script=sci_arttext>.
29
compensada com a discriminação positivas que, segundo ele ―rompem com a
concepção universalista dos direitos dos cidadãos, abrindo-se fragmentariamente às
diferenças e condições particulares de grupos minoritários, sem que disso resulte
negação do princípio da igualdade. Há apenas a pluralização da cidadania41.
Seria necessário não só igualdade de oportunidades, mas também de
condições, mediante a criação de possibilidades concretas de democratizar a satisfação
das necessidades sociais na forma de acesso aos bens, aos serviços sociais e aos
direitos. Numa sociedade capitalista, onde prevalecem os interesses individuais, de
pessoas ou grupos, aos sociais, o fato empírico do crescente processo de concentração
de renda fortalece a iniquidade. Logo, a questão crucial da pobreza e da desigualdade
remete ao necessário enfretamento da questão da distribuição de renda.
Kerstenetzky afirma que não basta a discussão sobre o papel do Estado. É
preciso debruçar-se na análise da forma que ele realiza a promoção da justiça social.
As políticas sociais voltadas para os mais pobres percebidas no entorno de estruturas
que priorizam a eficiência e a racionalidade econômica, em detrimento de direitos de
cidadania e de noções de equidade, revelam a existência de uma determinada noção
de justiça social, conhecida como de justiça de mercado42.
Para a minimização dos mecanismos de concorrência as políticas sociais
voltadas para os mais pobres seriam as mais adequadas, pois atuariam de forma
residual
na
realidade
dos
indivíduos
excluídos
dos
processos
econômicos,
assegurando-se que os mais pobres da pirâmide social sejam alcançados pelos
recursos financeiros disponíveis. Assim, tem-se um critério para identificação dos
grupos mais marginalizados dentro do programa sócio econômico do país. A necessária
promoção da igualdade justificaria um tratamento diferenciado dos mais pobres, de
forma que lhes possam reduzir as desigualdades prévias. É perspectiva do princípio da
equidade cuja efetivação demanda a utilização de parâmetros de justiça distributiva.
Nesse contexto, a compreensão de focalização como residualismo, como
41
NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Dados – Revista de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, 1994. p.255.
42
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização? Universidade Federal
Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11. Disponível em:
<http://www.uff.br/econ/download/tds/UFF_TD180.pdf>
30
condicionalidade e como ação reparatória. Como residualismo culmina numa espécie
de reação negativa dos interlocutores, tendo-se em mente os ideais de justiça
distributiva com os quais eles se identificam e associam à concepção de justiça de
mercado. A favor da concepção de focalização como condicionalidade tem-se o
argumento da busca pelo foco correto para chegar-se à solução de um problema mais
especifico. Como ação reparatória, diferente da política residual, é tida como necessária
para restituir o acesso efetivo a direitos universais (formalmente iguais), aos grupos
sociais que restaram prejudicados por injustiças passadas, tais como, desiguais
oportunidades de realização de gerações passadas que foram se perpetuando num
círculo de desigualdade dos recursos e capacidades, até as presentes gerações.
43
Em uma sociedade muito desigual, as políticas sociais terão
necessariamente um componente de ―focalização‖, se quiserem
aproximar o ideal de direitos universais a algum nível decente de
realização. A focalização seria um requisito da universalização de
direitos efetivos, compatível com o princípio da retificação ou da
reparação (...)44.
Entende-se que as concepções de focalização como condicionalidade e
como ação reparatória, enquanto estilos de política social, e universalização podem ser
harmonizados, numa conjugação que obtenha a máxima eficiência dos dois métodos,
com vistas à realização social45. Essa conclusão é melhor elaborada ao final do tópico
2.2.1, no qual se explora o debate sobre focalização e universalização que marca a
história das políticas de transferência de renda no Brasil.
Quando da sua criação o PBF explicitou dois objetivos macros: reduzir a
pobreza e interromper seu ciclo intergeracional. Enquanto o primeiro objetivo seria
atendido pelas transferências diretas de renda, o segundo seria alcançado por meio das
condicionalidades de educação e saúde. Nesse contexto, considera-se que o impacto
43
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização? Universidade Federal
Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11. Disponível em:
<http://www.uff.br/econ/download/tds/UFF_TD180.pdf> p.4.
44
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização? Universidade Federal
Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11. Disponível em:
<http://www.uff.br/econ/download/tds/UFF_TD180.pdf>.
45
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização? Universidade Federal
Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11. Disponível em:
<http://www.uff.br/econ/download/tds/UFF_TD180.pdf>.
31
mais imediato do PBF sobre cidadãos brasileiros beneficiados é possibilitar a conquista
do primeiro degrau dos direitos fundamentais, qual seja o direito à alimentação
adequada sem o qual não há como construir o direito à vida, à dignidade humana, o
acesso aos direitos e aos deveres de nacionalidade e da cidadania.46
Sobre a repercussão de políticas redistributivas, tal como o PBF, no processo
de democratização num contexto de desigualdade como o do Brasil, a partir de uma
reflexão política Rodrigues expõe duas hipóteses. Tem-se que a sociedade, em geral, e
os beneficiários do programa, em particular, tendem a aguçar a sua percepção de
cidadania, contribuindo, pois, não só para o enfraquecimento de práticas paternalistasclientelistas, mas, sobretudo, para a expansão dos direitos civis e sociais no plano da
subjetividade. Por outro lado, os programas de transferência de renda podem confirmar
um sistema de política paternalista-clientelista, traduzindo-se em estigmas aos
beneficiários, e, além disso, na promoção de uma cidadania que se pode denominar de
passiva, característica de uma democracia eleitoral47.
Em pesquisa do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas IBASE que permite a inserção de um diálogo sobre os problemas estruturais da
pobreza, voltados principalmente para o seu combate e o da miséria, constatou-se que
o recebimento do benefício não fazia com que as pessoas deixassem de procurar
trabalho. Percebeu-se, nos grupos focalizados, que há abandono de trabalho quando
este é de extrema precariedade, o que incluiu, nos relatos, situações de trabalho
análogo à escravidão48. Nesse ponto, diga-se, verifica-se uma das consequências
positivas do programa, ao possibilitar aos mais pobres romper com os tradicionais
vínculos de clientela. Nesse compasso, o combate à exclusão contribui para a
unificação do mercado de trabalho e ações como o PBF devem se propor a estimular a
inserção ativa na economia capitalista.
Pesquisa sobre impactos do programa, em 2007, negou a hipótese de
46
WEISSHEIMER, Marco Aurelio. Bolsa família: avanços, limites e possibilidades do programa que está
transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006. p.11.
47
RODRIGUES. Marta Maria Assumpção. Políticas Redistributiva e Direitos Civis e Sociais no Brasil: O
dilema de construir a democracia num ambiente de desigualdade. Disponível em: http://www.ipcundp.org/publications/mds/42P.pdf p.11.
48
IBASE (2008). Repercussões do Programa Bolsa-Família na Segurança Alimentar e Nutricional das
famílias beneficiadas. Disponível em: http://www.ibase.br/userimages/documento_sintese.pdf p.15.
Acesso em 13 de agosto de 2013.
32
vagabundagem mostrando resultado que demonstra que a participação no PBF, após o
tratamento dos dados, tinha como consequência uma taxa de participação 2,6% mais
alta no mercado de trabalho. No caso das mulheres, a diferença foi de 4,3% 49. No
mesmo sentido, segundo o Censo 2010 do IBGE, 75,4% dos beneficiários do Bolsa
Família trabalham. E ainda, em 2014, segundo dados oficiais, cerca de 350 mil pessoas
que receberam o auxílio hoje são microempreendedores individuais 50. Para Moreira as
pesquisas não mostram nenhuma tendência dos beneficiários a deixar o mercado
formal de trabalho ou a trabalhar menos; o número de microempreendedores
individuais, aqueles com rendimento anual de até R$ 60 mil – oriundos do Bolsa Família
saltou de pouco mais de 100 mil, em 2011, para cerca de 350 mil, atualmente51.
Nas eleições presidenciais de 2006, quando da reeleição do Lula, às voltas
com as recorrentes criticas ao programa visto como prática eleitoreira e clientelista, a
relação de reciprocidade entre o coronel e o voto, descrita com propriedade por Leal, é
então considerada sobrevivente, sob novas formas do coronelismo no Brasil, com a
alegação de que o PBF sustentaria as lideranças dos coronéis modernos.
O fenômeno do coronelismo influenciaria no resultado do desenvolvimento
das famílias, considerado o seu ponto primordial da manutenção das pessoas pobres
na situação de dependência financeira absoluta. O sistema coronelista seguiria
resistindo às diversas alterações e modernizações de sociedade, numa roupagem
diferencidada, em virtude do desenvolvimento das famílias, aumento do grau de
educação, ainda que precário, do nível de esclarecimento e de conscientização.
Até os anos 90 os coronéis valiam-se simplesmente de suas reputações
e do nível de influência psicológica que exerciam sobre as famílias
pobres das regiões rurais. Contudo, em decorrência da modificação do
perfil dessas mesmas famílias, os coronéis passaram a enxergar a
necessidade de alterarem sua forma de atuação junto a elas. (...) tornou49
OLIVEIRA, A.M.H.C ; ANDRADE, M.V ; RESENDE, A.C.C. ; RODRIGUES, C. G. ; SOUZA, L.R. ;
RIBAS, R. P. Primeiros resultados da análise da linha de base da Pesquisa de Avaliação de Impacto do
Bolsa Família. In: Jeni Vaitsman; Rômulo Paes-Sousa. (Org.). Avaliação de Políticas e Programas do
MDS - Resultados. Brasília: Cromos, 2007. p. 49.
50
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/05/bolsa-familia-75-4-dos-beneficiariosestao-trabalhando publicado: 20/05/2014 12h37 última modificação: 30/07/2014 01h29. Acesso em 25 de
maio de 2015.
51
MOREIRA. Rafael de Farias Costa. Empreendedorismo e Inclusão Produtiva: uma análise de perfil do
microempreendedor individual beneficiário do Programa Bolsa Família. 2013. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/130507_radar25.pdf.
33
se necessário o oferecimento de vantagens financeiras e serviços
àquela população, obrigando os coronéis a mostrarem-se disponíveis
durante todo o mandato do governo e não só por ocasião da eleição.52
No que se refere à utilização do programa para finalidades eleitoreiras, as
conclusões constantes do TC n.º 022.093/2006, do Tribunal de Contas da União - TCU
que avaliou todo o processo de concessão são no sentido de que ―não se constatou
favorecimento político a partido político específico, nem descumprimento de norma legal
que pudessem caracterizar utilização do programa com finalidades eleitoreiras no nível
federal‖. O percentual de cobertura do programa nos municípios administrados pelos
quatro maiores partidos políticos brasileiros não apresentou diferenças significativas,
em que pese discrepâncias existentes em algumas localidades53.
Assim, essas conclusões não descartam a possibilidade de ter havido uso
promocional indevido do programa em nível local, afinal o PBF tem impactos na vida de
significativa parcela da população brasileira, o que por certo pode ser convertido em
votos, ainda que não se possa aferir a quantidade desses votos por um ou outro
candidato em função da existência ou não de um programa governamental.
A partir de uma pesquisa de campo feita com alguns gestores do PBF, com o
objetivo de investigar se o programa, considerando sua estrutura em 2009, permitiria a
superação da pobreza através de uma distribuição justa das riquezas sociais e ainda,
se existem, efetivamente, perspectivas dos seus beneficiários saírem dele de forma
autossustentada, concluiu-se que ainda se tem um caminho muito longo a percorrer,
considerando o problema complexo e multidimensional da pobreza, a necessidade de
integração entre diferentes níveis governamentais e setores, o que torna mais complexo
e difícil de ser ajustado e ainda, ao longo do desenvolvimento de qualquer política
pública é necessário recorrer a ajustes, novas demandas, arranjos com outras políticas
públicas, no sentido de enfrentar a questão de forma mais ampla possível. 54
52
ABREU, Lidiane Rocha. Direitos Sociais no Brasil: Programa Bolsa Família e Transferência de Renda,
2011. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico)–Universidade Presbiteriana Mackenzie.
53
BRASIL. 2006. Relatório de Acompanhamento do Programa Bolsa Família. Tribunal de Contas da
União.
Ubiratan
Aguiar
(Ministro
relator)
TCU.
Brasília.
Disponível
em:
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuacao/assiste
ncia_social/Relat%C3%B3rio%20de%20Acompanhamento%20do%20PBF_janeiro_0.pdf>. p.14 e 42.
54
SOUSA, Juliane Martins Carneiro de. A superação da pobreza através da distribuição justa das
riquezas sociais: uma análise da consistência teórica do Programa Bolsa Família e das perspectivas dos
34
O resultado daquela pesquisa apontou, após a análise do conteúdo das
entrevistas, para o sentido de considerar-se que o PBF ainda não cumpre integralmente
o papel de viabilizar a promoção social, apesar de necessário para a vida dos seus
beneficiários. Diante dessa realidade, tem-se que a busca pelo desenvolvimento social,
certamente, perpassa a questão de investimentos nas áreas de educação, de saúde, de
nutrição, dentre outras, mas também, deve orientar-se pela emancipação, bem como
pela facilitação do uso das capacidades do indivíduos, de forma que se permita,
efetivamente, uma superação autossustentada da pobreza 55.
Inobstante a variedade de críticas que lhe são direcionadas, em especial,
aquelas relativas a tê-lo como de pouco alcance no processo de emancipação do
individuo na conquista da cidadania, o PBF, na qualidade de ação de inclusão social,
presta-se a uma ação reparatória, propondo a restituição do acesso aos direitos básicos
de saúde e educação, ao passo que ―aumenta a percepção de empoderamento e
aprendizagem de seus beneficiários para a participação política‖.
A ampliação dos direitos sociais caminha rumo à consolidação da
democracia, bem como de um regime político mais responsável, num contexto de
desigualdade social extrema56. Lembrando que ―Quanto mais inclusivo for o alcance da
educação básica e dos serviços de saúde, maior será a probabilidade de que mesmo
os potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a penúria‖57.
A essa altura, um primeiro ponto a se concluir: no estudo da problemática em
torno pobreza e sua superação, percebendo-se as suas demandas complexas e
heterogêneas, o sentido desse estudo passa a ver um conjunto diversificado de ações e
políticas no sentido da integração, de maneira que assistir e emancipar tornam-se
processos indissociáveis, deixando, portanto, de serem ações contraditórias.
beneficiários de saída autossustentada do Programa, 2009. Dissertação (Mestrado em Administração
Pública)FGV.Disponível:<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3351/juliane.M.pdf?
sequence=1>.p.156.
55
SOUSA, Juliane Martins Carneiro de. A superação da pobreza através da distribuição justa das
riquezas sociais: uma análise da consistência teórica do Programa Bolsa Família e das perspectivas dos
beneficiários de saída autossustentada do Programa, 2009. Dissertação (Mestrado em Administração
Pública)FGV.Disponível:<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3351/juliane.M.pdf?
sequence=1>. p.157.
56
RODRIGUES. Marta Maria Assumpção. Políticas Redistributiva e Direitos Civis e Sociais no Brasil: O
dilema de construir a democracia num ambiente de desigualdade. Disponível em: http://www.ipcundp.org/publications/mds/42P.pdf p.5.
57
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.124.
35
1.1.1. Crescimento econômico e Desigualdade social
No elenco dos princípios fundamentais da federação, o artigo 3° da CFR/88
incluiu a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades
sociais e regionais. A própria Constituição cria as bases para a responsabilidade e
cooperação entre os entes federados, determinando que a atuação do Estado na
redução da pobreza, da desigualdade e da exclusão social deve ser realizada
conjuntamente por esses entes. Assim, o modelo federativo implementado no Brasil a
partir de 1988, traz como principal marca a descentralização política e administrativa
refletida na perda de poderes da União e na transferência de atribuições para as
esferas subnacionais, extinguindo o modelo unionista autoritário em vigor desde 1964.58
A partir da CFR/88 estados e municípios passaram a desempenhar um novo
papel na esfera das políticas públicas, na gestão das políticas sociais. Os municípios,
reconhecidos como entes federativos autônomos, passaram a deter competência para
organizar e prestar serviços públicos de interesse local, diretamente ou através de
regime de concessão ou permissão. O governo federal transferiu para os estados, e
mais ainda, para os municípios, responsabilidades e prerrogativas na gestão das
políticas, de programas e na prestação de serviços sociais e assistenciais. Para
Menucucci, a municipalização consiste na capacidade que o município passa a ter para
incentivar a cooperação social na busca de respostas integradas a problemas como
emprego, educação, cultura, moradia, transporte, entre outros59.
Considera-se ―(...) a percepção de que não bastava a Constituição Federal
dispor enorme gama de direitos sociais e tratar dos instrumentos para sua realização. A
concretização desses direitos dependia de uma atuação eficaz dos Poderes e órgãos
do Estado, bem como de um trabalho eficiente do governo. 60
Direitos sociais indissociáveis à existência do cidadão é a concepção que
58
MESQUITA, Camile Sahb. Contradições do processo de implementação de políticas públicas: Uma
análise do Programa Bolsa Família 2003-2006. In: Revista do Serviço Público, vol, 57, nº 4 - Out/Dez
2006. Brasília: ENAP, 2006.
59
MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. Intersetorialidade, o desafio atual para as políticas sociais. In:
Revista Pensar BH/Política Social. Maio/Junho de 2002. p.10-13.
60
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania. In:
SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas
no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.3.
36
está na base do conceito de Welfare State ou Estado de Bem Estar Social61 pelo qual
todo o indivíduo tem direito a bens e serviços a serem fornecidos pelo Estado, direta ou
indiretamente, através do seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil. São
direitos que contemplam cobertura de saúde e de educação em todos os níveis, auxílio
ao desempregado, garantia de uma renda mínima, dentre outros.
É nesse contexto que a partir de 1991, o debate sobre Programas de
Transferência de Renda passa a fazer parte da agenda política do país e ―A
redemocratização do país fez crescer a percepção de que a efetivação dos direitos
sociais depende de políticas eficazes que devem ser elaboradas e realizadas pelo
Estado, em parceria com a sociedade civil organizada, mas, sobretudo, deve haver um
controle efetivo sobre essas políticas e a forma de sua consecução.62
Com o advento do Plano Real, a partir de 1994 ocorreram novas
transformações no federalismo brasileiro, sobretudo nas áreas fiscal e financeira, com
ajustes que buscaram minimizar os efeitos perversos da descentralização desordenada
ocorrida até então. Uma mudança significativa foi a introdução da vinculação de gastos
dos três níveis de governo nas políticas de educação e saúde, que passaram por um
processo de descentralização coordenada, sobretudo na segunda metade da década
de 1990, que ampliou oportunidades de negociação intergovernamental, respondendo à
demanda por maior uniformidade e regularidade no padrão de oferta dessas políticas.63
Em meados da década de 1990, as iniciativas voltadas ao combate da
pobreza ainda não tinham iniciado um processo mais consistente de
descentralização.(...) a União reconheceu a iniciativa meritória das
demais esferas de governo na implementação de programas de
transferência condicionada de renda e, graças à maior disponibilidade
de recursos, viabilizada, inclusive, pela aprovação do Fundo
Constitucional de Combate à Pobreza, em 2000, passou a adotá-los em
nível nacional.64
61
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe Social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p.12-97.
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania. In:
SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas
no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.3.
63
LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb; CURRALERO, Claudia Regina Baddini. Desafios para
a Coordenação Intergovernamental do Programa Bolsa Família. In Revista de Administração de
Empresas, vol. 51, n. 5, set-out 2011.
64
LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb; CURRALERO, Claudia Regina Baddini. Desafios para
a Coordenação Intergovernamental do Programa Bolsa Família. In Revista de Administração de
Empresas, vol. 51, n. 5, set-out 2011.
62
37
Nas duas últimas décadas persistiram elevados níveis de pobreza e
desigualdade na distribuição de renda no Brasil, bem como a exposição ao desafio
histórico de atuar frente a uma herança de injustiça social e combater a exclusão que
assola milhares de brasileiros que não têm acesso a condições mínimas de dignidade e
cidadania. O Brasil é um país marcado por enraizados contrastes sociais e econômicos,
apresentando uma das mais elevadas taxas de desigualdade da América, associadas
aos seus elevados índices de pobreza, pelo que ―(...) as desigualdades sociais e
econômicas tornaram-se intoleráveis para grande parte da população, principalmente
de nosso País, que passa a exigir soluções de garantia de direitos fundamentais, que
se reflete na cidadania do Estado brasileiro.65.
A história da desigualdade de renda no país, traduzida por grandes abismos
entre pobres e ricos, dera origem às mais diversas teorias explicativas cujas análises
partem das suas peculiares características.
Ao atribuir tratamento particular à sociedade de modernização periférica,
Souza insiste que o Brasil teve uma experiência marcada por ausências consideradas
essenciais ao processo de cidadania. O aspecto singular desse tipo de sociedade
relaciona-se com a forma pela qual se deu a sua modernização. No caso do Brasil,
houve uma combinação da ―esquematização‖ resultante da sua herança escravocrata,
condicionante do que se denomina de ―subgente‖. Assim, percebe-se a realidade do
dependente de qualquer cor, vivendo sob essas condições especificamente modernas.
É a produção social, nas sociedades periféricas, de uma ―ralé estrutural‖66.
Para Souza o valor que se atribui ao pobre brasileiro compara-se ao do
animal doméstico, caracterizando de forma objetiva o seu status subumano. Afirma que
em países periféricos, tal qual o Brasil, existe estrato de pessoas excluídas e
desclassificadas. Acredita que o brasileiro integrante da classe média não seria capaz
de confessar o fato de que considera os seus compatriotas integrantes das classes
65
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania. In:
SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas
no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.4.
66
SOUZA, Jesse. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade
periférica. Belo Horizonte: Editora UFMG: Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006. p.177-184.
38
baixas como ―subgente‖67. Ainda que se considere o crescente avanço da participação
política e econômica no país, é pungente uma específica contradição de interesses
entre as classes mais importantes dessa modernidade periférica. Uma articulação entre
uma espécie de ―ralé‖ de excluídos num polo e no outro, todos os incluídos.68
O Brasil é um exemplo contundente de país que tem pobres e desigualdade.
Com amplos recursos e elevado PIB apresenta altos índices de desigualdade. E, claro,
está-se diante de um fenômeno com influência direta nas disfunções sociais 69. O Banco
Mundial destaca o Brasil como um gigante econômico e entre os dez maiores PIBs do
mundo (7ª maior economia mundial). Por outro lado, ocupa posições bastante
discrepantes do seu potencial econômico, tal qual visto sob a 79ª posição no ranking
mundial de desigualdade, segundo dados do PNUD 2013.
Ao que parece o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos
pobres. Esses elevados níveis de pobreza que oprimem a sociedade encontram seu
principal determinante numa estrutura de desigualdade na distribuição da renda e das
oportunidades de inclusão econômica e social. Detentor de imensos recursos naturais e
de um forte potencial de desenvolvimento industrial, mas que ainda sofre com esse
grande abismo entre ricos e pobres. É a desigualdade social um abismo que separa a
realidade diária de milhões de brasileiros da realidade cidadã prevista na CFR/88.
Além de preservar-se os incentivos para o crescimento da renda de todos,
faz-se mister chegar-se às causas mais fundamentais da desigualdade, perpassando
as diferenças intergeracionais de oportunidades70. O crescimento econômico é sempre
bem vindo, mas se ocorre acompanhado por aumento da desigualdade, seu impacto
sobre a pobreza pode ser nulo. É fundamental a intervenção estatal por meio das
políticas públicas sociais para garantir que todos sejam beneficiados pelo crescimento,
especialmente os pobres.
67
SOUZA, Jesse. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade
periférica. Belo Horizonte: Editora UFMG: Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006. p.174-175.
68
SOUZA, Jesse. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade
periférica. Belo Horizonte: Editora UFMG: Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006. p.185.
69
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar a pobreza.
Brasília UNESCO, 2002. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf.
70
NERI, Marcelo Cortez (Coord.). Atlas do Bolso Brasileiro do Brasileiro - Rio de Janeiro: FGV/IBRE,
CPS, 2009. Disponível em: http://www.fgv.br/cps/atlas/ p.12.
39
Destaca-se o período da história brasileira, estatiscamente documentada,
desde 1960, em que houve significativa redução da desigualdade observada desde
2001. O país cresceu um terço do crescimento dos anos 70, mas reduziu-se mais a
pobreza na primeira década dos anos 200071. O comportamento da desigualdade de
renda no Brasil a partir de 1970 até o ano de 2007 foi analisado em dois relatórios
(Notas Técnicas) publicados pelo IPEA. A Nota Técnica nº 60 de 2010 avaliou o período
de 1970 a 2007 e a Nota Técnica de 2006, o período de 2001 a 2004. A Nota Técnica
n°60 foi mais abrangente, vez que a análise deu-se no âmbito das regiões do Brasil; o
estudo realizado em 2006 sobre a queda da desigualdade de renda no Brasil foi
direcionado especialmente aos indivíduos e famílias no período de 2001 a 2004.
De acordo com a Nota Técnica de 2006, houve um incremento na
transferência de recursos e investimentos públicos nas regiões menos desenvolvidas
do Brasil. O PBF e obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento,
PAC feitas a partir de 2003 impulsionaram a economia de muitos municípios. A
desigualdade de renda familiar per capita no país caiu de forma contínua e substancial,
entre os anos de 2001 a 2004, alcançando seu menor nível naqueles últimos 30 anos.
Ressalta-se que esta Nota Técnica contempla apenas o período inicial de atuação do
PBF (2004), que naquela época, havia alcançado 6,5 milhões de famílias. A partir do
ano 2006, o Programa já beneficiava mais de 11 milhões de famílias.72.
Efetuando-se uma análise da Nota Técnica nº 60, de 2010 constata-se que a
desigualdade na distribuição de renda sempre foi elevada no Brasil. Após o fim da 2ª
Guerra Mundial, o Brasil assim como os demais países do mundo, entrou em um
vigoroso processo de industrialização. No seu caso, sobretudo a partir dos anos 50,
várias fábricas multinacionais instalaram-se no seu território brasileiro, gerando milhares
de empregos diretos e indiretos. O problema é que esse desenvolvimento foi
especialmente concentrado em poucas regiões do país, principalmente no Sudeste, ao
passo que as demais regiões careceram de desenvolvimento em suas áreas73.
71
NERI, Marcelo Cortez (Coord.). Atlas do Bolso Brasileiro do Brasileiro. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS,
2009. Disponível em: http://www.fgv.br/cps/atlas/
72
WEISSHEIMER, Marco Aurelio. Bolsa família: avanços, limites e possibilidades do programa que está
transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo:Fundação Perseu Abramo,2006. p.113.
73
IPEA. Nota técnica n° 60 de 2010. Desigualdade da renda no território brasileiro. p.4.
40
Olhando-se mais para dentro do Brasil, conforme Nota Técnica de 2010, ao
segmentar-se os dados entre as 5 regiões políticas do Brasil, percebe-se que as
regiões que mais se desenvolveram também foram aquelas que tiveram um maior
aumento na desigualdade de distribuição da renda. O progresso e o acúmulo de
riquezas por um país ou por uma determinada região não significa, necessariamente,
que todos ou a maioria dos habitantes daquela região serão beneficiados, podendo a
riqueza acumulada estar concentrada nas mãos de poucos.
Diante dos resultados analisados nas notas técnicas, considerou-se aquela
década como da redução da desigualdade de renda, do mesmo modo que a década de
1990 foi a da estabilização, e a de 1980, a da redemocratização 74. Por outro lado, de
acordo com a Nota Técnica 2006, apesar daquela queda na desigualdade, o Brasil
continuava a ser um dos países mais injustos neste quesito. Em conformidade com o
estudo do IPEA e os dados do IBGE, a renda recebida pelo 1% mais rico da população
equivalia à renda recebida pelos 50% mais pobres. E por isso, está atrás de 95% dos
países que possuem dados sobre desigualdade de renda75.
Conforme demonstrado pela Nota Técnica de 2006 do IPEA, a desigualdade
de renda caiu no Brasil naquela década retirando milhões de pessoas das linhas da
pobreza e de extrema pobreza. Isso não foi o resultado de um único fator, mas de um
conjunto, embora alguns fatores tenham sido mais importantes do que outros. Dentre
os mais importantes estão a transferência de renda por meio de benefícios sociais e a
redução na desigualdade de remuneração76. Além do Bolsa Família, as pensões e
aposentadorias pagas pelo INSS, além de outros programas de assistência e
transferência de renda oferecidos pelo governo foram fundamentais para dito resultado.
A tendência precisa manter-se de forma equilibrada e principalmente,
sustentável. Para o Brasil crescer em competitividade internacional, precisa-se de anos
e anos de queda contínua. O IPEA apontou para algumas direções que deveriam ser
contempladas por uma estratégia de combate a desigualdade como capacitação de
mão de obra e otimização de carga tributária e de gastos públicos. O relatório sugere
74
NERI, Marcelo Cortez (Coord.). Atlas do Bolso Brasileiro do Brasileiro - Rio de Janeiro: FGV/IBRE,
CPS, 2009. Disponível em: http://www.fgv.br/cps/atlas/. p.13.
75
IPEA. Nota técnica n° 60 de 2010. Desigualdade da renda no território brasileiro. p.19.
76IPEA. Nota técnica n° 60 de 2010. Desigualdade da renda no território brasileiro. p.5.
41
investimento em micro e pequenos empreendimentos, facilitando o acesso ao crédito e
à tecnologia, por exemplo. Otimizar o gasto público é forma de atuar no combate a
fraudes e também dos recursos serem direcionados a quem mais precisa.77
Rodrigues aponta para o reconhecimento de que as precárias condições de
vida de grande parte da população brasileira decorre, sobretudo, da má distribuição dos
recursos, e não da escassez absoluta deles. Diante disso, em pauta, as
recomendações de políticas sociais no sentido da diminuição da desigualdade, da
pobreza e da fome78. E isso não ocorrerá apenas por meio da economia, mas,
sobretudo, será alcançada através de um grande investimento no capital humano.
Trata-se da essencial capacitação do ser humano para que este passe a ter condições
de vivenciar a realidade constitucional que lhe é garantida.
A política social deve ser parte do plano estratégico de combate à pobreza
fundamentada na necessidade e na urgência de uma política de assistência aos mais
pobres como meio de alivio imediato da pobreza e de garantia de sobrevivência. Assim,
―Evitar o agravamento da pobreza depende tanto de intervenções sobre o mercado de
trabalho, objetivando especificamente tornar a reestruturação produtiva menos penosa
para os mais pobres, como de políticas de transferência de renda‖79.
O beneficiário de um programa social passa a desenvolver um sentido de
pertencimento, solidariedade e de responsabilidade social, vendo-se a si mesmo como
um cidadão potencialmente ativo e participativo. Enquanto isso, a sociedade que adota
esses programas redistributivos, o faz reconhecendo os efeitos da sua implementação
como uma janela de oportunidades que culminará numa democracia mais cidadã80.
Fruto do sucesso da estratégia de crescimento adotada pelo Brasil em 2003,
a distribuição de renda contribuiu para a inclusão no mundo do consumo de grandes
contingentes populacionais que antes mal tinham capacidade para comprar o
77
IPEA. Nota técnica n° 60 de 2010. Desigualdade da renda no território brasileiro. p.10.
RODRIGUES. Marta Maria Assumpção. Políticas Redistributiva e Direitos Civis e Sociais no Brasil: O
dilema de construir a democracia num ambiente de desigualdade. Disponível em: http://www.ipcundp.org/publications/mds/42P.pdf p.5.
79
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006. p.15.
80
RODRIGUES. Marta Maria Assumpção. Políticas Redistributiva e Direitos Civis e Sociais no Brasil: O
dilema de construir a democracia num ambiente de desigualdade. Disponível em: http://www.ipcundp.org/publications/mds/42P.pdf p.11.
78
42
estritamente necessário para a sobrevivência expandindo o mercado interno81. O
aumento da renda familiar permite o consumo imediato das famílias, ao passo que se
afigura como um potencializador do capital financeiro das mesmas. É importante
considerar os estudos que demonstram o alcance do PBF ao seu público alvo e assim,
ele consegue chegar às famílias mais pobres que historicamente ficavam à margem das
políticas públicas brasileiras. A esse fato, diga-se, atribui-se muitos dos seus resultados
positivos, portanto o foco nos mais pobres teria sido uma decisão acertada.
Pesquisadores apontam que as estratégias de combate à pobreza
consideradas de curto prazo foram alcançadas. Segundo eles, o valor monetário pago
pelo programa contribuiu de maneira substantiva para a queda da desigualdade e da
redução da pobreza no país nos últimos anos, fazendo com que milhões de pessoas
pudessem ter rendimentos mínimos que permitissem a elas garantir a sua
sobrevivência82. Por outro lado, as estratégias de médio e longo prazo merecem
reflexões mais apuradas, talvez na dependência do fator tempo para que haja um
consenso sobre as contribuições do PBF no combate efetivo à pobreza.
É importante notar ainda, que a transferência de renda limita-se a reduzir a
pobreza no que ela depende da renda para consumo no âmbito privado, sendo
indispensável à manutenção de políticas voltadas para o atendimento de outras
necessidades dos mais pobres, como educação, saúde e nutrição, saneamento, etc. 83.
Sen acredita que a contribuição do crescimento econômico deve ser percebida também
pela expansão de serviços sociais, o que inclui, em muitos casos, as redes de
segurança social, e não apenas pelo aumento de rendas privadas84.
Diante da questão da exclusão social verifica-se a opção pela intervenção no
que é periférico, focando-se nas intervenções setoriais, sob o escudo do princípio da
economia e da dificuldade da implementação de políticas preventivas mais amplas. Mas
―É no coração da condição salarial que aparecem as fissuras que são responsáveis
81
Disponível: <http://www.nospodemos.org.br/upload/tiny_mce/quarto_relatorio_acompanhamento.pdf.>
4° Relatório Nacional de Acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento do milênio, p.37.
82
SOARES, F. V.; SOARES, S.; MEDEIROS M.; OSÓRIO, R. G. Programas de transferência de renda no
Brasil: impactos sobre a desigualdade. Rio de Janeiro: Ipea, out. 2006. (Texto para discussão, 1228).
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1228.pdf>.
83
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006.
84
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010. p. 61.
43
pela exclusão; é sobretudo sobre as regulações do trabalho e dos sistemas de proteção
ligadas ao trabalho que seria preciso intervir para lutar contra a exclusão‖85. A exclusão
é uma questão estrutural e por isso, as políticas para combatê-la devem atuar de forma
preventiva, em especial, nos fatores de desregulação da sociedade salarial, dos
processos de produção e da distribuição das riquezas sociais; devem ser políticas que
visem mudanças do modelo econômico.
Portanto, se nada de mais profundo for feito, a ―luta contra a exclusão‖
corre o risco de se reduzir a um pronto socorro social, isto é, intervir aqui
e ali para tentar reparar as rupturas do tecido social. Esses
empreendimentos não são inúteis, mas deter-se neles implica na
renúncia de intervir sobre o processo que produz estas situações86.
Segundo os autores Aguiar e Araújo é possível a afirmação de que
programas de garantia de renda mínima quando isoladamente aplicados não
contribuem de forma efetiva para a quebra dos ciclos geracionais de pobreza e da
desigualdade, afinal não atacam diretamente suas causas. Não são questões apenas
de renda pelo que nenhuma renda distribuída aos mais pobres, por mais alta que fosse,
sozinha, poderá garantir o mínimo de bens e acessos a serviços básicos de qualidade
necessários para sair da condição de pobreza e da exclusão social.87
Programas
de
transferência
de
renda,
no
contexto
de
grandes
desigualdades, fazem diferença na vida dos cidadãos, considerando que mobilizam a
economia local e ainda, ajudam a sedimentar a percepção que estimule as pessoas a
lutarem pela conquista de novos direitos88.Além da garantia de condições dignas de
sobrevivência, o acesso à renda traduz-se em poder de escolha; contribui para o
incremento de bens sociais, proporcionando os meios para a construção de uma
sociedade mais igual. Por tudo isso, a ideia de uma garantia de renda dissociada do
85
CASTEL, Robert. Desigualdade e a questão social / orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus,
Maria Carmelita Yazbek. – São Paulo : EDUC, 2000.p.36.
86
CASTEL, Robert. Desigualdade e a questão social / orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus,
Maria Carmelita Yazbek. – São Paulo : EDUC, 2000.p.28.
87
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar a pobreza.
Brasília UNESCO, 2002. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf.
88
RODRIGUES. Marta Maria Assumpção. Políticas Redistributiva e Direitos Civis e Sociais no Brasil: O
dilema de construir a democracia num ambiente de desigualdade. Disponível em: http://www.ipcundp.org/publications/mds/42P.pdf p.13.
44
trabalho mais uma vez ganha força como alternativa de assegurarem-se meios para
uma vida saudável e autônoma.
Todavia, a transferência de renda não é solução bastante em si para as
questões das desigualdades e da pobreza. O Brasil estará no rumo certo para tornar-se
uma sociedade mais justa e capaz de oferecer condições de vida adequadas para
todos os seus membros se mantiver um ambiente econômico propício para o
desenvolvimento, aperfeiçoando as políticas para a garantia de direitos, a proteção
social e a geração de oportunidades.89
Melhorias tem sido propostas no que tange à execução do PBF. A questão
da focalização tem se destacado, considerando que os gestores tem direcionado os
benefícios para as famílias mais necessitadas. Tem-se buscado aperfeiçoar os
controles internos no intuito de se evitar os erros, sejam de inclusão por conceder-se
benefícios a quem não cumpre os critérios do programa ou de exclusão relacionado
com o fato de deixar de fora do programa que cumpre seus requisitos.90
O Brasil é uma inspiração para o resto do mundo. Embora tenha uma
longa história de desigualdade, é um dos poucos países que
conseguiram reduzir a desigualdade através de políticas públicas nos
últimos anos(...) O Brasil é um exemplo de que o governo tem a opção
de agir.91
Reconhece-se que o PBF não é capaz, por si só, de eliminar as
desigualdades sociais e a exclusão, mas pode colaborar para um processo de
ampliação dos direitos e da cidadania. Sob essa perspectiva, as políticas públicas de
combate à exclusão assumem lugar de destaque, considerando que já da sua
formulação e implementação sejam percebidas como planos integrantes de uma
89
Disponívelem>http://www.nospodemos.org.br/upload/tiny_mce/quarto_relatorio_acompanhamento.pdf.4
Relatório Nacional de Acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento do milênio>. p. 37. .
90
BRASIL. Fiscalis n.º 12/2009. Relatório de Acompanhamento do Programa Bolsa Família. Tribunal de
Contas da União. Brasília. Secretaria de fiscalização e avaliação de programas de governo Disponível:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuacao/assisten
cia_social/Relat%C3%B3rio%20de%20Acompanhamento%20do%20PBF_janeiro_0.pdf. p.42.
91
PHILLIPS, Ben. Coordenador de Campanhas e Políticas da ONG ActionAid, organização não
governamental internacional que luta contra pobreza, tem programas de patrocínio de crianças e bases
operacionais em vários países, incluindo Brasil.
Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/05/150430_action_aid_entrevista_jc_lg
Acesso em 25/05/2015
45
estratégia maior para o combate à questão social da exclusão no Brasil e não apenas
como um fim em si mesmo.
Um grande desafio é fazer com que os benefícios do crescimento sejam
distribuídos a todas as camadas da população, diminuindo a desigualdade social que
tem influencia direta no processo de redução da pobreza. Torna-se importante
conhecer-se como a pobreza distribui-se espacialmente, percebendo-se onde ela é
mais intensa. Apenas através de adequada focalização será possível tornar eficientes
os mecanismos de combate à pobreza e por isso são necessárias ações que levem ao
crescimento econômico de forma mais igualitária.
Nesse contexto, ressalta-se o enfoque econômico das políticas públicas no
Brasil. Os argumentos relacionados ao custo (econômico) da concretização das
promessas da Constituição cidadã, as limitações orçamentárias e a doutrina da reserva
do possível, aliados à questão da capacidade do Poder Público em bem gerenciar o
orçamento público, bem como inúmeros ruídos e interferências ilegítimas (corrupção e
ineficientes sistemas de controle) na eleição das prioridades da ação estatal, acabam
por entravar ainda mais a concretização daquelas promessas festejadas na CFR/88.
Sobre a necessária relação entre Direito e Economia, Duran pondera:
Não estou aqui defendendo a colonização do sistema jurídico pelo
sistema econômico. De forma alguma defendo que a razão jurídica deva
se pautar pela eficiência de mercado. A colonização da vida social pelo
juízo econômico da eficiência seria bastante perversa. O impacto para o
sistema jurídico seria a ignorância de certos valores que são tutelados e
deveriam ser instransponíveis pela ação política(...) A racionalidade de
meios é muito cara aos juristas. No entanto, a interpretação de uma
regra de direito precisa considerar sua finalidade e seus resultados
futuros.92
Para Helcio Ribeiro, ―o enfretamento do modelo econômico que se baseia na
hegemonia neoliberal‖ é um dos sentidos do grande desafio político que se coloca
diante da implementação das políticas públicas e na efetivação dos direitos sociais
92
DURAN, Camila Villard. O STF e a constitucionalidade dos planos econômicos. Artigo publicado na
edição nº 161 da Revista JC Constitucional, Economia, 14/01/2014. Disponível em:
http://www.editorajc.com.br/2014/01/stf-constitucionalidade-planos-economicos/
46
contidos na CFR/88.93 O autor destaca as tendências antidemocratizantes mais visíveis
desde os anos 1990, com ―(...) tentativas permanentes de restringir cada vez mais a
esfera pública, a democracia e os direitos, aprofundando a tensão entre capitalismo e
democracia, fazendo governos recorrerem cada vez mais a medidas de urgência que
invadem o ordenamento jurídico, desfigurando a ideia tradicional de Constituição.‖94
Baseando-se nas ideias de Faria95, tem-se que a globalização econômica faz
surgir um direito que põe em xeque o modo tradicional de pensar as relações entre
direito e mudança social. Considerada a crise do Estado intervencionista, a partir da
década de 1970, comprometida a capacidade diretiva do direito (instrumentalizado
politicamente pelo Estado-Nação), houve distorções no plano econômico e uma crise
de racionalidade no direito positivo.96 Considera-se que a financeirização da economia
capitalista, a reestruturação dos processos produtivos e as reformas do Estado voltadas
para o mercado compromete a lógica universalista das políticas econômicas.
O Estado de Bem Estar, em suas diversas variantes nacionais,
empenhou-se durante décadas em um processo de intervenção estatal
intensa no sentido de obter o desenvolvimento econômico, proteger a
empresa nacional e distribuir a renda por meio de políticas públicas
universalistas, mas a partir dos anos de 1990, fortes tendências de
cortes nos gastos sociais e financeirização da economia
comprometeram os direitos sociais e o papel das Constituições, levando
o Estado a iniciar um processo de substituição das políticas públicas
universalistas pelas políticas focalizadas, especialmente voltadas para o
combate à pobreza.97
Considerado todo o exposto acima, a concretização dos direitos sociais
parece exigir um profundo redimensionamento do papel do Direito e das instituições
jurídico-democráticas, requerendo um modelo de Estado de direito inclusivo, que
93
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.44.
94
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.49.
95
FARIA, José Eduardo. Estado e direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2001.
96
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.49.
97
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.50.
47
assume obrigações perante os cidadãos e procura dialogar com os anseios dos mais
diferentes conjuntos de atores sociais.
Em artigo intitulado ―O bolsa família e a ralé brasileira‖, em 2010, Jesse
Souza argumentava que os índices mostravam que a pobreza absoluta vinha
diminuindo, mas alertava para a desigualdade como um conceito relacional. Afirmava
ser o Brasil uma das sociedades complexas mais desiguais do planeta e considerava
que entre 30% e 40% de sua população tem inserção precária no mercado e na esfera
pública. Avaliando o PBF, considerou que tem extraordinário impacto social, econômico
e político, com investimento público relativamente muito baixo. Por outro lado, sozinho
não tem condições de reverter o quadro de desigualdade e "incluir" e "redimir" a "ralé".
Segundo ele, um desafio de toda a sociedade e não apenas do Estado. ―É claro que
houve avanços nas duas últimas décadas, mas mudança social é muito mais do que
condições econômicas favoráveis‖.98
A obra recém lançada de Souza, atualmente presidente do IPEA, ―A tolice da
inteligência brasileira‖ traz argumentos de um ―economicismo‖ superficial que nos
domina e assim, temos a tendência de achar que o crescimento econômico por si só
traz todas as mudanças de que o país precisa.99 Segundo ele, isso não é verdade e já
foi mostrado, por exemplo no período entre 1930 e 1980 em que o Brasil cresceu mais
que qualquer outra sociedade e manteve teimosamente seus excluídos sociais. Dessa
forma, para o autor, o tema da produção e reprodução das classes sociais no Brasil que
poderia
estruturar
uma
concepção
verdadeiramente
crítica
sobre
o
Brasil
contemporâneo é dominado por uma leitura ―economicista‖ e redutora da realidade
social.100
Nesse contexto, esta pesquisa faz uma crítica ao modelo das políticas
públicas centradas apenas em dados econômicos, seja numa gestão política da Direita
ou da Esquerda. Uma cegueira que reside no fato de não se perceber ―que o capital
econômico não é única determinação importante da vida social. Ao contrário, sem, por
98
SOUZA, Jessé; O bolsa família e a ralé brasileira. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 jun. 2010.
SOUZA, Jesse. A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular pela elite. São
Paulo: LeYa, 2015.
100
SOUZA, Jessé. A Cegueira do Debate Brasileiro sobre as Classes Sociais. Disponível
em:http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2014/outubro/14.10-Cegueira-Classes-Sociais.pdf p.35.
99
48
exemplo, a percepção dos capitais cultural e social, o próprio capital econômico se
torna incompreensível‖. É preciso ir além ―da ―cegueira‖ da percepção unilateral e
amesquinhada da determinação econômica, seja na produção seja no consumo‖. 101
Certamente, a economia tem muito a contribuir para o esclarecimento da realidade
social confusa. Mas, para Souza, ela ―aparenta‖ dar mais coisas do que efetivamente
dá. Aí temos o economicismo: uma visão empobrecida e amesquinhada da realidade,
como se fosse toda a realidade social.102
Diante do exposto e sob o enfoque das pesquisas de Jesse de Souza, temse que, apesar dos dados e estatísticas que mostrem, por exemplo, a desigualdade
continuar caindo e a renda real do trabalho subindo, dentre outros, o problema se dá
nos aspectos conjunturais, especialmente no mercado de trabalho, onde o desemprego
aumentou, especial considerado o atual cenário do semestre de 2015. Tudo combinado
mostra que o modelo de desenvolvimento com ascensão social dos mais pobres não
está liquidado. Mostra, inclusive, extraordinária capacidade de resistência.
Para Souza, o processo de aprofundamento da democracia está sob ameaça
e o espaço que temos nessa luta tem a ver com uma postura crítica também quanto às
ideias que dominam as cabeças da direita e da esquerda que parecem sequestrar a
inteligência do povo brasileiro que passa a comprar uma legitimação de interesses que
só servem a uma minoria. Em vista do novo cenário econômico, político e social
brasileiro, Souza aponta que o país corre o risco de perder as conquistas sociais dos
últimos anos e vê a realidade de 2015 muito parecida com a do pré-golpe em 1964.
―Antes do golpe o país tinha que escolher dois caminhos: se ele seria uma sociedade
de massas mais inclusiva, ou uma sociedade pra 20% - e a escolha feita com o golpe
foi a escolha por essa minoria. A sociedade deve perceber o que ela tem a perder e o
preço que isso envolve‖.
101
SOUZA, Jessé. A Cegueira do Debate Brasileiro sobre as Classes Sociais. Disponível em:
http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2014/outubro/14.10-Cegueira-Classes-Sociais.pdf p.36-37.
102
SOUZA, Jessé. A invisibilidade da luta de classes ou a cegueira do economicismo in BARTELT, Dawid
Danilo (org.) A "nova classe média" no Brasil como conceito e projeto político. Rio de Janeiro: Fundação
Heinrich Böll.p.56
49
1.1.2. Impacto no quadro social de pobreza
Considerando o Estado Democrático de Direito estabelecido na CFR/88 e
com vistas à garantia dos direitos humanos, em especial os direitos sociais nela
previstos, os governos federal, estadual e municipal devem estabelecer políticas
públicas que sejam capazes de atender às diversas realidades da sociedade, pois ―A
realidade social de hoje demanda do Estado uma enorme gama de atividades para
garantia da cidadania e a efetivação dos direitos fundamentais, daí a afirmação de que
o Estado é Democrático e Social de Direito, significando que o Estado deve realizar
políticas ou programas de ação, para atingir determinados objetivos sociais‖.103
A perspectiva da dignidade impõe ao Estado a meta permanente de
proteção, promoção e realização concreta de uma vida digna, o que inclui o dever de
remover os obstáculos que sejam contrários a essa meta104. O comprometimento do
Estado com a igualdade de direitos e o desenvolvimento do homem criou compromisso
de ação e de omissão, considerado o dever de não tomar atitudes contrárias aos
direitos constitucionalmente garantidos; a sua atuação normativa através das
instituições é indispensável à garantia da cidadania plena.
A cidadania, que ganhou uma nova visão constitucional em 1988,
passando a ser fundamento do nosso Estado Democrático e Social de
Direito, com amplos direitos assegurados na Constituição, precisa
também ser efetivada em nossa vida social, deixando de ser apenas
uma previsão formal do sistema jurídico.105
A ―Cidadania e Direitos Fundamentais passam a constituir um ―Núcleo Duro‖
do Estado Democrático e Social de Direito, trazendo as Políticas Públicas para o centro
103
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.6
104
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria
2008, p.108-109.
105
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.4
da Cidadania.
e as políticas
do Advogado,
da Cidadania.
e as políticas
50
do debate jurídico‖.106 A concretização dos direitos sociais previstos na CRF/88 passa
essencialmente pelas políticas públicas que efetivam a letra constitucional.
As políticas públicas a serem desenvolvidas em nosso país devem ter o
norte da concretização da cidadania em todas as suas dimensões,
integrando os diversos aspectos sociais, políticos e econômicos, bem
como atendendo às necessidades de inclusão social, pois esta é a
determinação constitucional de 1988.107
As políticas públicas revelam o Estado em ação e "cada modelo estatal
produzirá seu modelo próprio de políticas públicas, considerando a dinâmica do
governo, sua relação com a sociedade e a capacidade desta em organizar-se para
fiscalizar e cobrar a execução de direitos"108.
Essa pesquisa adota o entendimento de Diogo Coutinho para quem o papel
do Direito em relação às políticas públicas não se resume ao seu elemento constitutivo.
Além de diretriz normativa, tem-se o Direito como parte da dimensão institucional das
políticas públicas, ao estruturar seu funcionamento, regular seus procedimentos e se
encarregar da viabilização da articulação entre atores direta e indiretamente ligados a
tais políticas. Ressalta que o direito permite a calibragem e a autocorreção das políticas
públicas; podendo provê-las ainda, de mecanismos de deliberação, participação,
consulta, colaboração, promovendo participação e prestação de contas.109
Nesse estudo, abordam-se as políticas sociais como programas que
possuem o objetivo de proporcionar condições básicas, como saúde, alimentação e
educação, especialmente à população mais carente, mediante a constituição de direitos
e deveres, tanto por parte do gestor da política quanto dos beneficiários dos referidos
106
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.4
107
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a Efetivação da Cidadania.
In O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. Org. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins e SMANIO,
Gianpaolo Poggio. São Paulo: Atlas, 2013. p.12 e 13.
108
CHRISPIANO, Álvaro. Binóculo ou luneta: Os conceitos de política pública e ideologia e seus impactos
na educação. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. Rio Grande do Sul, v. 21, n.
1/2, p.61-90, jan./dez. 2005, p.66
109
COUTINHO, Diogo. O
direito
nas
políticas
públicas.
Disponível
em:
http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/item_766/14_05_12_16O_direito_nas_politicas
_publicas_FINAL.pdf. Acesso em: 04 julho de 2014.
51
programas.110 Importante é o planejamento estatal e sua interação com as normas
constitucionais para delimitar os alvos para a promoção dos objetivos fundamentais do
Estado Social previstos constitucionalmente, explicita ou implicitamente.
A proteção social implica a instituição de seguranças dadas ao indivíduo
em decorrência de sua participação em um coletivo social (...) O
pressuposto de tal garantia é a existência de um compromisso entre
diferentes setores da sociedade em torno da implantação de um regime
de solidariedade garantido pelo Estado e tendo como objetivo a redução
da vulnerabilidade, da insegurança e do risco da pobreza.111
Na perspectiva do desenvolvimento como liberdade, Sen distingue o sujeito
social entre agente e paciente. Como agente é dotado de oportunidades sociais
adequadas, de liberdades políticas, estando exposto a condições de boa saúde, de
educação básica, de incentivos, uma conjuntura que lhe possibilita de forma efetiva
construir o seu próprio destino, ajudando os seus pares, de forma livre e sustentável. O
indivíduo beneficiário passivo tornar-se paciente de programas de desenvolvimento112.
A partir da perspectiva do desenvolvimento das capacidades das pessoas,
torna-se imprescindível a erradicação das fontes de privação de liberdade, tais como,
pobreza e tirania, ausência de oportunidades econômicas e negligência dos serviços
públicos.113 O desenvolvimento como liberdade perpassa a questão da eliminação das
privações materiais, das privações políticas e da efetivação de direitos civis básicos. Há
um direito às condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto
de intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais positivas. Afinal, ―Sem
o mínimo necessário a existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem,
desaparecem as condições iniciais de liberdade‖.114
Destaca-se que a expansão das capacidades influenciadas pelo exercício
das liberdades dos indivíduos são traduzidas em iniciativas e em escolhas com reflexos
diretos na sociedade. Numa espécie de circulo virtuoso, uma política pública contribui
110
CARDOSO JR., José Celso; JACCOUD, Luciana. Política Social no Brasil: organização, abrangência e
tensões da ação estatal. Questão social e políticas sociais no Brasil Contemporâneo.Brasília:IPEA -2005.
111
JACCOUD, Luciana. Pobres, pobreza e cidadania: os desafios recentes da proteção social. In:
FAGNANI, E. (Org.). Previdência social: como incluir os excluídos. São Paulo: LTr, 2005, p. 19.
112
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.18.
113
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.16.
114
TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo
(org) Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 2009. p.266 e 263.
52
para o desenvolvimento de capacidades humanas que geradas e expressadas
culminarão em influencia na definição das novas políticas públicas. Considerada a
participação dos cidadãos uma imposição constitucional, o poder público deve manter
interação constante com a sociedade, o que solicita uma sociedade consciente e
cidadãos participantes capacitados a cobrar do Estado as suas atribuições 115. Os
direitos sociais são conquistas que exigem uma resposta legítima do Estado, não são
moedas de troca político-partidária. Nesse sentido, a não observância de instrumentos
de participação e controle social pode culminar no esvaziamento do próprio direito
constitucional à assistência social cedendo lugar a práticas clientelistas.
Esta pesquisa acredita que ―As Políticas Públicas pressupõem as relações
do Estado com a sociedade, pois que a via da participação dos cidadãos dever ser o
método a ser buscado, tano para sua formulação, quanto para sua execução.‖116 Perez
formula a participação como um principio da Administração Pública, trazendo os
institutos de participação que são os conselhos, comissões, comitês participativos,
audiências públicas, consultas públicas, orçamento participativo, referendo e plebiscito,
instrumentos concretos do diálogo entre a sociedade e a Administração Pública117.
A participação acarreta necessariamente a cooperação entre Estado e
sociedade, bem como entre os próprios cidadãos, criando um círculo virtuoso de
legitimidade para as Políticas Públicas, porque é uma garantia de que efetivamente as
necessidades da população estão em decisão e execução. Assim é que ―A qualidade
da democracia implica na qualidade das Políticas Públicas efetivadas e, portanto, na
garantia dos Direitos Fundamentais e da Cidadania.‖118
Segundo Smanio, ―A democracia representativa liberal sofre atualmente
inúmeras criticas, principalmente por não conseguir efetivar a garantia do exercício da
115
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. (org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2008.
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.10.
117
PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das
políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas – reflexões sobre o conceito
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. P.163-176.
118
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.11.
116
53
cidadania e dos direitos fundamentais a toda população.‖119Nesse contexto, autores
como Paulo Bonavides120 pretendem a institucionalização que efetive uma maior
participação dos cidadãos nas decisões do Estado, teoria da Democracia Participativa;
outros com a visão da Democracia Deliberativa tratada por Habermas121 tratam de um
sistema regulador de debate e da discussão crítica; e ainda outros que pretendem um
aprofundamento dos espaços democráticos na sociedade, qual seja a Democracia
Social proposta por Bobbio122.
Mas, sem dúvida um dos desafios da atualidade democrática ―é efetivar esta
democracia integral, que possa acolher a cidadania e seu pleno desenvolvimento‖123. E
as Políticas Públicas são importantes instrumentos para isso, conclamando a atuação
da Administração Pública, dos órgãos e Poderes do Estado e ainda, o arcabouço
normativo que as constitui deve trazer a sua legitimação e eficiência.124
O PNUD 2000 entende pobreza como multidimensional relacionando-a a
múltiplas formas de privações e não apenas à renda. Define pobreza como a falta de
acesso e recursos que possibilitem um padrão de vida em que sejam supridas as
necessidades básicas, como alimentação, higiene, vestuário, educação, lazer. São
pobres aqueles que além de não possuírem renda suficiente para satisfação de suas
necessidades e nem acesso a alternativas para satisfazê-las, não são valorizados e
respeitados como cidadãos. A falta de acesso pela negação da possibilidade de
escolhas e oportunidades submete a uma condição de vida subalterna.125
Esta visão de pobreza das Nações Unidas está alinhada com a concepção
de Amartya Sen que a tem como privação das capacidades básicas do ser humano.
119
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.11.
120
BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001.
121
Habermas, Jurgen. Facticidad y validez. Madrid: Trota, 1998.
122
Bobbio, Noberto. O futuro da democracia. 10 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
123
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.12.
124
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.12.
125
PNUD-2000. Glossário de direitos humanos e desenvolvimento humano - Conceito de pobreza
humana
e
privação
de
renda.
Junho
2000.
Disponível
em:
http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/RDHglobais/hdr_2000_en.pdf. Acesso em 13 de agosto de 2013.
54
Capacidades significam a possibilidade de escolher por uma vida que se tem razão de
valorizar, em dar oportunidade real para as pessoas promoverem seus objetivos. Uma
visão que não reduz a pobreza ao baixo nível de renda, mas reconhece sua importância
afinal, ―a renda é um meio importantíssimo de obter capacidades"126.
Sen destaca que a redução de renda não pode ser vista como a principal
motivação das políticas públicas de combate à pobreza. Investir em educação, saúde
etc. para reduzir a pobreza de renda seria confundir os fins com os meios. "O que a
perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o entendimento da
natureza e das causas da pobreza e privação desviando a atenção dos meios (...) para
os fins que as pessoas têm razão para buscar e, correspondentemente, para as
liberdades de poder alcançar estes fins".127
Santos apresenta três formas de pobreza vivenciadas no último meio século.
A pobreza instituída, uma pobreza incidental. A segunda, a marginalidade produzida
pelo processo econômico da divisão do trabalho, internacional ou local. E a pobreza
estrutural, não local e nem nacional, presente em toda parte do mundo, globalizada.
Diante disso, os pobres como objetos da dívida social já foram os ―incluídos‖, depois
―marginalizados‖, e hoje, são os ―excluídos‖128.
Na compreensão de Rocha, uma definição relevante de pobreza passa pela
percepção do padrão de vida e da forma como as diferentes necessidades são
atendidas em determinado contexto socioeconômico. Nessa linha de pensamento, ser
pobre é o mesmo que não dispor de meios para ―operar adequadamente no grupo
social em que se vive‖129. Diante dessa constatação, a partir da problemática da
pobreza em países ricos desenvolveram-se estudos sobre o caráter relativo que
envolve a concepção da pobreza.
A situação da pobreza dos países com diferentes níveis de desenvolvimento
social e produtivo remonta às noções de pobreza absoluta versus a relativa. Rocha
enfatiza a concepção de pobreza absoluta, vinculada ao não atendimento do mínimo
126
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.112.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.112.
128
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de
Janeiro: Record, 2007. p.74.
129
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006. p.9-10.
127
55
vital, enquanto a pobreza relativa está relacionada às necessidades a serem satisfeitas
levando em conta os parâmetros predominantes na sociedade em questão. Para Rocha
quanto mais rica a sociedade em questão, mais distante está do conceito relevante de
pobreza (como dito, relacionado ao não atendimento das necessidades básicas), afinal
nesses países o mínimo vital já é garantido a todos e o conceito torna-se irrelevante.130
Diante disso, para o Brasil a noção de pobreza absoluta ainda é relevante.
O PBF tem como foco uma parcela da população que se encontra em
situação de pobreza e extrema pobreza que há muito anseia ser vista e priorizada.
O Bolsa Família alcança uma parcela da população, à qual o Estado
devia e ainda deve muito em termos de políticas públicas adequadas.
Tratava-se de cidadãos reiteradamente vitimados pela exclusão social
ou com acesso limitado aos programas de transferência de renda e, por
essa razão, apresentavam dificuldades em conseguir os elementos
básicos para sua sobrevivência. De fato, era necessário dar vazão a um
programa social dessa envergadura131.
Dada a diversidade econômica de cada região e a pobreza nela encontrada
o PBF termina por não atingir de forma regular todo o território nacional. O relatório de
Gestão do PBF de 2007 já revelava essa diversidade, conquanto a região Nordeste
ficava com 69,1% da distribuição total do Programa, a Sudeste com 19,1%, a Norte
8,0%, a Sul 1,4% e a Centro Oeste 2,4%.132 Em 2011, a mesma tendência foi
confirmadas no estudo "Presença do Estado no Brasil: Federação, suas Unidades e
Municipalidades", divulgado em 2012 pelo Ipea. A Região Nordeste foi a maior
beneficiada pelo PBF durante a distribuição de dezembro de 2011, recebendo 51,1% do
total disposto pelo programa; o Sudeste foi a segunda maior com 24,7% dos benefícios
distribuídos. Na sequência, o Norte (11,1%), o Sul (7,8%) e o Centro-Oeste (5,4%).
Quanto ao perfil dos titulares do programa, pesquisa realizada pelo IBASE,
em 2008, revelou que em sua maioria são mulheres (94%), a maior parte são pretos ou
130
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.11 e 14.
ZIMMERMANN, Clóvis Roberto. Principio democrático e constitucional da dignidade de pessoa
humana e a existência do programa bolsa família. 2009. Apontamentos sobre direitos elementares dos
cidadãos de baixa renda. <http://online. unisc.br/seer/index.php/direito/article/viewFile/763/1002>.
132
OLIVEIRA, A.M.H.C ; ANDRADE, M.V ; RESENDE, A.C.C. ; RODRIGUES, C. G. ; SOUZA, L.R. ;
RIBAS, R. P. Primeiros resultados da análise da linha de base da Pesquisa de Avaliação de Impacto do
Bolsa Família. In: Jeni Vaitsman; Rômulo Paes-Sousa. (Org.). Avaliação de Políticas e Programas do
MDS - Resultados. Brasília: Cromos, 2007. p.181.
131
56
pardos (64%), a maior parte das mulheres tem entre 15 e 49 anos (85%), 78% das
famílias residem em área urbana e 22% em áreas rurais, destacando-se que a maior
concentração das famílias em áreas rurais está no Nordeste (50%), 81% dos titulares
sabem ler e escrever e desses 56% estudaram até o ensino fundamental. No tocante
ao uso dos recursos proporcionados pelo Programa, seus beneficiários chegam a
gastar 87% dos recursos com alimentação, considerando-se que no Nordeste esse
percentual chega a 91%, enquanto no Sul é de 73%133.
Esse estudo revelou que alimentação, material escolar e vestuário são os
itens em que as famílias mais gastam o benefício mensal. A pesquisa pediu que os
titulares do cartão apontassem os itens em que o dinheiro do Bolsa Família era mais
aplicado, podendo indicar até três. No geral, 87% das famílias apontaram a alimentação
como principal gasto – na região Nordeste esse percentual chegou a 91% e, no Sul,
73%. O material escolar aparece em segundo lugar, com 46%, e o vestuário com 37%.
Segundo dados oficias, estudos mais recentes têm confirmado essa
tendência. No Norte e Nordeste, por exemplo, o impacto do programa é 31,4% maior
que no restante do país. Além disso, as famílias atendidas pelo PBF gastam mais do
que as não-beneficiárias com grãos e cereais, aves e ovos, carnes, pães, legumes,
óleos e bebidas não alcoólicas, indicando que o programa contribui para a segurança
alimentar e nutricional de crianças e adolescentes.134
O mito de que o PBF estimula o aumento do número de filhos e faz prolongar
o ciclo geracional da pobreza parece se desconstruir ao longo dos seus mais de dez
anos. O número médio de filhos entre as mulheres mais pobres diminuiu. Análise feita
com base nos Censos populacionais de 2000 e 2010 do IBGE aponta que o grupo de
mulheres mais pobres apresentou recuo de 30% no número médio de filhos, enquanto
a média nacional foi de 20,17%.135
Merece destaque a elevação da autoestima das mulheres beneficiadas pelo
133
IBASE (2008). Repercussões do Programa Bolsa-Família na Segurança Alimentar e Nutricional das
famílias beneficiadas. Disponível: http://www.ibase.br/userimages/documento_sintese.pdf p.16. Acesso
em 13 de agosto de 2013.
134
Disponível:http://www.brasil.gov.br/cidadaniaejustica/2014/05/bolsafamilia754dosbeneficiariosestaotrab
alhando publicado: 20/05/2014 12h37 última modificação: 30/07/2014 01h29 Acesso 25 maio de 2015.
135
Disponível:http://www.brasil.gov.br/cidadaniaejustica/2014/05/bolsafamilia754dosbeneficiariosestaotrab
alhando publicado: 20/05/2014 12h37 última modificação: 30/07/2014 01h29 Acesso 25 maio de 2015.
57
programa, vez que passam a ter o controle da renda familiar, fortalecendo a sua
presença no grupo. A mulher passa a ser mais respeitada no meio social, vez que a
certeza da liquidez do recurso financeiro dar-lhe o status de boa compradora, reforça-se
o principio da dignidade da pessoa136. Confirma-se o aumento da independência
financeira das mulheres, a sua maior influência no planejamento dos gastos, enquanto
que na família e na comunidade também passam a infundir esse respeito. Por outro
lado, atenta-se para o baixo investimento em políticas complementares que garantiriam
melhores condições para a inserção das mulheres no mercado de trabalho137.
As perspectivas reconhecem as contradições e as dificuldades do programa,
mas também é fato que se está avançando para um Sistema de Assistência Social
integrado a mais ampla lógica do Sistema de Proteção Social e, cada vez mais,
distancia-se daquela realidade da década de 80, caracterizada por atitudes de
benevolência e uma atuação estatal residual ligada às figuras das Primeiras Damas.138
O
PBF, frequentemente,
defronta-se
com
dificuldades operacionais,
entretanto, esses obstáculos por si só, não deveriam ser vistos como caracterizadores
de uma política clientelista ou assistencialista. Algumas iniciativas, tais como a
consolidação do banco de dados do Governo federal, o pagamento do benefício por
meio de cartões magnéticos de débito, sem intermediários, através de um banco federal
(Caixa Econômica) com grande autonomia em relação aos poderes locais resultam num
programa que reduziu o espaço de práticas clientelistas.
Os beneficiários do PBF tem, proporcionalmente, significativo aumento em
seu poder de compra. Contudo, não raras às vezes, o beneficio é a única renda regular
garantida e por isso mesmo, essas pessoas não estão em um patamar de consumo no
qual o fato de aumentar o poder de compra implique na compra de supérfluos. Na
verdade, existe a necessidade reprimida por alimentos e insumos básicos para a vida
136
ZIMMERMANN, Clóvis Roberto. Principio democrático e constitucional da dignidade de pessoa
humana e a existência do programa bolsa família. 2009. Apontamentos sobre direitos elementares dos
cidadãos de baixa renda. <http://online. unisc.br/seer/index.php/direito/article/viewFile/763/1002>. p.3.
137
IBASE (2008). Repercussões do Programa Bolsa-Família na Segurança Alimentar e Nutricional das
famílias beneficiadas. Disponível em: http://www.ibase.br/userimages/documento_sintese.pdf p.17.
Acesso em 13 de agosto de 2013.
138
LAVINAS, Lena; NICOLL, Marcelo. Pobreza, transferências de renda, e desigualdades de gênero:
conexões diversos. Parcerias Estratégicas, Brasília, n. 22, junho 2006, p. 39-76. Disponível em:
<http://www.cgee.org.br/arquivos/pe_22.pdf>
58
digna. O resultado da pesquisa do IBASE/2008 demonstrou que os beneficiários fazem
uso do recurso para comprar mais alimentos e variar a alimentação, o que não significa,
necessariamente, uma alimentação mais saudável139.
Segundo o Radar Social de 2006, documento elaborado pelo departamento
de programas sociais do governo federal, os programas focalizados nos excluídos,
associados à estabilidade econômica, e ainda, alguma recuperação do poder de
compra do salário mínimo, vinham contribuindo no processo de diminuição da
indigência, bem como influenciado na pequena redução dos índices de exploração do
trabalho infantil, da mortalidade infantil, entretanto, sem alterar a pobreza e a
desigualdade, fato atrelado à histórica herança de iniquidade e exclusão no país.140
A posição do Brasil em relação à realidade da exclusão social, segundo
ranking do ano 2000 (considerou a análise de 175 países) era 71ª posição no índice de
pobreza no mundo, ao mesmo tempo em que estava na 167ª colocação quanto à
desigualdade. Estas colocações aliadas aos demais índices de desemprego, de
alfabetização, de escolarização superior, de homicídios e população infantil alocavam o
país na 109ª posição de exclusão social. 141
Em 2014, a Cortez Editora publicou ―Atlas da Exclusão Social no Brasil: Dez
Anos Depois‖, demonstrando que apesar dos avanços observados na década passada
com relação à exclusão social, ainda há uma desigualdade regional e estadual muito
acentuada. O conceito de exclusão social utilizado pelos autores representa uma
ampliação das visões acerca da pobreza e desigualdade pelo que interpretam a
exclusão social como parte integrante do processo de desenvolvimento capitalista. Para
eles, no Brasil, o processo de acumulação de capital ocorreu historicamente de maneira
deslocada da integração e homogeneização social.142
139
IBASE (2008). Repercussões do Programa Bolsa-Família na Segurança Alimentar e Nutricional das
famílias beneficiadas. Disponível em: http://www.ibase.br/userimages/documento_sintese.pdf p.17.
Acesso em 13 de agosto de 2013.
140
RADAR social 2006. Principais iniciativas do Governo Federal / Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Brasília: MP, 2006.
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=230.
141POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social, volume 4: A exclusão no mundo. São
Paulo: Cortez, 2004. p.189-206.
142
POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social: a dinâmica da exclusão social na primeira
década do século 21. São Paulo: Cortez, 2015.
59
Nas décadas de 1960 e 1970, o crescimento econômico foi um dos mais
elevados de todo o século 20, porém, a ausência de democracia e
política social distributiva, tornou mais excludente a sociedade. Em
virtude disso, o Brasil que em 1980 situou-se entre as oito maiores
economias capitalistas também ocupou a terceira posição na hierarquia
da desigualdade no mundo. Crescimento econômico, por si só, sem
redistribuição de renda, resulta em mais exclusão social. Por outro
lado, as décadas de 1980 e 1990 apresentaram a retomada da
democracia desacompanhada do crescimento econômico.143
Segundo
Pochmann,
as
políticas
sociais
estabelecidas
pela
CFR/88 pouco puderam fazer para atender ao seu objetivo de atacar a desigualdade,
sobretudo diante do receituário neoliberal de regressão econômica e social. Sem
crescimento econômico considerável pouco resta para distribuir, mesmo havendo
democracia e instrumentos políticos para atacar a desigualdade. De acordo com o
economista, para que o país possa acumular na segunda década do século 21
resultados exitosos cabe assegurar uma convergência tríade: democracia decente,
crescimento satisfatório e política social distributiva ativa e universal.
Em 2010, de acordo com relatório do IPEA resultou demonstrado o impacto
positivo do PBF sobre o nível de pobreza das famílias brasileiras, bem como na
redução da desigualdade social. Segundo esse relatório foram 16,5 milhões de pessoas
que ultrapassaram a linha de pobreza, durante o período de 2003 a 2007. Em março de
2013, segundo dados do MDS, os últimos brasileiros do PBF que ainda viviam na
miséria transpuseram a linha da extrema pobreza.144
O desenvolvimento econômico sustentável não é possível numa sociedade
marcada pela desigualdade. Essa foi a conclusão de estudos realizados na década de
90 e a partir da qual, o Brasil e mais 189 países e ainda, mais uma coalizão de
agências multilaterais firmaram o compromisso denominado de objetivos do milênio –
OMD, entre os quais está a redução da pobreza extrema com as seguintes metas: A)
reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a
um dólar PPC por dia; B) reduzir a um quarto, entre 1990 e 2015, a proporção da
população com renda inferior a 1 dólar PPC por dia; C) alcançar o emprego pleno e
143
POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social: a dinâmica da exclusão social na primeira
década do século 21. São Paulo: Cortez, 2015.
144
Plano Brasil Sem Miséria. Disponível em: http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao Acesso em
25 de maio de 2015.
60
produtivo e o trabalho decente para todos, incluindo mulheres e jovens; D) reduzir pela
metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que sofre de fome; E) erradicar a
fome entre 1990 e 2015.145
Segundo o PNUD, o Brasil foi um dos países que mais contribuiu para o
alcance global da meta A do ODM, reduzindo a pobreza extrema e a fome não apenas
pela metade ou a um quarto, mas a menos de um sétimo do nível de 1990, passando
de 25,5% para 3,5% em 2012. O país, considerando os indicadores escolhidos pela
ONU para monitoramento do ODM1, alcançou tanto as metas internacionais quanto as
nacionais. Outro fator em que houve mudanças foi o analfabetismo na extrema
pobreza. Em 1990, a chance de uma família liderada por um analfabeto estar em
situação de pobreza extrema era 144 vezes maior que a de uma família liderada por
alguém com curso superior. Essa razão diminuiu em 2012 e passou a ser de 11:1.146
Verificou-se uma ascensão social e financeira de grande parte das famílias
brasileiras, nos últimos anos e, segundo Weissheimer ―Essa nova classe média foi
responsável pelo aumento do consumo e, portanto, pelo fortalecimento do mercado
interno, mostrando que políticas de distribuição de renda não se resumem a um caráter
meramente assistencialista‖. Para ele, tais políticas ―induzem o crescimento econômico
e desenvolvimento social ao retirarem da marginalidade e da pobreza extrema, milhões
de pessoas que se tornaram, assim cidadãos e consumidores (...)‖.147
Por outro lado, essa nova classe média é vista por Jesse Souza sob ótica
diversa, no contexto dos estudos mais atuais sobre o desenvolvimento brasileiro. O mito
da ―Nova Classe Média‖ que então legitima uma realidade pela qual a classe denominase e é tratada pela Sociologia como ―média‖ é para ele ―uma classe que sofre, trabalha
14 horas por dia, não tem férias, não tem lazer, está endividada com o banco por 10
anos e pensa que é livre. A sociologia da dominação não é capaz de mostrar que nesta
145
A ONU estabeleceu em 2000 oito pontos que refletiam os maiores problemas mundiais e que ficaram
definidos como sendo os Objetivos do Milênio: acabar com a fome e a miséria; educação básica de
qualidade para todos; igualdade entre os sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil;
melhorar a saúde de gestantes; combater a AIDS, a malária e outras doenças; qualidade de vida e
respeito ao meio ambiente; e todo o mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Disponível em:
http://www.pnud.org.br/ODM1.aspx Acesso em 25 de maio de 2015.
146
PNUD. Disponível em: http://www.pnud.org.br/ODM1.aspx Acesso em 25 de maio de 2015.
147
WEISSHEIMER, Marco Aurélio. Bolsa Família: Avanços, limites e possibilidades do programa que está
transformando a vida de milhões de família no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006. p.34.
61
―Nova Classe Média‖ o capitalismo continua se alimentando do sangue de quem
trabalha. Como então falar de uma Nova Classe Média?‖.148
Souza é o atual Presidente do IPEA (desde abril de 2015) e defende que
essa ―Nova Classe Média‖, na verdade, vive numa sociedade perversa, às voltas com
um sistema político que com ela não se preocupa, ao passo que a mídia contribui,
diretamente, para a manutenção desse status, estando ambos pautados nas
orientações do mercado.149
Na mesma linha, Santos afirma que a publicidade, nos dias atuais, tem
grande penetração em todas as atividades, sendo a propagação rápida e considerando
que a própria política está, em grande parte, subordinada às suas regras. Para Santos,
a perversidade da evolução negativa da humanidade, junto com suas mazelas são,
direta ou indiretamente, impostas pelo processo de globalização150.
Para Souza, a ―ralé‖ brasileira tornou-se invisível ao longo das décadas.
Discordando da vinculação dos estudos das classes sociais à renda, aponta para o que
considera equívoco da Sociologia com o seguinte exemplo: ―um professor universitário
com título de Mestre ou Doutor recebe no sudeste algo em torno de seis mil reais, e um
mecânico da Renault no Rio Grande do Sul recebe um pouco mais do que este valor,
mas cada um vive realidades imensamente distintas‖. Nesse compasso, questiona o
autor essa relação entre a compreensão de uma classe à sua renda. Segundo ele,
―fala-se em ‗classes sociais‘, para não se falar de verdade em Classes Sociais‖.
Acredita que esta é a tendência dos estudos sobre as desigualdades 151.
A análise de Jessé Souza adiciona dimensões importantes à análise da tão
proclamada classe média. Criticando a ―cegueira do economicismo‖, Souza demonstra
que as vantagens estratégicas da classe média tradicional não se materializam apenas
pela renda maior, mas pelo capital social e cultural que detém e que os trabalhadores
―batalhadores‖ da Classe C não têm, e menos ainda os da chamada por ele de ―ralé‖,
148
SOUZA, Jesse. Conferência do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em UFRN-RN.
Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/31741320/Artigo-Jesse-de-Souza-a-voz-da-rale-brasileira.
149
SOUZA, Jesse. Conferência do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em UFRN-RN.
Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/31741320/Artigo-Jesse-de-Souza-a-voz-da-rale-brasileira.
150
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de
Janeiro: Record, 2007. p.40 e 20.
151
SOUZA, Jesse. Conferência do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em UFRN-RN.
Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/31741320/Artigo-Jesse-de-Souza-a-voz-da-rale-brasileira.
62
classe mais empobrecida da sociedade. Eles carecem de relações sociais que ajudem
no mundo social e profissional, de tempo para estudar, de competências sociais como
disciplina e autocontrole, indispensáveis para ser bem-sucedido no capitalismo
moderno, e até de uma autopercepção como ―dignos‖ e, portanto, portadores de
direitos. No entanto, para ele, não há classe condenada para sempre e de fato os
batalhadores têm obtido algum sucesso.152
O autor enfatiza, entretanto, que não se pode falar da sociedade brasileira de
hoje sem reconhecer que esta classe continua sendo sistematicamente explorada,
profundamente dominada e socialmente humilhada. O aumento substancial da renda
das classes baixas não é equivalente a uma substancial redução da desigualdade no
Brasil. O índice Gini baixou efetivamente no Brasil, ainda que de um nível obsceno a
um nível ainda intolerável, mas ele mede a distribuição de renda por salários e
remunerações monetárias numa sociedade e não inclui a propriedade, imobiliária e
fundiária, fonte da riqueza da classe média alta e alta no Brasil. As políticas distributivas
atuam sobre os efeitos e não sobre as causas das desigualdades estruturais.153
Para Rodrigues, no período entre 2001 e 2004, a queda da inflação, desde a
implementação do Plano Real (1994), a recuperação do salário mínimo, desde 1995, e
que tem gerado impactos positivos na vida de importantes segmentos da sociedade
brasileira, em especial, para os 62,4% dos aposentados que recebem um salário
mínimo por mês, a queda do valor médio da renda do trabalho por família e domicílio e
o gasto promovido pelo governo com Assistência Social, seriam as hipóteses que
teriam colaborado para a redução da desigualdade no país, no referido período154.
Nesse contexto, revela-se a importância de estudos sobre Direito e Políticas
Econômicas, tal como os da pesquisadora Camila Villard Duran:
É por essa razão que a política de gestão monetária é relevante: a
moeda é o elemento de coesão da sociedade de mercado, e sua gestão
atinge indistintamente todo indivíduo em comunidade. Seus efeitos
152
SOUZA, Jessé. A invisibilidade da luta de classes ou a cegueira do economicismo. In: Bertelt, Dawid..
(Org.). A nova classe média no Brasil. Sao Paulo: 2013, p.56-68.
153
SOUZA, Jessé. A invisibilidade da luta de classes ou a cegueira do economicismo. In: Bertelt, Dawid..
(Org.). A nova classe média no Brasil. Sao Paulo: 2013, p.56-68.
154
RODRIGUES. Marta Maria Assumpção. Políticas Redistributiva e Direitos Civis e Sociais no Brasil: O
dilema de construir a democracia num ambiente de desigualdade. Disponível em: http://www.ipcundp.org/publications/mds/42P.pdf p.7.
63
podem, até mesmo, propagar-se globalmente, especialmente se se
tratar de moeda aceita como meio de pagamento internacional e
constituir reserva de Estados.(...) É nesse debate que se insere a
reflexão sobre o papel do direito na organização dos instrumentos
institucionais de responsabilização política e social do processo
decisório da autoridade monetária.155
Considerando-se os resultados positivos, resta saber se, a longo prazo, as
taxas de desigualdade social continuarão a cair e se serão mantidas as atuais políticas
de (re)capacitação do Estado para o desempenho adequado de suas funções de
regulação e de gestão das atividades econômicas e sociais, contribuindo para a
organização de um demos mais igualitário156.
Tudo isso está relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas e
com estreita relação com a empregabilidade. O alto nível de desemprego e
subemprego presentes em nossa sociedade, registrado em estudo estatístico realizado
pelo PNAD, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, no ano 2000
157
pode ter
motivado os Governos em todas suas esferas, a objetivarem o crescimento da geração
de empregos às populações em situação de pobreza e extrema pobreza, como o
caminho para o atingimento da independência financeira e sustentável das famílias.
Nesse sentido, resultados apresentados pelas PNAD´s 2004-2006, executadas pelo
IBGE mostraram que o Brasil vinha reduzindo a pobreza bem como a desigualdade.
Em 2004, o PBF contou com o apoio do Banco Mundial que lhe emprestou
US$ 572 milhões, no intuito de auxiliar no seu desenvolvimento, fortalecendo-o e
expandindo-o, pelo que considerava os progressos significativos do país, desde 2003,
na redução da pobreza, da desigualdade, apontando-se que o PBF estaria se revelando
fundamental na rede de proteção para reduzir o impacto sobre os pobres dos aumentos
nos alimentos e no petróleo, e ainda da crise financeira e recessão global158.
155
DURAN, Camila Villard. A Moldura Jurídica da Política Monetária: um estudo de caso. Tese Doutorado.
Universidade de São Paulo Faculdade de Direito Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito São
Paulo 2012 sob a orientação do Professor Titular José Eduardo Campos de Oliveira Faria e do Professor
Jean-Marc Sorel.p.60-61.
156
MELO, Carlos Ranulfo; SÁEZ, Manuel Alcântara (orgs.). A Democracia Brasileira: balanço e
perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.p.133.
157
FGV. Disponível em: <www.fgv.br/ibre/cps/artigos/conjuntura/2002>.
158
Disponível:BancoMundial<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/HOMEPORTUGUESE/EXTP
AISES/EXTLACINPOR/BRAZILINPOREXTN/0contentMDK:22709242~menuPK:3817263~pagePK:14976
18~piPK:217854~theSitePK:3817167,00.html>.
64
Em 2006, o Brasil investiu 0,5% do seu PIB, cerca de R$ 8,5 bilhões, no
PBF. Já em 2009 foi cerca de 11,3 bilhões, 0,39% do PIB de 2008, o que aponta para
um custo relativamente baixo do programa, tendo em vista os seus objetivos no tocante
à redistribuição de renda, ao combate à pobreza e à inclusão social159. No Brasil, cerca
de 20% do seu PIB destina-se ao gasto social, o que inclui os gastos com previdência,
saúde e educação. Rocha afirma que a persistência da pobreza não tem a ver com à
insuficiência do gasto público, mas com a mudança na natureza do gasto social, bem
como com melhoria na sua eficiência160.
Nesse sentido, ―Aos mais vulneráveis, para os quais a renda do grupo
familiar não é capaz de neutralizar o alijamento do mercado de trabalho, evitar a
pobreza do ponto de vista da renda depende, essencialmente, de benefícios
previdenciários e de políticas compensatórias por parte do poder público‖161.
Considera-se as políticas públicas sociais como capazes de implementar
inovações que contribuem para o aperfeiçoamento da estrutura da administração
pública e para o aumento de sua eficiência, consolidando o principio do Estado
Democrático de Direito, pelo que ―por meio das políticas públicas o Estado poderá, de
forma sistemática e abrangente, realizar os fins previstos na Constituição, sobretudo no
que diz aos direitos fundamentais que dependam de ações para sua promoção‖162.
Políticas Públicas eficientes com programas de distribuição de renda
mostram-se de extrema importância e urgência, considerando-se que o Brasil contava
com cerca de 15,7 milhões de pessoas vivendo na pobreza, dos quais 6,53 milhões
abaixo dela, conforme análise social da PNAD 2012. Em 2011, esses números eram de
7,6 milhões de pobres e em torno de 19,2 milhões de pessoas na extrema pobreza.
Para efeito de comparação, em 2002 o PNAD revelou que havia 41 milhões de pobres
no País, com cerca de 15 milhões vivendo na extrema pobreza. A pesquisa revelou
ainda que a renda real média dos brasileiros cresceu 8% acima da inflação no ano de
159
WEISSHEIMER, Marco Aurelio. Bolsa família: avanços, limites e possibilidades do programa que está
transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006. p.35.
160
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006. p.193.
161
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006. p.132.
162
BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas
Públicas. Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 83-103, 2005. Disponível em:
http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto853.pdf. p.10.
65
2011, contra 0,9% de crescimento do PIB do País em 2012. Assim, o PNAD de 2012
revelou o impacto das políticas econômicas e de transferência de renda do governo
sobre a população mais pobre e a mais rica.163
A PNAD de 2013 foi divulgada retratando um avanço modesto em relação a
2012. Nesse início de século 21, a apropriação de renda daqueles que estão na faixa
dos 10% mais elevados passou de 47,44% em 2001 para 41,55% em 2013. Já aqueles
que estão nas faixas 50% mais baixas passaram de 12,6% para 16,41%. Os 0,9% mais
ricos detêm entre 59,90% e 68,49% da riqueza dos brasileiros.
Ao examinar obras recentes dos economistas Márcio Pochmann164 e Marcelo
Néri165 sobre a ―Nova Classe Média‖, Souza comprova a hipótese de um economicismo
cego que não entrega um diagnóstico mais completo de nossos problemas e desafios,
conforme referido no tópico 1.1.1. O ponto que destaca da pesquisa de Pochmann é a
tese de que todo o movimento positivo da pirâmide social brasileira, na primeira década
do século XXI envolveu postos de trabalho que se encontram na base da pirâmide
social. Segundo ele, o trabalho de Néri, assim como o de Pochmann é também o
trabalho de um virtuoso no uso dedados estatísticos. A miríade de dados dos órgãos
censitários e de pesquisa do governo são tornados compreensíveis e agrupados de
modo a estabelecer relações estatísticas importantes.166
Para Souza, ambos louvam os mesmos aspectos principais do fenômeno
recente que são, para os dois, a expansão do emprego formal com carteira assinada, o
potencial de mobilidade ascendente acompanhado de inclusão no mercado de bens e
consumo e a diminuição da abissal desigualdade brasileira. Até os fatores causais
dessa mudança são percebidos por ambos do mesmo modo, na medida em que os
ganhos de salário real e o aumento real do salário mínimo, por um lado, e o sucesso do
Bolsa Família e do microcrédito, por outro lado, são compreendidos como elementos
decisivos. As análises de ambos possuem os mesmos pontos fortes e fracos: excelente
tratamento estatístico dos dados, por um lado, e carência de qualquer força explicativa
163
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/10/mais-de-3-5-milhoes-sairam-dapobreza-em-2012-diz-ipea Acesso em 25 de maio de 2015.
164
POCHMANN, Marcio. Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. Boitempo,
2012.
165
NERI, Marcelo. A nova classe media: o lado brilhante da base da pirâmide, Saraiva, 2012.
166
http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2014/outubro/14.10-Cegueira-Classes-Sociais.pdf p.35-36
66
mais profunda do fenômeno analisado, por outro.167
Sobretudo, o principal, o ―economicismo‖ que para Souza é ―a crença
explícita ou implícita, de que a variável econômica por si só esclarece toda a realidade
social está presente nos dois autores e contamina todas as suas hipóteses e
conclusões‖. Diante disso, uma importante contribuição da análise de Souza sobre
estudos e realidades com enfoque econômico, é o entendimento de que ―não é
simplesmente apresentando os dados – ainda que muito bem agrupados e esclarecidos
– da estrutura ocupacional que se conhece e se compreende qualquer coisa relevante
acerca da dinâmica das lutas de classe do Brasil contemporâneo‖.168
Cabe reiterar a necessidade de reconhecer que as bases do PBF, que
incluem distribuição de renda, aumento da escolaridade e melhoria da saúde da
população que não possui acesso aos meios mais eficientes de saúde e educação,
oferecidos pelas iniciativas privadas, poderão colaborar para o desenvolvimento
econômico e social dessas famílias a longo prazo. Assim, a emancipação dos
beneficiários projeta ao PBF um caráter mais educativo de promoção cidadã, sendo
necessário que os beneficiários produzam sua própria renda, sem depender do poder
público e minimizem o risco de retornar à situação de miséria e, para isso, os meios
seriam: cursos profissionalizantes, a formação de cooperativas, os restaurantes
populares, os bancos de alimentos, os comitês gestores, dentre outros.
É um fato o alcance do PBF nas demandas mais urgentes, como a fome.
Mas, a questão é se um programa assim será suficiente para dar as respostas aos
graves problemas que envolvem as questões sociais do país. Para aqueles que não o
enxergam como passo para superação dessas questões, os principais obstáculos
concentrar-se-iam na falta de referência a direitos a todos os indivíduos, sem distinção,
e na possível perpetuação de dependência e acomodação dos beneficiários sem a real
promoção da cidadania, contribuindo para a percepção do benefício tão somente como
uma ajuda do governo e não um direito. O PBF desfavoreceria o desenvolvimento das
capacidades dos seus beneficiários como agentes autônomos de suas próprias vidas.
167
SOUZA, Jessé. A Cegueira do Debate Brasileiro sobre as Classes Sociais. Disponível em:
http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2014/outubro/14.10-Cegueira-Classes-Sociais.pdf p.35-36
168
SOUZA, Jessé. A Cegueira do Debate Brasileiro sobre as Classes Sociais. Disponível
em:http://www.bresserpereira.org.br/terceiros/2014/outubro/14.10-Cegueira-Classes-Sociais.pdf p.36.
67
A eficácia do PBF estaria relacionada à progressividade dos seus benefícios,
direcionados aos mais pobres, atingindo-se o objetivo da redução da desigualdade. Em
contrapartida, o seu impacto seria pequeno no tocante à redução da proporção dos
pobres, fato atribuído ao baixo valor dos benefícios transferidos, aqueles que estão
abaixo da linha da pobreza. Diante disso, assente-se no sentido de uma necessária
reestruturação do gasto social e de redesenhar-se os mecanismos direcionados aos
pobres, especificamente. Assim, no contexto da operacionalização de políticas
antipobreza, é imprescindível a utilização de recursos em políticas públicas focalizadas
nos mais necessitados, garantindo-se eficiência operacional a essas políticas que
amenizam os sintomas da pobreza, mas também que tenham o poder de romper com o
seu vicioso círculo de forma definitiva169.
Helcio Ribeiro considera que ―Os objetivos sociais da Constituição de 1988
enfrentam inúmeros dilemas. Os dois mais importantes são o advento da economia
globalizada e o caráter cada vez mais complexo das sociedades altamente
diferenciadas.‖170 O autor destaca o processo contraditório na avaliação das políticas
sócias do Brasil pós-constituição de 1988, pelo que houve sim avanços, na diminuição
das desigualdades por exemplo, mas houve desvios dos objetivos constitucionais.
Contradição que, para o autor, faz cair a tese da constituição simbólica de
Neves
171
, ao passo que impõe um desafio ao Neoconstitucionalismo que, segundo
Ribeiro, ―precisa incorporar a crítica do modelo socioeconômico vigente, enfrentar os
problemas oriundos da crescente complexidade social e definir melhor o modelo de
democracia que está implícito em sua teoria.‖ E Mais, ―O papel da sociedade civil na
expansão da esfera pública e da participação cidadã na implementação das políticas
sociais precisa ser avaliado pelo Neoconstitucionalismo, sob pena de acabar
incorporando uma concepção liberal requentada da democracia.‖172
169
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006. p.193.
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.58.
171
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
172
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.59.
170
68
1.1.3. Pesquisas qualitativas e a voz dos beneficiários
O PBF com seus mais de dez anos é a face visível da transformação da
política social. Mas, a mudança é profunda e tem seus percalços. Ainda há
desconfiança do mau uso dos recursos, dado o paternalismo e o assistencialismo que
marcam séculos de nossa convivência social e que precisam assimilar a possibilidade
de construção de uma sociedade igualitária, em que todos têm voz.
As pesquisas sobre os aspectos macroeconômicos e macro políticos do PBF
devem ser acompanhadas de estudos amplos sobre o cotidiano, a mentalidade, a
subjetividade, as expectativas e mudanças de hábitos das famílias beneficiadas para
que se possa medir de maneira efetiva os impactos do Programa.
O livro Vozes do Bolsa Família173 é resultado de um trabalho de pesquisa
qualitativa realizada ao longo de cinco anos (de 2006 a 2011) com as mulheres
beneficiárias do PBF que residem nas regiões consideradas mais desassistidas do país
(sertão de Alagoas, zona litorânea de Alagoas, Vale do Jequitinhonha/MG, interior do
Piauí, interior do Maranhão, as periferias de São Luís/MA e de Recife/PE). Os autores
mostram como o recebimento do benefício, muitas vezes a primeira experiência de
renda regular das famílias, tem modificado a vida das beneficiárias e de suas famílias,
evidenciando, assim, ―os efeitos políticos e morais nada secundários do PBF [...]‖174.
Os autores partem da hipótese que os mitos que culpam o acaso ou os
próprios pobres pela pobreza secular herdada legitimam a indiferença dos ricos e
humilham os pobres até levá-los à resignação ou, mais raramente, à violência. No
Brasil, o predomínio de uma visão liberal que culpa os pobres por sua pobreza tem
raízes históricas profundas. Seus antecedentes são os estereótipos que taxaram
homens livres e pobres como vagabundos depois da abolição e que estigmatizavam o
escravo como preguiçoso, leniente, lascivo que só trabalharia sob coerção.
Os autores partem da teoria de Georg Simmel a respeito do poder liberatório
do controle do dinheiro sobre relações de dependência pessoal opressora e para a
173
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p.15.
174
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p.15.
69
construção de subjetividades autônomas. Todavia, rejeitam a proposta liberal que a
transferência de renda monetária deva substituir e não complementar outras políticas
sociais e de desenvolvimento regional, sem as quais o processo de habilitação de
cidadãos não avançará. Sem escolas de qualidade, infraestruturas que aumentem o
acesso a serviços públicos e apoio a atividades econômicas locais, as capacitações
necessárias para a superação social da pobreza terão um desenvolvimento limitado.
As entrevistas revelaram que o PBF é a primeira experiência de renda
regular para boa parte das beneficiárias. Uma experiência que parece mudar a
subjetividade e iniciar a superação da cultura da resignação com sua sina da qual
esperam subtrair os filhos. Para muitos inaugura a experiência de planejamento do uso
do dinheiro e de formação de economias para gastos maiores. Constatou-se
planejamento do gasto voltado à garantia da alimentação dos filhos, roupas e material
escolar, complementando outras fontes de renda, com o tempo. Diante dos resultados
colhidos, o desperdício com cachaça é concluído apenas como um mito conveniente.
Nessa obra, a investigação dos efeitos políticos e morais do PBF sobre os
usuários é feita à luz de uma concepção de autonomia individual baseada no capability
approach desenvolvido por Amartya Sen e Martha Nussbaum e da conexão entre renda
monetária e autonomia individual teorizada em particular por George Simmel175. A partir
da perspectiva de Sem, o quarto capítulo aborda a questão da pobreza enquanto
conceito multidimensional, abordando-se várias de suas dimensões, em especial as
dimensões da vergonha, da desigualdade interna às famílias, da invisibilidade e da
mudez, para além das dimensões propriamente econômicas e materiais.
A partir dos discursos dessas mulheres combate-se de forma minuciosa e
com fundamentação teórica e empírica preconceitos sociais arraigados numa
sociedade patrimonialista, afinal ―No caso brasileiro, o debate sobre o Bolsa Família é
um bom exemplo de repetição histórica do preconceito e da força dos estereótipos‖ 176.
Somente duas das 150 entrevistadas declararam ter deixado de trabalhar depois de
passarem a receber o benefício (portanto, o PBF não estimula o ―não trabalho‖); o gasto
175
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p.15.
176
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p. 225.
70
do recurso é dirigido à alimentação (principalmente das crianças), e não ao consumo de
bens supérfluos; boa parte delas consegue se libertar da violência doméstica, a partir
do momento que contam com uma fonte de renda; a educação das crianças é
valorizada, assim como sua saúde.
(...) constata-se que o programa BF garante o direito à vida a milhões de
brasileiros; não resolve, contudo, o problema da pobreza. Isso se
destaca particularmente quando observamos a situação dos homens
pobres no quesito renda regular e aumento de autoestima. Na verdade,
os maridos, normalmente, não têm nenhuma perspectiva de trabalho e
de melhora de vida; não possuem futuro nessas regiões nas quais se
realizou a pesquisa.(...)São pessoas de vida precária em todos os
sentidos: precariedade de vínculos, de sentimentos, de relações sociais
sempre provisórias, pois provisórios são seus subempregos.177
O pobre no Brasil é associado pela classe média ao marginal e preguiçoso, o
que justificaria sua situação socioeconômica. Esse pensamento se perpetua para os
beneficiários do PBF, gerando quase um duplo estigma, a pobreza em si mesma e
acusações de serem acomodados, de quererem mais filhos para receber mais dinheiro
sem trabalhar. Tais argumentos, frutos do preconceito e da cultura do desprezo pelo
pobre, no entanto, são rebatidos através do resultado dessas entrevistas.
Umas das grandes contribuições atreladas ao PBF é o fato de ele ser
considerado uma renda fixa para essas famílias; fixa no sentido de não ser inconstante
como os ―bicos‖, que apenas vez por outra se consegue encontrar. Nesse sentido, o
PBF pode ser considerado uma espécie de renda, ainda que mínima, e esse aspecto
contribui para o alívio imediato da pobreza, bem como para a possibilidade de quebra
do ciclo vicioso da pobreza nas gerações futuras.178
A partir disso, ―o Bolsa Família pode ser visto como política de urgência
moral, capaz de estabelecer as condições mínimas para o desenvolvimento de
autonomia ética e política‖179. Nesse sentido, o Programa tem contribuído positivamente
para a autonomia das mulheres beneficiárias. No entanto, a grande mudança está por
177
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p.185.
178
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p.147.
179
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p.215.
71
vir e é ansiosamente aguardada para a geração dos filhos dessas mulheres
beneficiadas, pois que já há a possibilidade de sonhar com um futuro diferente; embora,
na maioria dos casos, o sonho não as inclua, porque a esperança chegou tarde demais.
Mas é sobre os filhos dessas mulheres que está depositada a expectativa da quebra de
um ciclo vicioso de pobreza e o início de um novo ciclo, um ciclo virtuoso de direitos.
Nesse contexto, reafirma-se a importância do PBF, mas muito ainda precisa
ser feito para que o Brasil se torne um país de cidadãos munidos de direitos iguais. A
renda mínima regular que o programa proporciona aos beneficiários contribui para ―o
início da superação da cultura da resignação, ou seja, da espera resignada pela morte
por fome e doenças ligadas à pobreza‖180.
Em outra pesquisa sobre a contribuição do PBF para o enfrentamento da
pobreza e uma maior autonomia dos sujeitos beneficiários foram coletados dados
quantitativos com 103 famílias beneficiárias, complementados com entrevistas
qualitativas com profissionais e famílias. A investigação foi conduzida junto aos Centros
de Referências da Assistência Social de Porto Alegre. Entre as formas de privação, a
educação mostrou-se o aspecto de privação que obteve os melhores resultados na
percepção das famílias na busca da autonomia. A participação em atividades de apoio
social tem efeito direto na percepção de melhoria da situação da família; entretanto, a
participação das famílias mostrou-se incipiente. Essas atividades contribuem para o
desenvolvimento da autonomia e podem ser compreendidas como o principal
mecanismo do programa para as pessoas encontrarem as "portas de saída".181
Para serem autônomas, as famílias devem ser capazes de superar as
privações impostas pela renda, através do trabalho, mas também ser capazes de
superar as privações derivadas da baixa educação, dos problemas de saúde, da
alimentação pobre, da violência nas relações sociais, entre outros aspectos. Todos
esses elementos têm potencial para impedir que indivíduos possam superar uma
180
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013. p.190.
181
TESTA, Maurício Gregianin; FRONZA, Paula; PETRINI, Maira; PRATES. Análise da contribuição do
Programa Bolsa Família para o enfrentamento da pobreza e a autonomia dos sujeitos beneficiários. Rev.
Adm. Pública vol.47 no.6 RJ Nov./Dec. 2013. Disponível:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003476122013000600009&script=sci_arttext Acesso 14/05/2015.
72
condição de pobreza e viver de acordo com seus valores e desejos, constituindo,
assim, formas de privação da liberdade.182
Cohn usou cartas escritas ao presidente Lula para analisar como vivem os
pobres e como vivenciam a presença ou ausência de proteção social. As 1375 cartas
selecionadas intencionalmente foram escritas entre 2004 e 2006, durante os três
primeiros anos do PBF, e expressam de forma espontânea as experiências de vida, as
frustrações, os desejos, as necessidades e as expectativas dos remetentes. Muitas
vezes escritas com esforço são cartas simples de brasileiros que haviam esgotado sua
habilidade para lidar com as autoridades locais ao buscar o acesso a direitos.183
As cartas reiteradamente referem-se ao PBF como um direito. No entanto, ao
contrário do BPC, das aposentadorias e pensões, o PBF não é um direito e não tem as
características do direito - estabilidade, garantia dos valores, regras iguais para todos.
Porém, segundo a autora, dada a sua apropriação pela sociedade, "sua penetração e
seu enraizamento na sociedade, ele se configura como um quase direito"184.
É justamente por não ser um direito, não ter qualquer garantia de
permanência (tem caráter temporário, sendo a elegibilidade das famílias revista a cada
dois anos) e significar um valor mínimo, que o PBF constitui um benefício que
paradoxalmente garante a sobrevivência das famílias ("uma tábua de salvação") e, ao
mesmo tempo, as impede de sair da "situação de miséria e degradação absoluta do seu
cotidiano", planejar minimamente a própria vida, estabelecer qualquer plano de futuro.
Sobrevivem, porém limitados ao "tempo do 'aqui e agora', que é próprio da vida
daqueles que vivem em situação de miséria ou de extrema pobreza".185
Cohn lembra que o PBF não faz parte do texto constitucional, por isso, as
reservas orçamentárias do programa dependem exclusivamente da vontade do
presidente, o que muitas pessoas consideram preocupante. A necessidade de garanti-
182
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010.
COHN, Amélia. Cartas ao Presidente Lula: Bolsa Família e direitos sociais. Rio de Janeiro:
Pensamento Brasileiro; 2012.
184
COHN, Amélia. Cartas ao Presidente Lula: Bolsa Família e direitos sociais. Rio de Janeiro:
Pensamento Brasileiro; 2012.p.25. No último tópico desta pesquisa, 3.3., foram abordadas diferenças
entre Direitos Sociais e Políticas Sociais que, ao nosso ver, servem bem para explicar essa questão do
bolsa família visto como um quase direito.
185
COHN, Amélia. Cartas ao Presidente Lula: Bolsa Família e direitos sociais. Rio de Janeiro:
Pensamento Brasileiro; 2012.p.170 e 127.
183
73
lo na Constituição voltou à agenda política depois que, em julho de 2013, rumores
sobre o seu cancelamento produziram uma corrida aos terminais eletrônicos da Caixa
Econômica Federal onde foram sacados milhões, em um fim de semana.
O PBF é um programa transversal no qual a intersetorialidade deveria ser um
elemento central, seja por induzir o acesso aos direitos universais de educação e
saúde, seja por prever as 'portas de saída' do benefício por meio de atividades de
geração de trabalho e renda. As cartas são um testemunho de que isso não acontece.
Para Cohn, o PBF absorve as insuficiências e preenche as lacunas das
demais políticas setoriais: substitui a previdência social, tanto a aposentadoria quanto o
auxílio doença; é a 'bolsa permanência' na escola, a 'bolsa farmácia' e o 'seguro saúde'.
Em relação à saúde fica evidente o que autora chama de 'suprir as insuficiências do
SUS', os recursos do PBF sendo usados para comprar medicamentos não disponíveis
no sistema público de saúde, tratar dos dentes, realizar procedimentos médicos no
setor privado, em particular os cirúrgicos com longas filas de espera. Assim, "Em muitos
casos o BF funciona mais como a presença de uma renda que significa a garantia de
acesso à assistência médica do que à própria renda em si para cobrir necessidades
básicas como alimentação e habitação"186.
O PBF tem o potencial de provocar um círculo virtuoso no qual alimentação
adequada, escolarização e cuidados de saúde recomendáveis teriam
como
desdobramento a saída das famílias da linha de pobreza e de extrema pobreza que
sendo de forma autossustentada faria surgir uma população com maior conscientização
política que escolherá mais criteriosamente seus governantes. A caminho da
construção de um país melhor e mais desenvolvido, com um povo que gere riqueza e
usufrua de seus direitos, tendo as ações governamentais atreladas ao ordenamento
jurídico do país, ressaltando-se que é indispensável para a obtenção desses resultados
positivos a participação efetiva da sociedade e atuação do Poder Público, inclusive no
que se refere à criação de empregos e a capacitação profissional dos cidadãos.
Diante do que foi exposto nesse tópico, reflete-se o Direito como instrumento
de desenvolvimento, trabalhada em estudos como o movimento ―Law and
186
COHN, Amélia.Cartas ao Presidente Lula: Bolsa Família e direitos sociais. Rio de Janeiro: Pensamento
Brasileiro; 2012.p.92.
74
Development‖ com liderança de David Trubek. Questiona-se sobre a capacidade do
Direito em modificar comportamentos sociais, modernizar a economia e promover
justiça social. Para Faria, é possível sim utilizar o Direito como instrumento de justiça
social, alertando que para isso é necessário um Estado forte (não significa autoritário) e
capaz de utilizar elementos fiscais que transfiram renda do ponto de vista setorial,
trabalhando uma justiça distributiva187.
Para Faria, a democracia representativa é um conceito que tem uma base
territorial (representativa dos limites de um território), mas as decisões econômicas são
cada vez mais transterritoriais e por isso, vem à tona a necessidade de se repensar o
controle político dessas decisões. Por outro lado, ele enxerga o Brasil no seu todo e
percebe as regiões Norte e Nordeste como bolsões de um Brasil pré-moderno.188
Nesse contexto, Roberto Mangabeira Unger, quando Secretário de Assuntos
Estratégicos, levantou a questão de como administrar um país com tantas
desigualdades e como corrigir essas disparidades. Como caminho aparece a
necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento brasileiro, ou seja, não se pode
aceitar a idéia de que o nordeste replique o que ocorreu no sul e no sudeste. Teria que
se repensar um projeto para o nordeste e nas condições de implementação.
Segundo Faria, vivemos um paradoxo, uma armadilha perigosíssima. O
crescimento da economia brasileira depende muito da sua inserção externa. O Brasil
não teria capacidade de autosustentar o seu crescimento. Se o país quiser promover
inclusão social tem de crescer e para tal tem de exportar, tendo que se inserir em novas
regras globais. O problema dessas regras é que elas têm um custo social muito alto,
abrem caminho para cortes de gastos, direitos e programas sociais.189
Faria acredita que a capacidade que o Direito positivo tem de lidar com uma
sociedade complexa se exauriu, ―A sociedade é variada demais, complexa demais, e,
187
FARIA, José Eduardo. Em entrevista ao Comercialista, um jornal criado pelos estudantes de
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Disponível em:
http://rafazanatta.blogspot.com.br/2011/10/entrevista-de-jose-eduardo-faria-ao.html Acesso em 28/08/15.
188
FARIA, José Eduardo. Em entrevista ao Comercialista, um jornal criado pelos estudantes de
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Disponível em:
http://rafazanatta.blogspot.com.br/2011/10/entrevista-de-jose-eduardo-faria-ao.html Acesso em 28/08/15..
189
FARIA, José Eduardo. Em entrevista ao Comercialista, um jornal criado pelos estudantes de
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Disponível em:
http://rafazanatta.blogspot.com.br/2011/10/entrevista-de-jose-eduardo-faria-ao.html Acesso em 28/08/15.
75
ao tentar padronizá-la por meio de códigos – corpos padronizadores – vou atuar como
uma camisa de força, frente à natural expansão da Economia e da sociedade. Para
tanto, preciso abrir mão dos códigos e acabo, assim, por substituí-los por leis
complementares‖. Nesse contexto, a partir 1980, 1990 percebe-se a tendência do
Estado
de
não
intervir,
desconstitucionalização
de
através
direitos,
de
de
um
processo
de
flexibilização,
de
deslegalização,
de
desregulamentação
econômica, de descriminalização de determinados comportamentos. O Estado enxuga
o Direito e diminui seu alcance.190 É uma perspectiva do cenário a se considerar.
Considerando as ideias de Faria, no processo de transformação profunda da
economia capitalista, destaca-se a dimensão da crise do Estado-Nação como resultado
da complexa rede de relações entre empresas, instituições internacionais, agências de
avaliação de risco, movimentos sociais e organizações não governamentais. Para
Ribeiro ―Como um projeto idealista da sociedade moderna, o direito não pode mais dar
conta da complexidade social e do pluralismo inerente às sociedades contemporâneas
afetando diretamente o papel da Constituição na ordem social.191 Para Canotilho ―(...) a
teoria da constituição não compreendeu a diferenciação funcional das sociedades
complexas. Tudo isto colocou um série de problemas à teoria da constituição.‖192
Diante de tudo isso, a teoria constitucional vem buscando renovar as
técnicas de interpretação e concretização da Constituição por meio de novas
metodologias que permitam a adaptação do direito ao novo contexto, para Ribeiro,
muito mais complexo, cambiante e heterogêneo. Além disso, os desafios da
Constituição na realização das políticas públicas no século XX estão associadas a um
problema fundamental: ―as visíveis tendências de declínio da democracia no mundo
contemporâneo.‖193. Mais uma perspectiva do cenário a se considerar.
190
FARIA, José Eduardo. Em entrevista ao Comercialista, um jornal criado pelos estudantes de
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Disponível em:
http://rafazanatta.blogspot.com.br/2011/10/entrevista-de-jose-eduardo-faria-ao.html Acesso em 28/08/15..
191
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins(Orgs.)O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo:Atlas, 2013.p.52.
192
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993. p.1998. /
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Brancosos e interconstiucionalidade: itinerários dos discursos sobre
a historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2008. p. 218, ss.
193
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.53 e 59.
76
1.2. Exigência e viabilização das condicionalidades: punição ou incentivo?
O PBF constitui-se em um programa de transferência de renda condicionada,
destacando-se na medida em que repassa numerário a uma família ao invés de bens e
produtos, fazendo com que o indivíduo passe a ter autonomia sobre o uso do recurso.
As condicionalidades para concessão do benefício às famílias podem contribuir para a
melhoria do nível educacional e de saúde no país.
As condicionalidades são os compromissos assumidos pelos beneficiários e
pelo poder público para ampliar o acesso dessas a direitos sociais básicos. Por um
lado, as famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para continuar
recebendo o benefício. Por outro, as condicionalidades responsabilizam o poder público
pela oferta dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social.194
Na área de saúde, as famílias beneficiárias assumem o compromisso de
acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento e desenvolvimento das crianças
menores de 7 anos. As mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o
acompanhamento e, se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o
acompanhamento da sua saúde e do bebê. Na educação, todas as crianças e
adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente matriculados e com
frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. Já os estudantes entre 16
e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%.195
O MDS faz o acompanhamento das condicionalidades de forma articulada
com os Ministérios da Educação e da Saúde. Nos municípios, o acompanhamento deve
ser feito intersetorialmente entre as áreas de saúde, educação e assistência social. Os
objetivos do acompanhamento das condicionalidades são monitorar o cumprimento dos
compromissos pelas famílias beneficiárias; responsabilizar o poder público pela garantia
de acesso aos serviços e pela busca ativa das famílias mais vulneráveis e identificar,
nos casos de não cumprimento, as famílias em situação de maior vulnerabilidade e
orientar ações do poder público para o acompanhamento dessas famílias.196
O controle da frequência escolar deve ser feito pela Secretaria de Educação
194
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades Acesso 24 maio de 2015.
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades Acesso 24 maio de 2015.
196
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades Acesso 24 maio de 2015.
195
77
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do MEC. A Portaria Interministerial
MDS/MEC nº 3.789, de 17 de novembro de 2004, dispõem que as Secretarias
Municipais de Educação devem informar a frequência escolar a cada bimestre. A cadeia
que se forma para o acompanhamento dessas condicionalidades envolve as seguintes
etapas: as escolas controlam a frequência escolar e preenchem um formulário sobre os
motivos das faltas; as secretarias de educação locais recebem os formulários
preenchidos e registram no Sistema Presença; a Caixa Econômica Federal recebe os
dados consolidados de cada município ou estado e compila as informações nacionais
antes de passá-las ao MEC que consolida novamente e transmite ao MDS.197
No caso das condicionalidades da saúde, a Coordenadoria Geral da Política
de Alimentação e Nutrição (CGPAN), do Departamento de Atenção Básica (DAB), da
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), dentro da estrutura administrativa do Ministério
da Saúde é a área responsável pelo seu acompanhamento que é feito semestralmente,
através do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), acessível às
Secretarias Municipais e Estaduais de saúde via internet. O sistema disponibiliza uma
relação das famílias beneficiárias do programa com perfil de acompanhamento pela
saúde e a partir disso, serão registrados os dados de vacinação das crianças e o prénatal das gestantes. O processo de acompanhamento inicia-se com os agentes de
saúde locais que repassam informações coletadas às autoridades de saúde que
consolidam a informação recebida e inserem-na no SISVAN para acesso do MS, que,
por sua vez, consolida as informações em nível nacional e as transmite ao MDS 198.
Destaca-se o papel das equipes do programa Saúde na Família, muito
importantes
para
a
realização
do
acompanhamento.
Os
percentuais
de
acompanhamento são significativamente maiores onde há cobertura dessas equipes.199
Para viabilizar o controle social, o acesso às informações e à avaliação das
atividades de cada município, em relação às condicionalidades do PBF, o Governo
197
LINDERT, Kathy; LINDER, Anja; HOBBS, Jason; BRIÈRE, Bénédicte de La. The Nuts and Bolts of
Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing Conditional CashTransfers in a Decentralized Context.
Social Protection Discussion Papers 0709,World Bank, 2007.p. 63.
198
LINDERT, Kathy; LINDER, Anja; HOBBS, Jason; BRIÈRE, Bénédicte de La. The Nuts and Bolts of
Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing Conditional CashTransfers in a Decentralized
Context.
Social Protection Discussion Papers 0709,World Bank, 2007.p.66.
199
Curralero et al. As condicionalidades do Programa Bolsa Família. In: CASTRO, Jorge Abrahão de.
MODESTO, Lúcia (orgs.).Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. Vol. 1. Brasília: IPEA, 2010. p.170
78
Federal criou o Sistema de Gestão de Benefícios (SIBEC – sistema online)
regulamentado pela Portaria GM/MDS nº 555 de 2005, através do qual os órgãos
municipais, responsáveis pela gestão do programa, podem acompanhar, obter
informações que compreendem as atividades de bloqueio, desbloqueio, cancelamento,
reversão de cancelamento, suspensão e reversão de suspensão de benefícios.
O descumprimento das condicionalidades do PBF por parte das famílias
pode gerar efeitos no benefício. Efeitos gradativos, conforme quadro que se segue,
tornando possível a identificação das famílias que não cumprem as condicionalidades e
acompanhá-las a fim de que os problemas que geraram o descumprimento possam ser
resolvidos. Ao final de cada período de acompanhamento, conforme o calendário de
cada condicionalidade, o MDS informa por meio do Sistema de Condicionalidades
(Sicon) as famílias que descumpriram as condicionalidades no período. A família em
descumprimento é notificada através de correspondência escrita e pela mensagem do
extrato bancário do benefício e o efeito vai para a folha de pagamento.200
Efeitos Gradativos
Nº
1º
2º
200
AÇÃO NO
BENEFÍCIO
Famílias BFA e BVJ
DESCRIÇÃO DOS EFEITOS DE CONDICIONALIDADES
Advertência
A família é notificada sobre o descumprimento da
condicionalidade. Esse efeito fica registrado no histórico de
descumprimento da família durante seis meses. Após esse
período, se a família tiver um novo descumprimento, o efeito será
uma nova advertência.
Nenhum efeito no
benefício.
Se, no período de 6 meses da última advertência, a família tiver
um novo descumprimento, o efeito será o bloqueio.
O benefício é
bloqueado por 30
dias, podendo ser
sacado junto com a
parcela do mês
seguinte.
Bloqueio (30 dias)
MDS.
Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/gestaodecondicionalidades/efeitosde-descumprimento%20 Acesso em 24 de maio de 2015.
79
Se, no período de seis meses após o efeito de bloqueio, a família
tiver um novo descumprimento, o efeito será a suspensão.
Se a família continuar descumprindo as condicionalidades dentro
do período de seis meses após a última suspensão, ela receberá
novo efeito de suspensão e, assim, sucessivamente — ou seja, a
suspensão será reiterada.
3º
Suspensão (60
dias)
Se a família passar seis meses sem descumprir as
condicionalidades e, depois desse tempo, tiver um
descumprimento, o efeito será uma nova advertência.
O numero de suspensões reiteradas da família será monitorado
no Sistema de Condicionalidades (Sicon) e representará um
indicativo de que a família está em situação de vulnerabilidade,
necessitando de uma ação da Assistência Social.
O benefício é
suspenso por 60
dias e não poderá
ser sacado após
esse período.
Passados os dois
meses, a família
voltará a receber o
benefício do PBF.
O benefício somente poderá ser cancelado se a família:
Estiver na fase da suspensão (período de seis meses após o
último efeito de suspensão);
4º
Cancelamento
For acompanhada pela Assistência Social, com registro no Sicon;
e
Cancelamento do
benefício.
Continuar descumprindo as condicionalidades por um período
maior do que 12 meses, a contar da data em que houver a
coincidência de registro dos dois itens anteriores.
Fonte:
Site
do
MDS
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/gestao-decondicionalidades/efeitos-de-descumprimento%20
O tema das condicionalidades é controverso. Destacam-se duas principais
vertentes
de
críticas.
Para
militantes
na
área
dos
direitos
humanos,
as
condicionalidades significam uma ameaça ao pleno exercício dos direitos, em especial
do direito humano à alimentação, sendo um Programa que deve ser visto, ele próprio,
como um direito de cidadania indisponível. Enquanto isso, um outro aspecto dessas
críticas referem-se ao fato de que elas fazem parecer que as pessoas não acessam os
mecanismos de saúde e de educação porque não querem fazê-lo e não, porque os tais
mecanismos não são oferecidos a toda população de forma adequada201.
No tocante ao cumprimento das condicionalidades da saúde, um dos
problemas relaciona-se às dificuldades das famílias que vivem nas áreas rurais dos
municípios, considerando-se que, comumente, não há posto de saúde nas
201
MESQUITA, Camile Sahb. Contradições do processo de implementação de políticas públicas: Uma
análise do Programa Bolsa Família 2003-2006. In: Revista do Serviço Público, vol, 57, nº 4 - Out/Dez
2006. Brasília: ENAP, 2006.
80
proximidades e o custo para o deslocamento no intuito de cumprir-se as exigências é
alto. A efetividade das condicionalidades está por sua vez, diretamente ligada à
disponibilidade e à qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Entretanto, quando o
serviço não é disponibilizado por ele, a condicionalidade é simplesmente suspensa, não
havendo penalização para o Estado (art. 28. § 5°, Decreto n° 5209/04). Diante disso, a
prática mostra que o não cumprimento das condicionalidades recai diretamente sobre a
família que perde o benefício, inexistindo penalização ao poder publico pela ausência
do serviço. Destaque-se, ainda, que o problema não recai exatamente sobre as
condicionalidades, mas na forma como estas são implementadas202.
As condicionalidades devem ser usadas para identificar as famílias mais
vulneráveis. As condicionalidades seriam um importante elemento de política pública,
uma vez que permitiriam ao Estado desenvolver ações voltadas a grupos familiares
específicos, além de possibilitar a integração de políticas sociais. O descumprimento,
das condicionalidades pelo beneficiário é um fracasso de toda a estrutura estatal203.
Nesse sentido, as famílias com dificuldades de cumprimento das condicionalidades
deveriam ser alvos de acompanhamento e atenção especial do poder Público e das
instâncias de controle democrático (art. 8°, IV, e, Instrução Normativa MDS n° 01/05).
O programa deve ser considerado uma barreira última em que se
inserem as famílias mais vulneráveis da sociedade brasileira. Propõe-se
a ser uma importante política pública de combate à pobreza política e
material. Famílias (mesmo aquelas que agiram com negligência) que
são retiradas do programa estarão sendo excluídas da ―ultima barreira‖
de combate à pobreza.204
Importa analisar o caráter problemático das famílias que não cumprem as
condicionalidades. É preciso levar em conta as condições de vida dessas pessoas,
atentando-se para questões do tipo alto grau de miséria em que vivem, problemas com
202
MESQUITA, Camile Sahb. Contradições do processo de implementação de políticas públicas: Uma
análise do Programa Bolsa Família 2003-2006. In: Revista do Serviço Público, vol, 57, nº 4 - Out/Dez
2006. Brasília: ENAP, 2006. p.73.
203
ZIMMERMANN, Clóvis Roberto. Principio democrático e constitucional da dignidade de pessoa
humana e a existência do programa bolsa família. 2009. Apontamentos sobre direitos elementares dos
cidadãos de baixa renda. <http://online. unisc.br/seer/index.php/direito/article/viewFile/763/1002>. p.107
204
ZIMMERMANN, Clóvis Roberto. Principio democrático e constitucional da dignidade de pessoa
humana e a existência do programa bolsa família. 2009. Apontamentos sobre direitos elementares dos
cidadãos de baixa renda. <http://online. unisc.br/seer/index.php/direito/article/viewFile/763/1002>.
81
alcoolismo, violência doméstica, distúrbios mentais, dentre outros. São estruturas
familiares que não respondem adequadamento ao programa justamente porque são
desestruturadas e por isso mesmo é que deveriam ter uma maior atenção da
assistência social. É por assim dizer uma lógica inversa de enxergar-se o programa.
Para a exclusão do programa é imprescindível que o descumprimento ocorra por
negligência, que o descumprimento seja uma opção. Afinal, é preciso ter em mente que
o programa busca promover a cidadania e por isso mesmo, a penalização pelo
descumprimento das condicionalidades não pode ser um foco.
As condicionalidades traduzem os direitos sociais cujo acesso deve ser
universal, conforme o ordenamento jurídico constitucional. A exigência de cumprimento
dessas contrapartidas possibilitaria a realização das condições fundamentais mínimas,
garantindo padrões básicos de cidadania aos seus beneficiários, para que esses
indivíduos, que estão socialmente marginalizados, lutem pelo acesso às condições
necessárias ao desenvolvimento de suas capacidades essenciais. Contudo, é
importante frisar a polêmica da contrapartida sob a forma de requisito para inserção e
permanência no programa como fator de restrição da cidadania.
A partir da análise do modelo de condicionalidades do PBF é possível
investigar em que medida e de que maneira foi possível rever e testar distintas
possibilidades quanto ao modelo de acompanhamento dessas contrapartidas,
abordando-se três pontos: a discussão, desde o inicio do programa, sobre o modelo de
condicionalidades que deveria ser adotado; a sua implementação com o olhar dirigido à
forma como mudanças significativas ocorreram a partir de atos normativos formalizados
no interior da burocracia (no ―topo‖); implementação da política nos municípios (na
―ponta‖), atrelando questões do âmbito local às transformações identificadas no topo.
Para esse intento, faz-se uso de documentos que relatam os debates
presentes no início do PBF, tais como textos escritos por gestores que narram a
experiência vivida nas raízes do programa, do arcabouço de Portarias e Instruções
Operacionais publicados desde a sua criação até 2013 (material disponível no sítio
eletrônico (MDS) e de estudos empíricos sobre a realidade local do programa, além de
documentos e relatórios que permitem compreender a dinâmica do acompanhamento
das condicionalidades de educação e saúde em alguns municípios.
82
A gestão das condicionalidades sofreu alterações substantivas ao longo dos
mais de dez anos de implementação do programa, além de ser alvo de uma
permanente tensão na sua gestão quanto aos limites do que pode ser exigido dos
beneficiários como contrapartida ao benefício. A regulamentação das condicionalidades
é especialmente ilustrativa da possibilidade de processos de revisão e aperfeiçoamento
concomitantes à implementação de uma política.
As condicionalidades parecem mostrar a utilização de um mecanismo de
incentivos e estímulos para obtenção de determinadas finalidades, em lugar da
imposição de medidas coercitivas, na medida em que induzem que beneficiários façam
o acompanhamento de saúde de seus familiares e cuidem da frequência escolar de
crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que induzem também o Poder Público a
aprimorar a oferta local de serviços garantidores desses direitos. Ainda assim, a
questão das condicionalidades é polêmica, não sendo pacífica a afirmação de que elas
servem como incentivo. Existe a visão segundo a qual elas são mecanismos punitivos e
estão na contramão da lógica da garantia de direitos, mesmo no modelo mais recente. A questão das condicionalidades envolve duas concepções distintas sobre o
que pode ser exigido de um beneficiário como contrapartida ao benefício que ele
recebe. De um lado, a possibilidade de uma racionalidade mais punitiva e, de outro,
uma opção mais atrelada à promoção de direitos por meio de uma lógica de estímulos.
As condicionalidades são constantemente alteradas, em maior ou menor grau, por
normas internas da burocracia federal. A partir disso, percebe-se um contraste entre o
modelo de condicionalidades inicial e um mais recente, com diferenças que parecem
refletir a existência de uma dinâmica de tentativas e testes.
O que estaria por trás desse contexto, como pressuposto, é justamente a
concepção de que as políticas públicas são moldadas ao longo de sua implementação
e que essas mudanças podem ocorrer tanto ―no topo‖ da burocracia estatal, mas
independentemente de alterações legislativas, quanto ―na ponta‖ da implementação por
meio do modo como os implementadores conduzem suas atribuições.205
205
ANNENBERG, Flávia Xavier. Direito e políticas públicas: uma análise do direito administrativo a partir
do estudo de caso do Programa Bolsa Família. 2014. Dissertação - Faculdade de Direito da USP.
Orientador: Diogo Rosenthal Coutinho.
83
Segundo Sátyro e Soares, ―um dos pontos mais controversos do PBF é o
acompanhamento das contrapartidas exigidas das famílias‖. Isso porque essa questão
contrapõe duas correntes da literatura: a primeira delas defende ―serem as
contrapartidas tão ou mais importantes que o benefício em si‖, uma vez que o PBF é
um programa de ―incentivo ao capital humano das famílias mais pobres‖, e a outra
sustenta que a transferência de renda é um direito e que ―o PBF é, antes de tudo,
proteção social‖, apontando que as famílias mais vulneráveis são as que têm maiores
dificuldades para cumprir contrapartidas mais rigorosas.206
Esses autores consideram que a exigência de condicionalidades pode estar
presente em programas de garantia de renda mínima e em programas focados na
geração de oportunidades. A diferença deve estar na maneira como o cumprimento é
cobrado. Em programas de geração de oportunidades a transferência de renda deve
estar acoplada a programas de trabalho e renda, sendo as condicionalidades um
caminho para as famílias encontrarem as ―portas de saída‖. As contrapartidas devem
ser ―ampliadas e duramente cobradas‖ Em programas de garantia de renda mínima as
contrapartidas devem ser reduzidas e sua cobrança deve ser branda; do contrário, as
famílias
mais
vulneráveis
serão
desligadas
do
programa.
O
modelo
de
condicionalidades adotado em um programa de transferência de renda parece estar
diretamente relacionado à proposta política que o sustenta.207.
Os autores ainda apontam que o PBF estaria inicialmente distante dos dois
extremos (garantia de renda mínima/geração de oportunidades), pois se ateve, ao
longo do tempo, à cobrança de poucas condicionalidades, tendo desligado um pequeno
número de famílias por descumprimento. Por outro lado, consideram que o programa
estaria migrando cada vez mais para um endurecimento na cobrança das
contrapartidas. Aponta que, apesar de um percentual bastante baixo de famílias ser
desligado do programa por conta do descumprimento, ―para quem tem uma visão de
206
SÁTYRO, Natália. SOARES, Sergei. O Programa Bolsa Família:
futuras. In: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia(orgs.).
desafios. Vol. 1. Brasília: IPEA, 2010. p.14.
207
SÁTYRO, Natália. SOARES, Sergei. O Programa Bolsa Família:
futuras. In: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia(orgs.).
desafios. Vol. 1. Brasília: IPEA, 2010.p.37.
desenho institucional e possibilidades
Bolsa Família2003-2010: avanços e
desenho institucional e possibilidades
Bolsa Família2003-2010: avanços e
84
proteção social do PBF, as medidas tomadas são draconianas‖208.
Outros
programas
de
transferência
de
renda
condicionada
foram
implementados em diversos países da América Latina, cada um com seu desenho
institucional
próprio
e
peculiaridades
na
forma
de
implementação
das
condicionalidades. Bastagli compara alguns programas desse tipo, especialmente os
implementados no Brasil (PBF), no Chile (Programa Puente), na Colômbia (Familias em
Acción), em Honduras (Programa de Asignación Familiar), no México (ProgresaOportunidades) e na Nicarágua (Red de Protección Social). Sua pesquisa revela que os
modelos de PTRC variam quanto ―à transferência de valores e cobertura, mecanismos
de focalização, condicionalidades e configurações institucionais‖. Em geral, os
programas latino-americanos adotam condicionalidades nas áreas de educação e
saúde, sendo que alguns elegem contrapartidas básicas, ao passo que outros contêm
uma lista detalhada de tarefas que devem ser cumpridas pelos beneficiários.209
O desenho e a implementação da condicionalidade levantam preocupações
sobre seu potencial para excluir beneficiários pobres, e trabalhar contra os objetivos do
programa, quando a participação está sujeita ao cumprimento de condições prévias e
quando o não cumprimento leva automaticamente à suspensão do pagamento do
benefício. Nesses casos, os beneficiários pobres com as maiores dificuldades em
cumprir as condicionalidades, aqueles que enfrentam elevados custos de oportunidades
determinados por baixos recursos e com acesso limitado a serviços, correm o risco de
experimentar uma maior probabilidade de exclusão do programa.210
Para Bastagli o caso do PBF tem o descumprimento entendido como uma
―bandeira de vulnerabilidade‖211. Essa função das condicionalidades é chamada por
alguns autores de emissão de ―sinais de alerta‖, uma vez que denunciam às
208
SÁTYRO, Natália. SOARES, Sergei. O Programa Bolsa Família: desenho institucional e possibilidades
futuras. In: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia(orgs.). Bolsa Família2003-2010: avanços e
desafios. Vol. 1. Brasília: IPEA, 2010. p.15.
209
BASTAGLI, Francesca. From social safety net to social policy? The role of conditional cash transfers in
Welfare State Development in Latin America. International Policy Centre for Inclusive Growth. Working
paper 60, 2009. p. 4.
210
BASTAGLI, Francesca. From social safety net to social policy? The role of conditional cash transfers in
Welfare State Development in Latin America. International Policy Centre for Inclusive Growth. Working
paper 60, 2009.p.14.
211
BASTAGLI, Francesca. From social safety net to social policy? The role of conditional cash transfers in
Welfare State Development in Latin America. International Policy Centre for Inclusive Growth. Working
paper 60, 2009.p.9 e 15.
85
autoridades famílias e regiões que enfrentam maiores dificuldades. A condicionalidade
pode ser entendida também como um mecanismo de cobrança e responsabilização
perante os órgãos públicos, partindo da noção de que a responsabilidade pelo
descumprimento das contrapartidas não pode ser imputada ao beneficiário quando o
próprio Estado não está exercendo seu papel de modo satisfatório.212
Fava e Quinhões entendem que as famílias que não cumprem com seus
compromissos pela falta de oferta de serviços básicos podem mostrar ao poder público
que
estão
enfrentando
dificuldades.
Acreditam
que
o
descumprimento
de
condicionalidades, além de acarretar consequências para as famílias, também gera
efeitos para os gestores municipais que são ―alertados da existência de famílias em
maior grau de vulnerabilidade e risco social‖213
Cunha aponta que as condicionalidades podem constituir uma espécie de
―contrato‖ entre as famílias e o Poder Público no qual há três responsabilidades
complementares. A primeira diz respeito à responsabilidade das famílias no
cumprimento de uma agenda de educação e saúde. A segunda corresponde ao
compromisso do Poder Público de prover esses serviços, considerando-se que a
condicionalidade apenas pode ser exigida se tais direitos estiverem garantidos. A
terceira se refere ao monitoramento do cumprimento, ao monitoramento do acesso das
famílias a direitos sociais básicos.214
Cohn alerta para a ambiguidade das condicionalidades na medida em que,
ao mesmo tempo em que atrelam um não direito a direitos constitucionais podem
acabar corresponsabilizando as famílias pela situação de pobreza em que vivem e
invadindo a esfera privada dos beneficiários por meio de um monitoramento tão
intensivo. É o perigo de transformar um meio, o monitoramento das políticas públicas
nas áreas da saúde e da educação, em um fim em si mesmo.215
212
LINDERT et al.The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing Conditional
CashTransfers in a Decentralized Context. Social Protection Discussion Papers.World Bank, 2007. p.55.
213
FAVA, Virgínia; QUINHÕES, Trajano. Intersetorialidade e transversalidade: a estratégia dos programas
complementares do Bolsa Família. In: Revista do Serviço Público, vol. 61. ENAP. Brasília, 2010.p.77.
214
CUNHA, Rosani. A garantia do direito à renda no Brasil: a experiência do Programa Bolsa Família.
2008.Disponível<http://www.ipcundp.org/doc_africa_brazil/Webpage/missao/Artigos/ARTIGO_ROSANIC
UNHA.pdf> p.7.
215
COHN, Amélia. O PBF e seu potencial como política de Estado. In: CASTRO, Jorge Abrahão de;
MODESTO, Lúcia (orgs.). Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. V.1. Brasília: IPEA, 2010.p. 230.
86
Há diferentes visões acerca da forma como o PBF implementa e monitora as
condicionalidades exigidas das famílias beneficiárias. Esse debate esteve presente
entre os formuladores da política e, além disso, as divergências também se relacionam
às mudanças que ocorreram por meio de Portarias internas que alteraram diversos
aspectos das condicionalidades, refletindo uma flexibilidade do esqueleto normativo do
PBF. Não foi a lei de 2004 que determinou o modelo de condicionalidades do programa.
O modelo continua em processo de transformação, por escolhas de burocratas em
âmbito federal ou por ações dos burocratas locais.
Letícia Bartholo relata que houve um forte embate de perspectivas na criação
do programa: de um lado, defensores de programas puros de transferência de renda
com condicionalidades e, de outro, defensores da renda mínima216 para os quais eram
fundamentais alguns argumentos, tais com a impossibilidade de se impor condições ao
exercício de direitos, o princípio constitucional da universalidade (que impediria
tratamento diferenciado entre beneficiários e não beneficiários do PBF), o fato de que o
maior problema do ensino no Brasil seria sua qualidade e não acesso e frequência e,
por fim, a alegação de que o acompanhamento dos beneficiários seria um trabalho
adicional, excedendo as funções regulares dos gestores municipais217.
Cohn relata uma contraposição entre duas opiniões, sendo uma delas em
defesa de um controle mais estreito do comportamento dos beneficiários e outra que
sustentou que as condicionalidades não poderiam funcionar como ―castigos‖,
constrangendo os beneficiários. Essa última corrente, ao ―ceder‖ às condicionalidades,
teria visto a possibilidade de que elas servissem como ―instrumento de aperfeiçoamento
da implementação das demais políticas públicas‖, em especial na saúde e na
educação. A gestão das condicionalidades seria, portanto, instrumento de controle das
políticas públicas e não das famílias. Tal posição estava atrelada à crítica de que as
condicionalidades, se impostas de outra forma, poderiam transformar um direito em
uma obrigação tutelada pelo Estado.218
216
Entrevista concedida por Letícia Bartholo, Secretária Adjunta da SENARC. MDS. Brasília, 2012.
BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Bolsa Família e Renda Básica de Cidadania: um passo em
falso?. Texto para discussão n. 75. Brasília: Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal, 2010.
218
COHN, Amélia. O PBF e seu potencial como política de Estado. In: CASTRO, Jorge Abrahão de;
MODESTO, Lúcia (orgs.). Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. V.1. Brasília: IPEA, 2010.p.221.
217
87
Britto e Soares também identificam esse embate e concluem que ―de
maneira engenhosa, na regulamentação adotada em 2005 os gestores do programa
lograram conciliar diversas posições em jogo‖. Isso porque teria sido adotado um
modelo que permitiria transformar as exigências das condicionalidades em mecanismos
para identificação de famílias mais vulneráveis.219
Na formulação e implementação do PBF, havia, segundo Cohn, uma
permanente disputa, no interior do governo e na sociedade, entre dois paradigmas: o
chamado de ―conservador‖ e ―neoliberal‖ e o ―de bem-estar social‖. No primeiro, além
das condicionalidades terem viés punitivo, haveria também uma preocupação com as
―portas de saída‖ de modo que se deixasse de ―dar o peixe‖ o mais rapidamente
possível por meio da imposição de prazos para que os beneficiários se desligassem do
programa. As ―portas de saída‖ seriam delegadas às famílias, em contraposição à
concepção do segundo modelo para o qual elas implicariam a articulação do PBF com
outras políticas de cunho menos imediato e mais estrutural, a exemplo de políticas
habitacionais, de microprodução agrária e de trabalho.220
De maneira a sistematizar as divergências que se colocaram em torno das
condicionalidades no PBF, apresenta-se dois tipos extremos para analisar o modelo de
contrapartidas do programa: (i) cobrança mais rigorosa do cumprimento das
condicionalidades ao mesmo tempo em que os efeitos do não cumprimento são
entendidos enquanto sanções; (ii) cobrança mais flexível das condicionalidades e uso
dos efeitos do descumprimento para identificação de vulnerabilidades locais e
aprimoramento de políticas de assistência social, saúde e educação. O primeiro
assemelha-se ao modelo que Sátyro e Soares chamam de ―geração de oportunidades‖
e Cohn de ―conservador‖, enquanto o segundo relaciona-se ao ideal de ―garantia de
renda mínima‖, nos termos dos primeiro autores, ou de ―bem-estar social‖, na
terminologia de Cohn. Ao que parece, o PBF não se encaixa em nenhum dos tipos
extremos, ainda que exista um movimento de aproximação ao segundo.
A partir da comparação entre as três Portarias que regulamentaram a gestão
219
BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Bolsa Família e Renda Básica de Cidadania: um passo em
falso? Texto para discussão. Brasília: Centro de Estudos da Consultoria do Senado Federal, 2010.p.13.
220
COHN, Amélia. O PBF e seu potencial como política de Estado. In: CASTRO, Jorge Abrahão de;
MODESTO, Lúcia (orgs.). Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. V.1. Brasília: IPEA, 2010. p.223.
88
das condicionalidades no PBF (Portaria GM/MDS nº 551/2005, Portaria GM/MDS nº
321/2008, que revoga a de 2005, e Portaria GM/MDS nº 251/2012, que revoga a de
2008) percebe-se que são elas instrumentos mais dinâmicos no processo de
implementação de uma política pública e, nesse caso a análise revela um processo de
transformação na gestão das condicionalidades, mostrando um PBF tendente à
primeira categoria em 2005 e mais próximo da segunda categoria em 2012.
Nesse contexto, também a análise de Instruções Operacionais (IO) que são
mecanismos de comunicação utilizados no interior do Poder Público para orientar
gestores estaduais e municipais a respeito de práticas condizentes com a
regulamentação. Quando há alterações em Portarias ou outros instrumentos, por
exemplo, são publicadas IO de modo a alertar os gestores sobre a forma como devem
realizar suas ações. É atribuída grande relevância à atividade do gestor local.
A partir da análise dos instrumentos normativos referidos logo acima, é
possível notar que estão em andamento mudanças relevantes no que diz respeito ao
modelo de condicionalidades adotado pelo PBF e essas mudanças estão ocorrendo por
meio de atos normativos editados no interior do governo federal, no topo da burocracia
estatal. Apenas posteriormente, elas são incorporadas à legislação ou, às vezes,
sequer são introduzidas na lei ou no decreto que regulamentam o PBF, havendo
alterações que se sustentam apenas em Instruções Operacionais e Portarias.
Toda a mudança do modelo de condicionalidades parece ter se dado por
meio desses atos normativos do Executivo, sem qualquer tipo de interação prévia com
o Poder Legislativo. Essa dimensão de análise é interessante porque mostra que há
métodos não tradicionais de construção e reconstrução do arranjo jurídico de políticas
públicas. O mero estudo das normas (leis e decretos), ao menos nesse caso,
certamente não traria informações essenciais para a compreensão do processo.
Importante aspecto dessa análise sobre o processo de implementação das
condicionalidades é a perspectiva das alterações do modelo em âmbito local. Uma vez
visto que existe um processo gradativo de mudanças no ―topo‖ do programa, parece
importante testar o quanto essa metamorfose se reflete na ―ponta‖. Espera-se
compreender em que medida mudanças que vêm ―de cima‖ se refletem na dinâmica
local e também analisar o quanto a própria implementação pode ter servido para
89
aprimorar a formulação a partir de experiências concretas de sucesso ou fracasso.
Alguns autores identificam a centralidade do papel dos ―burocratas da linha
de frente‖ e dos ―burocratas de médio escalão‖. Os primeiros são ―funcionários que
trabalham diretamente no contato com os usuários dos serviços públicos, como
policiais, professores, profissionais de saúde, entre outros‖221 e os segundos ―gerentes,
dirigentes, supervisor e agentes encarregados de operacionalizar as estratégias
definidas nos altos escalões da burocracia, porém distanciados dos contextos concretos
de implementação das políticas públicas no ‗nível da rua‘‖222.
Os burocratas ―de rua‖ podem estar tanto negando a execução dessa
transformação quanto catalisando sua realização. Para Arretche, a implementação de
uma política pública ―pode ser encarada como um jogo em que uma autoridade central
procura induzir agentes (implementadores) a colocarem em prática objetivos e
estratégias que lhe são alheios‖223. Mas, é preciso uma boa estratégia de incentivos
para o sucesso dos programas e para a aproximação entre as intenções de
formuladores e implementadores.
A implementação é uma cadeia de relações entre formuladores e
implementadores e entre implementadores situados em diferentes posições na máquina
governamental. A maior proximidade entre as intenções do formulador e a ação dos
implementadores dependerá do sucesso do primeiro em obter a adesão dos agentes
implementadores aos objetivos e à metodologia de operação de um programa224.
O PBF é desenhado em âmbito federal, mas seu dia-a-dia é, em grande
parte coordenado pelos gestores municipais que, dentro de certos limites, decidem a
forma de colocar a política em prática. Com a Resolução CIT nº 7/2009 esse papel
tornou-se especialmente importante porque houve um aumento do poder decisório do
gestor local que passou a poder avaliar a pertinência da interrupção dos efeitos sobre
221
LOTTA, Gabriela Spanghero. Implementação de políticas públicas: o impacto dos fatores relacionais e
organizacionais sobre a atuação dos Burocratas de Nível de Rua no Programa Saúde da Família. Tese
(Doutorado em Ciência Política) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p.35 e 118.
222
PIRES, Roberto Rocha C. Burocracias, gerentes e suas ‗histórias de implementação‘: narrativas do
sucesso e fracasso dos programas federais. In: FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de (org.). Implementação
de Políticas Públicas: teoria e prática. Belo Horizonte: PUC Minas, 2012. p.184.
223
LAVINAS, Lena. Pobreza e exclusão: traduções regionais de duas categorias da prática. Econômica, v.
4, n. 1, jun. 2002. p.4.
224
ARRETCHE, Marta. Federalismo e relações intergovernamentais no Brasil: a reforma de programas
sociais. Dados, v.45, n. 3, p. 431-458, 2002.p.5.
90
os benefícios em casos de descumprimento de condicionalidades. Por meio do
acompanhamento das condicionalidades os gestores locais devem tomar contato com a
realidade dos beneficiários, tornando possível a identificação de insuficiências de
determinados serviços públicos e situações de maiores vulnerabilidades. Nesse
processo, deve haver uma interface com a assistência social nesse processo,
especialmente por meio do uso dos CRAS e dos CREAS.
O estudo da realidade do PBF nos diferentes estados e municípios
brasileiros mostra-se um desafio bastante complexo por conta da heterogeneidade de
organização, recursos disponíveis, infraestrutura, qualificação dos prestadores de
serviços, entre outros fatores. Os municípios tendem a imprimir uma dinâmica própria
ao processo de acompanhamento de condicionalidades. No mais, o PBF nem sempre
convive com os mesmos programas sociais, podendo compor uma política local
diversificada em que cada programa municipal adota seus próprios critérios de
elegibilidade e modelo de condicionalidades. Bichir faz referência a essas diferenças ao
descrever soluções locais criadas para lidar com estratégias nacionais do PBF,
apontando até mesmo práticas municipais contrárias às diretrizes federais225.
De acordo com as conclusões sobre a possibilidade do programa estar
caminhando para um tipo de condicionalidades mais próximo ao que se chama de
emissão de ―sinais de alerta‖, o monitoramento do descumprimento é um passo
necessário para que seja possível a percepção de carências locais e consequente
reestruturação de políticas públicas a partir desse diagnóstico. Para Cunha, o
acompanhamento familiar é uma atividade essencial e mais, ―essa concepção de
condicionalidade, como reforço do direito de acesso das famílias, só se viabiliza se o
acompanhamento das mesmas for compartilhado pelas três esferas de governo, com
uma abordagem intersetorial‖226.
O relatório de condicionalidades divulgado pelo MDS, em 2010, introduz
dados referentes aos beneficiários sem registro de informação e coloca que ―a redução
225
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.p.201 e 207.
226
CUNHA, Rosani. A garantia do direito à renda no Brasil: a experiência do Programa Bolsa Família.
2008.Disponível:<http://www.ipcundp.org/doc_africa_brazil/Webpage/missao/Artigos/ARTIGO_ROSANIC
UNHA.pdf> p. 8.
91
do universo de beneficiários com perfil educação sem registro de informação
permanece como um desafio‖. Naquele ano, quanto aos beneficiários de 6 a 15 anos
sem informações foi registrado um percentual de 14,3% e entre os de 16 e 17 anos, de
22,7%, ou seja, 15,1% do total ou 2,65 milhões de alunos. 227
Os dados referentes ao acompanhamento das condicionalidades de saúde
mostram um percentual menor do que da educação, mas maior do que os dos anos
anteriores. Em 2012, o acompanhamento da agenda de saúde foi de 73,12%, o que
significa um aumento de 8,64 pontos percentuais em relação a 2009 e de 1,27 pontos
percentuais em relação a 2011 (NT SENARC/MDS nº 69/2013). Já no que concerne
aos efeitos, em 2012, foram registrados aproximadamente 360 mil efeitos de suspensão
e 85 mil efeitos de cancelamento.228
No texto da NT SENARC/MDS nº 69/2013 reconhece-se o agravamento da
situação dessas famílias ―que já se encontravam em situação de vulnerabilidade ou
risco social, o que dificultava o acesso aos serviços básicos de educação e de saúde,
passam a ficar numa situação ainda mais difícil, devido à insuficiência de renda
causada pelo efeito sobre o benefício‖. O relatório citado acima aponta que apenas
20,7% das atividades realizadas com as famílias no processo de acompanhamento
familiar correspondiam a ―visita domiciliar‖. Ainda, chama a atenção o fato de 36,4% dos
motivos para não cumprimento registrados no SICON terem sido marcados como ―outro
motivo‖. Ou seja, as opções fornecidas pelo sistema ainda não dão conta de explicar o
que tem acontecido com essas famílias.
O Plano de Acompanhamento da Gestão Municipal do PBF e do CadÚnico
que acompanhou quase 40 municípios entre 2009 e 2010 detectou alguns problemas
relacionados
a
deficiências
no
acompanhamento
das
condicionalidades:
―acompanhamento familiar incipiente‖, ―não realização de busca ativa de famílias com
benefícios bloqueados‖, ―centralização da gestão do PBF e do CadÚnico‖, ―baixa
227
MDS.
Relatório
de
Condicionalidades.
Brasília,
2010.
Disponível
em:
<http://www.mds.gov.br/biblioteca/secretaria-nacional-de-renda-de-cidadania-senarc/cadernos/relatoriode-condicionalidades-2013-1b0-semestre-de-2010/relatorio-de-condicionalidades-2013-1b0-semestre-de2010/?searchterm=relatório%20condicionalidades> p.7..
228
Alguns estudos apontam que o acompanhamento das condicionalidades de saúde enfrenta uma série
de problemas práticos. Curralero et al. As condicionalidades do Programa Bolsa Família. In: CASTRO,
Jorge Abrahão de. MODESTO, Lúcia (orgs.)Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. Vol. 1. Brasília:
IPEA, 2010.
92
atualização do CadÚnico‖, ―deficiência no registro da frequência escolar dos alunos da
rede municipal e estadual de ensino‖, ―deficiência no registro/digitação dos dados
referentes à agenda de saúde‖, ―desconhecimento das funcionalidades do Sicon‖229.
Tanto nos municípios que realizam quanto nos que não conseguem realizar
o acompanhamento das condicionalidades há problemas de falta de atualização das
informações do CadÚnico oriundos de falhas no preenchimento do cadastro e da
mobilidade territorial da população, o que dificulta a localização das famílias a serem
acompanhadas. Nos grandes municípios, a essa dificuldade somam-se questões como
a magnitude do total de famílias beneficiárias e a violência urbana. Nos municípios
menores, principalmente nos rurais, os principais entraves são problemas de
acessibilidade aos serviços de saúde e a dispersão geográfica da população.230
A
mesma
pesquisa
relata
também
que
as
maiores
taxas
de
acompanhamento têm relação com uma concepção da administração local segundo a
qual o monitoramento das condicionalidades é visto como estratégia para captação de
famílias em situação de vulnerabilidade ou como parte do desenvolvimento da atenção
à saúde. Em contraponto, nos municípios que menos monitoram as condicionalidades
há uma tendência de ―atribuir à falta de interesse ou de responsabilidade das famílias
no cuidado à saúde o motivo pelo descumprimento das condicionalidades‖.231 O estudo
indica que, nessa situação, a suspensão imediata do benefício é vista como uma
estratégia eficaz para fazer com que as famílias cumpram as condicionalidades.
Sobre a percepção local do acompanhamento das condicionalidades,
verifica-se um índice menor onde ele reveste-se de uma ―concepção burocrática‖,
estando associado ao medo de perda de recursos do IGD, levando os municípios a
adotarem ―estratégias de emergência‖ para atingirem o patamar mínimo exigido.
Nesses casos, ―o acompanhamento das condicionalidades se reduz ao cumprimento de
uma exigência do programa, mas com baixa repercussão em termos de melhoria de
229
Informação
obtida
em:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada/plano-deacompanhamento-da-gestao-municipal/questionario (último acesso em 25/05/2013).
230
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA. Estudo sobre o desenho, a gestão, a implementação e os fluxos
de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF no nível municipal. MDS, jan. 2013. p.9.
231
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA. Estudo sobre o desenho, a gestão, a implementação e os fluxos
de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF no nível municipal. MDS, jan. 2013.p.9.
93
acesso aos serviços de saúde e mesmo da qualidade da atenção prestada‖ 232.
Em municípios da Paraíba, outra situação percebida foi que os profissionais
que lidam cotidianamente com o PBF entendem que o monitoramento das
condicionalidades refere-se a dados de frequência escolar, deixando o campo da saúde
de fora do acompanhamento.233 Em municípios maranhenses, a debilidade dos serviços
locais de saúde tem dificultado o cumprimento das condicionalidades de tal forma que
os beneficiários entendem que estão tentando cumprir sua parte no ―acordo‖, ao passo
que o Poder Público não cumpre o que deveria. No que concerne ao uso dessas
debilidades como ―sinais de altera‖ para os gestores de alguns municípios do
Maranhão, os dados coletados no acompanhamento não têm sido utilizados como
subsídios para outras iniciativas de forma que tal acompanhamento ―não tem servido
como instrumento capaz de (re)orientar as Políticas Públicas‖.234
Em municípios do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco também
constata-se que a precariedade ou inexistência de serviços (não apenas de saúde, mas
também de educação) é um outro fator que dificulta o cumprimento das exigências do
programa, existindo duas razões centrais que levam as famílias ao descumprimento de
condicionalidades: ―capacidades dos beneficiários de se informarem, cumprirem e se
adaptarem às regras do Programa‖ e ―quantidade e a qualidade da oferta dos serviços
públicos de saúde e educação‖ (chamados de fatores de ordem estrutural). 235
Considera-se que as condicionalidades do PBF estariam em uma espécie de
―terceira fase‖ que se diferenciaria da anterior ao buscar aproximar a transferência de
renda da assistência social. Essa suposição converge com o apontamento de Bichir
segundo o qual é recente o movimento do governo federal no sentido de utilizar o PBF
como ―eixo articulador da política de assistência social‖, aproveitando o Programa como
232
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA. Estudo sobre o desenho, a gestão, a implementação e os fluxos
de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF no nível municipal. MDS, jan. 2013. p.8.
233
MEDEIROS, Rogério de Souza; MACHADO, Nínive Fonseca. Condicionalidades e monitoramento:
desafios à gestão do Programa Bolsa Família em municípios paraibanos. Brasília: MDS, 2011.p.69.
234
SILVA, Maria Ozanira da Silva; GUILHON, Maria Virginia Moreira. O Bolsa Família (BF) no contexto da
proteção social: significado e realidade das condicionalidades e do Índice de Gestão Descentralizada
(IGD) no Estado do Maranhão (sumário executivo). Brasília: MDS, 2011.p.91.
235
PIMENTA, Ligia Rosa de Rezende. Pesquisa qualitativa de avaliação sobre as condições de acesso
aos serviços de saúde e educação, a partir do acompanhamento das condicionalidades do Programa
Bolsa Família (sumário executivo). Brasília: MDS, 2012.p.3.
94
instrumento de estímulo à―implementação efetiva‖ do SUAS236. O PBF e a assistência
social parecem integrados ―na ponta‖, principalmente nos espaços participativos e
deliberativos institucionalizados.
Para Coutinho, o fato de tantas ICS serem conselhos municipais indica que
―o PBF e a assistência estão amalgamados na ‗ponta‘ de seus respectivos arranjos
político-institucionais, onde se unem por meio do ‗guarda-chuva‘ institucional do SUAS‖.
É interessante notar que esse entrelaçamento é mais intenso nos municípios do que na
gestão federal do programa, havendo uma certa dificuldade de diálogo ―no topo‖, entre
outros porque a concepção de transferência de renda não abarca todos os grupos
populacionais vulneráveis.237
Nesse novo desenho das condicionalidades, as famílias em situação de
descumprimento devem ser cadastradas na rede socioassistencial dos CRAS e
CREAS, possibilitando a interrupção dos efeitos sobre os benefícios das famílias mais
vulneráveis. Os CRAS e CREAS têm, portanto, um papel cada vez mais relevante na
dinâmica local do PBF. Em alguns municípios, o CRAS é, inclusive, responsável pela
realização do acompanhamento familiar e pela elaboração de parecer sobre esse
acompanhamento. Em diversos locais, ainda estão em processo de expansão, mas
configuram uma porta de entrada importante para a assistência social e para o PBF.
O estudo focado nos municípios paraibanos constatou um melhor
funcionamento do acompanhamento das condicionalidades em municípios de grande
porte em que a coordenação do PBF faz parte da estrutura funcional da Secretaria de
Desenvolvimento Social e realiza seus trabalhos no mesmo espaço físico da
coordenação dos CRAS. É o caso do município de João Pessoa cuja experiência revela
uma aproximação entre PBF e assistência social e uma ação mais integrada entre
benefícios, serviços e transferência de renda. Diferente a realidade de Campina Grande
onde o PBF está institucionalmente vinculado ao gabinete do Prefeito e funciona em
uma sede própria, conferido um grande distanciamento entre a equipe responsável pelo
PBF e os CRAS, o que acaba resultando em uma ―redução da capacidade de
236
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.p.20.
237
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Capacidades estatais no Programa Bolsa Família: o desafio da
consolidação do Sistema Único de Assistência Social.Texto para discussão n.1852.IPEA, 2013.p.33 e 18.
95
acompanhamento das famílias, uma vez que os profissionais da assistência social
vinculados aos CRAS não realizam atividades relacionadas ao PBF‖.238
Ainda, as metas de expansão do número de beneficiários impostas pelo
governo federal fazem com que o cadastramento de novas famílias se sobreponha a
outras
atividades,
tais
como
atualização
cadastral,
acompanhamento
de
condicionalidades e auditoria do TCU, indicando que ―possivelmente o governo federal
pode estar demandando excessivamente dos governos locais, para além de suas
capacidades institucionais‖. O MDS coloca o mesmo prazo para municípios com
maiores e menores metas de expansão, não levando em consideração a questão da
escala nos diversos municípios – nesse sentido, a opinião de um entrevistado da
pesquisa de Bichir, gestor de Salvador para quem ―O MDS vai muito de acordo com a
necessidade deles, eles desconsideram a necessidade do município‖. Outros gestores,
de São Paulo, identificaram que o MDS determina processos de cadastramento que
são verdadeiras ―operações de guerra‖, além de que centraliza decisões de modo
excessivo, deixando aos municípios o papel de meros executores de tarefas.239
Essas metas de expansão e cadastramentos dificultam a agenda de uma
maior articulação entre o PBF e o SUAS, pois ―acabam deslocando recursos humanos,
logísticos, financeiros do atendimento integral às famílias para os esforços de novos
cadastramentos‖. O desequilíbrio entre a importância dada ao processo de
cadastramento e o acompanhamento das famílias mais vulneráveis acaba afastando o
programa da política de assistência social. Além disso, faz com que municípios
deleguem a tarefa de cadastramento seja para empresas contratadas, como em São
Paulo, ou para funcionários terceirizados, como em Salvador, porque os CRAS não
conseguem sozinhos cumprir as metas impostas.240
Outro problema enfrentado diz respeito à grande separação entre a gestão
de informações do programa e a execução de ações diretas junto ao público
beneficiário. Isso acontece porque o programa depende, para muitas ações, de
238
MEDEIROS, Rogério de Souza; MACHADO, Nínive Fonseca. Condicionalidades e monitoramento:
desafios à gestão do Programa Bolsa Família em municípios paraibanos. Brasília: MDS, 2011.p.63.
239
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. p.212, 213, 228 e 229.
240
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.p.231, 225 e 232.
96
sistemas de gerenciamento de informação, o que faz com que os técnicos que sabem
lidar com esse tipo de ferramenta tenham uma participação de alta relevância. Por outro
lado, os profissionais que mais dominam as diretrizes do programa e são responsáveis
pelos serviços não se apropriam dessas ferramentas que são fundamentais para o
controle de diversas ações realizadas (atualização de base de dados e cadastros e uso
de senhas para bloqueio e desbloqueio dos benefícios).241
Nos municípios em que esse corpo técnico é insuficiente ou inexistente, os
próprios coordenadores do PBF recolhem e sistematizam informações, o que pode ser
positivo para a gestão do programa entrar em contato com os beneficiários,
antecipando-se na identificação das famílias em situação de descumprimento, porém
pode abrir espaço para que certas famílias sejam favorecidas em detrimento de outras
sem lastro em um critério objetivo de maior ou menor vulnerabilidade social.242
Informações relativas ao processo de cadastramento de famílias mostram
ainda que existe uma dificuldade de acesso a esses potenciais beneficiários. Há áreas
em que os gestores não conseguem entrar, seja porque são de difícil acesso,
dominadas pelo tráfico de drogas ou porque apresentam baixa concentração de
pobreza. Existe também uma dificuldade de se atingir a população em situação de rua,
uma vez que o cadastramento requer a apresentação de um número de CPF. Em São
Paulo, os gestores do programa percebem a necessidade de desenvolvimento de
novos mecanismos de identificação de famílias mais vulneráveis, especialmente a partir
do fortalecimento dos CRAS, que detêm um conhecimento técnico local relevante.243
Existe ainda, um problema de integração entre sistemas de diferentes áreas.
O sistema do CadÚnico é, por exemplo, diferente do sistema do Projeto Presença do
Ministério da Educação, o DATASUS é distinto do SUAS Web e os atendimentos
médicos são feitos a partir do número do cartão do SUS e não do NIS, dificultando mais
241
MEDEIROS, Rogério de Souza; MACHADO, Nínive Fonseca. Condicionalidades e monitoramento:
desafios à gestão do Programa Bolsa Família em municípios paraibanos. Brasília: MDS, 2011.p.64.
242
MEDEIROS, Rogério de Souza; MACHADO, Nínive Fonseca. Condicionalidades e monitoramento:
desafios à gestão do Programa Bolsa Família em municípios paraibanos. Brasília: MDS, 2011.p.66.
243
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011. p. 213-215 e 220.
97
a integração.244 Esse problema está relacionado à convivência entre diferentes
programas sociais, mas sobretudo a dificuldades de interação entre secretarias.
Analisando esses pontos envoltos ao processo de acompanhamento do
cumprimento das condicionalidades, a questão da sobreposição de tarefas parece
relevante porque o governo pode estar dando prioridade à inserção de novos
beneficiários no programa em detrimento do cuidado com as famílias já beneficiárias.
Isso dificulta a incorporação da função das condicionalidades para a realização de
direitos e o trabalho conjunto com a assistência social, o que pode ser ainda mais
prejudicial em municípios menores ou menos estruturados.
Outro ponto importante que se depreende dos estudos acima diz respeito ao
fato de que os municípios criticam a centralização no governo federal, entendendo que
as demandas locais são pouco consideradas na definição de metas do programa e que
lhes resta executar algo em cuja formulação não foram envolvidos. Parece haver um
certo problema de diálogo entre as esferas e talvez pouca coordenação interfederativa.
A partir do exposto nesse tópico, em especial sobre a função das
condicionalidades enquanto sinais de alerta e sobre a aproximação do PBF com a
assistência social parece que os municípios ainda estão pouco estruturados para fazer
um uso mais sofisticado das condicionalidades.
Talvez o governo federal esteja exigindo mais do que as capacidades
institucionais dos municípios podem responder, talvez, por fatores como pouca
estrutura para fazer funcionar o fluxo de informações sobre as razões que levam os
beneficiários
ao
descumprimento;
problemas
de
articulação
intersetorial
que
compromete que educação e saúde comuniquem suas carências e que o PBF dialogue
com a assistência; necessidade dos recursos do IGD levar à adoção de ―estratégias de
emergência‖; a falta de pessoal faz com que metas de expansão do programa se
sobreponham ao acompanhamento familiar; gestores locais com pouco conhecimento
sobre diretrizes do programa, desvirtuando o significado das condicionalidades, usando
a possibilidade de corte do benefício como ―ameaça‖.245
244
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.p.226.
245
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.
98
Essa parte do estudo sobre o modelo das condicionalidades revela que o
esqueleto jurídico-institucional do PBF tem características complexas, como o fato de
que os efeitos do descumprimento de condicionalidades não podem ser traduzidos
como ―sanções‖ em seu sentido punitivo. Assim, uma racionalidade preocupada em
entender apenas o que é proibido e o que é permitido e, mais do que isso, que
considera que todos os atos que fogem ao padrão geram uma consequência negativa,
não explica o papel das condicionalidades enquanto incentivo.
O desenho mais recente das condicionalidades está embasado em uma
racionalidade de estímulos tanto ao beneficiário quanto ao Poder Público cuja tradução
em termos de categorias do direito não é usualmente encontrada em manuais. A
relevância da estratégia de ―busca ativa‖ demonstra ainda a necessidade de articulação
entre diferentes atores, incluindo um papel fundamental das ICS. Além disso, o
desenho do programa permite que diferentes formatos sejam testados e que ele se
adapte ao mesmo tempo em que é efetivado. O processo que ocorreu com as
condicionalidades é bastante ilustrativo e pode indicar um direito reflexivo e processual.
Diante de tudo isso, a análise realizada nesse tópico mostra que apenas uma
averiguação mais acurada das ferramentas jurídicas do PBF, e não o estudo restrito às
leis formais pode demonstrar que a escolha do modelo de condicionalidades do
programa é um processo contínuo e em aberto.
1.3. Gargalo do programa: inclusão social produtiva
Entende-se por círculo vicioso da pobreza a falta de investimentos na
melhoria e mudanças das condições de vida, mantendo-se uma população estagnada
na situação de pobreza em que se encontra, ou seja, por não ter condições financeiras
de investir em melhores condições de vestuário, de moradia, de alimentação, de
educação, entre outras necessidades, ela perpassa gerações, causando um ciclo
intergeracional, quando não se vislumbram mudanças nesse patamar devido às
possibilidades que lhes são oferecidas. Para rompê-lo é preciso dar às famílias que se
encontram envolvidas nele condições financeiras e de acesso a meios qualificados que
possibilitem que elas avancem e mais, não retornem ao ponto de partida.
99
No caso do PBF, Rego e Pinzani defendem que a ampliação dos direitos de
cidadania seria reforçada se as prefeituras não se limitassem a cadastrar as
beneficiárias, mas criassem canais de interlocução e controle social do programa. O
PBF não assegura nem a solução do problema da pobreza nem a formação de uma
cultura de cidadania ativa, embora seja o primeiro passo indispensável para ambas.
Argumentam que o seu principal efeito não é o de superar o círculo vicioso da pobreza,
mas iniciar um círculo virtuoso dos direitos, em que a expansão de um direito dá origem
a reivindicações por outros, em uma luta pelo reconhecimento da legitimidade de novas
expectativas. Se estiverem certos, os filhos das famílias beneficiárias não apenas terão
mais capacitações que os pais para cruzar as portas de saída do programa; nos
protestos de rua no futuro, portarão os cartazes que os pais não puderam escrever.246
Dados fornecidos pelo MDS mostraram que 1,69 milhão de famílias
beneficiadas pelo PBF deixaram espontaneamente o programa, declarando que sua
renda já ultrapassava o limite de R$ 140 por pessoa. Representam 12% de um total de
13,8 milhões de famílias atendidas. Os dados abrangem o período entre outubro de
2003 e fevereiro de 2013. De acordo com o secretário de Renda e Cidadania, Luís
Henrique Paiva, estas famílias declararam ultrapassar a renda limite na atualização
cadastral, realizada pelas prefeituras a cada dois anos. Por sua vez, a fiscalização
excluiu 483 mil beneficiários flagrados com renda superior a permitida pelo programa. 247
A fiscalização é um dos pontos a serem melhorados. O PBF tem um desenho
de grande qualidade, mas é mesmo desafiado todo tempo pela implementação.
Os problemas mais recorrentes noticiados relacionados com a
implementação do Bolsa Família tem a ver com o cadastramento das
famílias, verificação da manutenção das crianças das famílias
beneficiárias do programa nas escolas, como assiduidade e
aproveitamento, e o consequente desligamento ao não se cumprirem as
condições para permanência no programa, seja por conquista de
emprego adequado que qualifique a família como fora do grupo alvo ou
por irregularidades.248
246
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013.
247
Disponível em: http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/05/169-milhao-de-familias-abrem-mao-dobolsa-familia/ Acesso em 24 de abril de 2015.
248
Aninho Arachande é professor de políticas públicas da Universidade de Brasília. Disponível em:
http://unb.br/noticias/unbagencia/cpmod.php?id=95829
100
Segundo dados oficiais, desde que o PBF foi criado, 3.155.201 famílias
saíram voluntariamente do programa. O número inclui as famílias que deixaram o
programa em abril de 2015, ao final de mais um ciclo de atualização de dados no
CadÚnico. Outras 3.029.165 famílias tiveram o benefício cancelado desde 2003,
sobretudo por estarem fora do perfil de acesso ao programa e terem renda acima do
limite de R$ 154 mensais por pessoa. Essas famílias foram identificadas nos processos
de monitoramento e controle realizados rotineiramente pelo MDS.249
Ainda segundo o MDS, nos últimos três anos, o total de famílias beneficiárias
tem oscilado em torno dos 14 milhões de famílias. Quando têm aumento de renda
acima do limite de R$ 154 mensais por pessoa da família, ainda podem permanecer no
programa por dois anos, de acordo com as regras de permanência. A prorrogação do
pagamento vale para as famílias que comunicarem voluntariamente o aumento de
renda e desde que a renda não ultrapasse o valor de meio salário mínimo por pessoa
da família. As famílias que têm o benefício cancelado podem continuar no CadÚnico e
ter acesso a outros programas do governo, respeitadas as regras de cada um.250
O monitoramento e controle do PBF é realizado tanto no processo de
Revisão Cadastral, que define que as famílias devem comparecer às prefeituras e
atualizar seus dados a cada dois anos, como no processo de Averiguação Cadastral,
que cruza os dados dos beneficiários com os de outros bancos de dados
administrativos, como o Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos) e a base
de políticos eleitos (TSE). Já a fiscalização é feita pelos órgãos de controle (CGU, TCU
e Ministério Público) e pelo MDS, quando há denúncia. As fiscalizações são feitas pela
CGU em todos os municípios sorteados pela CGU, em média, duas vezes por ano,
além das auditorias do TCU, que ocorrem a partir de denúncias, sem periodicidade.
As histórias de vida de bolsistas do Norte, Nordeste, Sudeste e CentroOeste, divulgadas por órgãos oficiais, em livros e pela mídia em geral mostram que a
porta de saída do programa não é um milagre, mas uma arquitetura realista quando
famílias que enfrentam a pobreza em seus múltiplos aspectos – econômico,
249
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2015/abril/mais-de-3-1-milhoesde-familias-sairam-voluntariamente-do-bolsa-familia. Acesso em 29/04/2015.
250
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2015/abril/mais-de-3-1-milhoesde-familias-sairam-voluntariamente-do-bolsa-familia. Acesso em 29/04/2015.
101
educacional, médico, social – recebem amparo e orientação para transformar vocações
profissionais em fonte de renda. 251
Nas regras de concessão do PBF não existe tempo-limite para o recebimento
do benefício. As famílias podem ficar o tempo que necessitarem. Enquanto isso, o
governo seguiria oferecendo cursos de capacitação para tentar abrir portas a quem teve
poucas oportunidades. Contudo, as letras e os números ainda assustam os 25 mil
beneficiários que se declaram analfabetos. Até agora, só 5% dos beneficiários
terminaram algum tipo de qualificação profissional proporcionado pelo governo. 252
O PBF é capaz de maximizar resultados e impactos na política social
brasileira por ter como foco a família, podendo contribuir para superação da visão
segmentada e fracionada em grupos específicos da população que tem orientado os
programas sociais no Brasil. Através dele pode-se olhar para o futuro. Observadas as
condicionalidades relacionadas à educação e à saúde, o programa pode criar
condições para que a próxima geração tenha mais capital humano, seja mais produtiva
e, portanto, possibilitando-lhes empregos de maior qualidade, com melhores salários, o
que os fará sair, definitivamente, da condição de pobreza.
Contudo, para que isso aconteça faz-se mister criar condições sustentáveis
para que a população pobre consiga, a longo prazo, autopromover-se e, nesse sentido,
o Estado deve oferecer serviços de boa qualidade nas contrapartidas exigidas para que
assim, as diferenças dos direitos à cidadania sejam amenizadas.
Desde o inicio da redemocratização, a partir de 1985, culminando na
Constituição Cidadã de 1988, tendo-se estabelecido o Estado Social e Democrático de
Direito, o país tem apresentado ―condições de realizar novo ciclo de crescimento
econômico, mas cercado de desigualdades sociais, econômicas e políticas, fruto desta
251
Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/333863_EU+SAI+DO+BOLSA+FAMILIA+ N°
Edição: 2295 | 08.Nov.13 - 20:50 | A revista em questão conversou com quatro antigos beneficiários do
programa que puderam se emancipar do auxílio do Estado.
252
Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/333863_EU+SAI+DO+BOLSA+FAMILIA+ N°
Edição: 2295 | 08.Nov.13 - 20:50 | Atualizado em 12.Jun.15.
102
formação fragmentada da cidadania, cuja superação ocorre com dificuldade e
lentidão(...)‖.253
Smanio destaca uma dimensão da cidadania ‖intrinsecamente ligada à
necessidade de recuperação dos atrasos na aquisição de direitos no Brasil, à
necessidade de inclusão social e de respeito das minorias‖; uma cidadania inclusiva
com mecanismos jurídicos de alcance dos seus objetivos a serem estabelecidos via
políticas públicas. Para isso, defende uma Teoria Jurídica da Cidadania que ―deve ver o
cidadão em sua integração política e perceber a intersubjetividade intrínseca ao
conceito de cidadania, de forma a ser o cidadão o sujeito de direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e coletivos.‖ e, para ele, ―as políticas públicas como uma categoria
normativa, responde as estes anseios‖ pelo que ―Cidadania e Políticas Públicas são
realidades jurídicas que devem estar interligadas em sua existência e legitimidade.‖254
Walquiria Leão entende que o caminho são as políticas complementares
específicas, que sejam pensadas e implementadas para aquele público alvo, os
beneficiários.
255
A saída seria articular os programas de transferência de renda com
outros programas sociais de escopo mais amplo. No mesmo sentido, Castel:
Contudo, a busca da coesão social requer bem mais do que um
aumento do papel do Estado. A proposta de ―cidadanias diferenciadas‖,
com ênfase nas necessidades dos grupos excluídos, pode promover
tensões sobre a capacidade de coesão social e de construção de uma
comunidade política a partir de demandas particulares. A redução de
desigualdades específicas depende da articulação de políticas sensíveis
ao atendimento de demandas particulares, direcionadas a realidades
locais, e de uma mudança nas políticas sociais, de políticas de
integração para políticas de inserção dos grupos excluídos da
sociedade, para que não se construa cidadania sobre inutilidade
social.256
253
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Patrícia Cristina; (Orgs.). O Direito na fronteira das políticas
públicas. São Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2015. p.3.
254
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Patrícia Cristina; (Orgs.). O Direito na fronteira das políticas
públicas. São Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2015. p.4.
255
Junto com o filósofo italiano Alessandro Pinzani publicou, em 2013, o livro Vozes do Bolsa Família:
autonomia, dinheiro e cidadania, pela Unesp e que aborda o PBF sob a perspectiva dos beneficiários,
detectando assim ganhos e lacunas do programa, apontados pelos próprios beneficiários.
256
CASTEL Robert. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus, Maria Carmelita Yazbek.
Desigualdade e a questão social / São Paulo: EDUC, 2000.
103
A renda mínima é um poderoso instrumento no combate à pobreza e à
desigualdade, mas, desde que esteja associada a outras políticas sociais, tais como
políticas de acesso aos direitos à educação, à saúde, à segurança, à qualificação
profissional, ao trabalho, à cidadania. Partindo-se do pressuposto da concepção de
pobreza não como mera insuficiência de renda, para o seu combate deve-se ir muito
além da transferência de recursos financeiros. Tem-se como necessária a articulação
do PBF com políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento das capacidades dos
seus beneficiários. A realização dos objetivos do programa depende da sua integração
com ações e serviços que possibilitem o referido desenvolvimento das capacidades das
famílias. O seu sucesso está indissocialmente ligado a ações complementares.
A independização da família está entre os objetivos propostos pelo programa
e assim, espera-se que os beneficiários deixem de necessitar do mesmo ao
apresentarem melhorias nas condições de vida e desenvolverem meios próprios de
sustento. Essa é uma meta de longo prazo que requer políticas, programas e projetos
que possibilitem às famílias chegarem a essas "portas de saída" que são as formas de
desligamento do programa para aqueles que alcançam tais objetivos.
O Planseq-Bolsa Família é uma ação coordenada pelo MDS e Ministério do
Trabalho e Emprego e Casa Civil e tem como meta qualificar beneficiários do PBF, na
área da construção civil e na área do turismo. O propósito para o setor de construção
civil é capacitar os beneficiários para as vagas surgidas com as obras do PAC. O
Planseq visa à implementação de modelo unificado de ações complementares,
ampliando as oportunidades de inclusão produtiva dos trabalhadores, além de
promover maior articulação entre os setores de trabalho e assistência social, nas
esferas estadual, municipal e federal. 257
Contudo, o programa mostrou alcance insuficiente. A Secretaria de Avaliação
e Gestão da Informação (SAGI) do MDS realizou uma pesquisa qualitativa com o
objetivo de compreender as razões do baixo número de inscrições nos cursos do
257
Sumário Executivo da Pesquisa Qualitativa Percepções sobre o PlanSeQ Bolsa Família Estudo com
gestores locais e elegíveis à ação Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Cadernos de
Estudos - Desenvolvimento Social em Debate janeiro a março de 2009. Disponível em:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/C13%20n92%20%20ESTUDO%20QUALITATIV
O%20SOBRE%20O%20PLANSEQ%20BOLSA%20FAMILIA.pdf.
104
PlanSeQ em sua primeira fase de implementação. A pesquisa foi realizada em 12
capitais participantes (Manaus, Palmas, Recife, São Luis, Belo Horizonte, Vitória, Rio de
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Goiânia), com envolvimento dos
gestores e beneficiários e apresentou possíveis razões para baixa efetividade da ação.
Os beneficiários apontaram situações como desinteresse pela área da construção civil,
receio de perda do benefício, esforço exigido para fazer a capacitação não compensaria
e falhas na operacionalização da proposta. Entre os gestores, o relato que aparece com
mais força é a percepção da desarticulação entre os órgãos e entidades envolvidos. 258
Nesse contexto, a sobreposição de competências também é problema
frequente, gerando desperdício de recursos e dispersão dos programas. Há casos de
sobreposição de vários órgãos realizando a intermediação de mão de obra (os níveis
federal, estadual, municipal dos poderes públicos, as centrais sindicais e as agências
privadas e até, igrejas e denominações religiosas). 259
Considera-se que as políticas de inserção produtiva são as menos ofertadas
no país: apenas 13% passaram a frequentar curso de educação formal e somente 16%
começaram a participar de programas de geração de renda. Os encaminhamentos às
ações complementares apenas ocorrem em casos de demandas individuais
específicas, e não sistematicamente. Sabe-se que a implementação dos programas
complementares no território nacional dependerá das múltiplas diversidades regionais e
distintas capacidades financeiras e gerenciais dos municípios 260
No caso da Renda Mínima de Inserção francesa, a inserção no mercado de
trabalho se dá com base na análise das potencialidades e das fragilidades individuais
dos beneficiários, como forma de personalizar a estratégia adotada para a
emancipação da família e valorizar habilidades prévias. Os programas Chile Solidário e
258
Sumário Executivo da Pesquisa Qualitativa Percepções sobre o PlanSeQ Bolsa Família Estudo com
gestores locais e elegíveis à ação Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Cadernos de
Estudos - Desenvolvimento Social em Debate janeiro a março de 2009. Disponível em:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/PainelPEI/Publicacoes/C13%20n92%20%20ESTUDO%20QUALITATIV
O%20SOBRE%20O%20PLANSEQ%20BOLSA%20FAMILIA.pdf.
259
SILVA E MELLO, Leonardo. 35º XXXV Encontro Anual da Anpocs GT 36 Trabalho, Ação Coletiva e
Identidades Sociais Governança do emprego realmente existente: o caso dos planos de qualificação
profissional.
Disponível
em:
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1244&Itemid=353
260
MAGALHÃES, Rosana; SANTOS, Cláudia Roberta Bocca. Pobreza e Política Social: a implementação
de programas complementares do Programa Bolsa Família. Ciência&SaúdeColetiva -1215-1224, 2012
105
Tekoporã também estabelecem, baseados na análise individualizada de cada família
pelos guias familiares, as contrapartidas a serem exigidas e o caminho a ser percorrido
rumo à emancipação dos beneficiários. No caso do PBF essa premissa se perde, visto
que a implementação dos programas complementares, em especial do Próximo Passo,
foi top-down e não reconheceu as demandas do contexto local. Nesse sentido,
questiona-se a precariedade da inclusão no mercado de trabalho e o alcance das ações
de qualificação profissional.261
Diante disso, tem-se que somente a divulgação de dados como o número de
famílias que deixam o programa por aumento de renda não é suficiente para medir a
eficiência do PBF como política de promoção social, conquanto ―Ainda não está claro
para a sociedade os reais esforços do governo para tirar essas famílias da situação de
miséria‖.262 O governo precisa de mais informações sobre as famílias que saem do
programa para testar o seu objetivo de combate à miséria.
O tema ―porta de saída‖ do programa não foi o foco da agenda do governo
Lula, talvez pelo enfoque na consolidação de um programa pioneiro com vistas à
retirada imediata de pessoas em condições de miséria, uma pauta emergencial por si
só. No governo atual, um dos desafios do programa é a inclusão social produtiva, com
geração de emprego e renda.
Alexandre Leichsenring pesquisou o comportamento dos beneficiários do
Bolsa Família entre os anos de 2003 a 2007263, nos registros de emprego do Ministério
do Trabalho, identificando que entre os beneficiários as taxas de admissão no mercado
formal de trabalho são menores que entre os que não contam com o benefício, além de
taxas mais elevadas de desligamento do emprego entre os que dependem do
programa. Segundo Leichsenring, ―A inserção dos beneficiários do Bolsa Família no
mercado formal, quando existe, é bastante precária. E resume, ―A impressão que me dá
é que as condições sociais piores dos beneficiários são a causa das dificuldades
maiores de participação no mercado‖.
261
MAGALHÃES, Rosana; SANTOS, Cláudia Roberta Bocca. Pobreza e Política Social: a implementação
de programas complementares do Programa Bolsa Família. Ciência&SaúdeColetiva -1215-1224, 2012
262
Declarações de Humberto Dantas, cientista político e professor do Insper.
263
Alexandre Leichsenring doutor em estatística e consultor do MDS. Disponível em:
https://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=19&limitstart=6
106
A baixa escolaridade dos beneficiários do PBF é um dos pontos na lista dos
problemas para acesso ao mercado de trabalho e que teve a dimensão medida num
cruzamento de dados feito pelo IPEA. Dos beneficiários do programa em idade de
trabalhar, 52,7% tem no máximo quatro anos de estudo; quase um a cada cinco
beneficiários não chegou a completar um ano de estudo; 0,2% dos beneficiários tem 15
ou mais anos de estudo; 10,6% registra 11 anos de estudo. Diante de um perfil
educacional tão heterogêneo, percebe-se a ausência de estratégias variadas,
adaptadas a públicos diferentes e, sobretudo, a realidades econômicas diferentes, no
objetivo da inclusão no mercado de trabalho.264
Estudo do Ipea intitulado “Desafios para a inclusão produtiva das famílias
vulneráveis‖ reafirma a não existência de receita única, considerando que ―Não é
possível achar que todos os beneficiários estão fora do mercado formal do trabalho
nem que todos poderão buscar renda no mercado de trabalho. Não se pode esperar
que o mercado vá resolver tudo‖.265 A agenda da inclusão produtiva deve pautar-se
numa combinação de políticas de maior acesso ao crédito, qualificação profissional e
de educação de jovens e adultos, dentre outras.
É o contexto da necessidade de portas de entrada para uma inclusão sócio
produtiva dos beneficiários do PBF, considerando-se como porta de saída a
coordenação com outras políticas sociais e até econômicas, afinal como bem assegura
Lena Lavinas266 ―O grande desafio do governo Dilma Rousseff, na área social, é
coordenar políticas, ou seja, ao mesmo tempo que transfere renda, precisa reduzir
custos ao microempreendedor, como baratear as contas de luz e telefone‖. Esse
público alvo deve ser priorizado e atendido sob diversas frentes, com ofertas
estruturadas de diferentes programas, como parte de uma engrenagem de
coordenação intergovernamental do PBF.
Eis um ponto desta pesquisa, com uma análise que leva a crer que o
sucesso do PBF está justamente no seu fim, considerando que consolide uma fase de
estruturação de portas de saída efetivas aos beneficiários que, saindo e não precisando
voltar a ele, culmine no fim do programa.
264
Disponível em http://www.ipea.gov.br/bd/pdf/Livro_BrasilDesenvEN_Vol03.pdf.
Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5043.
266
Lena Lavinas é doutora em economia pela Universidade de Paris e professora da UFRJ,
265
107
CAPÍTULO 2. O ARRANJO JURÍDICO INSTIUCIONAL DO BOLSA FAMÍLIA
Considera-se o PBF como um exemplo de política pública que tem operado
de maneira particular quando comparado à leitura tradicional das categorias do direito
tidas como padrão. Trata-se de um programa que tem incorporado elementos
percebidos no decorrer de sua implementação em processos que incluem a exploração
de diferentes arranjos ao mesmo tempo em que a política está em marcha. O programa
tem proposto mecanismos de estímulos que se diferenciam de uma lógica de
―comando-e-controle‖ identificada nas categorias de manuais do direito e historicamente
presente nas políticas sociais brasileiras. A despeito de manter semelhanças em seu
arranjo jurídico-institucional, o PBF quando comparado a políticas anteriores, usa essas
ferramentas de uma forma própria.
Apresentando-se as ferramentas principais do PBF, há subsídios para a
afirmação de que o PBF parece conter um esqueleto jurídico que permite o teste de
alternativas antes que elas se consolidem de fato no programa. É o caso, por exemplo,
dos termos de adesão que substituíram uma tentativa anterior que não obteve os
resultados esperados. É também o caso do IGD que foi construído por meio de Portaria
e, ao ser bem avaliado, tornou-se uma exigência legal. Isso não significa que o desenho
jurídico-institucional do PBF seja absolutamente novo, mas que o programa faz um uso
distinto de instrumentos que já existiam em políticas anteriores.
Para Diogo Coutinho o direito e a reflexão jurídica são fundamentais, pois
sua ausência ―tende a aumentar o risco de que haja maior opacidade, menor
participação e menos intensa mobilização de atores relevantes – sobretudo os grupos
menos organizados – em políticas públicas‖267. A reflexão sobre ideais e interesses,
conjugada com a ponderação sobre instituições e práticas, congrega o trabalho de
investigação do pensamento jurídico.268
A partir desse necessário entrelaçamento entre Direito e políticas Públicas,
recorre-se a abordagem do Direito como ―Imaginação Institucional‖, conforme ideias de
267
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos
Aurélio Pimenta de (eds.). Política pública como campo disciplinar. São Paulo: Fiocruz, 2013.
268
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp.p.159-160.
108
Roberto Mangabeira Unger que propõe que o direito se afaste de um ensimesmamento
de conteúdo idealizante, dispondo-se a finalmente realizar o papel de transformação
social. O direito e o fetichismo institucional e estrutural que o paralisam são alguns dos
temas que Unger desenvolve na sua obra ―O Direito e o Futuro da Democracia‖.
Para adquirirmos a liberdade de criar futuros alternativos para a
sociedade com clareza e ponderação, devemos ser capazes de imaginálos e de discuti-los. Para que os imaginemos e discutamos eficazmente,
devemos adentrar áreas especializadas do pensamento e da prática.
Devemos transformar essas especialidades por dentro, modificando a
sua relação com o debate público numa democracia.269
Em pesquisa envolvendo Direito e Economia, Camila Duran reconhece a
importância da análise jurídica e do diálogo sobre as estruturas institucionais. Para
Duran, ―O direito é concebido como mecanismo de institucionalização da relação de
accountability entre autoridade monetária, sociedade e poderes políticos, e a análise
jurídica é técnica de identificação de fatos jurídicos relevantes, notadamente aqueles
ligados ao enquadramento do poder de gerir amoeda‖.270
O direito deve explorar possibilidades institucionais. Princípios metafísicos de
justiça e fórmulas conhecidas de economia de mercado devem se aproximar. Unger
imagina zona de convergência que avizinhe condições de progresso material e
emancipação individual. A reflexão jurídica poderia ser o fio condutor dessa proposta.
Um fetichismo institucional obstaculiza a atuação do direito, confinando-o a uma
imobilização em face do que arraigado; o medo do futuro, do novo.
Um dos inimigos do experimentalismo democrático é o fetichismo
institucional: a crença de que concepções institucionais abstratas, como
a democracia política, a economia de mercado e uma sociedade civil
livre, têm uma expressão institucional única, natural e necessária. O
fetichismo institucional é um tipo de superstição que permeia a cultura
contemporânea (...) Afastá-lo seria o trabalho em tempo integral de uma
geração de críticos sociais e cientistas sociais.271
269
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp.p.9.
270
DURAN, Camila Villard. A Moldura Jurídica da Política Monetária: um estudo de caso. Tese Doutorado.
Universidade de São Paulo Faculdade de Direito Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito São
Paulo 2012.
271
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.17.
109
O direito é campo amplo para o exercício da imaginação, para a criação de
modelos de convivência, para o experimentalismo, bem entendido, conquanto que ―livre
da mácula do fetichismo institucional e do fetichismo estrutural‖.272.
O fetichismo institucional é a identificação de concepções institucionais
abstratas, como a economia de mercado ou a democracia
representativa, com um repertório específico de estruturas contingentes.
O fetichismo estrutural é sua contrapartida de ordem superior: a
incapacidade para reconhecer que as ordens institucionais e
imaginativas da vida em sociedade diferem tanto em rigidez ou
arraigamento como em conteúdo: quer dizer, com relação à liberdade de
ação e entendimento para desafiar e transformar estruturas que elas
constrangem.273
Para Faria, ―as normas e as leis costumam ser eficazes quando encontram
na realidade por elas reguladas as condições sociais, econômicas, políticas, culturais e
ideológicas e até mesmo antropológicas para o seu enforcement, para o seu
reconhecimento, para sua aceitação e para o seu cumprimento por parte dos
destinatários‖274. Assim, tem-se que ―O direito não é somente legislação. A juridicidade
pode estar presente em regras mais soft. A dinâmica da legalidade e do discurso
jurídico ultrapassa o mero raciocínio sobre o direito posto pela legislação,
confeccionada pelo Poder Legislativo‖275.
Por tudo isso, ―As decisões de formuladores de política pública envolvem
sopesamento de complexos assuntos não técnicos, mesmo em casos em que,
aparentemente, se trata de objeto ―puramente‖ técnico‖276. Sendo assim, numa
abordagem sobre as políticas monetárias e sua moldura jurídica, Duran entende que:
272
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.159.
273
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.159.
274
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo, Malheiros, 2004.p.124.
275
DURAN, Camila Villard. A Moldura Jurídica da Política Monetária: um estudo de caso. Tese Doutorado.
Universidade de São Paulo Faculdade de Direito Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito.
São Paulo, 2012.
276
DURAN, Camila Villard. A Moldura Jurídica da Política Monetária: um estudo de caso. Tese Doutorado.
Universidade de São Paulo Faculdade de Direito Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito.
São Paulo, 2012.
110
(...) a técnica jurídica, por não ser neutra e ter valor simbólico, pode
instituir nova realidade no horizonte de longo prazo. O direito seria
instrumento útil para revelar e construir a importância do diálogo
institucional monetário porque traz em si a percepção de legitimidade,
seja ela confundida com a simples legalidade ou com a concretização de
determinados valores compartilhados socialmente. E, especialmente,
nesse âmbito, a análise jurídica também tem o seu papel.277
O fetichismo institucional, o apego doentio ao credo de Montesquieu, a
percepção de que as fórmulas jurídicas com as quais contamos seriam as únicas
alternativas possíveis, e o encastelamento do direito na discussão de questões que não
se projetam na reconstrução do meio social seriam, para Mangabeira, os maiores
entraves que um projeto comprometido com a democracia deve enfrentar.
Deve-se fortalecer o indivíduo. O ser humano é o destinatário de toda
proposta de mudança social. Deve ser dotado de capacidades de construção do próprio
destino. A política é instrumento da mudança. É o caminho mais conhecido. O mais
seguro. Não se pode diminuir a política por conta de percepção muito singela,
reacionária, fundamentalista, que se vê na política o reino do mal, o campo da
perversidade, o ambiente de tudo que antropologicamente repudie a humanidade em
permanente construção. Duas pragas imobilizam a imaginação institucional e
obstaculizam a busca de mudanças: o culto do direito estatal e a busca por uma ordem
moral latente; tem-se uma estatolatria que impede qualquer avanço. Fixou- se no
Estado suposta responsabilidade por positivar uma ordem moral.
Os juristas representaram o direito como a razão codificada nos feitos e
sonhos do poder assim como economistas viram economias de mercado
reais e seu direito como aproximações a um sistema puro de
racionalidade e reciprocidade. Eles cantaram para ganhar a vida,
cantando acorrentados. Esperança e entendimento podem, não
obstante, ter sucesso onde indignação e adoração da história falharam,
e arrastar os juristas e economistas para a tarefa de dar olhos e asas à
imaginação institucional.278
277
DURAN, Camila Villard. A Moldura Jurídica da Política Monetária: um estudo de caso. Tese Doutorado.
Universidade de São Paulo Faculdade de Direito Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito.
São Paulo, 2012.
278
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.227
111
2.1. Teoria da constituição e constitucionalismo social
As Constituições do México de 1917 e da república de Weimar (Alemanha)
em 1919 inauguram o constitucionalismo social que traz, além do conteúdo liberal dos
direitos de liberdade e dos direitos políticos, os direitos sociais e os direitos econômicos,
tendo o Estado regulando a economia e exercendo atividade econômica. É o sentido da
providência estatal279, dado o seu objetivo de prestações sociais positivas à sociedade.
Eis que se está diante do Estado Social, do Estado do Bem-Estar-Social, do ÉtatProvidence280, do Welfare State, enfim. Tem-se o foco na questão social. Os direitos
encarados como direitos próprios da cidadania e uma legislação emanada,
principalmente, do Executivo. A lei como um instrumento de ação do Estado, para
garantir ou facilitar o acesso às prestações positivas.281
Com o advento da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948,
os direitos sociais também passaram a integrar os ordenamentos jurídicos da maioria
dos países. Após a Segunda Grande Guerra a concretização desses direitos teve
grande estímulo com a implementação dos Estados Sociais, Estados de bem Estar
Social ou Estado de Providência, sobretudo nos países do continente europeu.
No Brasil, na Constituição de 1934, no seu título sobre a ordem econômica e
social houve a primeira referência aos direitos sociais. Nela, reiterou-se o princípio da
igualdade, dedicando-se um título à ordem econômica e social com objetivos de
possibilitar a todos uma existência digna. Nas Constituições posteriores, a referência
permanecera sempre sob o título da ordem econômica e social, até o advento da
CFR/88, pela qual os direitos sociais foram erigidos à categoria de direitos
fundamentais com previsão expressa no seu artigo 6° e seguintes.
Santos formulou o conceito de ―cidadania regulada‖ no contexto da política
econômica-social pós-30 que reforçava a estrutura das desigualdades sociais do país.
O estatuto da cidadania valia somente para os trabalhadores com ocupações
279
SANTOS. Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. Editora
Cortez, 2001.
280
ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-providência. Trad. Joel Pimentel de Ulhôa. Goiânia:
UnB/UFG, 1997.
281
MORAIS. José Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e o Direito na
ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.74.
112
regulamentadas por lei, atrelando-se a cidadania à profissão e por isso, os direitos do
cidadão eram restritos aos direitos do lugar que o individuo ocupava no processo
produtivo. Todos os outros (a exemplo dos autônomos, empregados domésticos e
trabalhadores rurais) eram ―pré-cidadãos‖,282.
A partir da Constituição de 1937, a população economicamente ativa era
dividida em não regulamentados e regulamentados (podiam associar-se em sindicatos,
tendo o reconhecimento do Estado). Essa associação entre cidadania e ocupação
proporcionou condições que ampliaram os conceitos de marginalidade e de mercado
informal de trabalho, abrangendo desempregados, subempregados, empregados
instáveis e outras ocupações não regulamentadas, ainda que regulares e estáveis.283
A partir do Presidente Getúlio Vargas, final de 1930 a 1945, as relações
trabalhistas tiveram um processo de transformação e modernização com
reflexos em todos os âmbitos da sociedade, passando-se a considerar
com maior evidência a questão do desenvolvimento social. Mas, é
preciso considerar que essa tendência aos avanços sociais (somente
beneficiavam as pessoas com empregos formais e assalariados) foi
interrompida, algumas vezes, por governos que priorizavam outras
questões que não aquelas voltadas às políticas sociais.284
Nessa época, o direcionamento dos avanços na esfera dos direitos sociais
voltado a trabalhadores assalariados tinha o seu contexto numa sociedade
essencialmente industrial e era uma realidade praticada por igrejas, principalmente
voltadas aos incapacitados que não podiam exercer atividade trabalhista 285. Nesse
período, o Estado social brasileiro não chegou a constituir-se efetivamente, dada a
estrutura de concentração de poder incompatível na correlação de um Estado social e
os períodos de ditadura que marcaram a história do país.
O desenvolvimento econômico acompanhado da concentração de riqueza
teve o seu outro lado, marcado pela expansão da pobreza e miséria. De um lado, a
crescente exclusão social de alguns e de outro, classes cada vez mais ricas fazendo a
282
SANTOS, Guilherme Wanderley. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de
Janeiro: Campus, 1979. p.75.
283
SANTOS, Guilherme Wanderley. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de
Janeiro: Campus, 1979. p.75.
284
ABREU, Lidiane Rocha. Direitos Sociais no Brasil: Programa Bolsa Família e Transferência de Renda,
2011. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie.
285
MESQUITA, Camile Sahb. O programa Bolsa Família: uma análise de seu impacto e alcance social.
2007. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Universidade de Brasília, Brasilia, 2007. p.43.
113
questão social e política brasileira um histórico de concentração de rendas.
A realidade social do país no final do século XVIII e início do XIX,
caracterizada pelos desmandos patronais aos quais eram submetidos os trabalhadores,
até o nível da insustentabilidade, coloca em relevo os desdobramentos da desigualdade
material no contexto de uma sociedade liberal na qual o papel do governo limita-se a
garantir os direitos civis e políticos, sem intervenção na atividade econômica286.
Enquanto isso, na segunda metade do século XX, a assistência social foi
transformada num instrumento para criação de relações demagógicas e paternalistas
entre os menos favorecidos e o Estado. Nas sociedades ocidentais, o voto passou de
instrumento da democracia e da liberdade para meio de troca. O voto era trocado por
qualquer tipo de benefício imediato e sem consequências para a necessária
transformação nas estruturas econômicas e nas condições de pobreza do país
287
.
O fenômeno do coronelismo que influenciava na política local é explicado por
Leal. Tinha-se a estrutura agrária do país, a falta de autonomia do município e sua
dependência estrutural em relação aos Estados e a União, as oligarquias locais e
regionais que não se subordinavam ao poder central e seguiam explorando e oprimindo
com ampla liberdade, a localidade. Para Leal o coronelismo é um compromisso, uma
relação de troca de proveitos entre o poder público que vem fortalecendo-se e a
decadente influência social dos chefes locais288.
Os coronéis exercem seu poder valendo-se do seu prestígio pessoal,
mantendo as pessoas numa relação de dependência na qual o ―voto de cabresto‖ é
moeda de troca que possibilita a solução da falta de estrutura, do não atendimento das
necessidades básicas. O coronel é o mandatário dos votos após realizar benfeitorias
para camadas populares do campo.289
Para Leal, a fraqueza financeira dos municípios constitui-se em fator que
contribui para a manutenção desse fenômeno na sua expressão governista 290. Os
chefes municipais e os coronéis oferecem os votos enquanto os políticos estaduais
286
VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2005, p.33.
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar a pobreza.
Brasília UNESCO, 2002. Disponívelhttp://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf p.20.
288
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega,1993, p.20.
289
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega,1993, p.25.
290
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega,1993, p.45.
287
114
surgem com empregos, favores e tudo que o aparato público estadual pode oferecer,
revelando a reciprocidade que norteia o fenômeno, afinal sem a liderança do coronel na
estrutura agrária do país o governo não se sentiria obrigado a prestar favores e nesse
compasso diminuiria a força daquela liderança do coronel.291
Para Leal, a primeira edição do coronelismo enxada remonta ao final da
década de 50, destacando que no ano de 1975 e ainda, em 1993, ―o fortalecimento do
poder público não tem sido, pois, acompanhado do correspondente enfraquecimento do
coronelismo‖292. O coronelismo, segundo ele, sustenta-se na falta de autonomia
municipal, retratando a decadência do poder privado que assim é percebido como
dependente de favores do governo estadual para subsistir. Diante disso, ―o nosso
federalismo se tem desenvolvido à custa do municipalismo: o preço pago foi o
sistemático amesquinhamento do município‖293.
Após governos que priorizavam interesses não voltados aos programas
sociais, especialmente durante a ditadura militar (1964-1984), foi em 1988, sob a égide
da Constituição Federal, promulgada no Governo José Sarney (1985-1990), que o
constituinte adotou um Estado democrático de direito com a tônica da participação do
Estado no combate à pobreza e na preservação dos direitos humanos via políticas
sociais. Ao Estado é proposto o desafio de ações transformadoras, fundamentadas nos
princípios democráticos e na participação popular consolidados na CFR/88.
Barroso destaca o ambiente de reconstitucionalização do país, momento da
discussão prévia, convocação, elaboração e promulgação da CFR/88 como parte do
renascimento do direito constitucional. Diversos segmentos populares participaram do
processo, pelo que intensa foi a participação da sociedade civil, tanto no processo da
redemocratização, quanto, na elaboração, propriamente, da Magna Carta. 294
A configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir
formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, na
verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta os conceitos dos
elementos componentes, mas os supera na medida em que incorpora um
291
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega,1993, p.43.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega,1993, p.255.
293
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega,1993, p.103.
294
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do
direito constitucional no Brasil) Disponível: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm
Acesso em 13 de agosto de 2013.
292
115
componente revolucionário de transformação do status quo. E aí se entremostra a
extrema importância do art. 1° da Constituição de 1988, quando afirma que a
República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, não
como mera promessa de organizar tal Estado, pois a Constituição aí já o está
proclamando e fundando.295
O Estado Democrático de Direito instituído na CFR/88 para José Afonso da
Silva é um conceito novo, inspirado nas Constituições portuguesa, espanhola e alemã
tendente a concretizar o processo de convergência em que podem ir concorrendo as
concepções atuais de democracia e do socialismo. Dessa forma, O Estado Democrático
de Direito traz a questão social do Estado Social e mais a questão da igualdade,
redefinindo a função da lei para além do instrumento de ação concreta do Estado
Social, para ser também um instrumento de transformação social. 296
O Estado brasileiro, a partir dessa nova estrutura organizacional, passou a
ser caracterizado com uma descentralização do poder político, marcando a autonomia
de estados e de municípios em relação ao Governo Federal. Foi o momento da história
do Brasil no qual veio à tona a participação oficial do Estado no combate à pobreza e
na preservação dos direitos humanos através de uma política de seguridade social.
Nesse sentido, a instituição da Seguridade Social composta pela Política de
Saúde, pela Previdência Social e pela Política de Assistência Social, representou uma
grande conquista. Essa nova realidade constitucional possibilitou uma nova percepção
da Assistência Social que passou a ser vista como política de direito, deixando para trás
a associação com a cultura do favor. Todos os indivíduos, mesmo os excluídos do
mercado de trabalho, passaram a ser vistos como cidadãos brasileiros com acesso
pleno aos direitos democráticos de cidadania (direitos políticos, civis e sociais).
A CFR/88 reservou um Título para tratar Dos Direitos e Garantias
Fundamentais. O qualificativo fundamentais caracteriza ―situações jurídicas sem as
quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo
sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser,
não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados ‖297.
295
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ªed. São Paulo: Malheiros, 2013,p. 23.
SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 36ªed. São Paulo: Malheiros, 2013.p108.
297
SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 36ªed. São Paulo: Malheiros, 2013.p.178.
296
116
Diante disso, tem-se que a CFR/88 trouxe consideráveis avanços sociais a
favor dos mais desfavorecidos, fazendo emergir do seu texto conceitos como o do
denominado ―mínimo existencial‖ que não tem dicção constitucional própria, mas é
abrigado pelos direitos sociais e pelo princípio da dignidade humana e fundamentados
pelos princípios da liberdade e igualdade. Deve-se procurá-lo na ideia de liberdade, nos
princípios constitucionais da igualdade, do devido processo legal, da livre iniciativa e da
dignidade do homem, na Declaração dos Direitos dos Humanos e nas imunidades e
privilégios do cidadão298. Assim a partir do mínimo existencial vislumbra-se preservar a
própria vida humana, mas, para, além disso, um mínimo desejável para uma
sobrevivência digna, conferindo assim a máxima efetividade ao mínimo existencial.
Com a CFR/88 a cidadania é erigida à categoria de princípio e de direito
fundamental do indivíduo. A cidadania assumiu maior amplitude, considerando ser
fundamento expresso do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1º, inciso
II da CFR/88 e, na condição de princípio constitucional, passou a situar-se no rol dos
postulados normativos interpretativos em relação às demais normas. Em discurso sobre
os progressos da cidadania, Carvalho os tem como inegáveis, mas afirma que foram
lentos, ressaltando que ainda há longo caminho para percorrer299.
Para Neves, a cidadania como integração jurídica igualitária na sociedade
esta ausente quando da generalização de relações de subintegração e sobreintegração
no sistema constitucional, algo marcante no Brasil, país de modernidade periférica. Os
subintegrados, membros das camadas mais populares, ―marginalizadas‖, via de regra,
estão integrados no sistema como devedores, réus e outros e não como sujeitos de
direitos, credores ou autores e não exercem direitos fundamentais previstos na Carta
Política que não influencia seu agir e vivenciar. Essa subintegração das massas está
indissocialmente ligada à sobreintegração dos grupos privilegiados que usam a
burocracia
298
estatal
para
continuar
bloqueando
a
reprodução
do
direito.
Os
TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo
(org) Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 2009.
299
CARVALHO, José Murilo. A Cidadania no Brasil. O longo caminho. São Paulo: Civilização Brasileira,
2008, p.219.
117
sobreintegrados são titulares de direito, mas não de deveres e de responsabilidades e
respaldam as suas condutas na impunidade que caracteriza a sobrecidadania.300
Para Marshall, a igualdade inerente à cidadania só é alcançada, a partir do
entrelaçamento da liberdade Civil, da participação política, bem como das necessidades
sociais pelo que disso resulta o seu conflito com o sistema capitalista, no século XX,
porque afinal, é fundado na desigualdade301.
Enquanto isso acredita-se que a CFR/88 promoveu, de maneira bem
sucedida, a travessia do Estado brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, por
vezes, violento para um Estado democrático de direito. Para Barroso, sob a CFR/88,
―(...) o direito constitucional no Brasil passou da desimportância ao apogeu em menos
de uma geração.‖ 302
O constitucionalismo atual, denominado neoconstitucionalismo tem seu
marco inicial no constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na
Itália. Fruto do pós-positivismo, tem num dos seus traços marcantes o reconhecimento
da normatividade dos princípios aplicáveis à interpretação constitucional, pelo que a
solução de problemas jurídicos nem sempre é extraída do relato abstrato do texto
normativo, só sendo possível encontrar a resposta constitucionalmente adequada,
muitas vezes, à luz do problema, dos fatos analisados topicamente. O juiz não executa
a sua função com puro conhecimento técnico, mas participa do processo de criação do
direito, completando a tarefa do legislador, fazendo valorações de sentido nas cláusulas
abertas e realizando escolhas entre soluções possíveis. Nas novas categorias
interpretativas,
destaque
para
as
cláusulas
gerais,
os
conceitos
jurídicos
indeterminados, os princípios, a ponderação e a argumentação, dentre outras.303
Barroso analisa o processo de constitucionalização do direito brasileiro pósconstituição de 1988. Captando os avanços propiciados pela CFR/88 no processo de
300
NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Dados – Revista de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2. 1994. p.260 e 261..
301
MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p.84.
302
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do
direito constitucional no Brasil).Disponível: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm
Acesso em 13 de agosto de 2013.
303
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do
direito constitucional no Brasil) Disponível e: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm
Acesso em 13 de agosto de 2013.
118
redemocratização, sua análise mitiga a tese da constitucionalização simbólica de
Neves304. Contudo, para Helcio Ribeiro, ―esta análise ainda se ressente de um olhar
crítico em relação aos desafios colocados ao Neoconstitucionalismo pela complexidade
social, tal como analisada por Canotilho, Faria e Campilongo305, bem como o impacto
da globalização econômica sobre a capacidade do Estado nacional de realizar os
objetivos
sociais
das
novas
constituições,
principalmente
no
contexto
da
redemocratização dos países periféricos e semiperiféricos do capitalismo.306
A partir das décadas de 80 e 90 tem-se um ordenamento jurídico
fragmentado e a flagrante incapacidade de abarcar as incertezas do sistema social, ao
passo que contenha e consiga prover solução para todos os problemas jurídicos e
ainda, filtrar, absorver e regular os tipos de conflito que surjam307. No plano normativo, a
CFR/88 representa uma constituição democrática, criando inúmeros mecanismos de
participação direta e indireta do cidadão. Por outro lado, no plano dos fatos, há um
longo caminho a percorrer no sentido da efetiva concretização dessa democracia no
plano da realidade social. Trata-se de um período de conquistas com a previsão na
carta constitucional de um conjunto de direitos, incluindo a proteção social e de
frustrações pela não efetivação desses direitos.
A tradicional rigidez hierárquica dos códigos e das leis deram lugar ao
pluralismo jurídico e a flexibilidade normativa. O legislador opta por uma espécie de
criação negociada do direito, considerando-se que nenhum sistema, isoladamente, tem
força para tomar decisões unilaterais e impô-las aos cidadãos. Para Faria, o poder
público termina por render-se, conduzindo-se à privatização da produção do conteúdo
do direito na medida em que beneficia grupos econômicos, sociais e políticos com
304
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil.
Themis, Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, 2011.
305
CANOTILHO, J. j. Gomes. Brancosos e interconstiucionalidade: itinerários dos discursos sobre a
historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2008.
FARIA, José Eduardo. Estado e direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2001.
CAMPILONGO, Celso. Direito e diferenciação social. São Paulo: Saraiva, 2011.
306
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins;(Orgs.)O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo:Atlas, 2013.p.49.
307
FARIA, José Eduardo de. Direito e conjuntura. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010. p.67.
119
poder de voz, capacidade de mobilização de poder e de veto. É o Estado consciente de
que já não pode controlar, produzir e dominar de modo incontrastável como outrora.308.
Caminha-se na perspectiva do fim dos resquícios patrimonialistas da
Administração pública, no sentido de se vencerem as práticas clientelísticas para que
se democratizem os espaços públicos. Nesse sentido, torna-se imprescindível a
universalização da educação e da informação acerca dos direitos políticos do cidadão,
de forma a possibilitar um real gozo dos mesmos, desenvolvendo assim, instrumentos
de participação popular, avançando-se no processo democrático. Reis considera como
verdadeiro cidadão aquele capaz de afirmar-se por si mesmo, que reclama seus
direitos, ao passo que promove seus interesses, mobilizando, de forma independente,
os recursos que controla seja na esfera privada ou no mercado309.
Para Alexy310 os direitos fundamentais sociais são os direitos a prestações
em sentido estrito que se constituem nas prestações fáticas benéficas por parte do
Estado em favor dos cidadãos. É evidente que, na prática, existe uma diferença dos
direitos fundamentais indiscutíveis quanto a sua aplicabilidade imediata, conforme
previsto no artigo 5°, §1° da CFR/88311, dos direitos sociais que apesar de trazerem
temas considerados fundamentais, tais como a saúde, esperam um direcionamento dos
Tribunais para sua aplicação em face da necessidade de leis, ou mesmo, de verbas
orçamentárias para atingirem o fim de suas disposições.
O caput do artigo 5° veicula direitos e deveres individuais e coletivos que são
espécies de direitos e garantias fundamentais, enquanto o parágrafo primeiro cogita da
máxima eficácia, isto é, de todo gênero, das normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais. Explicando-se o artigo 5º, § 1º, tem-se que nem todas as normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais gozam da mesma eficácia e, para a
norma se beneficiar deste status é preciso ter caráter de fundamental. Dessa forma,
esse dispositivo constitucional deve ser compreendido como um ―mandado de
308
FARIA, José Eduardo de. Direito e conjuntura. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010, p.58 -59.
REIS. Fábio Wanderley. Deliberação, Interesses e ―Sociedade Civil‖. In: COELHO, Vera Shattan P;
NOBRE, Marcos (orgs). Participação e deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no
Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. 34, 2004.
310
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008. p.441.
311
Brasil. Constituição Federal de 1988. artigo 5º, § 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
309
120
otimização‖, no sentido de que se deve procurar dar a máxima eficácia às normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais312.
O artigo 5°, §1° da CFR/88 ao assentir que ―as normas definidoras de direitos
e garantias fundamentais tem aplicação imediata‖, do ponto de vista formal, aplica-se a
direitos como o de assistência social, afinal os direitos sociais estão contidos, em sua
maioria, no Capítulo II, do Título II, que dispõe sobre todas as categorias dos direitos e
garantias fundamentais. Contudo, os direitos a prestações positivas – que marcam os
direitos sociais – dependem, quase sempre, de leis que os regulamentem e,
especialmente, de previsão orçamentária que os contemplem e implementem.
Destaca-se as ideias de Canotilho e sua Teoria da Constituição Dirigente,
então tratada em distintas obras, dentre elas ―Constituição dirigente e vinculação do
legislador‖, a partir da qual a tese constitucionalismo dirigente foi amplamente divulgada
no Brasil. Nesse sentido, tem-se que ―(...) a constituição dirigente é entendida como
bloco de normas constitucionais em que se definem fins e tarefas do Estado, se
estabelecem directivas e estatuem imposições. A Constituição dirigente aproxima-se,
pois, da noção de constituição programática‖. 313
O autor possibilitou o entendimento da Constituição Dirigente, considerando
como sendo aquela que contém orientações para a atuação futura dos órgãos do
Estado, estabelecendo programas e imposições. Em paralelo foi possível o
entendimento sobre as normas programáticas, determinações dos fins do Estado ou
definição das tarefas estatais, que passaram a ser entendidas como as normas que não
se dirigem ao indivíduo, mas sim aos órgãos estatais
314
. A constituição dirigente é
aquela que objetiva, além de proteger o individuo do próprio Estado, a efetiva
participação do Estado com o fim de promover a redução das desigualdades sociais. As
constituições dirigentes por terem essas características de atuação positiva do Estado é
que são normalmente constituições do tipo analíticas, com suas inúmeras normas de
cunho programático, normas que elencam atuação por parte do Estado.
312
SARLET,Ingo Wolfgang.A eficácia dos direitos fundamentais.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2ªed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994, p.224.
314
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2ªed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994. p.315.
313
121
Frente à alegação de que as normas constitucionais programáticas estariam
por trás do problema da constitucionalização simbólica, Neves, defende que não se
deve atribuir tão somente à falta de concretização normativa dos dispositivos
constitucionais ao seu caráter programático. A questão da constitucionalização
simbólica estaria associada à presença excessiva de disposições constitucionais
pseudoprogramáticas315.
A constitucionalização simbólica caracteriza-se, juridicamente, pela ausência
de concretização normativa do texto constitucional. Mas, na medida em que a atividade
constituinte e a linguagem constitucional desempenham relevante papel políticoideológico, ela assume um sentido positivo, embora desse lado positivo decorra um
problema ideológico, porque se transmite um modelo cuja realização só é possível em
condições sociais diversas. A roupagem constitucional atua como ideal, enquanto os
donos do poder o realizam, sem prejuízo para os grupos privilegiados, fazendo emergir
a chamada fórmula retórica da "boa intenção" do legislador constituinte e dos
governantes em geral316.
Dessa forma, os mecanismos ideológicos terminam encobrindo a falta de
autonomia e de eficiência do sistema político estatal. O Direito fica vinculado a um tipo
específico de política que, pulverizada não atinge a todos de forma consistente e sem
autonomia para operar, o fazendo em nome de interesses particulares317.
Tais interesses econômicos e políticos decorrentes dos privilégios da
sobrecidadania ou das necessidades da subcidadania resultam num bloqueio da
atuação do Estado. Então, o que Neves chama de códigos generalizados ―dinheiro‖ e
―poder‖ condicionam o ordenamento jurídico do país, de forma que o sobrepõe de forma
destrutiva318. Para ele, no entanto, a questão da constitucionalização simbólica está
restrita aos casos nos quais a própria atividade constituinte, o texto constitucional e o
discurso que a ele se refere funcionam, como uma espécie de álibi para os legisladores
315
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.113-114.
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.95-98.
317
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.152.
318
NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Dados – Revista de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, n.2, 1994. p.268.
316
122
constitucionais, governantes e para os que detém o poder, mas formalmente não
integrados na organização estatal319.
Neves sustenta que a relevância do texto constitucional parece estar atrelada
penas a sua função político-simbólica, já que amplia-se os direitos fundamentais, mas
não há a devida repercussão disso no processo de construção da cidadania320. Diante
de tudo isso, não há Estado forte sem autonomia operacial dele próprio e nem da
ordem jurídica. Fatos que vão de encontro à construção da cidadania.
Canotilho apresenta uma grande variedade de assuntos em sua obra, mas
considerando o tema desta pesquisa, abordar-se-á o item 4 da 2ª parte, da 2ª edição,
quando o autor trata da ‗Vinculação do Legislador‘ ao cumprimento
dos direitos
fundamentais como ideários para uma sociedade nova. Logo no prefácio dessa 2ª
edição coloca-se em dúvida a força dirigente da Constituição para promover, por si só,
as mudanças necessárias e para suprir as promessas não cumpridas da modernidade:
Em jeito de conclusão, dir-se-ia que a Constituição dirigente está morta
se o dirigismo constitucional for entendido como normativismo
constitucional revolucionário capaz de, só por si, operar transformações
emancipatórias. (...) Alguma coisa ficou, porem da programaticidade
constitucional. Contra os que erguerram as normas programáticas a
linha de caminho de ferro neutralizadora dos caminhos plurais da
implantação da cidadania, acreditamos que os textos constitucionais
devem estabelecer as premissas materiais fundantes das políticas
públicas num Estado e numa sociedade que se pretendem continuar a
chamar de direito, democráticos e sociais.321
Uma Constituição de caráter dirigente repleta de normas programáticas é
importante, porém, não basta para a efetividade dos direitos fundamentais e para a
realização dos objetivos constitucionais. É o que se percebe ao longo da história dos
trinta anos da CFR/88.
O problema central da Constituição dirigente consistia (e consiste) em
saber se, através de ―programas‖, tarefas e directivas constitucionais, se
conseguiria uma imediaticidade actuativa e concretizável das normas e
princípios constitucionais de forma a acabar com os queixumes
319
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.103.
NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Dados – Revista de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, n. 2, 1994. p.266.
321
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2ªed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994. p.29.
320
123
constitucionais da ―constituição não cumprida‖ ou da ―não concretização
da constituição‖ 322.
Sob a perspectiva dos ensinamentos de Canotilho, considerando que a
declaração de direitos individuais, sociais e coletivos, no texto constitucional brasileiro é
bastante abrangente, a questão passa a ser a sua concretização que estaria ligada a
uma função simbólica tão somente. O fato é que as práticas políticas do país, bem
como o contexto social terminam por favorecer uma concretização restrita e excludente.
Assim, para Neves não se pode ampliar a cidadania nessas condições,
apontando que no contexto constitucional, inclusive, desenvolvem-se relações
concretas de subcidadania e sobrecidadania. Conclui não ser possível a criação ou
ampliação da cidadania, nos termos do artigo 1°, inciso II, apenas voltando-se para o
princípio da igualdade do artigo 5°, caput
323
. Enquanto os subcidadãos tem a
Constituição como uma realidade que lhe é estranha, permanecendo distantes do
acesso aos direitos e às garantias fundamentais nela respaldados, os sobrecidadãos, a
depender das conjunturas do poder usam e abusam da Constituição324.
Nesse distanciamento entre teoria e prática, o dirigismo constitucional ganha
força como justificativa para resolver o grande problema da falta de efetividade das
normas constitucionais programáticas e dos direitos sociais. Observa-se a vinculação
dos direitos sociais, econômicos e culturais aos direitos fundamentais de prestação:
A força dirigente e determinante dos direitos a prestações (econômicos,
sociais e culturais) inverte, desde logo, o objecto clássico da pretensão
jurídica fundada num direito subjectivo: de uma pretensão de omissão
dos poderes públicos (...) transita-se para uma proibição de omissão
(direito a exigir que o Estado intervenha activamente no sentido de
assegurar prestações aos cidadãos).
Considerando o seu caráter dirigente, a CFR/88 persegue os seus objetivos
fundamentais e tem a eficácia dos direitos fundamentais vinculando os Poderes
Públicos e, assim, impondo-lhes o dever fundamental de desenvolvê-los ao máximo
levando-se em conta os princípios constitucionais. À constituição dirigente cumpre
322
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2ªed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994. p.32.
323
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.184-185.
324
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.198.
124
então, a tarefa de ordenar o necessário cumprimento das imposições constitucionais,
harmonizando a sistemática da Constituição de um Estado de Direito com a lógica
democrática que exige a compreensão da Constituição em si mesma 325.
A realização dos direitos fundamentais é, neste sentido, um importante
problema de competência constitucional: ao legislador compete, dentro
das reservas orçamentárias, dos planos econômicos e financeiros, das
condições sociais e econômicas do país, garantir as ―prestações‖
integradoras dos direitos sociais. Paradoxalmente, parece vir a cair-se
no esquema relacional leis-direitos fundamentais que vigorou no século
passado: os direitos fundamentais apenas se reconhecem no âmbito da
lei; a lei é ―dona‖ dos direitos fundamentais. Só na aparência, porém.326
Sobre a possibilidade da ―morte‖ da constituição dirigente, tem-se que:
Portanto, quando coloca essas questões da ―morte da constituição
dirigente‖, o importante é averiguar por que é que se ataca o dirigismo
constitucional. Uma coisa é dizer que estes princípios não valem e outra
é dizer que, afinal de contas, a Constituição já não serve para nada, já
não limita nada. O que se pretende é uma coisa completamente
diferente da problemática que vimos efectuando: é escancarar as portas
dessas políticas sociais e econômicas a outros esquemas que, muitas
vezes, não são transparentes, não são controláveis. Então eu digo que a
constituição dirigente não morreu327.
Na verdade, em vez da decretação da morte da constituição dirigente
observa-se uma mudança no projeto dessa constituição, apontando-a como um
instrumento de realização de um novo Constitucionalismo com o objetivo de regular as
relações sociais, com menor teor ideológico. Assim, Canotilho conformou sua visão às
mudanças ocorridas em seu país, visto que a democracia de Portugal consolidou-se e
inseriu-se na Comunidade Europeia.
Coelho
destaca
a
força
normativa
dos
princípios
constitucionais,
considerando o fato da Constituição figurar no topo da pirâmide normativa e assim, os
direitos fundamentais nela assentados tem caráter vinculante328. Os valores e princípios
325
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2ªed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994. p.11.
326
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2ªed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994. p.368.
327
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (org.). Canotilho e a constituição dirigente. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003.p.31.
328
COELHO, Helena Beatriz Cesarino Mendes. Políticas públicas e controle de juridicidade: vinculação as
normas constitucionais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed, 2010. p.89.
125
positivados na Magna Carta detêm força normativa para impor os limites à legislação
infraconstitucional e funcionar como parâmetros para o planejamento e implementação
das políticas públicas governamentais.
Segundo Pinsky, ―os direitos civis e políticos não asseguram a democracia
sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza
coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice
tranquila‖329. Exercer a cidadania plena significa ter direitos civis, políticos e sociais.
Os direitos sociais indicados no artigo 6º da CFR/88 – trabalho, educação, saúde,
moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e
assistência aos desamparados – para serem implementados necessitam de políticas
públicas que organizem a atuação estatal na consecução de tais finalidades, num
âmbito coletivo. Diante dessa constatação, outra com a mesma importância: a
necessidade de politização, de educação e de informação da sociedade brasileira,
considerando a sua indispensável atuação, política e juridica, nessa caminho de busca
da concretização dos direitos positivados constitucionalmente.
Infere-se que para a concretização da ideologia assumida pela Constituição
em termos de direitos sociais entram em cena as políticas públicas que emergem como
meio primordial de legitimação do ente público em face dos administrados, em razão de
ser o principal veículo de garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos,
destacando-se as políticas públicas como ― institutos diversos, com incidência em várias
áreas do conhecimento e da atuação humana, não podendo ser esgotadas por uma
única via ou único sistema.330
Assim, tem-se que ―Os direitos sociais são normas constitucionais, que se
efetivam como dimensões específicas dos direitos fundamentais do homem, refletindo
prestações positivas do Estado e permitindo condições de vida mais humana à classe
trabalhadora331.
329
PINSKY, Jaime; Carla Bassanezi. (org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2008. p.9.
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.9
331
PINTO FERREIRA, Luiz. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 223.
330
126
2.2. Direito e políticas públicas para erradicação da pobreza
Os objetivos do Estado são apresentados constitucionalmente em vários
dispositivos, destacando-se o artigo 3° da CFR/88 que elenca o objetivo social de criar
uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e
reduzir desigualdades, além de promover o bem de todos. Inobstante essa realidade
constitucional, tem-se que não basta a sua declaração, pelo que se considera o
entendimento e alcance das políticas públicas como programas de ação governamental
elaboradas e implementadas para realização de objetivos determinados.332
Esse estudo abraça as compreensões dos professores e pesquisadores
Maria Paula Dallari Bucci e Diogo Coutinho sobre políticas públicas, naquilo que tem em
comum, e principalmente naquilo que confrontam.
Para Bucci, as políticas públicas são vistas como ―conjunto de processos‖,
locução que indica a existência de ―procedimentos coordenados pelo governo para a
interação entre sujeitos ou entre estes e a Administração‖333. Nesse contexto, ressaltase uma diferença entre a dimensão estática e a realidade dinâmica das políticas
públicas, incluindo processos de interação ao longo de toda a sua implementação.
Nesse ponto, levanta-se um questionamento sobre a visão tradicional, por
exemplo, de ―separação de poderes‖ do Direito Administrativo, considerando-se o fato
de que existe um processo reflexivo de formulação e implementação da política em que
os momentos de ―começo‖ (formulação) e ―fim‖ (implementação) não são separados por
linhas claras. Ao contrário, acabam ocorrendo concomitantemente, inexistindo esse tipo
de relação cronológica entre eles.
Por conta dessa fungibilidade entre formulação em implementação, pode-se
afirmar que as políticas públicas se tornam mais revisáveis e flexíveis, como pontua
Coutinho334 para quem ―essa visão fragmentária impõe limitações severas à
compreensão de políticas públicas como planos de ação prospectivos que, para serem
332
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito: In: (Org.). Políticas Públicas:
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.
333
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito: In: (Org.). Políticas Públicas:
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006 p.264.
334
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos
Aurélio Pimenta de (eds.). Política pública como campo disciplinar. São Paulo: Fiocruz. p.187.
127
efetivos e eficazes, precisam de alguma dose de flexibilidade e revisibilidade, isto é,
serem dotados mecanismos de autocorreção, já que estão em permanente processo de
implementação e avaliação‖. No mesmo sentido, o alerta que o autor para a associação
que os administrativistas fazem entre conceito estanque de ―ato administrativo‖ e
políticas públicas de modo a traduzi-las como atos administrativos sucessivos335 e não
―como um continuum articulado e dinâmico‖336.
O descompasso apresentado entre o modo de funcionamento de uma
política pública concretamente analisada e as categorias tradicionalmente incorporadas
no direito, em especial o administrativo que trata do assunto, sugere a necessidade de
uma leitura menos tradicional da prática do direito administrativo contemporâneo, que é
mais flexível e orientado pelo itinerário do processo. Nesse sentido, a crítica ao
arcabouço jurídico do direito administrativo aqui apresentada preocupa-se em abrir
possibilidades para que ―os cidadãos sejam realmente senhores dos destinos do
Estado e que a Administração Pública seja o aparelho institucional para a realização
desse propósito, voltada à execução dos fins de interesse coletivo‖337.
Na perspectiva de análise aqui adotada revela-se a importância do
planejamento estatal, bem como da sua interação com as normas constitucionais, a fim
de delimitar e determinar os fins específicos que devem ser alvos para a promoção dos
objetivos fundamentais do Estado Social previstos, explícita ou implicitamente. A
política pública vista sob o aspecto da implementação de programas, quando diante da
sua criação e, mesmo durante o seu desenvolvimento, deve ocupar-se desse
planejamento, afinal os objetivos pretendidos não são alcançáveis de imediato. A
execução das políticas públicas deve observar, além dos meios para sua consecução, o
tempo necessário para a percepção dos resultados pretendidos338.
335
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros,
2010.p.821. O autor define política pública como ―um conjunto de atos unificados por um fio condutor que
os une ao objetivo comum de empreender ou prosseguir um dado projeto governamental para o País‖
não problematizando o papel do direito na sua implementação.
336
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos
Aurélio Pimenta de (eds.). Política pública como campo disciplinar. São Paulo: Fiocruz. p.187.
337
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito: In: (Org.). Políticas Públicas:
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.p.26-27.
338
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito: In: (Org.). Políticas Públicas:
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p.39.
128
Num momento inicial, as políticas são pensadas como estratégias limitadas
no tempo com o fim de auxilio em épocas de crise, enquanto se aguarda a retomada de
novas regulações melhor adaptadas ao novo cenário econômico. São uma espécie de
operações que antecedem dias melhores. No entanto, a realidade demonstra a
continuidade dessas políticas339. Castel não se despreza a importância dessas
―oxigenações‖ que proporcionam uma vida melhor para aqueles que são alvos das
mesmas, mas alerta para a realidade da maioria de beneficiários das políticas públicas
com o perigo de permanecerem ―lá onde estão‖, naquela esfera da vida social marcada
pelo déficit em relação ao trabalho e à integração social340.
A CFR/88 adota a garantia do exercício dos direitos sociais e individuais
como valores supremos da cidadania e da dignidade da pessoa humana, como
fundamentos da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da erradicação da
pobreza e da redução das desigualdades sociais e regionais e ainda, como objetivos
fundamentais, ao passo que faz referência aos direitos sociais também como princípio.
Inobstante essa realidade constitucional, os direitos sociais indicados no artigo 6º da
CFR/88 (trabalho, educação, saúde, moradia, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados) para serem
implementados necessitam de políticas públicas que organizem a atuação estatal para
esse fim. Eis que as políticas públicas emergem como meio primordial de concretização
dos direito sociais fundamentais dos indivíduos.
Para a garantia do cumprimento dos direitos sociais elencados no Capítulo II
da CFR/88 são definidas as responsabilidades compartilhadas pelo poder público, no
contexto das políticas públicas, pelo que a descentralização e o compartilhamento
dessas responsabilidades entre os entes da Federação foram expressamente previstos,
mas sem previsão quanto aos meios necessários à essa coordenação e cooperação.
Assim, um dos principais desafios percebidos no contexto de implementação de
políticas públicas no Brasil é no sentido de responsabilização e definição de
339
CASTEL Robert. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus, Maria Carmelita Yazbek.
Desigualdade e a questão social /. São Paulo: EDUC, 2000, p.26.
340
CASTEL Robert. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus, Maria Carmelita Yazbek.
Desigualdade e a questão social /. São Paulo: EDUC, 2000, p.28.
129
competências de cada ente, com definição daquilo que é comum, os mecanismos que
os integram e os coordenam para a operacionalização daquilo que foi compartilhado.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) divulgou
no Glossário da Pobreza e Desenvolvimento Humano do ano de 2000, um conceito de
pobreza que ressalta a distinção entre pobreza humana e privação de renda341:
A pobreza humana é definida pelo empobrecimento em múltiplas
dimensões – privações de uma vida longa e saudável, de conhecimento,
de um nível de vida digno e de participação. Contrariamente, a privação
de renda é definida pela privação numa única dimensão – renda –
porque se acredita que é a única forma de empobrecimento que
interessa ou porque nenhuma outra privação pode ser reduzida a um
denominador comum.342.
O PNUD propõe o índice de pobreza humana (IPH) para medir o grau de
pobreza e de privação de meios e de recursos básicos de sobrevivência humana. Em
países em desenvolvimento como o Brasil, o cálculo do IPH considera a combinação
das variáveis risco de mortalidade após os 40 anos, taxa de analfabetismo e do
indicador do índice de sobrevivência, acesso aos serviços básicos de saúde, à água
potável e níveis de desnutrição.343 Pessoas que se veem obrigadas a abandonar sua
terra natal para sobreviver, o trabalho infantil imposto às famílias por uma questão de
vida ou morte são apenas exemplos das incontáveis situações de privação de
capacidades básicas a que são submetidas à população pobre que por certo vão muito
além de um baixo nivel de renda.
A pobreza, certamente, não deve ser vista tão somente sob a perspectiva da
privação da renda. Deve-se estar em relevo a questão da expansão das capacidades e
das privações na vida das pessoas e das liberdades que efetivamente elas tem. Mas,
claramente, ―A perspectiva da pobreza como privação de capacidades não envolve
nenhuma negação da perspectiva sensata de que a renda baixa é claramente uma das
341
PNUD-2000. Glossário de direitos humanos e desenvolvimento humano - Conceito de pobreza
humana
e
privação
de
renda.
Junho
2000.
Disponível
em:
http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/RDHglobais/hdr_2000_en.pdf. Acesso em 13 de agosto de 2013.
342
PNUD-2000. Glossário de direitos humanos e desenvolvimento humano - Conceito de pobreza
humana
e
privação
de
renda.
Junho
2000.
Disponível
em:
http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/RDHglobais/hdr_2000_en.pdf. Acesso em 13 de agosto de 2013.
343
PNUD-2000. Glossário de direitos humanos e desenvolvimento humano - Conceito de pobreza
humana
e
privação
de
renda.
Junho
2000.
Disponível
em:
http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/RDHglobais/hdr_2000_en.pdf. Acesso em 13 de agosto de 2013.
130
causas principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão primordial da
privação de capacidades de uma pessoa‖344.
Uma criança pobre vivendo em condições precárias de desenvolvimento
transformar-se-á, prematuramente, em adulto devido ao excesso de violência
característica do local onde mora, quando não pela violência doméstica, pelo intenso
trabalho no lar, pela desatenção das escolas, pela falta de material escolar e pelo
trabalho infantil. Adultos pobres, advindos de uma infância pobre, comumente inseridos
no mercado de trabalho informal, sem perspectivas, lutando pela sobrevivência. É o
ciclo da pobreza. Difícil é o acesso aos processos de construção da cidadania e à
participação política nas decisões de suas cidades e de seus Estados.345
Para Sonia Rocha ―Pobres são aqueles que com renda se situando abaixo
do valor estabelecido como linha de pobreza, incapazes, portanto, de atender ao
conjunto de necessidades consideradas mínimas naquela sociedade‖, tais como
alimentação, habitação, saúde, educação, entre outros, enquanto os indigentes, ―um
subconjunto dos pobres, são aqueles cuja renda é inferior à necessária para atender
apenas as necessidade nutricionais346.
Uma pesquisa feita pelo MDS sobre a extrema pobreza no Brasil, com base
nas informações coletadas no Censo 2010 realizado pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (FIBGE), que considerou extremamente pobre a pessoa que
possuía rendimento mensal de até R$ 70,00, revelou que (considerando o Brasil como
um todo) 70,8% das pessoas que se encontram na situação de extrema pobreza no
Brasil são ou negras ou pardas, sendo que esse percentual atinge 77% na região Norte
e 75,1% no Nordeste. 347
A fome é a face mais grave da pobreza. Não há nada mais básico do que a
fome e por isso, são necessárias e urgentes ações que façam toda a diferença na vida
daqueles que sobrevivem comendo uma ou até menos refeição por dia. A redução da
344
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.120.
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar a pobreza.
Brasília UNESCO, 2002. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf
p.20. Acesso em 25 de maio de 2015.
346
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.13.
347
Nota do MDS de 02/05/2011. Em: http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2011/maio/brasilsem-miseria-atendera-16-2-milhoes-de-pessoas.
345
131
capacidade de aprendizado nas crianças, queda da produtividade nos adultos ativos,
suscetibilidade a doenças e até morte prematura são apenas algumas das
consequências da fome que tem entre as suas causas a pobreza continuada. Uma mãe
desnutrida conceberá filhos igualmente desnutridos, a fome passando de geração para
outra, perpetuando um círculo vicioso cujo rompimento requer a garantia do direito
humano à alimentação adequada, direito básico de todos.
Pesquisa do IBASE de 2008 apresentava 2,3 milhões de famílias em
situação de insegurança alimentar grave (fome entre adultos e/ou crianças da família),
3,8 milhões em situação de insegurança alimentar moderada (restrição na quantidade
de alimentos na família) e 3,1milhões em situação de insegurança leve, caracterizada
não falta de alimentos, mas pela preocupação com consumo no futuro. Segundo o
IBASE, a questão da segurança alimentar está associada a um quadro de pobreza mais
amplo. Demonstrou que a insegurança alimentar grave está diretamente relacionada à
baixa escolaridade, à exclusão do mercado formal de trabalho e à precariedade no
acesso a serviços públicos, como saneamento básico. Deixou o alerta de que políticas
públicas direcionadas ao enfrentamento destes problemas, certamente, aumentarão as
chances de essas famílias superarem a pobreza..348
Passados alguns anos, de acordo informações do levantamento suplementar
da PNAD 2013 sobre segurança alimentar e que foi realizado pelo IBGE em convênio
com o MDS o percentual de domicílios particulares brasileiros que se encontravam em
algum grau de insegurança alimentar era de 22,6% em 2013. A pesquisa registrou 65,3
milhões de domicílios particulares no Brasil, dos quais 14,7 milhões (22,6%) nos quais
viviam cerca de 52 milhões de pessoas (25,8%) apresentavam alguma restrição
alimentar ou, pelo menos, alguma preocupação com a possibilidade de ocorrer
restrição, devido à falta de recursos para adquirir alimentos. A insegurança alimentar
era maior nas regiões Norte e Nordeste, atingindo, respectivamente, 36,1% e 38,1%
dos domicílios, bem como na área rural (35,3%).349
348
IBASE (2008). Repercussões do Programa Bolsa-Família na Segurança Alimentar e Nutricional das
famílias beneficiadas. Disponível em: http://www.ibase.br/userimages/documento_sintese.pdf p.9-10.
Acesso em 13 de agosto de 2013.
349
Dados
PNAD
2013
sobre
segurança
alimentar.
Disponível
em:
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/seguranca_alimentar_2013/. Acesso 25 de maio de 2015.
132
Além disso, a insegurança alimentar era maior em domicílios onde residiam
menores de 18 anos (28,8%), entre os pretos e pardos (33,4%) e para aqueles com um
a três anos de estudo (13,7% com insegurança alimentar moderada ou grave. A
prevalência de domicílios com pessoas em situação de insegurança alimentar leve foi
estimada em 14,8%, ou 9,6 milhões de domicílios, onde viviam 34,5 milhões de
pessoas (17,1% da população residente em domicílios particulares). A proporção de
domicílios particulares com moradores vivendo em situação de insegurança alimentar
moderada foi 4,6% (equivalente a 3,0 milhões), onde moravam 10,3 milhões de
pessoas (5,1% dos moradores). Do total de domicílios, 3,2% (2,1 milhões) foram
classificados como sofrendo insegurança alimentar grave. Esta situação atingia 7,2
milhões de pessoas (3,6%).350
Outro grande fator a ser considerado nessa complexa equação da pobreza é
a concentração desigual de renda nas mãos de um pequeno e específico grupo
hegemônico, alocando a erradicação da pobreza intimamente ligada à questão da
efetivação dos direitos humanos, como um dos grandes desafios para o século XXI.
Acabar com a fome e a miséria é um dos oito Objetivos do Milênio (ODM),
estabelecidos em 2000 pela ONU, com o apoio de 191 países.351
O fenômeno do pauperismo, aprofundado no bojo da Revolução Industrial,
fez emergir o paradoxo em que a sociedade estava inscrita: apesar de toda a riqueza
que vinha sendo produzida, do desenvolvimento tecnológico nunca antes visto,
parcelas enormes da população, trabalhadores e não trabalhadores viviam no limite da
indigência. Configurava-se a questão social como a contradição entre capital e trabalho,
dando origem às lutas pelos direitos sociais que, mais tarde, no pós Segunda Guerra
Mundial, contribuíram para o surgimento do Welfare State que ―prosperou por cerca de
30 anos‖ nos quais se vivenciou ―pela via do pleno emprego e da intervenção estatal na
economia e nas relações sociais, a experiência mais consistente de ampliação da
cidadania no âmbito do capitalismo‖.352
350
Dados
PNAD
2013
sobre
segurança
alimentar.
Disponível
em:
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/seguranca_alimentar_2013/. Acesso 25 de maio de 2015.
351
Disponível em: http://www.pnud.org.br/odm.aspx Acesso em 25 de maio de 2015.
352
MESQUITA, Camile Sahb. O programa Bolsa Família: uma análise de seu impacto e alcance social.
2007. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Universidade de Brasília, Brasilia, 2007.
133
Contudo, ―no decênio de 1970, uma crise econômica instalou-se no mundo,
cujas manifestações levaram a modificar toda ordem produtiva, com repercussões
políticas e sociais‖, enquanto isso ―os ideais liberais ressurgem colocando em xeque
todo o sistema de garantia de direitos e a atuação do Estado para a satisfação das
necessidades básicas‖. As consequências dessa reestruturação, na produção e no
papel do Estado aliada à financeirização do capital materializaram-se no agravamento
do desemprego e na precarização das condições e relações do trabalho, levando à
pobreza milhares de pessoas antes relativamente protegidas contra essa situação. À
pobreza estrutural, somava-se uma nova.353
Diante dos efeitos no mundo do trabalho de toda essa crise, a garantia de
uma renda dissociada do trabalho começa a ganhar novamente espaço como
alternativa para assegurar meios adequados para uma vida saudável e autônoma. O
acesso à renda garante condições dignas de sobrevivência; traz poder de escolha, é
condição para o incremento de bens sociais, proporcionando meios para a construção
de uma sociedade mais igual. Mas é importante que se diga que a transferência de
renda por si só não é suficiente para a redução das desigualdades e da pobreza. Ela
deve ser parte de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico e social.
A renda básica universal mostra-se como a proposta de garantia de
renda mais democrática já apresentada. Tem como elementos
constituintes o pagamento de uma parcela monetária a todos os
membros de uma sociedade, independente de condição social, sexo e
raça e sem exigência de contrapartidas, de comprovação de renda e de
contribuição anterior.354
Os programas de garantia de renda mínima (PGRMs) embora não sejam
uma solução bastante em si, traduzem um bom começo na busca de mudança para a
vida dos mais pobres que muito pouco tem mudado em tantos anos. Esses programas
atendem, dentre algumas dimensões da pobreza, à insuficiência de renda e ao déficit
de acessibilidade aos bens e aos serviços públicos. Trata-se da teoria de que os
PGRMs maximizam o impacto redistributivo da política social, visto no seu conjunto.
353
MESQUITA, Camile Sahb. O programa Bolsa Família: uma análise de seu impacto e alcance social.
2007. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Universidade de Brasília, Brasilia, 2007.
354
MESQUITA, Camile Sahb. O programa Bolsa Família: uma análise de seu impacto e alcance social.
2007. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Universidade de Brasília, Brasilia, 2007.
134
Atuam na vida das camadas mais pobres e desassistidas da população de forma
integrativa e integradora355.
O sofrimento social e politicamente evitável de milhões de brasileiros faz
parte de nossa paisagem como coletividade humana. Sua enormidade e
iniquidade são constitutivas de nossa formação como Estado-Nação.
Desde então permanece jogando sua sombria realidade sobre os
desdobramentos futuros do país. (...) Os processos seculares de
concentração de renda, advindos ainda de nossa experiência colonial e
escravista, legaram ao país toda a sorte de iniquidades distributivas e de
exclusões das grandes maiorias da vida política e da cidadania
democrática.356
Trata-se de uma camada da população que vive a realidade do desemprego,
do trabalho sem remuneração, de ocupações incertas, de empregos precários e
mesmo, de rendas insuficientes, estando sujeita a vários níveis de vulnerabilidade.
Lembra-se que o fato de uma pessoa trabalhar não exclui ou mesmo diminui,
necessariamente, o risco de pobreza, afinal, é preciso observar a questão da
precariedade das ocupações e mesmo a insuficiente remuneração.
Na perspectiva do trabalhador, Suplicy questiona se será melhor ou pior a
garantia de uma renda mínima, assentindo que tendo o trabalhador uma renda
garantida e suficiente para assegurar a sua sobrevivência, terá um poder de barganha
maior quando da decisão de aceitar ou não condições de emprego que lhe sejam
oferecidas. Defende que a garantia de uma renda mínima resulta em segurança para o
trabalhador que terá a opção de sujeitar-se ou não às condições de trabalho das quais
lhe advenham humilhação, risco à saúde e desrespeito a sua condição humana357.
Os direitos sociais fundamentais garantidos constitucionalmente a todos e o
abismo que os separa da realidade de milhões de brasileiros compõem o cenário do
qual emerge a premente necessidade de atuações positivas por parte do Estado. As
políticas públicas consubstanciam-se no resultado dessa necessidade, passando a
perquerir a cidadania plena e assim, realizando os objetivos constitucionais. O Poder
355
LAVINAS, Lena. Programas de Garantia de Renda Mínima: Perspectivas Brasileiras. Texto para
Discussão n. 596, IPEA, 1998. p.39.
356
REGO, Walquiria Leão. Aspectos teóricos das políticas de cidadania: uma aproximação ao Bolsa
Família. Lua Nova, São Paulo, 73. 2008. 147-185.
357
SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda básica de cidadania: a resposta dada pelo vento. Porto Alegre:
L&PM, 2006, p.84.
135
Público, quando da sua atuação, não pode desconsiderar as reais condições do
contexto brasileiro, resultantes de um histórico de secular de concentração de renda,
considerada sua experiência colonial e escravista.
Diante disso, considerado o agravamento e a complexidade do quadro social
nas últimas décadas e seus fatores excludentes como desemprego, aumento do nível
de desigualdades e o consequente aumento da pobreza, além dos crescentes
contrastes sociais, econômicos e culturais, as experiências das políticas públicas de
transferência de renda destacaram-se e foram institucionalizadas no intuito de combater
à pobreza, à fome e à exclusão social.
A partir disso, a estrutura organizacional do Estado para a prestação dos
direitos sociais deve ser entendida como processo de elaboração de políticas públicas.
As políticas públicas têm sua principal razão de existência nos próprios direitos sociais
e, tais direitos concretizam-se por meio de prestações positivas do Estado358.
Para Abranches, ―a política social, como ação pública, corresponde a um
sistema de transferências unilateral de recursos e valores, sob variadas modalidades,
não obedecendo, portanto, à lógica do mercado, que pressupõe trocas recíprocas‖359.
Essas políticas sociais expressam a materialização dos direitos sociais expressos na
Constituição Federal/1988. 360
Certo é que políticas públicas sociais representam um importante fator, para
o desenvolvimento sustentável das famílias brasileiras, bem como para o crescimento
econômico do País. Para além disso, Bichir destaca um eixo de tensão que envolve as
políticas universais (de saúde e educação, por exemplo) em contraposição às
focalizadas (as de transferência de renda para combate à pobreza, como exemplo),
fazendo referencia a Abranches para quem ―a política social convencional opera para
além da fronteira da carência absoluta e resistente.‖ As políticas sociais devem visar à
universalização, ao passo que as políticas de combate à pobreza tem caráter seletivo,
358
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito: In: (Org.). Políticas Públicas:
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 90.
359
ABRANCHES, S.; SANTOS, W. G.; COIMBRA, M. A. Política Social e Combate à Pobreza. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987. p.13.
360
MOCELIN, Cassia Engres. O Programa Bolsa Família enquanto principal estratégia de enfrentamento
à pobreza rural no contexto brasileiro atual. In: Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
136
operando numa logica de discriminação positiva que, segundo alguns críticos atacam
somente uma parte do problema e ainda, estigmatizam o seu alvo. 361
Destaca-se a definição de política social como programas que possuem o
objetivo de proporcionar condições básicas, como saúde, alimentação e educação,
especialmente à população mais carente, mediante a constituição de direitos e deveres,
tanto por parte do gestor da política quanto dos seus beneficiários dos referidos.362
Destaque para a concepção dessas políticas sociais como transferências sob
forma monetária ou via provisão de serviços, independentemente do poder de barganha
de indivíduos ou grupos. Compreende-se o Estado de bem-estar como regime de
transferências sociais, de base fiscal, para redistribuição de renda e riqueza.363
Governantes eleitos entre as décadas de 80 e 90, seja por colégios
eleitorais, como o ex-presidente José Sarney (março/1985 a fevereiro/1990), ou por
eleições diretas como Fernando Collor de Mello (março/1990 a dezembro/1992) e a
complementação de seu mandato pelo vice Itamar Franco (dezembro/1992 a
dezembro/1994), praticaram políticas sociais que não marcaram a redução da pobreza.
[...] a intensidade da pobreza manteve um comportamento de relativa
estabilidade, com apenas duas pequenas contrações, concentradas nos
momentos de implementação dos Planos Cruzado e Real. Esse
comportamento estável, com a percentagem de pobres oscilando entre
40% e 45% da população, apresenta flutuações associadas, sobretudo,
à instável dinâmica macroeconômica do período. O grau de pobreza
atingiu seus valores máximos durante a recessão do início dos anos 80,
quando a percentagem de pobres em 1983 e 1984 ultrapassou a
barreira dos 50%. As maiores quedas resultaram, como dissemos, dos
impactos dos Planos Cruzado e Real, fazendo a percentagem de pobres
cair abaixo dos 30% e 35%, respectivamente364.
Assim, sob o ponto de vista da distribuição de renda e da questão social, a
década de 80 não apresentou avanços, apontando para um futuro não muito promissor
361
BICHIR, Renata Mirandola O Bolsa Família na berlinda? Os desafios atuais dos programas de
transferência de renda. Novos Estudos - CEBRAP, 2010, p.115-129.
362
CARDOSO Jr., José Celso; JACCOUD, Luciana. Política Social no Brasil: organização, abrangência e
tensões da ação estatal. Questão social e políticas sociais no Brasil Contemporâneo. Brasília IPEA, 2005.
363
LAVINAS, Lena. Combinando compensatório e redistributivo: o desafio das políticas sociais no Brasil‖.
Texto para discussão n.748. Rio de Janeiro: IPEA, 2000, p.6.
364
BARROS, Ricardo Paes de; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. In: A Estabilidade
Inaceitável:
Desigualdade
e
Pobreza
no
Brasil.
IPEA,
2001.
Disponível:
http://www.agente.org.br/docs/file/dados_pesquisas/outros/desigualdades%20epobreza%20ipea800. pdf.
137
sobre evoluções sociais. Em meados da década de noventa, frente à evidência de que
o simples crescimento econômico não havia causado avanços referentes à inclusão
social nas décadas anteriores, a construção de uma abrangente estrutura institucional
de desenvolvimento social, foi considerada uma opção. O arcabouço da proteção dos
direitos políticos e sociais da CFR/88 foi resultado de movimentos sociais insatisfeitos
com a situação social, após vinte anos do regime militar com censura, supressão dos
direitos constitucionais, ausência de democracia, repressão e perseguições políticas.
Em janeiro de 2003, reconhecendo o momento de priorização dos projetos
de inclusão social como o Fome Zero (mais tarde substituído pelo Bolsa Família) Lula
assumiu o poder presidencial no Brasil, sem deixar de lado a continuidade dos avanços
econômicos conquistados pelo governo anterior. A questão da segurança alimentar foi
resgatada na esfera da agenda pública e, a partir desse momento, combater a pobreza
e a fome passa a ser prioridade nacional. Nesse contexto, o governo federal criou o
Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar (MESA).
O Programa Fome Zero foi instituído em 2003 tendo como desafio assegurar
o direito à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos
alimentos, acabar com a fome, combatendo-se a pobreza e a exclusão. A partir dele,
com mobilização da sociedade civil, recolocou-se a segurança nacional alimentar no
topo da agenda do Estado365.
O direito à alimentação começaria pela luta contra fome; pela garantia a
todos os cidadãos do direito ao acesso diário a alimentos em quantidade e qualidade
suficiente para atender às necessidades nutricionais básicas essenciais à manutenção
da saúde; e passaria pelo direito de acesso aos recursos e aos meios para produzir ou
adquirir alimentos seguros e saudáveis, possibilitando alimentação com os hábitos e
práticas alimentares de sua cultura. Quando da sua implantação, o Fome Zero foi
percebido como benéfico por aqueles que estavam em situação de fome e mais, por
aqueles que viam no projeto uma possibilidade de exercício da cidadania366.
Inicialmente, o Fome Zero estava vinculado ao MESA que foi extinto na
365
Disponível : <http://www.nospodemos.org.br/upload/tiny_mce/quarto_relatorio_ acompanhamento.pdf>.
4° Relatório Nacional de Acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento do milênio, p.9.
366
FERREIRA, Dina Maria Martins. Não pense, veja: o espetáculo da linguagem no palco do Fome Zero.
São Paulo: Annablume; Fapesp, 2006, p.38.
138
reforma ministerial de 2004. As diretrizes do programa primavam pela transversalidade
e intersetorialidade das ações estatais nas três esferas de governo associado ao
desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e a sociedade, com o intuito de
superar desigualdades econômicas, sociais, de gênero e raça, por meio da articulação
entre orçamento e gestão de medidas emergenciais com políticas estruturais367.
O grande problema da fome no Brasil carecia de um enfrentamento por
meio do desenvolvimento econômico do país cujo crescimento passasse
pela questão da distribuição de renda e, ao mesmo tempo, gerando
empregos, melhorando os salários e aumento do poder aquisitivo do
salário mínimo, ou seja, tinha-se a recuperação do mercado como meta.
Não bastava trocar a perversidade da exclusão pelo círculo vicioso da
dependência assistencial. Era necessário regenerar a alavanca do
desenvolvimento e fazer da justiça social o principal motor do
crescimento sustentável.368
A estrutura do MESA foi incorporada ao novo MDS, assim como as
estruturas e as políticas do Ministério da Assistência Social e da Secretaria Executiva
do Bolsa Família. A partir de então, a área de segurança alimentar ficou sob a
responsabilidade da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN),
suplantando-se a estrutura original do Fome Zero. Houve a desarticulação e a
fragmentação das ações. Revela-se a estrutura dos programas de transferência de
renda condicionada adiante melhor explorada.
É indispensável que os poderes públicos assegurem o efetivo acesso dos
indivíduos e de suas famílias ao mínimo existencial que os livre da fome e atenuem
essas mazelas. Não há que se discutir a necessidade do homem no que se refere às
mínimas condições de sobrevivência, como condicionante para que possa melhor
usufruir de seu direito à liberdade, afinal ―Sem o mínimo necessário a existência cessa
a possibilidade de sobrevivência do homem desaparecem as condições iniciais de
liberdade. A dignidade humana e as condições materiais da existência não podem
retroceder aquém de um mínimo (...)‖369.
Alexy defende o mínimo existencial, denominando-os também de ―direitos
367
Disponível em: <www.fomezero.gov.br/o-que-e>. Acesso em 13 de agosto de 2013.
ABREU, Lidiane Rocha. Direitos Sociais no Brasil: Programa Bolsa Família e Transferência de Renda,
2011.Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico)–Universidade Presbiteriana Mackenzie.
369
TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo
(org) Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 2009. p.266.
368
139
mínimos‖ ou pequenos ―direitos sociais‖, considerando que ―[...] o programa minimalista
tem como objetivo garantir ao indivíduo o domínio de um espaço vital de um status
social mínimos‖.370 Contudo, acredita-se que é preciso ultrapassar o plano das
necessidades básicas, incorporando um plexo mais amplo das necessidades humanas,
abrangendo direitos como, educação, saneamento, habitação.371
Os programas de transferências condicionadas de renda que consistem na
transferência direta de dinheiro às famílias ou aos indivíduos pobres, mediante certos
compromissos, geralmente aqueles que implicam um investimento no capital humano
como a frequência regular de seus filhos à escola ou a centros de saúde, é uma
possibilidade de minorar as consequências das desigualdades sociais que assolam o
Brasil, fazendo a pobreza alastrar-se por seu território.
O enfrentamento da pobreza no Brasil deve levar em consideração a
magnitude da população pobre e sua heterogeneidade, a natureza
multidimensional da questão e as dificuldades existentes na matriz
institucional das políticas sociais, marcada pela desarticulação, ausência
de sistemas integrados de informação e da de portas de entrada efetivas
para o Sistema de Proteção Social (...)372
Em
conclusão
ao
seu
doutoramento,
Curralero
traz
importantes
considerações acerca do enfrentamento da pobreza no Brasil. Para ela, ―a superação
da pobreza não pode prescindir de políticas redistributivas de renda, recursos e
oportunidades, pois a estrutura produtiva brasileira é marcadamente geradora de
desigualdades‖; afirma que o perfil da pobreza vem se transformando nos distintos
espaços e regiões brasileiras e por isso, as políticas não podem ser as mesmas para
populações que vivem realidades muito diferentes; e ainda, assente que ―o
enfrentamento da pobreza depende do crescimento econômico do país, mas também
do dinamismo econômico local, uma vez que há regiões marcadas pela estagnação o
370
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008. p.502.
371
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.19.
372
CURRALERO, Cláudia Regina Baddini. O enfrentamento da pobreza como desafio para as políticas
sociais no Brasil: uma análise a partir do Programa Bolsa Família, 2012. Doutorado em Teoria Econômica
- Universidade Estadual de Campinas, 2012.
140
econômica que requerem também políticas de desenvolvimento regional e local‖. 373
Diante da realidade brasileira que demanda políticas públicas para garantia
de direitos básicos e cientes do arcabouço jurídico à disposição, percebe-se o abismo
que separa conceitos jurídicos de modo isolado e estático e o dinamismo que marca o
funcionamento das políticas públicas. Considera-se que o direito traz categorias que
trabalham com abstrações e generalizações que não apreendem ou capturam minúcias
e particularidades da dinâmica complexa da implementação das políticas públicas.
Talvez, esse distanciamento derive do fato de que os manuais de direito (em
especial, administrativo) cumprirem uma função didática, buscando tornar uma
disciplina complexa mais compreensível ao estudante de direito por meio de
categorizações simples e abstratas. Assim, eles não pretenderiam descrever nem
explicar a dinâmica das políticas públicas. Contudo, esses manuais de direito
administrativo são constantemente consultados por gestores públicos, que buscam uma
orientação jurídica para suas ações, deparando-se assim com lacunas na busca por
subsídios para tomar decisões e justificar suas escolhas374.
Em outras palavras, os manuais acabam constituindo um instrumento de
pouca utilidade na ―caixa de ferramentas‖ dos juristas375 que operam as políticas
públicas, o que explica o paradoxo percebido no fato, regra geral, daqueles que
acumulam expertise teórica sobre as políticas que estudam não as operarem.
Talvez, uma explicação para isso seja a falta nos manuais de uma dimensão
de análise aplicada que dê à implementação das políticas públicas centralidade na
análise e, ―é por não estar no escopo desses manuais a realização de estudos
aplicados que suas categorias possuem pouco potencial explicativo e apresentam um
descolamento entre a maneira dinâmica como o direito é operado em uma política
373
CURRALERO, Cláudia Regina Baddini. O enfrentamento da pobreza como desafio para as políticas
sociais no Brasil: uma análise a partir do Programa Bolsa Família, 2012. Tese. Doutorado em Teoria
Econômica - Universidade Estadual de Campinas, 2012.
374
Bruno Câmara apresenta críticas à forma como o direito brasileiro não é construído a partir da
observação de boas práticas, o que tem um forte impacto sobre a adequação da regulação ao cotidiano
da gestão de uma política pública (entrevista concedida por Bruno Câmara, advogado e gestor na
SENARC/MDS, Brasília, 2010).
375
Analogia sugerida por Bucci. BUCCI, Maria Paula Dallari. Controle judicial de políticas públicas:
possibilidades e limites. In: Fórum Administrativo. ano 9, n. 103, Belo Horizonte: Fórum, set. 2009. p.16.
141
pública e a forma estática como ele é sistematizado‖376.
As políticas sociais podem ser vistas como uma estratégia do Estado para o
desenvolvimento e diferentes modelos de desenvolvimento devem estar atrelados a
diferentes padrões de arranjos jurídicos. Nesse sentido, Trubek, Coutinho e Schapiro
afirmam que ―à medida que muda o papel do Estado na economia e na proteção social,
parece inevitável que haja mudanças correspondentes no direito‖377.
Adotando-se como pressuposto o entendimento de que as políticas públicas
contribuem para a realização de direitos e seu estudo mais detalhado favorece a
concretização de previsões constitucionais, como a erradicação da pobreza e a redução
da desigualdades sociais, ―é razoável admitir que programas de ação adequadamente
concebidos, implementados e avaliados do ponto de vista jurídico podem ser vistos
como condição de efetividade dos direitos que procuram realizar ou materializar‖378.
Esta pesquisa parte da premissa de que a discussão sobre o papel do direito
nas políticas públicas depende da análise da sua implementação e particularidades,
incluindo fatores como ―o setor a que se refere, sua configuração administrativa e
institucional, os atores, seu histórico na administração pública, entre outras variáveis‖, o
que se afasta de uma ―teoria jurídica autocentrada e distanciada da realidade‖ 379.
Considerado o entrelaçamento entre Direito e Políticas públicas, revela-se a
importância da compreensão do contexto em que surgiram as políticas de transferência
de renda condicionada no Brasil com o intuito de compreender algumas preocupações
que possivelmente levaram a um determinado modelo de política social e à opção por
um programa nos moldes do PBF. Situa-se o debate dentro de um contexto mais amplo
da institucionalidade das políticas sociais no país, buscando-se compreender as origens
do PBF e as relações de suas ferramentas com esses aspectos históricos.
A partir da análise da relação entre o Direito e sua atuação numa política
376
ANNENBERG, Flávia Xavier. Direito e políticas públicas: uma análise do direito administrativo a partir
do estudo de caso do Programa Bolsa Família. 2014. Dissertação. - Faculdade de Direito da USP. p.128
377
TRUBEK, David M.; COUTINHO, Diogo; SCHAPIRO, Mario G. New State activism in Brazil and the
challenge for law. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.; COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro
(orgs.). Law and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New
York: Cambridge University Press, 2013.p.54.
378
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos
Aurélio Pimenta de (eds.). Política pública como campo disciplinar. São Paulo: Fiocruz. p.189.
379
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos
Aurélio Pimenta de (eds.). Política pública como campo disciplinar. São Paulo: Fiocruz. p.189 e 199.
142
pública específica, o PBF, talvez um ponto de grande relevância seja colocar em
evidência a falta de parâmetros no ―direito dos manuais‖ para descrever a realidade de
uma ação administrativa mais criativa, o que pode servir de alerta aos juristas para a
necessidade de um olhar mais apurado sobre a correspondência (ou não) entre a caixa
de ferramentas do direito e o mundo que ele pretende descrever, analisar e operar.
Parece haver indícios de que o que ocorre no PFB como estudo de caso
aqui, também explique o direito das políticas públicas de forma geral, considerando-se
perspectivas semelhantes (e mais abrangentes) destacadas em estudo como os de
Trubek, Coutinho e Schapiro380, que apresentam temas variados de pesquisa como
política comercial, política industrial e política social.
Os autores podem ser incluídos em uma literatura que trabalha com a
hipótese de consolidação de um novo Estado desenvolvimentista que, ao negar a
existência de um único modelo capaz de garantir o desenvolvimento econômico e
social, valoriza o processo por meio do qual cada nação desenha suas próprias
instituições. Essa literatura atribui importância central ao processo de aprendizagem e
aquisição de conhecimento e de descobertas, entendendo que as políticas se
constroem em uma dinâmica de experimentação381.
Os autores identificam novas funcionalidades do direito, entre as quais uma
―safeguarding flexibility‖ que significa ―usar o direito para dar espaço à experimentação,
promover inovação e facilitar feedback de experimentos para as políticas‖ 382. Para eles,
estudos empíricos desenvolvidos no âmbito do projeto Law and the New Developmental
State –LANDS, têm mostrado que esse Novo Estado Desenvolvimentista demanda um
regime jurídico que permita aprender enquanto se faz (―learning by doing‖) e encoraje
correção de rumos (―pathcorrection‖).
Trata-se de uma percepção de uma dinâmica de experimentalismo como
380
TRUBEK, David M.; COUTINHO, Diogo; SCHAPIRO, Mario G. New State activism in Brazil and the
challenge for law. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.; COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro
(orgs.). Law and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New
York: Cambridge University Press, 2013.
381
TRUBEK, David. Developmental States and the Legal Order: Towards a New Political Economy of
Development and Law. University of Wisconsin Legal Studies, Research Paper 1075:1-34, 2008.
382
TRUBEK, David M.; COUTINHO, Diogo; SCHAPIRO, Mario G. New State activism in Brazil and the
challenge for law. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.; COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro
(orgs.). Law and the New Developmental State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New
York: Cambridge University Press, 2013.p.55.
143
uma característica desse direito das políticas públicas. Ao que parece essa dinâmica
está fortemente atrelada a um modelo de política em que há menos imposições de cima
para baixo e em que são valorizadas as ações realizadas em âmbito local. Lobel aponta
para uma mudança de um padrão ―top-down‖ de políticas públicas para uma
abordagem ―reflexiva‖, ―orientada pelo processo‖ e adaptável, relacionando a
descentralização à possibilidade de utilização da implementação de políticas locais para
testar reformas, em uma espécie de ―laboratório de experimentação‖. 383
O foco no processo de experimentação, visto numa perspectiva mais ampla,
evita que se entenda o caminho para o desenvolvimento de modo pré-concebido, já que
ele enfatiza a aprendizagem enquanto um processo coletivo e indeterminado, que
obtém melhores resultados quando reconhece sua própria indeterminação.384
O modelo de experimentalismo é colocado como possibilidade pelo seu
potencial de resolver problemas complexos por meio da adaptação a mudanças que
ocorrem em um ritmo cada vez mais acelerado. Essa dinâmica pode ser vista como
uma tentativa de combinar um processo eficiente de tomada de decisão com alguma
forma de controle da discricionariedade da burocracia, enfatizando a estrutura
organizacional e as práticas gerenciais em vez de apostar apenas em procedimentos
legais e administrativos.
É possível relacionar a adoção desse processo experimentalista à efetivação
e à realização de direitos, como parece ser o caso da migração de um modelo de
condicionalidades mais punitivo para um modelo mais garantidor de direitos no PBF,
conforme abordou-se no tópico 1.2 desta pesquisa.
Contudo, cabe pontuar que se, de um lado, o ritmo das alterações mais
céleres e independentes de processos formais garante agilidade à política, de outro
lado, é importante averiguar o quanto elas envolvem outros atores além da burocracia
estatal. Experimentalismo sem garantia ou controle de que o interesse público esteja
sendo promovido pode se transformar em autoritarismo.
383
LOBEL, Orly. The Renew Deal: The fall of regulation and the rise of governance in contemporary legal
thought. Legal Studies Research Paper Series. Research Paper n. 07-27. University of San Diego –
School of Law, dec. 2005.
384
SABEL, Charles F.; REDDY, Sanjai. Learning to learn: Undoing the Gordian Knot of Development
Today. In: Challenge, vol. 50, n. 5, set./out. 2007.p.75.
144
Nesse sentido, o realismo defendido aqui para análise de políticas públicas
opõe-se ao idealismo de certas categorias do direito, em especial o administrativo
tradicional, mas não abandona a preocupação com a legitimidade da ação do Estado
que é uma da garantias para a consolidação de um regime democrático e contra a total
arbitrariedade no exercício do poder político.
A flexibilidade pode cumprir o papel de impulsionar alterações, estimulando a
elaboração de soluções criativas pelo administrador na contramão das categorias
estanques, rígidas e herméticas. Para isso, é necessário que haja mais flexibilidade dos
controladores das políticas e dos executores e, ainda, dos que se propõem a analisar e
explicar as políticas públicas. Quanto aos últimos, o estudo aqui realizado permite
afirmar que o distanciamento de estudos empíricos, a falta de costume de ―sujar as
mãos‖ por parte de juristas acadêmicos e práticos está diretamente relacionada ao
descompasso entre as categorias descritas em manuais e a realidade das políticas
públicas. É impossível descrever fielmente algo que não se vê de perto.
Diante do exposto tem-se que as transformações na estrutura do Estado e
do direito provocaram inflexões na forma como as políticas sociais foram conformadas.
A cada transformação na estrutura do Estado, o Direito também sofreu transformações,
na tentativa de responder as novas demandas das estruturas sociais, constantemente
reorganizadas.
Aparentemente, o estágio atual é caracterizado pela existência de modelos
justapostos que oscilam entre um formato de políticas - garantidos através de políticas
sociais geralmente fundamentadas nas normas programáticas que possuem grande
dificuldade de exigência subjetiva, discricionárias e flexíveis, mas com alta
concretização e eficiência – até um modelo tradicional de direitos onde os mecanismos
de enforcement são mais bem demarcados, mas as estruturas formais que marcam as
regras de acesso, operacionalização e controle podem ter pouca efetividade.
145
2.2.1. Inclusão social e Programas de transferência de renda
Segundo a PNAD de 2012 são 6,5 milhões pessoas em situação de extrema
pobreza (renda familiar per capita de até R$ 75) e 15,7 milhões em situação de pobreza
(até R$ 150)385. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal, um
órgão da ONU) publicou um relatório no qual revela que 28% da população da região
está abaixo da linha de pobreza. O estudo Panorama Social da América Latina 2014
mostra um estancamento desses índices nos últimos três anos pelo que a comissão
conclui que ―A pobreza persiste como um fenômeno estrutural que caracteriza a
sociedade latino-americana‖. Segundo a Comissão, em 2013, o Brasil registrou uma
taxa de pobreza de 18% e uma taxa de indigência 5,9%386.
De acordo com o Atlas da Exclusão Social no Brasil: a dinâmica da exclusão
social na primeira década do século XXI, pesquisa que analisou o fenômeno da
retração da exclusão social na primeira década do Século XXI, reconhece-se os
avanços, mas aponta para os indicadores de exclusão muito fortes ainda.
Esta é a segunda vez que estamos produzindo uma análise a respeito
do Brasil de acordo com esse índice de exclusão social. Estávamos
preocupados com uma abordagem mais ampla da questão social. Esta
análise decenal nos permitiu reconhecer avanços significativos, embora
o Brasil ainda tenha indicadores de exclusão muito fortes. Temos muito
desafios para enfrentar até garantir um padrão de vida digna a todos.387
Nos estudos que resultaram na publicação do Atlas foram utilizados os
dados do Censo Demográfico 2010 (disponibilizado pelo IBGE) e do Sistema de
Informações de Mortalidade 2010 (disponibilizado pelo Ministério da Saúde). A partir
das informações censitárias, criou-se um Índice de Exclusão Social – IES que permitiu
sintetizar alguns atributos da exclusão social provenientes de indicadores referentes a
385
Comunicado Ipea nº159 Duas décadas de desigualdade e pobreza no Brasil. Apresenta as primeiras
análises do Ipea a partir dos microdados da PNAD 2012 do IBGE, concentradas em indicadores de
pobreza, desigualdade, acesso a bens e crescimento da renda per capita e seus determinantes.
Disponível:http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/131001_comunicadoipea159.p
df Acesso em 25/05.15.
386
Disponível em: http://nacoesunidas.org/onu-pobreza-e-indigencia-continuam-afetando-28-dos-latinoamericanos/ Acesso em 25 de maio de 2015.
387
POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social: a dinâmica da exclusão social na primeira
década do século 21. São Paulo: Cortez, 2015.
146
três dimensões de análise: vida digna, conhecimento e vulnerabilidade juvenil.388 A
partir
disso,
os
pesquisadores
tomaram
a
exclusão
social
como
processo
contemporâneo multidimensional e relativo a qualquer sociedade e que congrega uma
perspectiva acumulativa progressiva acerca de sua manifestação. O conceito
desenvolvido por eles sustenta-se em sete variáveis principais que buscam isolada ou
simultaneamente caracterizar a manifestação do processo de exclusão social no Brasil.
A exclusão passa a ser uma expressão da negatividade frente às dimensões
de exposição ao risco da vida pela presença da violência; do ser enquanto condição de
autor reconhecimento da própria personalidade; de estar pertencendo socialmente; do
realizar tarefas e ocupações com posição social; do criar, assumindo iniciativas e
compreendendo o próprio mundo em que vive; do saber com acesso à informação e
capacidade cultural; e do ter rendimento que insere ao padrão de consumo aceitável
social e economicamente. Dessa forma, ―a agregação metodológica das sete
dimensões de variáveis permite considerar o todo e as partes da exclusão social no
Brasil, sintetizando em uma escala numérica que varia entre zero e um. Quanto mais
próximo de zero, maior o grau de exclusão social percebido, com pior condição possível
para o conjunto do sistema econômico e social.389
No ano de 2010, o IES foi de 0,63 no Brasil. Em grande medida, os estados
das grandes regiões geográficas do Norte e Nordeste foram os principais responsáveis
pela situação geral do IES. Alagoas (0,46), Maranhão (0,46) e Pará (0,46) constituíram
os estados com os piores IES. No outro extremo, destacam-se os estados de Santa
Catarina (0,74), São Paulo (0,72) e Rio Grande do Sul (0,70). A diferença entre os
estados de maior e de menor grau de exclusão social foi 60,9% naquele ano. Dos 26
estados da federação, mais o Distrito Federal, somente 10 apresentaram IES superior
388
A dimensão Vida Digna buscou mensurar o bem-estar material da população e contou com um
Indicador de Pobreza, Indicador de Emprego e Indicador de Desigualdade. A dimensão Conhecimento
mensurou o acúmulo simbólico e cultural da população brasileira e incorporou um Indicador de
Alfabetização e um Indicador de Escolaridade. A dimensão Vulnerabilidade Juvenil, voltada para a
avaliação da exposição da população jovem e para as situações caracterizadas pela violência, incluiu um
Indicador de Juventude e um Indicador de Violência. A padronização dos sete indicadores dessas três
dimensões em índices foi feita pela técnica idealizada por Amartya Sen e aplicada no cálculo do IDH do
Programa das Nações Unidas que transforma os indicadores em variáveis com variação entre zero e um.
http://sc.gov.br/images/banners_conheca_sc/documentos/Atlas%20%20Cortez%20Editora%20%20Desig
ualdade%20no%20Brasil.pdf Acesso em 25 de maio de 2015.
389
http://sc.gov.br/images/banners_conheca_sc/documentos/Atlas%20%20Cortez%20Editora%20%20De
sigualdade%20no%20Brasil.pdf p.23-24 Acesso em 25 de maio de 2015.
147
ao medido nacionalmente (0,63); 2/3 do total dos estados da federação apresentaram
IES abaixo da média nacional.390
O volume mais recente do Atlas da Exclusão no Brasil aponta que as
desigualdades regionais ainda persistem. As ofertas de emprego são maiores nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para Pochmann, ―Essa diferença regional é uma
marca brasileira que se expressa de maneira inequívoca por causa dos ciclos
econômicos, muito concentradores, como o ciclo do açúcar em Pernambuco; o ciclo do
ouro, em Minas; e do café, em São Paulo‖ e mais, ―A superação dessa realidade vai
demorar, porque vivemos um processo de desindustrialização nas regiões mais
importantes do país. Precisamos constituir uma política nacional de desenvolvimento
regional, identificando as vocações locais, potencializando os investimentos‖.391
A concentração de renda e seus processos seculares, advindos de uma
experiência colonial e escravista, deixou seu legado de iniquidades distributivas e de
exclusões de grande parcela da população da vivencia da cidadania democrática. Além
disso, o agravamento e complexidade do quadro social nas últimas décadas, mediante
fatores excludentes gerados pelo capitalismo, tais como desemprego, aumento de
desigualdades e consequente aumento da pobreza, além dos crescentes contrastes
sociais, econômicos e culturais, fomentam ainda mais esse abismo entre a realidade de
milhões de brasileiros e uma Constituição Cidadã392.
Considera-se que a crise social brasileira aprofundou-se no início dos anos
90 com a abertura da economia à entrada de mercadorias e capitais do exterior, o que
aumentou o desemprego, além de ter expandido a precariedade das relações de
trabalho393. A pobreza aumentando e com ela, a crescente dificuldade de se atingir
condições financeiras para uma independência sustentável diante do Estado compõem
o cenário que alimenta um círculo vicioso de baixa escolaridade e empregabilidade,
saúde precária e alimentação deficiente, passando de geração em geração.
390
http://sc.gov.br/images/banners_conheca_sc/documentos/Atlas%20%20Cortez%20Editora%20%20De
sigualdade%20no%20Brasil.pdf p.29 Acesso em 25 de maio de 2015.
391
POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social: a dinâmica da exclusão social na primeira
década do século 21. São Paulo: Cortez, 2015.
392
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do
direito constitucional no Brasil). Disponível: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm
Acesso em 13 de agosto de 2013.
393
PINSKY, Jaime;PINSKY, Carla Bassanezi.(org.)História da Cidadania.São Paulo:Contexto,2008.p. 259.
148
A questão social não é um conjunto de problemas sociais próprios de
determinadas épocas. Imprescindível o olhar para a conjuntura do sistema econômico
adotado. O sistema capitalista tem sua base na economia de livre mercado dirigida pelo
poder econômico; tem o lucro e a acumulação de capital como diretrizes, ao passo que
os serviços sociais seguem as diretrizes do mercado e do jogo livre da concorrência.
Não podemos ficar nem meramente na análise global da questão social
e suas causas – problemas de exploração, de expropriação, de
concentração e distribuição de renda, de poder, de descriminação, etc. -,
nem na sua mera redução à exclusão social (dito de modo mais correto,
inclusão desigual e subordinada), focalizada sobre o contingente mais
vulnerável da população. Mas integrar as duas394.
Para Castel, o modelo de desenvolvimento capitalista bem como os seus
novos contornos dados pela globalização e por programas neoliberais resultam em
processos de exclusão social, a atual forma da pobreza. Para ele, outros problemas
estão por trás do processo de exclusão, como os relacionados à divisão social do
trabalho
e
seus
desdobramentos
(desemprego
e
degradação
da
condição
trabalhadora), às tensões geradas pela contradição entre desenvolvimento social e
condições salariais precárias e desestabilizadas, dentre outros.395
No contexto teórico da problematização do conceito de desfiliação por
Castel, sobre as condições de trabalho e moradia precárias, Kowarick afirma que ela
―denota a perda de raízes e concerne ao universo semântico do que foram desligados,
desatados, tornando-se desabilitados para os circuitos básicos da sociedade‖396. Castel
afirma que ―o excluído é mesmo, na maioria das situações, um ‗desfiliado‘ que teve a
sua história marcada por rupturas, com condições anteriores de equilíbrio (mais ou
menos estáveis) ou mesmo instáveis397.
No Brasil, a desfiliação resultaria do ―desenraizamento do assalariamento
formal‖ ligado à parcela de desempregados ou dos que trabalham sem carteira
394
CASTEL, Robert. Desigualdade e a questão social / orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia
Bórgus, Maria Carmelita Yazbek. São Paulo: EDUC, 2000, p.135.
395
CASTEL Robert. Desigualdade e a questão social / orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus,
Maria Carmelita Yazbek. São Paulo: EDUC, 2000, p.135.
396
KOWARICK, Lucio. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano, julho 2002.
http://www.uff.br/observatoriojovem/sites/default/files/documentos/20080627_viver_em_risco_1.pdf. p.20.
397
CASTEL, Robert. Desigualdade e a questão social / orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia
Bórgus, Maria Carmelita Yazbek. – São Paulo: EDUC, 2000, p.24.
149
assinada somado à precariedade do trabalho e não uma consequência de uma crise da
―sociedade salarial‖ que tem como pressuposto ―um campo de conflitos, negociações e
conquistas estruturado em instituições sociais e políticas solidamente constituídas‖398.
Castel considera a pobreza algo estrutural na sociedade e necessária ao
sistema capitalista. Nesse tipo de sociedade os excluídos são inseridos nela através do
mercado de trabalho, confiantes de que a filiação a ela lhes diminui os problemas
relacionados à pobreza. Para ele ―Assim como o do pauperismo século XIX estava
inserido no coração da dinâmica da primeira industrialização, também a precarização
do trabalho é um processo central, comandado pelas novas exigências tecnológicaseconômicas da evolução do capitalismo moderno‖399.
Enquanto isso se revela o necessário destaque a institucionalização da
globalização, que trouxe acesso à internet, aumentando o nível de informação,
conhecimento e um aprimoramento cultural das pessoas. Faria entende a globalização
como conceito aberto e multiforme que denota sobreposição do mundial sobre o
nacional. O Estado então perdendo sua autonomia para o mercado. Ele considera que
a globalização, o seu dinamismo e força, assentam-se numa base de uma produção
sob regime de competição interna e externa, numa realidade de livre integração dos
mercados. São contextos que excluem a possibilidade de geração de postos de
trabalhos, justificando-se nas linhas programáticas do liberalismo econômico400.
O mundo se torna fluido, graças à informação, mas também ao dinheiro.
Todos os contextos se interrompem e superpõem, corporificando um
contexto global, no qual as fronteiras se tornam porosas para o dinheiro
e para a informação. Além disso, o território deixa de ter fronteiras
rígidas, o que leva ao enfraquecimento e à mudança de natureza dos
Estados Nacionais401.
Considera-se o processo de reestruturação econômica decorrente da
globalização. A capacidade produtiva da economia global é enorme e as inovações
398
KOWARICK, Lucio. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano, julho 2002.
http://www.uff.br/observatoriojovem/sites/default/files/documentos/20080627_viver_em_risco_1.pdf. p. 21.
399
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário Castel; tradução de Iraci
D. Poleti. 8ª ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2009. p.526.
400
FARIA, José Eduardo de. Direito e conjuntura. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010, p.34-36.
401
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de
Janeiro: Record, 2007, p.66.
150
tecnológicas aumentam a produção, ao passo que reduzem a necessidade de mão-deobra na indústria e na agricultura, culminando em desemprego e baixos salários. Liszt
em globalização da pobreza simultânea ao progresso tecnológico nas áreas de
engenharia de produção, telecomunicações, computadores e biotecnologia402.
O apogeu da globalização deu-se em meados do século XX. Pósmodernidade e globalização na linha de frente contra o intervencionismo do Estado,
apontando para o desenvolvimento da sociedade civil (atentas à flexibilidade, à
percepção das mudanças). Na esfera da racionalidade, a globalização e seu entorno
(com teses neoliberais) atendem a racionalidade única da lei do mercado, ao passo que
o pós modernismo e seu caráter plural caracteriza-se pela multiplicidade403.
No plano econômico, quanto maior é a abertura comercial e financeira,
maior a tendência de aumentar as desigualdades sociais já existentes.
No plano institucional, o propósito, o alcance e a efetividade das
instituições político-representativas e dos mecanismos participativos de
decisão tendem a ser suavizados enfraquecendo os direitos
fundamentais. No aspecto social, a atuação do Estado limita-se a
implementar estratégias compensatórias sob a forma de programas
―focalizados‖ de assistência social aos setores de extrema pobreza, sem
reagir de maneira sistemática à crescente desintegração de suas
respectivas sociedades.404
Nesse sentido, Santos entende as políticas compensatórias como medidas
que visam à minimização das consequências dos desequilíbrios sociais, sem qualquer
atuação na origem dos mesmos405. Para Kowarick essas atuações são marcadas por
uma boa vontade caracterizada por um espírito assistencial, às voltas com soluções
para problemas emergenciais. Tais iniciativas descapacitariam os seus alvos para
enfrentar de forma efetiva as marginalizações sociais e econômicas, conquanto as
vulnerabilidades não integrarão os processos coletivos de negação de direitos406.
A políticas públicas sociais brasileiras tem um histórico que as mostra
402
VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2005, p.80-92.
ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e globalização: lições de filosofia do direito e do
Estado; tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p.233-234.
404
FARIA, José Eduardo de. Direito e conjuntura. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010, p.36.
405
SANTOS, Guilherme Wanderley. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de
Janeiro: Campus, 1979, p.106.
406
KOWARICK, Lucio. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano, julho 2002.
http://www.uff.br/observatoriojovem/sites/default/files/documentos/20080627_viver_em_risco_1.pdf, p.28.
403
151
compensatórias, seletivas e focalizadas nos excluídos. Para Yazbek as políticas
públicas de renda mínima reforçam as figuras do pobre beneficiário, do desamparado e
do necessitado, revelando uma posição de subordinação e de culpabilização dos
beneficiários por sua condição de pobreza407.
Reis alega o Brasil carrega a herança dos séculos de escravidão e sofre o
impacto de estar exposto ao processo de globalização responsável por acumular
desigualdades. Diante disso, dever-se-ia ―(...) ter em mente necessidade de
desenvolvimentos de longo prazo em que, entre outras coisas, o indispensável
paternalismo por parte do Estado viesse ajudar a criar o acesso mais amplo e
apropriado aos recursos materiais e intelectuais‖ e, nesse sentido, ―‗criar mercado‘ pode
ser lido como criar as condições para que a competição deixe de ser, para muitos, um
jogo fraudulento, ou a competitividade nacional um sinônimo de exclusão social‖.408
Por outro lado, as políticas sociais como as Renda Mínima de Inserção e
aquelas de formação com o objetivo de facilitação do acesso ao emprego não
provocam tantas controvérsias, se considerado o objetivo de trazer um ―mais‖ para
aqueles que estão no ―menos‖. Ainda assim, Castel alerta para o risco da discriminação
positiva que pode vir a tornar-se discriminação negativa e orienta:
Não chamar de exclusão qualquer disfunção social, mas distinguir
cuidadosamente os processos de exclusão do conjunto dos
componentes que constituem, hoje, a questão social na sua globalidade.
Em segundo lugar, em se tratando de intervir em populações as mais
vulneráveis, esforçar-se para que as medidas de discriminação positiva,
que são sem dúvidas indispensáveis, não se degradem em status de
exceção(....) Em terceiro, lembrar-se que a ―luta contra a exclusão‖ é
levada também, e, sobretudo, pelo modo preventivo quer dizer,
esforçando-se em intervir, sobretudo em fatores de desregulação da
sociedade salarial, no coração mesmo dos processos da produção e da
distribuição das riquezas sociais409.
Está-se diante de uma realidade onde milhões de pessoas não possuem
407
YAZBEK, Maria Carmelita. O Programa Fome Zero no contexto das políticas sociais brasileiras. São
Paulo Perspec. v.18, n. 2, abr./jun. 2004. Disponível em:> http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010288392004000200011&script=sci_arttext>. Acesso 25 de maio de 2015.
408
REIS. Fábio Wanderley. Deliberação, Interesses e ―Sociedade Civil‖. In: COELHO, Vera Shattan P;
NOBRE, Marcos (orgs). Participação e deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no
Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. 34, 2004. p. 87-88.
409
CASTEL, Robert. Desigualdade e a questão social. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus,
Maria Carmelita Yazbek. São Paulo: EDUC, 2000, p.47 e 48.
152
condições mínimas de viverem as vantagens da globalização e as consequências
benéficas da modernidade. A exclusão não se dá apenas por sexo, raça, cor ou
religião, mas também é fruto do acúmulo de riqueza que proporciona a apenas parcela
da população condições de usufruir estes benefícios. A questão da globalização
entrelaçada ao tecido social, deixando suas marcas nas relações internas e externas
entre os povos deve ser considerada em qualquer debate sobre cidadania.
A globalização provoca mobilidade e descentralização, rompendo fronteiras
nacionais. Uma empresa global, operando em escala planetária, absorve de cada lugar
o seu melhor resultado, como mão de obra barata410. Os princípios básicos e os
padrões morais inerentes aos direitos humanos e aos direitos sociais tais como
dignidade, igualdade, solidariedade e inclusão econômica estão enfraquecendo frente a
esses mercados disputados com sua ordem de produtividade e competitividade.411
Nas sociedades em desenvolvimento muitos sequer tem o mínimo para
sobreviver, antes mesmo do nascer, considerada a classe social familiar originária.
Constata-se uma ausência parcial ou total de inclusão socioeconômica, enfatizando-se
a fragilização da cidadania, entendida como perda ou ausência de direitos, bem como
precarização de serviços coletivos. Diante disso, ―Trata-se, portanto, de destituição de
direitos, que em última instância pode atingir, segundo Hannah Arendt, a perda do
"direito de ter direitos"412. Nessa lógica perversa, os ―excluídos‖ e os inadimplentes no
plano econômico que são aqueles que não tem condições de contratar os serviços
básicos ou aqueles que não tem como pagar por serviços já consumidos tornam-se
―sem-direitos‖ no plano jurídico, pelo que tanto os direitos sociais quanto os direitos
humanos consagrados são enfraquecidos413.
Sem dúvida, a globalização fomenta debates sobre a cidadania. Passandose de um estado liberal para um estado social tem-se a cidadania como status do
indivíduo frente ao Estado e pela qual se exercerá os direitos políticos, culturais,
econômicos e sociais. Contudo, chegou-se a uma realidade marcada pelos tratados
410
VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2005, p.98.
FARIA, José Eduardo de. Direito e conjuntura. Sociologia jurídica São Paulo: Saraiva, 2010, p.105.
412
KOWARICK, Lucio. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano, julho 2002.
http://www.uff.br/observatoriojovem/sites/default/files/documentos/20080627_viver_em_risco_1.pdf, p.14.
413
FARIA, José Eduardo de. Direito e conjuntura. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010, p.107.
411
153
internacionais, tendo-se o indivíduo sujeito à proteção internacional, enquanto é afetado
pelas consequências da globalização, um processo com paradigmas econômicos,
culturais e sociais para além das barreiras dos Estados.
A internacionalização do sistema capitalista, iniciada há séculos mas
muito acelerada pelos avanços tecnológicos recentes, e a criação de
blocos econômicos e políticos têm causado uma redução do poder dos
Estados e uma mudança das identidades nacionais existentes.(...) A
redução do poder do Estado afeta a natureza dos antigos direitos,
sobretudo dos direitos políticos e sociais.(...) Desse modo, as mudanças
recentes têm colocado em pauta o debate sobre o problema da
cidadania, mesmo nos países em que ele parecia estar razoavelmente
resolvido.414
No cenário neoliberal sobressai a visão econômica em relação à social. Com
grande parcela de excluídos, quer em sociedades desenvolvidas ou naquelas em
desenvolvimento, está-se diante de uma realidade que suscita uma reflexão sobre os
obstáculos à concretização da cidadania. Os estados e seus governos ainda são os
únicos agentes, em muitos casos, capazes de proteger a sociedade contra esses
aspectos negativos que decorrem da nova economia global.415
Apesar de todo o exposto, para Listz atribuir-se à globalização os maiores
males do presente é o mesmo que tê-la como fenômeno unilateral e negativo, então
imposto pelo neoliberalismo e violador dos direitos humanos. Deve-se superar essa
antagonia que lhe envolve, não se indicando a sua detenção ou reversão. É preciso
perceber os propósitos subjetivos das empresas e governos que a impulsionam,
atentando-se para os aspectos mais profundos, tais como a democratização e
universalização dos direitos humanos, a solidariedade internacional dos movimentos
sociais, uma maior cooperação mundial, dentre outros416.
Assim, considerando a globalização como algo inelutável, como bem afirma
Arnaud, encontra-se suas vantagens e cada um que se dobre a essa ―concorrência
414
CARVALHO, José Murilo. A Cidadania no Brasil. O longo caminho. São Paulo: Civilização Brasileira,
2008. p.13.
415
ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e globalização: lições de filosofia do direito e do
Estado; tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.174.
416
VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2005, p.103-104.
154
selvagem e impiedosa‖ pode extrair sua fatia do bolo. Propõe-se uma análise crítica
mais engajada que impulsione as pessoas para atitudes construtivas417.
Sem dúvida, o mundo ocidental e sua forma de produção criou e materializou
artefatos que contribuíram para o conforto da vida humana. Mas também é certo que
foram criados bolsões de extrema pobreza, nos quais as pessoas (sobre)vivem sem o
necessário acesso aos bens essenciais que lhes possibilitariam romper a sua condição
de miséria. A globalização acentuou as disparidades regionais e familiares, fazendo
emergir, principalmente nos países em desenvolvimento, a necessidade de respostas a
essas questões. Também é um fato.
A expansão do capitalismo no Brasil fez com que a sociedade se
reproduzisse sobre a base da acumulação capitalista, enquanto a agricultura fundavase sobre uma ―acumulação primitiva‖.418 O processo de industrialização deu origem a
novas tensões pelas quais os trabalhadores vivenciavam a pressão da exclusão
decorrente da organização do mercado de trabalho e não mais da ausência dele.
Castel caracteriza a questão social ―como uma inquietação quanto à
capacidade de manter a coesão de uma sociedade. A ameaça de ruptura é
apresentada por grupos cuja existência abala a coesão do conjunto‖419. Os mais
vulneráveis desses vulneráveis oscilavam entre a mendicância e a vagabundagem e se
tornaram o alvo central do que correspondia às políticas sociais. O livre acesso ao
trabalho põe fim a essa problemática do vagabundo na sociedade pré-industrial420.
Os vagabundos antes da revolução industrial, os ―miseráveis‖ do século XIX
e os ―excluídos‖ de hoje. É a periferia da estrutura social inscrita na dinâmica global.421
Exclusão, segundo Castel, total ou parcial, definitiva ou provisória, é o desfecho de
procedimentos oficiais, representando um verdadeiro status. O pobre, antes visto como
―preguiçoso‖ e alvo de julgamentos pejorativos acerca da vagabundagem, mudou de
417
ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e globalização: lições de filosofia do direito e do
Estado; tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, introdução.
418
OLIVEIRA, Francisco. Crítica à Razão Dualista. S. Paulo: Boitempo, 2003, p. 55.
419
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. tradução de Iraci D.
Poleti . 8ª ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2009. p.41.
420
CASTEL, Robert. Desigualdade e a questão social. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus,
Maria Carmelita Yazbek. São Paulo: EDUC, 2000, p.33 e 34.
421
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário Castel; tradução de Iraci
D. Poleti. 8ª ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2009. p.33.
155
lugar na sociedade; o que antes era tido como uma escolha de vida considera-se como
consequência de um processo de acumulação de capital. Para Castel está-se diante da
opção de aceitar uma sociedade totalmente submetida às exigências do mercado ou
construir um Estado social capaz de enfrentar o desafio dessa nova realidade.422
Para Kowarick há várias questões sociais, sendo a principal delas, no
tocante às relações entre Estado e sociedade, a dificuldade na expansão dos direitos
de cidadania. Após uma década de lutas e reivindicações, no contexto de consolidação
de um sistema político, não há um enraizamento organizativo e reivindicatório que
consolide um conjunto de direitos básicos423.
Brugué define exclusão social como a impossibilidade ou a dificuldade de
acessar os mecanismos de desenvolvimento pessoal e inserção sócio comunitária e os
sistemas preestabelecidos de proteção. A exclusão não implica somente reprodução
ampliada das desigualdades, mas fraturas no tecido social e ruptura de certas
coordenadas básicas de integração424. Enquanto isso, Fleury define a exclusão social a
partir do conceito de cidadania pelo que é a ―não incorporação de uma parte
significativa da população à comunidade social e política, negando seus direitos de
cidadania – destituindo-a de direitos ou envolvendo a desigualdade de tratamento ante
a lei e as instituições públicas – e impedindo seu acesso à riqueza produzida‖ 425. Os
âmbitos e as circunstâncias que favorecem a exclusão social delimitam diferentes
conceitos para a cidadania e descrevem as condições sob as quais se dá a exclusão. 426
O status de cidadania no Brasil por longo período esteve bloqueado a certos
grupos, tais como negros, analfabetos e mulheres para as quais os direitos civis,
políticos e sociais, na condição de indivíduos particulares, chegaram bem mais tarde. O
país ficou marcado por uma persistente interdição à participação política e eleitoral
422
CASTEL, Robert. Desigualdade e a questão social. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus,
Maria Carmelita Yazbek. São Paulo: EDUC, 2000, p.42 e 35.
423
KOWARICK, Lucio. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano. jul2002.
http://www.uff.br/observatoriojovem/sites/default/files/documentos/20080627_viver_em_risco_1.pdfp15-16
424
BRUGUÉ, Quim; GOMÁ, Ricard; SUBIRATS, Joan. De la pobreza a la exclusión social: nuevos retos
para las políticas públicas. Revista Internacional de Sociología. Tercera Época,sept-dec, 2002, pp. 7-45.
425
FLEURY, Sônia. A expansão da cidadania. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
–EBAPE, 2004 (a), mimeo. p.3
426
QUINHÕES, Trajano Augustus; FAVA, Virgínia Maria Dalfior. Intersetorialidade e transversalidade: a
estratégia dos programas complementares do Bolsa Família Revista do Serviço Público Brasília. Jan/Mar
2010. p.67-96.
156
desses grupos e ainda, de outras etnias minoritárias e religiosas. Dispositivos
excludentes, consolidados por fundamentos doutrinários com origem em antigas ordens
envoltas em privilégios e hierarquias sociais, garantiram uma cultura política de
exclusão no Brasil, por longo período, de grandes contingentes de pessoas. Desse
modo, ―a ‗era dos direitos‘ no Brasil, como cultura e como moralidade pública, tardou e
tarda ainda. Com veemência está a solicitar ordenamentos políticos e institucionais
mais adequados à consecução de políticas de cidadania entre nós‖. 427
O cidadão, no Brasil, além de ser um personagem tardio, quando
começa a se expandir, de modo lento e tortuoso, encontra diante de si
um ambiente hostil que tem a forte presença dos ideólogos do mercado,
vaticinando sua condição de personagem fora de moda. A cidadania
social é considerada por muitos coisa do passado e, mais do que isto,
uma instituição inviável economicamente, pois onerosa. O mundo
privado e seus imperativos sistêmicos impelem a pensar e agir no
sentido da mercantilização completa da grande conquista da civilização
ocidental que são os direitos sociais.428
Da estreita ligação entre direitos sociais e satisfação das necessidades
humanas básicas estabelece-se a centralidade da atuação estatal para que todos
tenham acesso a condições básicas de vida. Entendimento que se choca com as ideias
liberais que admitem apenas os direitos civis e políticos baseados em uma liberdade
negativa, aquela liberdade que não aceita qualquer intervenção na esfera privada. O
que não está explícito é que nem todos podem ter acesso a essa liberdade e enquanto
dissociada de suportes materiais assumidos pelo Estado trata-se apenas de liberdade
formal. Por isso, para Mesquita ―o conceito de liberdade negativa deve ser substituído
pelo de liberdade positiva, de acordo com o qual a atuação do Estado é mais que
desejável; é um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.‖, afinal só faz sentido estar livre:
se essa liberdade leva a uma integração social baseada na participação
de todos os indivíduos. Entre as condições necessárias para a
satisfação das necessidades humanas básicas, encontra-se a
segurança econômica que pode ser provida por meio de rendimentos
427
REGO, Walquiria Leão. Aspectos teóricos das políticas de cidadania: uma aproximação ao Bolsa
Família. Lua Nova, São Paulo, 73. 2008. 147-185.
428
REGO, Walquiria Leão. Aspectos teóricos das políticas de cidadania: uma aproximação ao Bolsa
Família. Lua Nova, São Paulo, 73. 2008. 147-185.
157
monetários. A questão que se tem colocado atualmente é como garantir
que parcelas cada vez maiores da população tenham acesso a uma
quantia de renda, se a via do trabalho é cada vez mais restrita. 429
Diante do exposto, toma-se o Estado como crucial em sociedades em que a
cidadania não foi generalizada e que convivem com alto grau de exclusão, caso do
Brasil cuja história da implementação de políticas sociais de distribuição de renda
retrocede, pelo menos à década de 1930, com a criação dos primeiros programas e leis
voltados aos trabalhadores e aos setores mais pobres da população. A partir do
Governo de Getúlio Vargas, começou a surgir de modo mais concreto no país a ideia
de construção de um Estado de bem-estar social, um projeto ainda inacabado430.
Em 1975, na obra ―Redistribuição da Renda‖, Antônio Maria Silveira fez
críticas à ineficiência dos métodos até ali adotados no combate à pobreza. Apontava o
imposto de renda negativo como alternativa. Em 1978, Edmar Lisboa Bacha e Roberto
Mangabeira Unger, em ―Participação, Salário e Voto‖, propuseram que a reforma
agrária e uma renda mínima, através de um imposto de renda negativo, deveriam ser
elevados à categoria de instrumentos fundamentais para a democratização da
sociedade brasileira. A conclusão era de que a democracia brasileira só seria uma
realidade com a redução da desigualdade e a erradicação da miséria 431. Mas, tais
projetos não saíram do papel.
O marco inicial dos programas de transferência monetária às famílias de
baixa renda deu-se mesmo no início da década de 90, durante o Governo Fernando
Collor de Mello. O Projeto de Lei 80/1991 foi proposto pelo Senador Eduardo Suplicy
(PT/SP) e instituiu o Programa de Garantia de Renda Mínima para todas as pessoas
residentes no país maiores de 25 anos de idade432.
Com a CFR/88 e depois, com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993, novas medidas legais foram aprovadas visando
429
MESQUITA, Camile Sahb. O programa Bolsa Família: uma análise de seu impacto e alcance social.
2007. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Universidade de Brasília, Brasilia, 2007.
430
WEISSHEIMER, Marco Aurélio. Bolsa Família: Avanços, limites e possibilidades do programa que está
transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2010, p.55.
431
SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania: a saída é pela porta – São Paulo: Cortez: Editora
da Fundação Perseu Abramo, 2002, p.120.
432
SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania: a saída é pela porta – São Paulo: Cortez: Editora
da Fundação Perseu Abramo, 2002, p.339.
158
à garantia de renda sem prévia contribuição. A CFR/88 realiza clara reforma
democrática e princípios como democratização, participação e descentralização são
inseridos no arcabouço legal da assistência social. A LOAS consolida uma política que
prevê benefícios, serviços, programas e projetos de enfrentamento da pobreza.
O direito à assistência social depende de políticas públicas para a sua
eficácia,
tendo
em
vista
que
a
mesma
apresenta-se
como
um
direito
constitucionalmente previsto, mas também se consubstancia numa diretriz política a ser
viabilizada pelos poderes públicos. Dessa forma, a política de assistência social é vista
sob o aspectos formal e material. Formalmente, prevista como um direito exige o
reconhecimento da cidadania, permitindo que o seu destinatário seja visto como um
cidadão e não como um cliente; sob o aspecto material revela-se a necessária
materialidade para que seja efetivada. Faz-se mister a atuação estatal positiva.
As
primeiras
experiências
com
políticas
públicas
com
caráter
de
redistribuição de renda remonta-se ao ano de 1995. Realizaram-se nos âmbitos
municipais e estaduais, conforme demonstra a história dos municípios de Campinas e
Ribeirão Preto e, ainda, o caso de Brasília. Destacam-se as contrapartidas obrigatórias
exigidas pelos programas implementados por essas políticas, dentre elas a frequência
escolar, o cumprimento de agenda de saúde ou a participação em cursos de
treinamento profissional, a seleção por renda familiar per capita inferior a um limite
definido localmente, a existência de filhos em idade escolar ou pré-escolar e a
comprovação de tempo mínimo de residência no local433.
O Programa Bolsa Escola foi implementado em 1995, em Brasilia, pelo então
Governador do Distrito Federal Cristovam Buarque e configurou-se na primeira
experiência brasileira em matéria de programa de renda mínima que tinha na família a
unidade beneficiária ―e articulava-se essa transferência monetária a uma política de
educação. Em outras palavras, estava-se diante de uma associação de política
compensatória com uma política estruturante, a saber, a educação‖434.
433
LAVINAS, Lena. Combinando compensatório e redistributivo: o desafio das políticas sociais no Brasil‖.
Texto para discussão n.748. Rio de Janeiro: IPEA, 2000, p.16.
434
ABREU, Lidiane Rocha. Direitos Sociais no Brasil: Programa Bolsa Família e Transferência de Renda,
2011. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico)–Universidade Presbiteriana Mackenzie.
159
A partir disso, diversos estados e municípios brasileiros implementaram o
Bolsa Escola, entre os anos de 1995 e 1999. Em cada lugar o programa foi adquirindo
suas próprias características, enquanto acentuava suas diferenças com relação ao
programa original, o que inclui a adoção de nomes específicos. Mas, em todos os
lugares o programa guardava o eixo central do Bolsa-Escola: o acesso à educação
fundamental, como estratégia do plano maior de combate à evasão escolar e à
exclusão social. A essa altura, o Bolsa Escola já estava difundido no país, ainda que
não estivesse consolidado nacionalmente.435
Em março de 2001, por meio da lei n. 10.219, de 11 de abril, com a gerência
do MEC, o Bolsa Escola foi implementado como política nacional com o objetivo de criar
oportunidades para as camadas mais pobres da população saírem do círculo vicioso de
pobreza, rompendo-o em definitivo. O alvo do programa eram as crianças de famílias
pobres que tendo abandonado as salas de aula perpetuariam a mesma escolaridade
(baixa) dos seus pais e, por isso, o futuro lhes reservaria, no máximo, as mesmas
condições de mercado disponíveis as suas famílias. O Programa propunha-se a
repassar um recurso mensal para essas famílias, desde que os seus filhos, em idade
escolar, estivessem frequentando ao menos 90% dos dias letivos. Destaca-se que, a
partir desse programa, a questão do combate à exclusão tomou outro rumo, sobretudo,
ao pensar-se que rompia com a histórica tradição do paternalismo e do populismo
característicos das políticas públicas no Brasil436.
Em fase posterior, no governo FHC (1995 – 2002), os programas de renda
mínima no Brasil estruturavam-se em doze programas: Bolsa Alimentação, Erradicação
do Trabalho Infantil - PETI, Bolsa Escola, Auxílio Gás, Brasil Jovem, Abono Salarial,
Bolsa Qualificação, Seguro Desemprego, Seguro Garantia Safra, Aposentadorias e
pensões Rurais, Benefício de Prestação Continuada e Renda Mínima Vitalícia. A partir
de 2003, no Governo Lula, foram incorporados aos doze mencionados o Programa de
Fortalecimento da Agricultura Família (PRONAF), a merenda escolar e o Fome Zero.
435
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar a pobreza.
Brasília UNESCO, 2002. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf
p.35. Acesso em 25 de maio de 2015.
436
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar a pobreza.
Brasília UNESCO, 2002. Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf
p.35 e 37. Acesso em 25 de maio de 2015.
160
Nesse contexto, os programas de transferência de renda são alternativas de
para amenizar situações de grupos ou indivíduos da sociedade, que se encontram em
condições de extrema necessidade, seja por motivos de ausência absoluta de
empregos ou de pessoas capacitadas, realidade do Bolsa Família, seja para inibir o
trabalho infantil, viabilizando o ensino formal de crianças em idade escolar, caso do
PETI ou assegurando a sobrevivência de agricultores cujas terras são atingidas
frequentemente por calamidades da natureza, como o Garantia Safra, ou ainda
repassando renda que garanta a sobrevivência de idosos e pessoas portadoras de
deficiências, que é caso do Benefício de Prestação Continuada - BPC.
O PETI articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes
com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. O programa compreende transferência de
renda – prioritariamente por meio do PBF – acompanhamento familiar e oferta de
serviços socioassistenciais, atuando de forma articulada com estados e municípios e
com a participação da sociedade civil.437 O valor da transferência de renda previsto pelo
PETI varia de acordo com a renda familiar, a localidade em que mora a família (zona
urbana ou rural) e o número de crianças/adolescentes que compõe o arranjo familiar.438
O Garantia Safra é uma ação do Pronaf para agricultores familiares que se
encontram em municípios sistematicamente sujeitos a perdas de safra devido à seca ou
ao excesso de chuvas. Na safra 2013/2014, o valor anual do Benefício Garantia-Safra
foi de R$ 850,00. O pagamento do Benefício está vinculado ao cumprimento de
requisitos, como o pagamento por parte do agricultor do boleto bancário de adesão ao
programa e a constatação de perda pela SAF/MDA de, pelo menos, 50% da produção
de culturas cobertas por ele no município devido à seca ou excesso de chuvas. Para
participar do Garantia-Safra, é necessário que, anualmente, estados, municípios e
agricultores façam adesão ao programa.439
O Benefício de Prestação continuada da Assistência Social - BPC foi
instituído pela CFR/88 e regulamentado pela LOAS e pelos Decretos nº 6.214, de 26 de
setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 de setembro de 2008. O BPC é um benefício da
437
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti Acesso em 25 de maio de 2015.
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti/valor-do-beneficio Acesso 25/05/15.
439
Disponível:http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa Acesso 25/05/15.
438
161
Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do SUAS
e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um
benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal
de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa
com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial. Em ambos os casos, devem comprovar não
possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A gestão
é realizada pelo MDS, por intermédio da SNAS. A operacionalização é realizada pelo
INSS e os recursos para o seu custeio provêm da Seguridade Social.440
Em outubro de 2003, os procedimentos de execução e gestão dos
programas de transferência de renda existentes foram unificados pelo governo federal
por meio do Bolsa Família. Os destinatários dos programas deixaram de ser os
indivíduos passando a ser a família. O público-alvo do PBF difere dos contribuintes da
previdência social e dos alcançados pelos BPC. No PBF garante-se uma renda mínima
as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, sobretudo às famílias com
adultos em idade economicamente ativa e que participem do mercado de trabalho.
De 2004 em diante, os maiores programas de transferência de renda
brasileiros o BPC e o PBF tiveram forte expansão. O BPC passou de dois milhões de
beneficiários para 2,9 milhões em 2008; em 2009, o número de beneficiários chegou a
3,4 milhões de idosos e pessoas com deficiência 441; em 2012, 3,6 milhões beneficiários
em todo o Brasil, sendo 1,9 milhões pessoas com deficiência e 1,7 idosos442. No caso
do PBF foram abordados alguns aspectos da sua primeira década no Capítulo 1.
Os programas de transferência de renda mínima são os programas mais
polêmicos e mais conhecidos, talvez pelo apelo político, complexidade e por exercer
influência em toda a cadeia econômica das regiões alcançadas. O surgimento de
benefícios monetários não ancorados na contribuição social ou na comprovação do
exercício do trabalho legítimo faz emergir tensões expressivas no campo da proteção
440
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc/beneficio-deprestacao-continuada-bpc Acesso em 25 de maio de 2015.
441
Disponível em: <http://www.nospodemos.org.br/upload/tiny_mce/quarto_relatorio_acompanhamento.
pdf. >. 4° Relatório Nacional de Acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento do milênio, p. 32.
442
MDS.Disponívelhttp://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc/beneficiodeprestac
aocontinuadabc Acesso 25 maio 2015.
162
social. Esses problemas são efetivos quando se trata da parte do sistema de proteção
social que atende à população em idade ativa e em condições de trabalho. Crises
econômicas associadas à redução da oferta de trabalho formal e à queda da renda
média do trabalho ampliam o público alvo das políticas de transferência de renda.
Sugere-se que as ações de transferência de renda concorram para a
redução da diferença de acesso a determinado patamar de bem estar, criando a
possibilidade de uma vida em sociedade menos desigual, com o princípio da
distribuição de riqueza, combatendo-se à pobreza. Não se pode olvidar da importância
da garantia de renda, sem, contudo deixar de considerar também o papel do trabalho,
do emprego formal, sobretudo, considerando-se o fato de ser ele o promotor principal
da divisão de renda e de inclusão social. Segundo Castel, o trabalho continua sendo
uma referência, além de econômica, psicológica, cultural e simbolicamente dominante.
É o que provam as reações daqueles que não o têm443.
No tocante aos programas de transferência de renda, certo é que a simples
transferência de renda à população mais carente não garante, por si só, o
desenvolvimento da região e a independência dos seus beneficiários. Para tanto, é
necessário que ela seja praticada simultaneamente com outros programas nas áreas de
saúde, saneamento básico, educação, e outras ligadas diretamente às condições de
vida da população, ao desenvolvimento autossustentado e à independência financeira.
As políticas de renda mínima são marcadas pelo foco nos mais excluídos. A
focalização permitiria a identificação/localização dos indivíduos que, sozinhos (pela via
do mercado) não obtêm as condições mínimas para sobreviverem. Os PGRMs embora
não sejam uma solução bastante em si, traduzem um bom começo na busca de
mudança para a vida dos mais pobres, afinal buscam atender, dentre algumas
dimensões da pobreza, à insuficiência de renda e ao déficit de acessibilidade aos bens
e aos serviços públicos.
443
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário Castel; tradução de Iraci
D. Poleti. 8ª ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2009. p.578.
163
Eis a teoria de que os PGRMs maximizam o impacto redistributivo da política
social, visto no seu conjunto. Atuam na vida das camadas mais pobres e desassistidas
da população de forma integrativa e integradora444.
Contudo, não se pode combater a exclusão social por meio de iniciativas que
transformem as pessoas em beneficiários passivos e permanentes de programas
meramente assistenciais. É fundamental fortalecer pessoas e comunidades para que
sejam capazes de satisfazerem suas necessidades. Não há que se tornar uma
população pedinte de uma esmola oficial. O objetivo das políticas públicas não pode ser
resumido em dar dinheiro. Faz-se mister promover a dignidade e a cidadania.
Destacam-se três características que por anos marcaram as políticas sociais
brasileiras: centralizadas no governo federal, orientadas por práticas clientelistas e
contributivas. Alguns autores entendem que, na área de políticas de transferência de
renda condicionada, ainda se mantiveram, na década de 1990, problemas como
sobreposição e concorrência entre programas; ausência de coordenação e de
planejamento gerencial; dispersão de comando entre ministérios; e incapacidade de
alcance do público alvo conforme os critérios de elegibilidade. 445 Critica-se também o
fato de que os municípios teriam uma série de responsabilidades nesses programas
sociais sem a correspondente ajuda financeira do governo federal.446
É possível relacionar a falta de coordenação das políticas sociais, incluindo
as de assistência social, à heterogeneidade financeira e política dos municípios
brasileiros. Disso pode ter resultado um processo de descentralização permeado por
desigualdades no ritmo de formulação e decisão de distintas políticas, desigualdades
entre os resultados de implementação e diferenças na qualidade dos serviços
prestados.447 Ao que parece os programas de transferência de renda na década de
1990, resguardados as suas conquistas no combate à pobreza, eram operados de
444
LAVINAS, Lena. Programas de Garantia de Renda Mínima: Perspectivas Brasileiras. Texto para
Discussão n. 596. IPEA, 1998. p.39.
445
SILVA, Maria O. S. O Bolsa Família: problematizando questões centrais na política de transferência de
renda no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 6, p. 1429-1439, dez. 2007.p.34.
446
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011.Doutorado.Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.p.80.
447
ARRETCHE, Marta. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas. In:
Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 31, jun. 1996.p.16.
164
forma dispersa por diferentes ministérios, caracterizando-se sobreposição de custos
operacionais e de público alvo e uma espécie de competição intergovernamental.
Para Sátyro e Soares ―a situação dos programas de transferência de renda
condicionada em 2003 era simples: o caos‖, pelo que eram ―um emaranhado de
iniciativas isoladas‖, sem qualquer pretensão universal. Não havia coordenação entre
os diferentes programas federais, de tal modo que famílias na mesma situação
poderiam receber tanto os quatro benefícios (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxilio
Gás e Cartão Alimentação) quanto nenhum deles. Programas municipais e estaduais se
sobrepunham aos federais, não formando de fato um sistema de proteção social.448
Enquanto a emergência de um novo modelo de política social ocorreu a partir
de 1988 ou de 1995, dependendo da perspectiva a ser adotada, talvez seja possível
afirmar que, no caso das políticas de transferência de renda, a grande transformação
ocorreu mesmo com a criação do PBF.
A implementação das políticas sociais de transferência de renda trouxe
consigo um intenso debate entre focalização e universalização, comparando eficiências
e tentando criar metodologias que justificassem a escolha por um ou outro modelo.449
Os defensores da focalização argumentavam as vantagens de conseguir
direcionar recursos de forma eficiente a grupos específicos que, por razões de natureza
diversa, se viram excluídos do acesso á bens e serviços. No sistema focalizado, dentre
as opções de escolha pela formulação de uma agenda e política social capaz de
resgatar e inserir os cidadãos aos sistemas de proteção, um dos modelos defendia que
a política poderia ser determinada de acordo com a concepção de justiça social
adotada pelo Estado, podendo ser classificada em residual – proteção apenas à
pobreza imerecida; condicional – que agindo como uma tecnologia social visa a
alocação eficiente do gasto público na solução de problemas específicos; e a ação
reparatória cujo intuito é reparar o acesso efetivo de grupos à direitos universais,
resultados de injustiças do passado450.
448
SÁTYRO, Natália. SOARES, Sergei. O Programa Bolsa Família: desenho institucional e possibilidades
futuras. In: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia (orgs.). Bolsa Família2003-2010: avanços e
desafios. Vol. 1. Brasília: IPEA, 2010. p.10.
449
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização?, Universidade
Federal Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11.
450
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização?, Universidade
165
Os defensores da universalização defendiam a economia de recursos
necessários à avaliação, monitoramento e correções do sistema focalizado, a
eliminação do estigma social resultante daquelas caracterizadas como ―políticas para
pobres‖ e, ainda, a desmercantilização e igualdade resultante de um acesso maciço e
irrestrito a bens e serviços garantidos pelo Estado.451
Enquanto o debate voltava-se a essa aparente contraposição e disputa entre
os modelos, as estratégias utilizadas por outros países que atingiram sucesso na
estruturação de um Estado de Bem Estar Social (BES) mostravam-se mais complexas.
(...) as estratégias exitosas, em termos de redução de desigualdade e
pobreza e sustentabilidade financeira, envolveram a combinação e
coordenação de um conjunto de políticas: políticas de ativação incluindo
políticas ativas de mercado de trabalho, provisão de creches e serviços
de cuidado em geral, emprego público no setor de BES; intitulamentos
sociais – envolvendo serviços sociais universais (não apenas para os
pobres) e ênfase em transferências universais. As primeiras facilitam a
expansão da base fiscal, no médio e no longo prazo (ao permitir maior e
melhor participação no mercado de trabalho); as últimas facilitam a
redistribuição (possibilitam o envolvimento da classe média no
financiamento dos serviços para todos).452
Diante disso, parece que o confronto entre os defensores da universalização
e os da focalização que ainda marca o debate acadêmico pode esconder o fato de que
existem possibilidades de combinação entre os dois tipos de política, desde que esteja
clara a concepção de justiça que deve servir de parâmetro para a atuação do Estado.453
Assim, as políticas públicas focalizadas e universalistas podem ―ser combinadas com o
intuito de melhorar o desempenho da atuação do Estado na esfera social.‖ 454
Federal Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11.
451
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização?, Universidade
Federal Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11.
452
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio de Janeiro:
Campus, 2012.
453
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização?, Universidade
Federal Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p.1-11.
454
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.53.
166
2.3. Capacidades políticas e institucionais do Bolsa Família
Considerando-se um arranjo político-institucional como o ―conjunto de regras,
organizações e processos que definem a forma particular como se coordenam atores e
interesses na implementação de uma política pública específica‖, considera-se que o
arranjo institucional do PBF ―tem sido forjado no bojo de um sistema universal mais
amplo e integrado, o que origina desafios não triviais de orquestração, coordenação e
articulação‖.455
Na perspectiva das capacidades técnico-administrativas o PBF inovou e vem
tendo êxito em características como estabelecer condicionalidades para induzir
comportamentos, considerar a participação e o controle sociais como pilares, valer-se
de um cadastro nacional de cidadãos vulneráveis e buscar uma gestão descentralizada
e intersetorial, através do IGD.
O PBF estabelece relações intergovernamentais no seu funcionamento, em
especial nas áreas da saúde e da educação, com participação social e por isso, com
uma trajetória que vem buscando romper um histórico de práticas clientelistas,
filantropia e caridade que marcou o campo da assistência social no Brasil. Para Diogo
Coutinho, o isolamento inicial para firmar-se diante das criticas sobre ser mais uma
prática eleitoreira que reforçaria a cultura do preguiçoso deu lugar a um contexto de
direitos sobre os quais a descentralização, a coordenação intersetorial, a participação e
o controle social são tidos como vetores constitutivos.
Comparando-o ao padrão anterior de política social, pode-se dizer que o
PBF adotou novos arranjos, instrumentos e métodos de gestão e que
vem contribuindo com uma parcela importante dos ―ganhos de
equidade‖ experimentados na última década. Diante disso, a despeito da
desigualdade, da pobreza e da miséria ainda saltarem aos olhos no
Brasil, não se pode dizer que não tenha havido certos ganhos
qualitativos em termos de capacidades estatais para forjar políticaschave para o desenvolvimento.456
455
COUTINHO, Diogo R. Capacidades Estatais no Programa Bolsa Família: o desafio de consolidação do
Sistema Único da Assistência Social.
Disponível: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19366. Acesso
em 28 de agosto de 2013.
456
COUTINHO, Diogo R. Capacidades Estatais no Programa Bolsa Família: o desafio de consolidação do
Sistema Único da Assistência Social. Texto para Discussão (IPEA. Brasília), v. 1, p. 1-50, 2013.
167
O CadÚnico possibilita a focalização para alcance dos mais pobres. As
condicionalidades, concebidas para estimular comportamentos, se estruturadas e
coordenadas com outras políticas sociais marcam o Estado de Bem Estar Social
Brasileiro. O descumprimento das condicionalidades pelo beneficiário por si só não
suspende o benefício, ao contrário, serve como alerta para as dificuldades do
beneficiário, exigindo maior atuação da gestão pública. O IGD é um índice numérico
que varia de 0 a 1e avalia qualidade e atualização das informações do Cadastro único e
assiduidade e integridade das informações sobre o cumprimento das condicionalidades
e, a partir dos resultados identificados, oferece apoio financeiro para que os municípios
melhorem sua gestão. 457
No contexto da participação e controle sociais, a gestão federal do PBF ao
estabelecer que os municípios brasileiros devem criar Instâncias de Controle Social ICS, órgãos que realizam o controle social do programa, procurou induzir os municípios
a fomentarem a participação, avaliação e fiscalização. O MDS considera esse controle
social como ―uma parceria entre Estado e sociedade que possibilita compartilhar
responsabilidades e proporciona transparência às ações do poder público, buscando
garantir o acesso das famílias mais pobres à política de transferência de renda‖.458
É
possível
conclusões
sobre
capacidades
técnicas
precedentes
à
capacidades políticas, na primeira década de implementação do PBF. A centralização
deu o tom ao buscar-se agilidade e consistência, soluções negociadas entre gestores
públicos em âmbitos intraburocráticos.
Reconhece-se os ganhos do PBF em termos técnico-administrativos, mas na
esfera político-institucional ainda precisa firmar os seus méritos, enfrentando-se o
desafio de formular, implementar e coordenar políticas em interação com a sociedade
civil.
Diversos fatores indicam ter influenciado a adoção inicial de um modelo
de gestão centralizado pelo PBF. A CF de 1988 colocou o
enfrentamento da pobreza como um dos objetivos da República, de
competência comum a todos os entes federativos, prevendo recursos
financeiros específicos, sem contudo precisar como se daria a
457
MDS. Informações disponíveis em http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico.
MDS. Informações disponíveis em http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/controlesocial.
458
168
cooperação entre os níveis de governo para tanto. Além disso, o
desenvolvimento das políticas de enfrentamento da pobreza anteriores
ao PBF e, de forma mais específica, os programas de transferência de
renda por ele unificados, tradicionalmente caracterizaram-se pela
centralização e fragmentação. Outro fator consiste na constatação da
frágil capacidade financeira, em geral, e baixa capacidade institucional
da área de assistência social nos governos municipais, a quem foi
atribuída a tarefa de gestão do Programa.459
O período de 2003 a 2004 marca o início do programa, com incrementos de
cobertura baseados na migração das famílias já beneficiárias, nas primeiras
concessões de benefícios para famílias que ainda não recebiam transferência de renda,
e na construção do CadÚnico.
O período de 2005 a 2006 foi marcado pela institucionalização do papel dos
entes federados na gestão do programa, com assinatura de termos de adesão por
todos os municípios brasileiros e a criação do IGD; pela edição de um conjunto de
normas sobre concessão, pagamento e acompanhamento de condicionalidades; e
expansão do número de famílias atendidas pelo programa.460
No biênio seguinte, foram feitas mudanças no desenho do programa, como
por exemplo, a criação do Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ). Também
iniciaram-se os procedimentos periódicos de averiguação de inconsistências cadastrais
com base em cruzamentos do CadÚnico com outros registros administrativos do
governo federal. De 2009 a 2010, um dos avanços institucionais foi a aprovação do
Protocolo de Gestão Integrada de Benefícios e Serviços nos âmbito do SUAS pela
Comissão Intergestores Tripartite da Assistência Social.461
Em 2011, foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria, com o objetivo de elevar a
renda e as condições de bem-estar da população, especificamente os brasileiros cuja
459
LICIO, Elaine Cristina. Para além da recentralização: os caminhos da coordenação federativa do
Programa Bolsa Família (2003-2010). Doutorado em Política Social.Universidade de Brasília 2012. p.327.
460
PAIVA, Luís Henrique ; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do bolsa família ao Brasil sem miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes(orgs). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania.
Brasília: Ipea, 2013,p.28-39.
461
PAIVA, Luís Henrique ; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do bolsa família ao Brasil sem miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes(orgs). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania.
Brasília: Ipea, 2013,p.28-39.
169
renda familiar é de até 70 reais por pessoa, trazendo novos desafios para o PBF. Em
2012, houve a inserção do Benefício de Superação da Extrema Pobreza.462
Considera-se que o PBF, na busca de minorar a privação de renda de
famílias pobres no curto prazo, bem como quebrar o ciclo intergeracional de
transmissão da pobreza, estrutura-se em quatro pontos organizacionais: público alvo
(foco); condicionalidades; descentralização administrativa; e controle social. No tocante
ao público alvo, para Draibe o foco na família foi a forma encontrada pelos formuladores
das politicas de transferência condicionada de renda para atingir seu principal públicoalvo, crianças e adolescentes, e incluí-los em outras políticas, sobretudo de educação,
tornando pais e responsáveis intermediários neste processo.463 As condicionalidades
foram abordadas em tópico específico no capítulo 1.
Quanto à descentralização administrativa e intersetorialidade, diante da
constatação de que um dos fatores de baixa efetividade das anteriores políticas de
transferência de renda concentrava-se na gestão, o PBF apresenta como principais
núcleos ordenadores do sistema a descentralização e a intersetorialidade, a partir da
ação coordenada dos três níveis de governo e de diversos setores governamentais e
não governamentais. Busca-se evitar a competição entre os entes federados, mediante
um política de cooperação, que conforme o art. 9˚ da Lei10.836/2004, tem em âmbito
local, sua administração derradeira.
Destaca-se que o discurso justificador do governo federal para a unificação
dos programas sócias no PBF foi evitar a fragmentação dessas ações e construir uma
política de transferência de renda com participação direta e com divisão de
responsabilidades entre União, Estados e Municípios. Os princípios que regeriam o
programa: a descentralização político-administrativa, o controle democrático e a
intersetorialidade, através do compartilhamento de responsabilidades.
A respeito dos benefícios da descentralização provocou um aumento da
autonomia da instâncias subnacionais de governo, favoreceu a ampliação dos espaços
462
PAIVA, Luís Henrique ; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do bolsa família ao Brasil sem miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes(orgs). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania.
Brasília: Ipea, 2013,p.28-39.
463
DRAIBE, Sônia Maria. Bolsa-Escola y Bolsa-Familia. Cadernos de Pesquisa NEPP/ UNICAMP,
Campinas,n°76, 2006.
170
de participação e a emergência de experiências inovadoras em relação aos programas
sociais, além de possibilitar a constatação de que as desigualdades existentes no Brasil
se refletem também em profundas diferenças nas condições financeiras, políticas e
administrativas de Estados e municípios, afetando sua capacidade de resposta às
necessidades da população e aos novos papéis que lhes são atribuídos.
Em busca da concretização da gestão compartilhada do PBF, envolvendo os
três níveis governamentais, foram utilizadas como estratégias a assinatura de termos
de cooperação entre o MDS, Estados e municípios para a implantação do Programa e a
possibilidade de complementação, por parte dos entes subnacionais, dos recursos
financeiros transferidos às famílias beneficiárias; além de instituição do IGD.
O IGD varia de 0 a 1 e é composto pelas variáveis relativas às informações
sobre frequência escolar, acompanhamento dos beneficiários nos postos de saúde,
cadastramento correto e atualização cadastral. Cada uma das quatro variáveis
representa 25% do IGD. Este índice pretende estabelecer um ranking das experiências
de implementação do PBF no nível local, premiando aquelas bem sucedidas e
incentivando a gestão de qualidade através do repasse de recursos financeiros extras
para as prefeituras que alcançarem desempenho acima de 0,4 do índice.
Por sua vez, a intersetorialidade no PBF representa certa preocupação em
dar um passo adiante no enfrentamento da fragmentação da intervenção do Estado na
área social, mediante a construção de uma visão integrada dos problemas, para
superação de sobreposição de ações setoriais. Para Inojosa, a potencialidade de uma
ação intersetorial está na efetividade de ações coordenadas e na sinergia entre
diferentes setores 464.
Dessa forma, o art. 8˚ da Lei n.10836/04, ao fazer expressamente previsão
de um gestão intersetorial, buscou promover a relação entre atores de diferentes
setores por meio da comunicação, da interação e do compartilhamento de saberes e
poder em torno de metas ou de objetivos comuns, compatibilizando uma relação de
respeito à autonomia de cada setor, mas também de interdependência.
464
INOJOSA, Rose Marie. Intersetorialidade e a configuração de um novo paradigma organizacional.
Revista de Administração Publica, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, p. 35-48, mar./abr de 1998, p.38.
171
Sobre o Controle social e participação comunitária, o art. 8˚ da Lei n.
10.836/2004 faz previsão expressa da participação comunitária e da necessidade de
controle social na execução e gestão do Programa, em consonância com os preceitos
constitucionais de democratização dos recursos públicos.
Por sua vez, a definição das instâncias responsáveis pelo acompanhamento
do PBF foi prevista no Decreto n. 5.209/2004 e na Portaria 660/2004; sendo
posteriormente detalhado o controle social mediante a Portaria GM/MDS n.246/2005
que exige do município ter ICS legalmente constituída como condição necessária para
receber os incentivos financeiros previstos, inclusive os relativos à atualização do
CadÚnico e ao IGD .
Por meio da Instrução Normativa MDS n. 1/2005 foram detalhados os
procedimentos para a constituição das ICS no nível municipal, a partir da discriminação
das funções do poder público, da composição da sociedade civil no conselho, dos
critérios para a eleição de seus membros, além das atribuições destas instâncias.
Apesar da institucionalização do controle social apresentar um desafio não só para
PBF, mas para as políticas públicas de forma geral, haja vista a fragilidade de
mobilização social e a pouca tradição democrática do poder público, acredita-se que o
aparato legal busca oferecer maior transparência ao processo e responsabilização dos
diferentes atores envolvidos, aproximando os cidadãos do espaço público.
Conforme Coutinho, o programa não é capaz de, por si só, promover um
novo ciclo de desenvolvimento econômico ou mesmo ser a única das políticas sociais
brasileiras.465 Reconhece, contudo, a contribuição para uma significativa redução da
desigualdade e da pobreza, principalmente por sua inovação em relação ao padrão de
política social no Brasil e, diante, da existência de um importante arcabouço jurídico que
possibilita organicidade à combinação de uma política universal e focalizada.
Assim, parece que o PBF vem destacando-se dos demais programas de
transferência de renda da América Latina em virtude de apresentar elementos
distintivos, tais como sua larga escala, seu mecanismo de gestão descentralizado, a
utilização de mecanismos de estímulo ao desempenho administrativo dos municípios
465
COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa Bolsa
Família. In: SCHAPIRO, Mário G.; TRUBEK, David M. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um diálogo
entre os Brics. São Paulo: Saraiva, 2012, p.117.
172
que dele participam, seu papel de política social integradora e o fato de poder ser
descrito como um laboratório natural de inovação.466
No que atine aos efeitos do PBF, Campello pontua que em virtude de seu
desenho adequado e à sua contínua expansão e aprimoramento, provocou redução da
pobreza e da desigualdade, promoveu a inclusão nas políticas públicas de educação e
saúde, reduziu a insegurança alimentar, e fortaleceu a trajetória escolar e a saúde de
crianças e adolescentes, aumentando o compromisso destas políticas com as parcelas
mais pobres da população brasileira.467
No que concerne às limitações apontadas ao Programa, destaca-se, a
discricionariedade do Executivo na definição da condição para ingresso e no número de
beneficiários, o baixo valor auferido, o regramento das condicionalidades e déficit de
informação e participação dos beneficiários.
O arcabouço normativo do PBF atribui ao Poder Executivo a definição do que
é ser extremamente pobre ou pobre, o número de pessoas atendidas e o valor a ser
pago. Essa ampla discricionariedade permitida pela normatização do programa gera a
debilidade de ficar refém da concepção politica do governo eleito, o que contribuiria
para o reforço de uma lógica clientelista. Outrossim, a definição arbitrária de um valor
per capta muito baixo tende a impossibilitar a inclusão de famílias que, apesar de
situadas em uma faixa de renda acima do valor definido, encontram-se também em
situação de pobreza.468
O valor do benefício auferido, em que pese repercutir de forma significativa
na formação subjetiva de seus beneficiários, ainda é pouco representativo para a
preservação da dignidade nas relações sociais. Não é suficiente amenizar a pobreza, é
essencial que a violação a direitos fundamentais seja eliminada.
466
COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa Bolsa
Família. In: SCHAPIRO, Mário G.; TRUBEK, David M. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um diálogo
entre os Brics. São Paulo: Saraiva, 2012, p.77.
467
CAMPELLO, Tereza. Uma década derrubando mitos e superando expectativas. In: CAMPELLO,
Tereza; NERI, Marcelo Côrtes(orgs).Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania.
Brasília: Ipea, 2013,p.19.
468
SENNA, Mônica de Castro Maia; MONNERAT, Gisele Lavinas; Schottz, Vanessa; MAGALHÃES,
Rosana; BURLANDY, Luciene. Programa bolsa família: nova institucionalidade no campo da política
social brasileira? Revista Katálysis. Santa Catarina.v.10, n. 1, pp.86-94, 2007, p. 93.
173
Zimmermann entende que a condição da pessoa deveria ser o único critério
para o ingresso no programa. ―(...) o Bolsa Família não é concedido com base na
concepção de garantir o benefício a todos que dele necessitem. Adota, ao contrário,
seletividade por vezes excludentes‖, o que viola a lógica dos direitos469.
Em torno da questão que surge quando se atenta para o contraditório e
oposto à lógica dos direitos no PBF é que identifica as famílias necessitadas, mas não
as inclui automaticamente, sendo a preferência das famílias em situação de extrema
pobreza. Argumenta-se quanto ao ingresso no programa que deveria realizar-se com
base, exclusivamente, nos critérios de admissibilidade, como no caso do BPC.470
Assim, para o autor, o poder executivo pode contrariar os objetivos do
programa ao estabelecer valores mínimos. O ponto mais frágil do PBF dar-se-ia na
limitação das famílias para ingresso nele - mesmo atendendo aos critérios de
elegibilidade nem todas ingressarão, apesar da flexibilidade legal em relação à
definição do benefício e dos destinatários. As normas contribuem para uma flexibilidade
orçamentária: a prioridade torna-se o orçamento e não as metas.
Outro ponto a se considerar é o questionamento da capacidade dos
municípios no acompanhamento das condicionalidades, manifestando a fragilidade da
institucionalidade pública do PBF nesse ponto.
Ademais,
apesar
da
recomendação
da
adoção
de
programas
complementares, tais como aqueles voltados à geração de emprego e renda, cursos
profissionalizantes, microcrédito, entre outros, estas ações não integram o conjunto de
condicionalidades imposto ao PBF, fato que levanta questões sobre o alcance das
contrapartidas como estratégia de inclusão social, tal como enunciado em documentos
oficiais do programa.471
Outra limitação atine ao grande desconhecimento por parte das famílias
beneficiadas com relação às regras do PBF, o que acaba gerando uma relação de
469
ZIMMERMANN, C. R. Os Programas Sociais sob a ótica de Direitos Humanos: O caso do Bolsa
Família do Governo Lula no Brasil. Revista Internacional de Direitos Humanos. nº 4, Ano 3, 2006, p.152.
470
ZIMMERMANN, C. R. Os Programas Sociais sob a ótica de Direitos Humanos: O caso do Bolsa
Família do Governo Lula no Brasil. Revista Internacional de Direitos Humanos. nº 4, Ano 3, 2006, p. 153.
471
MONNERAT, Giselle Lavina; SENNA, Mônica de Castro Maia; SCHOTTZ, Vanessa; MAGALHÃES,
Rosana; BURLABDY, Luciene. Do direito incondicional à condicionalidade do direito: as contrapartidas do
Programa Bolsa Família. Revista Ciência e Saúde coletiva. Rio de Janeiro, v. 12, n.6, pp.1453-1462,
2007,p.1462.
174
desconfiança e incompreensão por parte dos beneficiados, gestores e membros de
ICS. Esse problema gera e, ao mesmo tempo, é agravado pela pouca participação dos
beneficiários na implementação e operacionalização do programa, não reconhecendo
as ICS como um locus de participação.472
Nesse sentido, a conscientização do PBF como uma política pública de
afirmação de direitos, perpassa entre outros obstáculos por uma implementação
dialógica, pautada por uma publicidade efetiva.
Quanto à estrutura disponibilizada pelo poder público para execução do PBF,
é possível identificar limitações, iniciando-se pela falta de adequação dos CRAS em
relação ao local de atendimento aos usuários. Em pesquisa de campo, foi também
citada a falta dos recursos materiais como computadores, acesso a rede de internet e
de telefone em alguns locais de atendimento, o que impede o cadastramento das
famílias e prejudica o acompanhamento daquelas já cadastradas, além de dificultar os
encaminhamentos e articulações com outras políticas e com a rede socioassistencial. O
acompanhamento às famílias é feito por estagiários que não são os mesmos que
atendem e acompanham as famílias, ocorrendo uma troca de informações de acordo
com o interesse do cadastrador e do profissional da ponta, sem nenhum controle ou
regularidade para que isso ocorra. Não é feita nenhuma avaliação da situação
qualitativa da família onde se identifiquem avanços ou retrocessos que venham a
contribuir para a verificação da efetividade do benefício.473
A falta desse olhar prejudica as famílias no momento do recadastramento e
na manutenção ou cancelamento do PBF, pois não reflete os processos pelos quais as
famílias estão passando, suas forças e fraquezas, o que precisa ou não ser
potencializado para chegarem ao patamar de autonomia e poderem ser desligadas com
resultados mais efetivos. Para a melhoria do PBF as profissionais sugerem cursos de
geração de renda; a participação dos usuários para pensar o programa e suas
melhorias, com um valor regionalizado de acordo com o custo de vida de cada local;
472
MARTINS, Juliane. Análise crítica da estrutura normativa do Programa Bolsa Família. Disponível em:
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/analise-critica-da-estrutura-normativa-do-programabolsa-familia/36563/. Acesso em: 04 jul. 2014.
473
CAVALCANTI, Pedro Luiz. Programa Bolsa Família: Descentralização, Centralização ou Gestão em
redes? II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 19: Implementação de processo de
monitoramento e avaliação dos programas de transferências de renda.
175
maior clareza e um trabalho efetivo e de qualidade para a autonomia dos usuários;
gestão clara do programa; avaliação e monitoramento permanentes; qualificação do
serviço público; garantia do programa como direito e implantação dos CRAs. 474
Por sua vez, como sugestão de melhora para o PBF, as famílias apontam a
necessidade da continuidade do programa, o aumento do valor recebido, o
desenvolvimento de cursos que auxiliem para o emprego e a existência de um local em
que as mães possam opinar e serem ouvidas. Para o seu desligamento dizem ser
necessário estar bem empregadas, recebendo um salário ou renda fixa suficiente para
seu sustento e melhorar as condições da casa. O desligamento aparece como uma
perda significativa na vida das famílias, mas elas, apesar de demonstrarem que
passariam por dificuldades, têm presente que este benefício pode se encerrar e que
outras pessoas também têm necessidade e precisam do mesmo auxílio.475
Diante do exposto, considera-se que o PBF, com seus ganhos e limitações,
não é suficiente para garantir a autonomia dos indivíduos. Mesmo recebendo o
benefício, muitas famílias são incapazes de superar alguns problemas relacionados à
saúde, moradia, trabalho, entre outros que afligem a população mais vulnerável. De
fato, não se espera que apenas por meio da distribuição de renda todas as capacidades
sejam desenvolvidas. A transferência de renda permite a muitas famílias beneficiárias
melhorarem suas condições de vida, através de uma alimentação mais adequada,
melhorias na moradia, aquisição de bens de consumo, entre outros aspectos. Porém,
apenas a transferência de renda não basta para a realização de uma mudança efetiva
nas condições e no modo de vida das famílias que dela necessitam.
474
CAVALCANTI, Pedro Luiz. Programa Bolsa Família: Descentralização, Centralização ou Gestão
redes? II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 19: Implementação de processo
monitoramento e avaliação dos programas de transferências de renda.
475
CAVALCANTI, Pedro Luiz. Programa Bolsa Família: Descentralização, Centralização ou Gestão
redes? II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 19: Implementação de processo
monitoramento e avaliação dos programas de transferências de renda.
em
de
em
de
176
2.3.1. Ciclo das políticas públicas e o desafio da definição de competências
O debate sobre a implementação de políticas públicas, em uma certa
vertente da ciência política, desenvolve-se por outro viés e conclui que a distância entre
o desenho de um programa e as intervenções públicas que traduzem esse desenho é
uma contingência da implementação. Em outras palavras, as pesquisas demonstram
que a implementação modifica as políticas públicas, sendo a formulação apenas uma
fase da ―vida‖ de uma política, ―embora possa ocorrer coincidência entre a figura dos
formuladores e a figura dos implementadores, é muito raro que isto ocorra‖.476
Bichir utiliza o termo ―ponta‖ para se referir àqueles que, em âmbito local,
realizam o trabalho de ―funcionários de nível da rua‖, como ocorre nos CRAS.
477
Nesta
pesquisa entende-se que a ―ponta‖ diz respeito à gestão nos estados e municípios em
contraposição ao ―topo‖, que se refere à gestão federal.
Estudos apontam para certa complementaridade, chamando a atenção para
experiências concretas que ilustram a possibilidade de que ferramentas jurídicas
tradicionais e instrumentos relativamente novos (que trazem inovações tais como a
participação das partes interessadas na busca de soluções, normas flexíveis e padrões
revisáveis, uso de indicadores, entre outros) sejam integrados em um único sistema.478
Descrevendo-se o processo de implementação do PBF, com especial
atenção à forma como o direito se estrutura nela, percebe-se uma perspectiva
demasiadamente focada na contenção do poder, desconsiderando a discricionariedade
como algo inevitável e que, no processo de implementação de uma política, ela pode
inclusive ser positiva ao possibilitar a incorporação de soluções menos padronizadas.
Essa ótica de análise acaba deixando de incorporar a possibilidade de adaptação do
desenho das políticas ao longo do processo de implementação.
Nesse contexto, essa pesquisa busca demonstrar, na ótica do direito, com o
PBF, sob uma perspectiva mais aberta às transformações que podem ocorrer, e
476
ARRETCHE, Marta. Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. In: BARREIRA,
Maria Cecília Roxo Nobre. CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (orgs.). Tendências e perspectivas na
avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC-SP, 2001.p. 52 e 47.
477
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2011.
478
TRUBEK, Louise; TRUBEK, David. New governance and legal regulation: complementarity, rivalry and
transformation, 2007.Disponível em: <www.law.wisc.edu/facstaff/trubek/Coexistence__CJEL__Final.doc>.
177
inevitavelmente ocorrem, ao longo de sua implementação, que tanto o desenho da
política quanto sua aplicação na ponta são relevantes. No mesmo sentido,
compreende-se que diversos atores, sejam eles ―burocratas de nível de rua‖ ou de ―alto
escalão‖, possuem instrumentos para alterar a política tal como inicialmente concebida.
Para cumprir os ideais do Estado Social, a ação dos governantes deve ser
racional e planejada, o que ocorre por meio da elaboração e implementação de políticas
públicas. E, para Clarice Duarte ―Estamos falando da noção de política pública
entendida como uma forma de concretizar direitos composta por diversos elementos e
etapas, combinando fatores jurídicos, econômicos, políticos etc‖.A partir disso, para
essa autora, ―(...) é preciso compreender a complexidade desse conceito, tanto no que
se refere aos elementos que o compõem, como às suas etapas de realização – da
elaboração e planejamento à implementação, avaliação e fiscalização, passando por
decisões sobre a escolha das prioridades e alocação de recursos.479
A partir da conceituação de políticas públicas proposta por Bucci, Duarte
discorre sobre quatro elementos que as caracterizam: ação, coordenação, processo e
programa. A ação caracteriza as políticas públicas que afinal surgem toda vez que o
Estado é incitado a agir; e, ―em um Estado Social e Democrático de Direito, tal ação
deve estar voltada para a realização de objetivos coletivos, notadamente a redução das
desigualdades existentes na sociedade e a produção de justiça social.‖ Tem-se que
―Para evitar duplicidade de iniciativas e desperdício de recursos públicos, deve haver
articulação entre as iniciativas‖ dos diversos Poderes, esferas da Federação e órgãos
do governo, envolvendo assim a participação de todos. No tocante ao processo
considera-se que ―A concretização de uma política envolve processos de natureza
administrativa, orçamentária, legislativa, etc.‖480
Nesse contexto, também considera-se a dimensão temporal das políticas
públicas e a partir disso, ―a importância do estabelecimento de metas que permitam o
planejamento de avanços na concretização do direito ao longo do tempo(...)‖. Quanto
ao programa diz-se que ele descreve ―o conteúdo da ação governamental propriamente
479
DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins;(Orgs.)O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,2013.p.17-20-17
480
DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins;(Orgs.)O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo:Atlas, 2013.p.21-22-23
178
dita, conteúdo este que é resultado de opções políticas concretas tomadas para a
garantia dos mais variados direitos.‖481
No tocante às atividades e etapas que envolvem o processo de definição e
implementação das políticas públicas, Duarte destaca a identificação do problemas e
demandas para então ir-se para definição de prioridades; formulação de propostas;
implementação propriamente dita; avaliação dos resultados e impacto da política; e
fiscalização e controle; alertando que essas diferentes fases, materializadas na forma
de uma sucessão de eventos e acontecimentos de natureza diversa, não ocorrem de
forma linear ou estanque, mas constituem um processo cheio de idas e vindas.482
A etapa da formulação ou planejamento deve levar em conta os meios e
recursos à disposição do Estado que permitirão alcançar-se os resultados esperados,
lembrando-se que ―no âmbito de um Estado Social e Democrático de Direito, o que se
exige (...) é a atuação coordenada dos Poderes Públicos em prol da efetivação de
direitos, destacando-se, ainda, a atuação da sociedade civil, que deve assumir uma
postura ativa‖ também no processo de elaboração das políticas públicas. 483
Na fase de execução ou implementação devem ser observados ―os
princípios e diretrizes estabelecidos na fase inicial de formulação‖, atentando-se para o
comum fato da ocorrência de desvios no processo de execução. Na etapa da avaliação
verifica-se o impacto concreto da política, se os objetivos serão alcançados e se algo
precisa ser modificado.484 Enquanto isso, a fase da fiscalização e controle é
fundamental e deve ser desenvolvida pelos mais diversos atores: o Judiciário, a
sociedade civil, os Tribunais de Contas, o Ministério Público, enfim.
Duarte destaca a garantia de participação social no processo de tomada de
decisões políticas em um Estado Democrático de Direito como ponto de grande
relevância. A autora considera que a CRF/88 garante uma série de canais para
manifestação da população no processo de fiscalização e controle de uma política
481
DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.25.
482
DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.26.
483
DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.30.
484
ARZABE, Patrícia Helena Massa. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In: BUCCI, Maria Paula
Dallari (Org.). Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.p.31 e 70.
179
pública, mas questiona se ―a sociedade civil tem um papel decisivo na definição da
agenda governamental‖, pois acredita estarmos longe de ―um sistema que permita de
fato a intervenção da sociedade civil em todas as etapas do ciclo da política pública‖.485
O MDS foi criado em 23 de janeiro de 2004 pela Medida Provisória nº 163,
Convertida na Lei nº 10.869, de 2004 (alterou a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003)
que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Houve
a unificação de três pastas da área social – o Ministério da Assistência Social (MAS), o
Gabinete Extraordinário do Ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome
(Mesa), e a Secretaria-Executiva do PBF486. O MDS passou a administrar todos os
programas sociais, articulando-os numa política integrada de proteção social.
A atuação do MDS está centrada na articulação e execução das políticas
sociais do Governo Federal que sejam a expressão do enquadramento dos problemas
da fome e da exclusão social como questões prioritárias na agenda nacional. A gestão
e operacionalização dos programas dependem da coordenação entre os setores da
esfera de governo a qual esteja diretamente ligada, a política, os níveis federal,
estadual e municipal. Ainda, considerando a complexidade das demandas sociais,
conjugada ao fator da implementação descentralizada dos programas do MDS, faz-se
mister uma articulação ou integração no nível da família, da comunidade e do território.
Políticas de segurança alimentar e nutricional, de assistência social e de
renda de cidadania estão a cargo da organização institucional do MDS, divididas em
secretarias finalísticas: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SESAN), a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania (SENARC); Secretaria de Articulação Institucional e Parcerias
(SAIP) e Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação (SAGI), para o
desenvolvimento de atividades-meio.
A SENARC teve sua estrutura e competências estabelecidas no artigo 7º, do
Anexo I, do Decreto nº 5.074, de 11 de maio de 2004, sendo composta pelos
485
DUARTE, Clarice Seixas. Para além da Judicialização: a necessidade de uma nova forma de
abordagem das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins;
BRASIL, Patrícia Cristina; (Orgs.). O Direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas &
Letras Editora e Gráfica, 2015.p.17.
486Organograma. Disponível em: <www.mds.gov.br/institucional/o-ministerio/copy _of_estrutura/>.
180
Departamentos de Operação, de Gestão dos Programas de Transferência de Renda e
de Cadastro Único487, tendo como atribuições a elaboração das normas e regulamentos
do PBF, a gestão do Cadúnico, a fiscalização da gestão local do PBF, a promoção de
melhorias, fomentando a utilização do SIBEC por parte desses gestores municipais, dos
coordenadores estaduais e membros das instâncias de controle social e integrantes da
Rede Pública de Fiscalização do PBF, com vistas à eficiência, eficácia e transparência
nas ações de gestão de benefícios. Ainda, cabe-lhe promover a expansão de boas
práticas entre os gestores municipais, divulgando-as nacionalmente, bem como outras
atividades relacionadas com a gestão e controle do programa e seus benefícios488.
A Rede Pública de Fiscalização do PBF foi criada em janeiro de 2005, sendo
composta pelos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, pela Controladoria-Geral da
União (CGU) e pelo TCU. Dessa forma, a integração do trabalho dessas instituições,
somada à atuação do MDS rumam ao fortalecimento do monitoramento e do controle
das ações voltadas à execução do programa. Há ainda, outras ferramentas e
instrumentos do Programa que serão abordados no tópico seguinte.
O grande ponto que se coloca é que em que pese o art. 23, inciso X da
CF/88 determinar como competência comum aos entes federativos ―combater as
causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos‖, não há previsão de procedimentos e instrumentos necessários
à aludida atuação conjunta. Diante desse cenário, a implementação de políticas
públicas no Brasil passa pelo enfrentamento da articulação sob três eixos, quais sejam,
responsabilização e definição de competências de cada ente federado individualmente,
a definição do que é comum a todos eles e os mecanismos de integração/coordenação
para a operacionalização do trabalho compartilhado.489
487
SENARC.
Desenvolvimento
Social.
Disponível
em:
<http://www.mds.gov.br/institucional/
secretarias/secretaria-nacional-de-renda-de-cidadania>. .
488
BRASIL. 2006. Relatório de Acompanhamento do PBF. TCU. Ubiratan Aguiar (Ministro relator).
Brasília. Secretaria de fiscalização e avaliação de programas de governo Disponível em:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuacao/assisten
cia_social/Relat%C3%B3rio%20de%20Acompanhamento%20do%20PBF_janeiro_0.pdf. so.p.11.
489
CAVALCANTI, Pedro Luiz. Programa Bolsa Família: Descentralização, Centralização ou Gestão em
redes? II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 19: Implementação de processo de
monitoramento e avaliação dos programas de transferências de renda.
181
2.3.2. Ferramentas e instrumentos jurídicos do Programa
Trabalha-se com a ideia de que o PBF, apesar de não ter criado categorias
totalmente novas nem ter inventado uma racionalidade própria, possui ferramentas e
mecanismos de implementação que funcionam de uma maneira mais dinâmica e
interativa do que sugerem conceitos relacionados à ação do Poder Executivo, como
separação dos poderes e ato normativo. As ferramentas do programa são mais
dinâmicas porque se alteram por meio de processos internos à burocracia estatal e,
dessa maneira, produzem e precisam de alguma flexibilidade para se ajustar e se
adaptar. Por exemplo, algumas transformações relevantes do PBF ocorreram por meio
de portarias internas que são instrumentos mais flexíveis e revisáveis e, apenas depois
de incorporadas à prática foram fixadas em leis (e algumas vezes, não o foram).
Assim, a análise das ferramentas do PBF permite perceber algumas
características do programa que se opõem a uma leitura mais tradicional de categorias
do direito administrativo. É o caso do processo de criação do IGD que não decorreu da
aprovação de lei pelo Congresso Nacional ou de decreto pelo Executivo, mostrando
que não necessariamente a previsão legal antecede e formata a política, havendo
ocasiões em que mudanças de alta relevância ocorrem antes e independentemente de
estarem previamente disciplinada sem lei. Isso reflete um direito mais dinâmico e
articulado. O mesmo se vê na própria concepção de IGD, uma vez que ele permite aos
estados e municípios optarem pela adesão maior ou menor às exigências do programa.
Do mesmo modo, o funcionamento das ICS desafia explicações do direito
administrativo baseadas na autoridade da administração sobre o particular na medida
em que, ao serem paritárias, dependem de uma ação articulada e horizontal entre
ambos. Além disso, as ICS funcionam como um mecanismo de controle da política que
agrega Poder Público e sociedade em uma mesma instância, fugindo ao formato de
controladores usualmente descrito por certa literatura do direito administrativo.
O CadÚnico é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de
baixa renda, entendidas como aquelas que têm renda mensal de até meio salário
mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos, permitindo-se
conhecer a sua realidade socioeconômica. O Governo Federal, por meio de um sistema
informatizado, consolida os dados coletados por essa ferramenta e, a partir daí o poder
182
público pode formular e implementar políticas específicas que contribuam para a
redução das vulnerabilidades sociais detectadas. O CadÚnico é coordenado pelo MDS,
devendo ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários de programas
sociais do Governo Federal.490
O Banco de Dados do CadÚnico, alimentado pelos municípios, serve de
fonte para o Governo Federal através da SENARC selecionar as famílias que serão
beneficiadas pelo PBF, priorizando as famílias de menor renda per capita. De acordo
com art.18, § 1°, Decreto n° 5209/04, o MDS estabelecerá critérios para que as famílias
mais vulneráveis tenham preferência. A inclusão depende da disponibilidade
orçamentária e financeira existente, sendo que as famílias oriundas dos programas
anteriores tem prioridade sobre as famílias novas, bem como, as famílias identificadas
no CadUnico como indígenas e quilombolas. A utilização pelos governos federal,
estadual e municipal de um único cadastro possibilita-lhes a verificação da assistência
ou não de todas as famílias de baixa renda pelos programas sociais, de modo a atacar
o problema da sobreposição de programas para a mesma família.
O PBF prevê as Instâncias de Controle Social (ICS) a serem instituídas
formalmente pelo municípios no ato de adesão ao programa, buscando garantir aos
cidadãos espaço para o seu acompanhamento e buscando assegurar os interesses da
sociedade. Uma parceria entre Estado e sociedade que pretende compartilhar
responsabilidades e proporcionar transparência às ações do poder público.491 Assim, os
estados e os municípios devem criar sua ICS para acompanhar o desenvolvimento do
PBF, apoiar a integração com as áreas de Saúde e Educação e com políticas públicas
que ajudem a melhorar a vida das famílias beneficiárias, ajudar na identificação das
famílias mais pobres do município que têm direito ao Programa e comunicar os
problemas ao gestor municipal e à Rede Pública de Fiscalização do PBF.492
As ICS devem ser permanentes, criadas pelo Prefeito ou Governador por
meio de Decreto e apresentando os nomes das pessoas do governo e da sociedade
que as compõem e têm as seguintes atribuições: atuação no processo de Cadúnico, na
490
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico acesso 24 de maio 2015
MDS. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/controlesocial acesso 24 de maio de 2015
492
Disponível
em:
<http://www.promenino.org.br/Portals/0/Biblioteca/PDF/Instancias%20de%20
Controle%20Social%20do%20Programa%20Bolsa%20Familia.pdf>. .
491
183
gestão de benefícios, nas condicionalidades (verificar, acompanhar e fiscalizar) e nos
programas complementares 493. O controle social é a participação do cidadão na gestão
pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração
pública no acompanhamento das políticas, sendo um importante mecanismo de
fortalecimento da cidadania.
O estudo de caso através do PBF revela aspectos do funcionamento das
políticas públicas ―para além dos manuais‖. Ainda que se aproveite de elementos que já
estavam presentes em programas que o antecederam, o PBF traz questionamentos às
categorias com as quais uma abordagem do direito costuma trabalhar, conquanto
venha passando por processos paulatinos e contínuos de construção e reconstrução,
mais dinâmicos do que sugerem definições de conceitos jurídicos administrativos como
―ato administrativo‖, ―separação de poderes‖, ―discricionariedade‖, entre outros.494 Isso
parece demonstrar que há um descompasso entre algumas explicações jurídicas
tradicionais e a prática das políticas públicas. Elementos extraídos de um estudo de
caso parecem apontar para algumas leituras que temos hoje como incompatíveis com a
realidade da implementação das políticas públicas.
O PBF é entendido como um exemplo de uma racionalidade jurídica da
administração que parece estar presente em outras políticas
públicas.(...)Essa racionalidade, que não tem sido observada em
manuais, diz respeito mais a uma mudança na forma como ferramentas
jurídicas antigas se relacionam e interagem e menos às transformações
das ferramentas em si.495
O PBF mostra que o exercício de múltiplas funções pelo Executivo, tal qual a
normativa, se dão sob uma lógica mais experimental por meio da qual a administração
constantemente cria e concretiza mudanças. Nesse sentido, o papel normativo é
exercido muitas vezes por meio de Portarias (caso do IGD) sequer pretendendo
regulamentar uma lei aprovada no exercício da função legislativa. Nota-se que uma
493
Controle social. Disponível em: <http:// www.ipc-undp.org/doc-africa-brazil/10.SENARC_ Controle
_social_PBF_Camille_Mesquista.pdf>.
494
ANNENBERG, Flávia Xavier. Direito e políticas públicas: uma análise do direito administrativo a partir
do estudo de caso do Programa Bolsa Família. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Faculdade
de Direito da USP. p.128
495
ANNENBERG, Flávia Xavier. Direito e políticas públicas: uma análise do direito administrativo a partir
do estudo de caso do Programa Bolsa Família. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Faculdade
de Direito da USP.p.128-129.
184
norma que, em tese, teria menor potencial vinculativo acaba por exercer, na realidade
de um programa social, uma função de definição de atribuições e objetivos a serem
cumpridos. As Portarias e até mesmo as Instruções Operacionais são respeitadas pelos
atores envolvidos e dão origem a mudanças concretas antes que elas passem por
discussões legislativas (às vezes, sequer passam, caso das condicionalidades).
No caso das condicionalidades, a partir de um mesmo texto legal sucessivas
Portarias foram alterando pontos centrais no seu desenho, havendo diferenças
substantivas entre o modelo mais recente e o originalmente criado sem que isso tenha
derivado de típicas funções legislativa e executiva. Do mesmo modo, a criação do IGD
é ilustrativa desse ponto, pois ocorreu por Portaria, numa espécie de teste da
ferramenta antes de sua cristalização por meios mais institucionalizados, como uma lei.
Assim, enquanto somente a lei permitiria à administração proibir ou impor
comportamentos, conforme se percebe na história do PBF, mudanças implicam novas
atribuições a diversos atores públicos sem que isso esteja delineado em lei. Para Bruno
Câmara essa é uma vantagem no modo de funcionamento do programa, conquanto a
elaboração
de
normas
no
âmbito
burocrático
caracteriza-se
por
um
maior
comprometimento dos atores envolvidos no processo e pela maior coerência com a
totalidade do arcabouço normativo do programa.496
O PBF parece sugerir que categorias mais abertas, capazes de reconhecer a
possibilidade de incorporação de aprendizados ao longo da implementação das
políticas públicas, talvez sejam mais completas para explicar sua dinâmica. A mudança
de ―termos de cooperação‖ para ―termos de adesão‖, por exemplo, ocorreu como
resultado da observação empírica de que o primeiro instrumento não colocaria o Bolsa
Família em funcionamento com a agilidade que era necessária naquele momento. Da
mesma forma, a possibilidade de alterações constantes nos sistemas do CadÚnico abre
espaço para uma política que testa suas ferramentas, aproveitando o que é bem
avaliado e rejeitando o que não combina com os propósitos do programa.
A questão das condicionalidades, conforme já referido, é outro ponto que
corrobora essa capacidade do PBF de ser revisado pela administração enquanto é
496
Entrevista concedida por Bruno Câmara, advogado e gestor na SENARC/MDS, Brasília, 2010.
185
implementado refletindo-se na alteração dos efeitos sobre os benefícios de famílias em
situação de descumprimento de condicionalidades. Observe-se, para tanto, conforme
mostrado no tópico 1.2 do capítulo 1, a migração de uma perspectiva desses efeitos
enquanto ―sanções‖ para uma concepção de garantia de direitos que ocorreu sem que,
para tanto, houvesse qualquer interrupção na implementação da política. Do mesmo
modo, a relação com a assistência social e o papel das ICS no monitoramento das
condicionalidades também foram alterados com a política ―em movimento‖.
As condicionalidades ilustram esse movimento das políticas públicas ao
passo de uma distância das leituras tradicionais do direito, uma racionalidade que
divide os fatos entre jurídicos e não jurídicos ou permitidos e proibidos. O raciocínio
subjacente a essas categorias gira em torno de questões do tipo ―Alguém pode exigir
algo?‖, ―Alguém pode ser exigido quanto a algo?‖, ―Qual texto gera direitos e deveres?‖,
―Alguma norma exige que esta decisão seja desfeita por uma autoridade de controle?‖ e
―Por causa disso ou daquilo, alguém pode ser punido por uma autoridade?‖.497 Essas
questões não são tão úteis para explicar situações em que há figuras que não são
exatamente direitos nem deveres, que causam efeitos diferentes de punições, que são
controlados pela esfera pública em geral e não apenas por uma autoridade.
No modelo atual das condicionalidades o descumprimento das contrapartidas
não gera sanções impostas por uma autoridade. Busca-se alertar o Poder Público para
situações de carência em educação e saúde, utilizando uma lógica de estímulos para o
beneficiário e para a administração. Abordado em tópico específico (1.2 do capítulo 1),
do ponto de vista da garantia de direitos, esse método pode ser mais efetivo do que a
lógica punitiva cujo primeiro objetivo seja desligar famílias do programa, colocando
―deveres‖ como contrapartidas a ―direitos‖ que se não cumpridos gerariam ―sanções‖.
O PBF transfere aos municípios o principal papel de gestão do programa e
essa descentralização facilita a identificação das dificuldades e necessidades
socioeconômicas dos beneficiários e de suas soluções. O Índice de Gestão
Descentralizado, IGD, foi criado em 2005, estabelecendo um critério para a
disponibilização aos municípios dos recursos referentes ao PBF. O IGD serve para o
Governo Federal avaliar o desempenho desses municípios na gestão do programa e as
497
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para céticos. São Paulo: Malheiros,2013.p.34.
186
informações são utilizadas pelo MDS para o repasse de recursos, buscando-se
aperfeiçoar as ações de gestão dos estados e dos municípios.498
Essa gestão descentralizada permite União, Estados, Distrito Federal e
Municípios compartilharem entre si os processos de tomadas de decisão, criando bases
de cooperação para o combate à pobreza e à exclusão social. Buscando o
aprimoramento dessa gestão, o MDS desenvolveu o Plano de Acompanhamento da
Qualidade da Gestão Municipal. Com base no IGD, alguns municípios são selecionados
para receber visita técnica multidisciplinar do MDS, com acompanhamento da
respectiva coordenação estadual. Quando bem executadas, essas ações ajudam a
melhorar a qualidade da gestão, proporcionando mais recursos do IGD para serem
reaplicados pelo município nos processos de gestão do PBF e do CadÚnico.499
O IGD tem sido apontado como um dos fatores que contribuem para
melhoria no repasse das informações pelos municípios com relação ao cumprimento
das condicionalidades. Relaciona-se esse fato à remuneração atribuída aos municípios
com base no desempenho da execução do programa. Cada município recebe,
mensalmente, recursos do Governo Federal a fim de viabilizar o controle em relação
aos benefícios e mensurar o nível de adesão dos beneficiários às condicionalidades,
além de controlar o cadastramento, a cada dois anos, no intuito de se evitar o
cruzamento de dados falsos. Fato que termina por contribuir para que as prefeituras
mantenham alto índice e recebam mais recursos em função do IGD de cada município
que é composto pelas seguintes variáveis (cada uma com 25% da composição do IGD):
Frequência escolar; Acompanhamento dos beneficiários nos postos de saúde;
Cadastramento correto; Atualizações cadastrais.500
Dessa forma, o IGD é mais uma ferramenta que permite uma relação entre
entes federativos que não se baseia em ameaças punitivas, mas em incentivos para a
498
A Portaria GM/MDS n.º 148, de 27 de abril de 2006, criou o Índice de Gestão Descentralizada – IGD
que mede a qualidade da gestão do Programa no âmbito municipal.
499
Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada acesso 24 de maio de2015
500
BRASIL. Fiscalis n.º 12/2009. Relatório de Acompanhamento do PBF. TCU. Ministro Benjamin Zymler
(Ministro relator). Brasília. Secretaria de fiscalização e avaliação de programas de governo.
Disponível:http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuac
ao/assistencia_social/Relat%C3%B3rio%20de%20Acompanhamento%20do%20PBF_janeiro_0.pdf.,p.15.
187
realização de uma gestão local que pode sofrer consequências mais ou menos fortes, o
que é diferente da aplicação de uma lógica binária do tipo ―tudo ou nada‖.
Desenhos mais sofisticados de políticas públicas buscam a interação entre
diferentes órgãos e níveis federativos, sendo mais funcional a ação articulada do que a
atribuição de competências inflexíveis. Eis o exemplo da gestão das condicionalidades
em que assistência social, saúde e educação precisam compartilhar responsabilidades
para que a dinâmica de ―sinais de alerta‖ funcione, independentemente disso estar
detalhado em leis e regulamentos. Da mesma forma, União, estados e municípios têm
fortes mecanismos de interação e assumem atribuições conjuntas para que se realize o
fluxo de informações do qual depende esse desenho.
Tem-se que o desenvolvimento de estratégias na gestão do PBF inclui ações
trabalhosas e de grandes dimensões, orientando-se os gestores a desenvolvê-las em
parceria com organizações da sociedade civil, com as ICS e com outros órgãos
públicos, enquanto que a doutrina jurídica trata da discricionariedade de uma forma
menos voltada à procura da melhor decisão possível e ―mais preocupada com a busca
do que são, intrinsecamente, atos vinculados ou discricionários, ou com o delineamento
de critérios para disciplinar a liberdade de escolha do agente público‖501.
Nesse contexto, percebe-se um desestímulo à utilização de ―testes‖ no
decorrer da implementação das políticas públicas, pois a aposta em tentativas e erros
faz uso de um experimentalismo que, da perspectiva jurídica tradicional, deve ser
contido. Enquanto isso, a racionalidade do programa leva aos os gestores a explorar
diferentes formas de realizá-lo, procurando abrir caminhos para soluções criativas. No
mais, dificuldades de implementação do PBF em municípios sugerem a importância de
que o programa seja permeável, pois a carência de capacidade administrativa local
reforça o quanto o desenho do programa precisa estar aberto à incorporação de
práticas observadas em experiências municipais e estaduais.
As ICS do PBF são formas de controle que trabalham de uma maneira
distinta do que tradicionalmente se conhece como ―controladores‖, dado que devem
funcionar como locus não apenas de fiscalização, mas de participação e avaliação. No
501
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos
Aurélio Pimenta de (eds.). Política pública como campo disciplinar. São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2013. p.188.
188
mais, reúnem sociedade e governo de forma paritária, abrindo uma possibilidade de
diálogo mais abrangente e completa do que a mera atividade fiscalizatória. Nesse
sentido, a importância do equilíbrio, a exemplo da dinâmica das condicionalidades na
qual, há evidência de desequilíbrios ―na ponta‖ a partir do momento em que os gestores
relatam que o descumprimento está associado à sensação dos beneficiários de que
eles cumprem ―sua parte do acordo‖ ao passo que o poder público não o faz.
Bebendo na fonte da autora Lobel que constrói um contraponto entre um
―modelo regulatório tradicional‖ (padrão hierárquico) e um ―modelo de new governance‖
(padrão participativo e colaborativo) tem-se que na segunda abordagem, o processo de
criação das políticas é reflexivo, orientado pelo processo e adaptado a circunstâncias
locais; são valorizadas a diversidade e a pluralização de soluções, adotando-se os
pressupostos de que ―nenhuma instituição detém capacidade para regular todos os
aspectos da vida pública contemporânea‖, assim como a velocidade por meio da qual
as mudanças acontecem exige que o direito responda a uma realidade indeterminada e
a consequências inesperadas.502
Sistematizando-se as diferenças entre um Direito Administrativo ―tradicional‖
e
um
Direito
Administrativo
das
políticas
públicas,
evidenciam-se
algumas
características, tais como, respectivamente no primeiro modelo e no segundo: há uma
divisão estanque entre função legislativa e função administrativa / não exerce apenas a
função administrativa, mas também a legislativa; formulação e implementação como
momentos separados / formulação e implementação se fundem sem necessária ordem
cronológica entre elas; rígido e fixo comando-controle / flexível e adaptável-incentivo;
estático, difícil reversibilidade, top-down / dinâmico, experimental, tentativa-erro, bottomup; sanções-proibição e coerção / estímulos, incentivos-orientação; atribuições bem
delineadas e individualizadas, fragmentação e padronização / atribuições coletivas e
formação de parcerias, intersetorialidade e diversificação; obediência da ponta ao topo,
hierárquica e centralizada / interação entre ponta e topo, horizontal e descentralizada;
controladores impedem processos criativos de gestão pela constante ―ameaça‖ /
instâncias participativas estimulam soluções criativas por meio do diálogo; hierárquica e
502
LOBEL, Orly. The Renew Deal: The fall of regulation and the rise of governance in contemporary legal
thought. Legal Studies Research Paper Series. Research Paper n. 07-27. University of San Diego –
School of Law, dec. 2005.p.265 e 300.
189
hermética / horizontal e aberta; arranjos simples / arranjos complexos; atores poucos e
centrais / múltiplos e diversificados; ―pode-não pode‖ / ―como pode?‖.503
A observância das experiências na gestão do PBF parece apontar para
necessidade da literatura do direito administrativo incorporar categorias calcadas em
exemplos reais de políticas públicas cuja observação da prática revelaria, por exemplo,
que nem sempre a contenção rigorosa da discricionariedade é o melhor caminho para a
realização de direitos dos administrados. Nem todas as formas mais ―ousadas‖ de ação
do Executivo são abusivas ou caracterizam desvios de finalidade. Isso não significaria
deixar de lado a preocupação com a imposição de limites capazes de evitar ações
arbitrárias, papel cumprido, entre outros, pelas ICS no caso do PBF.
Descritas algumas das ferramentas que compõem o PBF, atribui-se especial
atenção à forma como são desenhados incentivos e estímulos ao desempenho dos
atores envolvidos e importa considerar as normas sobre as quais o PBF se estrutura,
incluindo Leis, Decretos, Portarias, Instruções Operacionais (IO) e outras manifestações
de poder regulamentar. No PBF, algumas mudanças importantes aconteceram por meio
de atos normativos internos à burocracia federal antes de serem (quando o foram)
convertidas em lei. Também são importantes publicações oficiais dos ministérios,
incluindo informativos, manuais de gestão, ferramentas online da página eletrônica da
Secretária de Avaliação e Gestão da Informação e informativos para gestores locais.
Diante do exposto, o direito das políticas públicas talvez tenha a
característica de ser mais efetivo para concretizar direitos e garantias se, na sua
implementação, a administração puder adotar uma dinâmica mais aberta a
transformações que são positivas quando podem ser conduzidas pela própria
administração a partir de sugestões de gestores (do ―topo‖ e da ―ponta‖) e dos
beneficiários, atores que constroem a política no seu dia-a-dia. As mudanças na gestão
do programa talvez devessem pautar-se mais na realidade das famílias vulneráveis e
menos nas formas de ação convencionais e ortodoxas do Poder Público.
503
ANNENBERG, Flávia Xavier. Direito e políticas públicas: uma análise do direito administrativo a partir
do estudo de caso do Programa Bolsa Família. 2014. Dissertação - Faculdade de Direito da USP. p.140.
190
2.4. Cultura política da cidadania e judicialização de políticas públicas
As análises históricas das políticas sociais brasileiras costumam situar no
tempo algumas dicotomias, sejam elas entre políticas sociais contributivas e
distributivas, entre um padrão centralizado e outro descentralizado, entre um momento
mais clientelista e outro mais participativo. Essas dicotomias são centrais na
compreensão dos processos pelo qual passou a política social brasileira que, com base
na literatura sobre o tema, conforme visto nos tópicos anteriores, parece abranger dois
momentos bem marcados.
No primeiro deles prevaleceu um modelo contributivo que atrelava os
benefícios sociais à inserção no mercado de trabalho, centralizado, ao concentrar o
poder decisório na autoridade federal sem articulação com os entes subnacionais, e
clientelista na medida em que benefícios serviam como moeda de troca para apoio
político. No segundo, prevalece uma orientação distributiva, uma vez que a proteção
social passa a incluir pessoas pobres em geral e não apenas vinculadas ao mercado de
trabalho, descentralizada porque passa a distribuir o poder entre entes subnacionais
(ainda que de modo fragmentado e pouco coordenado) e participativa, ao criar arenas
de interlocução com os beneficiários e com a sociedade civil em geral.
A CFR/88 é um divisor de águas, buscando separar as primeiras
características das segundas. O reconhecimento da assistência social como direito
indica o enfraquecimento de traços de caridade presentes em políticas anteriores. Em
uma análise mais apurada, contudo, é possível perceber que esse primeiro modelo se
estendeu, na verdade, até meados dos anos 2000, quando a política social se tornou
mais articulada. Além disso, outros obstáculos estão sendo enfrentados até os dias de
hoje, a exemplo da manutenção de algum grau de centralização.
A CFR/88, ao instituir o Estado Democrático de Direito, arrolou entre seus
fundamentos nucleares a dignidade da pessoa humana e a cidadania, e entre seus
objetivos a erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais.
Segundo Draibe, consagrou uma reordenação no sistema de políticas públicas sociais,
191
pautada pela descentralização, participação social e uma maior intervenção estatal
complementada pelo setor privado, em busca da concretização dos direitos sociais. 504
A elevação da pobreza como problema nacional e a configuração da
assistência social como um direito pelo texto constitucional, impôs a construção de um
conjunto de ações governamentais capazes de levar os cidadãos para uma instância de
autonomização, na qual eles possam acontecer como cidadãos, com-os-outroscidadãos e na sociedade democrática. No esteio desse processo se verificou, a partir
de 1991, a profusão de experiências de implementação de programas de transferência
condicionada de renda dirigidos à população pobre.
Parte-se de uma estratégia de inclusão social e de desenvolvimento
econômico - um modelo de desenvolvimento e inclusão. Draibe esclarece que o
pensamento keynesiano captou com precisão o círculo virtuoso com que o econômico e
o social se inscrevem na dinâmica do pensamento de crescimento econômico e
desenvolvimento social, observando que, recentemente, enfatizam-se mais as
capacidades dos sistemas de políticas social em promover e facilitar o crescimento
econômico, simultaneamente ao desenvolvimento social.505
As estratégias governamentais iniciais de combate à fome e a pobreza foram
marcadas pelo "(...)caráter altamente centralizado, burocratizado, fragmentado,
privatista, excludente e de baixa eficácia e eficiência social"506. A falta de interação
entre os diferentes setores do governo, entre governo e sociedade e a consequente
dificuldade de coordenação das ações desenvolvidas, associada à baixa cobertura e
ao frágil controle social, demonstravam a incapacidade estatal em promover maiores
níveis de equidade e Justiça social.
Para Ribeiro o principal desafio na implementação das políticas públicas e na
efetivação dos direitos sociais contidos na CFR/88 é político e, num sentido, está
associado a aumentar a participação cidadã na elaboração, execução e fiscalização
504
DRAIBE, Sônia Miriam. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702003000200004&script=sci_arttext.Acesso 03/07/14.
505
DRAIBE, Sônia Maria. Estado de Bem- Estar, Desenvolvimento Econômico e Cidadania. In:
HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo. Políticas Públicas no Brasil. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2011, p.29.
506
SENNA, Mônica de Castro Maia; MONNERAT, Gisele Lavinas; Schottz, Vanessa; MAGALHÃES,
Rosana; BURLANDY, Luciene. Programa bolsa família: nova institucionalidade no campo da política
social brasileira? Revista Katálysis. Santa Catarina.v.10, n. 1, pp.86-94, 2007, p. 87.
192
dessas políticas através da ampliação dos espaços de participação política e da esfera
pública democrática via sociedade civil organizada. Uma tarefa complexa, segundo o
autor, conquanto implica na ―definição clara das relações entre sociedade e Estado‖ e
―passa pela discussão sobre as formas de participação e seus diferentes impactos
quando considerados os três níveis de governo: federal, estadual e municipal.‖ 507
Conforme assente o autor, a CFR/88 estabelece um compromisso claro com
a democracia participativa pelo que, inúmeras experiências democráticas vem sendo
implementadas desde a sua promulgação, através de referendos, plebiscitos, iniciativa
popular, orçamento participativo, audiências públicas e outras experiências inovadoras
que para ele ―(...) transformaram o Brasil em um palco de debates que ecoa mesmo
fora do nosso território, mas que são, ao mesmo tempo, experiências diferenciadas no
que diz respeito ao seu alcance e eficácia.‖508
No debate sobre a participação da sociedade civil no processo de
democratização e ampliação da esfera pública importa considerar as complexas
relações entre sociedade civil e Estado. Nessa pesquisa, adota-se a concepção de
Habermas para sociedade civil cujo núcleo institucional:
é formado por associações livres, não estatais e não econômicas, as
quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos
componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de
movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos
problemas sociais que ressomam nas esferas privadas, condensam-nos
e transmitem, a seguir, para a esfera pública política.509
Assim, Habermas oferece-nos uma perspectiva ampla da democracia que
deve estar ancorada na sociedade civil e na esfera pública e não apenas nas
instituições e, a partir disso, percebe-se o quanto estamos longe de um Estado
Democrático de Direito, apesar de posturas positivistas, tal como a de José Afonso da
Silva e Paulo Bonavides, por exempo, que identificam Estado Democrático de Direito
507
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.44 e 45.
508
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas,
2013.p.45.
509
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997. V.2, p.99.
193
com a Constituição. Na perspectiva de Habermas, no contexto das políticas públicas, a
expansão da intervenção estatal precisa ser acompanhada de participação política e
maior espaço para a democracia deliberativa e ampliação da esfera pública.
(...) o neoconstitucionalismo enfrenta inúmeros obstáculos de natureza
econômica e social, que precisam ser levados em consideração na
análise do papel da Constituição e do Direito em geral nas sociedades
complexas. A globalização da economia e sua financeirização, assim
como a crescente diferenciação funcional da sociedade, estão entre os
fatores mais importantes.510
Habermas destaca a necessidade de procedimentos democráticos de
participação política como forma de legitimar o Direito, e ainda, de um mecanismo de
reconhecimento e inclusão de minorias. É a concepção de democracia procedimental
que recebeu o nome de política deliberativa.511 Nesse sentido, ―o processo de
diferenciação social implica o desenvolvimento de uma esfera pública para além do
Estado e do mercado, assentada no mundo da vida e responsável pelos processos de
integração social, em contraposição à integração sistêmica.‖ Dessa forma, o autor
salienta o papel da sociedade civil na esfera pública não institucionalizada,
desenvolvendo
uma
concepção
comunicativa e no entendimento(...)‖.
de
democracia
―assentada
na
racionalidade
512
Considera-se que o modelo de sociedade civil compreendido por Habermas
ajuda na compreensão dos avanços e recuos da redemocratização brasileira, em
especial conciliando complexidade e participação política. Acredita-se que ―a sociedade
civil pode levar ao poder público informações e novos mecanismos de fiscalização,
contribuindo para a construção de novas formas de legitimação por afinidade,
ampliando assim o campo da política.‖513
Sobre a queda nas desigualdades, em especial no segundo mandato do
governo Lula, Ribeiro destaca o papel da ―participação dos cidadãos na implementação
510
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo ; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.48.
511
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997. V.2, p.122.
512
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.46.
513
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.59.
194
e fiscalização das políticas públicas, cuja eficácia variou muito conforme o nível de
participação e a capacidade de organização da sociedade civil local.‖514
O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da
realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma
adaptação melhorada das condições sociais de existência. Assim, o seu
conteúdo ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida
digna ao homem e, passa a agir simbolicamente como fomentador da
participação pública quando o democrático qualifica o Estado, o que
irradia os valores da democracia sobre todos os seus elementos
constitutivos e, pois, também sobre a ordem jurídica.515
Abramovich e Courtis trabalham com o direito à alimentação e de proteção
contra a fome para exemplificar o que é um direito pleno. Segundo os autores a criação
de programas estatais que trabalhem com a disponibilização de alimentos às pessoas
necessitadas não lhes garante usufruir deste direito se a elas não for disponibilizadas
condições para demandarem judicialmente a satisfação do direito quando descumprido
pelo Estado. Para eles, o que caracteriza a existência de um direito social como direito
pleno não é só a conduta cumprida pelo Estado, mas a existência de algum poder
jurídico capaz de entregar ao seu titular uma sentença que obrigará a parte
inadimplemente a cumprir com a obrigação exigida pelo direito.516
Nesse contexto, um dos problemas que se colocam quando do estudo da
consecução de políticas públicas é a possibilidade do controle jurisdicional. Até que
ponto e sob quais parâmetros é possível a revisão judicial acerca da legalidade e
constitucionalidade da ação ou (sobretudo) omissão do Poder Público na concretização
de políticas públicas? Do ponto de vista teórico, o controle jurisdicional de políticas
públicas pode ser discutido no âmbito de duas correntes contrapostas: a corrente
procedimentalista, ancorada principalmente nas ideias de Habermas; e a corrente
substancialista que busca sustentação no pensamento jurídico e político de Dworkin.
514
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo ; BERTOLIN,
Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.56.
515
MORAIS. José Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e o Direito na
ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.p.78.
516
ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos exigibles 2.ed. Madrid:
Trotta, 2004.p.37-38.
195
Para a corrente procedimentalista, o juízo de constitucionalidade de políticas
públicas acaba por dificultar o exercício da cidadania participativa, favorecendo a
desagregação social e o individualismo. O cidadão, colocando-se na posição de
simples sujeito de direitos, assume uma posição passiva perante o Estado, uma
espécie de cidadão-cliente, frente ao Judiciário fornecedor de serviços. Assim, para
essa corrente, a justiciabilidade do Poder Público acaba por tolher a democracia
participativa, transformando os cidadãos em clientes do Estado paternalista.
O fortalecimento da cidadania ativa é potencializado por meio da conquista
de canais de comunicação, que veiculam o poder democrático do centro para a
periferia. Deste modo, o papel da Constituição é assegurar a existência desses canais
ou procedimentos de ação comunicativa dos cidadãos, para que os mesmos criem seu
próprio direito, uma vez que a lei não pode ser vista como a vontade direta do povo. A
Constituição não deve expressar conteúdos substantivos, mas apenas instrumentalizar
os direitos de participação e comunicação democrática (democracia deliberativa).517
O modelo de democracia procedimental defendido por Habermas parece
revelar a necessidade de uma cultura política da liberdade, de base social estável,
capaz de produzir consenso democraticamente, bem como a existência de partidos
políticos fortes e distantes das ingerências econômicas, o que acaba por distanciar o
modelo da atual conjuntura social, principalmente de países como o Brasil, onde a
cultura da democracia ativa e da cidadania participativa está apenas engatinhando.
Já a corrente substancialista defende que o Estado constitucional exige uma
redefinição do papel do Poder Judiciário. Com a evolução do Estado das leis para o
Estado das políticas públicas, resta ao Judiciário a função de assegurar a concretização
dos direitos fundamentais e a progressiva marcha da sociedade para um ideal de
justiça substancial. A judicialização das políticas públicas encontra seu fundamento na
supremacia da Constituição. Ao efetuar o juízo de constitucionalidade de políticas
públicas, o Judiciário acaba por desempenhar sua função precípua: garantir a
prevalência da Constituição.518
517
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. V.2. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997, p.09 e ss.
518
CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Direitos sociais e controle jurisdicional de políticas públicas:
Algumas considerações a partir dos contornos do Estado constitucional de direito. Disponível em:
196
Procurando estabelecer uma síntese da relação entre as duas correntes,
aparentemente contrapostas, Appio defende que a ―formulação das políticas públicas
depende, portanto, de uma concepção procedimental de democracia, enquanto que o
controle judicial de sua execução demanda uma concepção substancial, atrelada ao
principio da isonomia‖.519
A análise das circunstâncias históricas que levaram a um maior ativismo
judicial em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais na América Latina está
diretamente relacionada com a existência de fatores políticos que outorgaram ao Poder
Judiciário uma especial legitimação para ocupar novos espaços de decisão, antes
restritos aos demais poderes do Estado. A debilidade das instituições democráticas de
representação e a deterioração dos espaços tradicionais de mediação social e política
contribuíram para transferir à esfera judicial conflitos coletivos que eram dirimidos em
outros âmbitos ou espaços públicos ou sociais, reeditando o tema direitos sociais.520
O Poder Judiciário não tem como tarefa projetar políticas públicas, mas
confrontar as políticas assumidas com os padrões jurídicos aplicáveis e, havendo
divergências reenvia a questão aos poderes pertinentes para ajustes. Essa dimensão
da atuação judicial pode ser conceituada como a participação em um ―diálogo‖ entre os
distintos poderes do Estado para a concretização do programa jurídico-político
estabelecido pela Constituição ou pelos pactos de direitos humanos. Somente em
circunstâncias excepcionais que se justifique pela magnitude da violação ou pela
ausência total de colaboração dos poderes políticos, os juízes avançam na definição
concreta das medidas a serem adotadas.521
Para Abramovich também há casos em que se recorre à intervenção judicial
para garantir condições que tornem possível a adoção de processos deliberativos de
produção de normas legislativas ou atos da administração. Nessas situações, as
demandas não pretendem que a justiça tenha conhecimento direto do conflito coletivo e
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9541&revista_caderno=4
Acesso em 14 de outubro de 2015.
519
APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008, p. 259.
520
ABRAMOVICH, Victor. Linhas de Trabalho em Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: instrumentos
e aliados. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sur/v2n2/a09v2n2.pdf Acesso 01/09/15.p.204-205.
521
ABRAMOVICH, Victor. Linhas de Trabalho em Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: instrumentos
e aliados. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sur/v2n2/a09v2n2.pdf Acesso 01/09/15.p.204-205.
197
garanta um direito social, mas que complemente as demais ações de incidência política.
Reivindica-se à justiça, por exemplo, a abertura de espaços institucionais de diálogo, o
estabelecimento de seus marcos legais e procedimentos ou a garantia de participação
das pessoas potencialmente afetadas nesses espaços, sob condições igualitárias; o
acesso à informação pública indispensável para o controle prévio das políticas e
decisões a serem adotadas, a produção de dados, a execução e o cumprimento dos
acordos conseguidos por pessoas ou organizações sociais, nas diversas instâncias
formais ou informais de intercâmbio e comunicação com a administração; dentre outros.
Quando a administração dispõe de espaços de participação cívica para
discutir ou analisar certas medidas ou políticas (audiências públicas, elaboração
participativa de normas, orçamento participativo, conselhos de planejamento estratégico
nas cidades), as ações podem ter como meta a discussão das condições de admissão,
bem como os mecanismos de debate e diálogo, a fim de garantir regras básicas de
procedimento. Em tais situações, ainda que se discuta formalmente o direito de
participação cívica ou cidadã, os direitos sociais em questão podem definir o alcance
dessa participação, por exemplo, ao configurar a coletividade afetada, o setor que
deveria merecer atenção prioritária do Estado ou contar com um espaço institucional de
participação antes da adoção de uma decisão de política social.522
A abordagem desse tópico considera a abertura à participação dos
interessados um elemento essencial das políticas públicas, revelando um campo que
merece aprofundamentos por parte dos profissionais do Direito: ―a criação de novos
instrumentos jurídicos que permitam ampliar e consolidar a participação popular na
gestão do Estado, na produção normativa pela qual as políticas públicas se expressam,
além de garantir uma participação efetiva dos diversos setores sociais nos Conselhos,
nas Audiências e Consultas Públicas.‖ Dessa forma, ―é preciso descobrir alternativas
para se evitar a Judicialização, sem deixar os direitos desatendidos.523
522
ABRAMOVICH, Victor. Linhas de Trabalho em Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: instrumentos
e aliados. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sur/v2n2/a09v2n2.pdf p.210-211.Acesso 01/09/2015.
523
DUARTE, Clarice Seixas. Para além da Judicialização: a necessidade de uma nova forma de
abordagem das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL,
Patrícia Cristina;(Orgs.)O Direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas & Letras Editora
e Gráfica, 2015.p.17 e 18.
198
2.4.1. Modelo distributivo, descentralização e participação
O discurso oficial define o PBF como um programa de ―gestão
descentralizada‖, uma vez que permite que os entes federativos ―compartilhem entre si
os processos de tomadas de decisão do Bolsa Família‖. O uso que o PBF faz da
estrutura descentralizada do SUAS também pode ser visto como elemento facilitador da
descentralização do programa.524
No entanto, existem divergências na literatura quanto à capacidade do PBF
de lidar com a questão histórica da centralização. Curralero et al sustentam que o alto
número de Portarias do PBF elaboradas no interior do MDS sem negociação com os
entes federados refletem a existência de um padrão hierarquizado no Bolsa Família.
525
Coutinho percebe um percurso que, em seu início, dependia de uma agilidade para ser
colocado em marcha que necessariamente demandava centralização decisória. Para
isso, teve que fazer uso de negociações em âmbitos intraburocráticos centralizados,
como as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite.526
O mesmo autor pontua, todavia, que há narrativas de gestores do programa
que sugerem que essa centralização inicial talvez se justifique pela necessidade de
blindar o PBF das históricas práticas clientelistas ou pela busca de legitimidade pelos
resultados produzidos, entendendo-se que a complexidade do programa exigiria antes
a centralização em círculos burocráticos e depois com municípios, estados e com a
sociedade em geral. É possível, assim, dizer que o PBF ―possui uma trajetória marcada por
tensões centralizadoras e descentralizadoras‖527. Essa combinação pode estar
relacionada ao fato do PBF, de um lado, conferir aos municípios a possibilidade de
coletar informações sobre as necessidades específicas da população mais pobre e de
524
LÍCIO, Elaine Cristina. Para além da recentralização: os caminhos da coordenação federativa do
Programa Bolsa Família (2003-2010). Doutorado. Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
525
CURRALERO, Claudia Regina Baddini; LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb. Desafios
para a coordenação intergovernamental do Programa Bolsa Família. In: Revista de Administração de
Empresas, vol. 51, n. 5, São Paulo, set./out.2011.p.466-467.
526
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Capacidades estatais no Programa Bolsa Família: o desafio da
consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Texto para discussão n. 1852. Brasília, Rio de
Janeiro: IPEA, 2013.
527
LÍCIO, Elaine Cristina. Para além da recentralização: os caminhos da coordenação federativa do
Programa Bolsa Família (2003-2010). Doutorado. Universidade de Brasília, Brasília, 2012.p.22.
199
gerir diversos aspectos do programa em âmbito local, de outro, o programa centralizar
no Executivo Federal o poder regulamentar e a definição efetiva dos beneficiários.528
Desse modo, é possível ver o PBF como descentralizado, considerando,
contudo, que essa descentralização ocorre apenas quanto à delegação da função de
implementação e execução da política e não à transferência de poder decisório.529
Ainda assim, ―o modelo hierarquizado de relações intergovernamentais não
tem prevalecido no âmbito das condicionalidades. Universais por concepção da CF, as
políticas de saúde, educação e assistência social possuem dinâmicas próprias de
negociação intergovernamental(...)‖.530 Assim, na gestão das condicionalidades, o
formato centralizado tende a não prevalecer, vez que envolvem saúde, educação e
assistência social, setores já adaptados a uma gestão descentralizada.
No mesmo sentido, Licio defende que os traços centralizadores do PBF,
embora presentes, têm sido atenuados na medida em que a realização dos objetivos de
boa cobertura/focalização e articulação com os serviços sociais básicos resultam em
mais articulação e negociação intergovernamental. Para ela, ―essa mudança está
diretamente relacionada com a crescente articulação do Programa com as estruturas
descentralizadas dos sistemas de políticas públicas de saúde, educação e, sobretudo,
do SUAS‖.531
Essas divergências parecem estar relacionadas ao fato de que a
implementação do PBF se depara, em todas as suas fases, com tensões, alguma delas
guiadas pela necessidade de que o programa funcione e se cristalize enquanto política
pública, o que exige celeridade nas decisões, ao mesmo tempo em que precisa ter
abertura a demandas sociais para garantir sua legitimidade, dinâmica que por vezes
ocorre em ritmo mais lento.
528
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades
institucionais locais. Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.p.85-86.
529
CAVALCANTE, Pedro Luiz. Programa Bolsa Família: Descentralização, centralização ou gestão em
redes?. In: Revista do Serviço Público n. 60, Brasília: ENAP, jan./mar. 2009.p.42.
530
CURRALERO, Claudia Regina Baddini; LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb. Desafios
para a coordenação intergovernamental do Programa Bolsa Família. In: Revista de Administração de
Empresas, vol. 51, n. 5, São Paulo, set./out.2011.p.467.
531
LÍCIO, Elaine Cristina. Para além da recentralização: os caminhos da coordenação federativa do
Programa Bolsa Família (2003-2010). Doutorado. Universidade de Brasília, Brasília, 2012.p.23.
200
Outra tensão está no fato de que o programa tem necessidade de
ferramentas que deem importância a quem o opera na ponta (estados e municípios),
possibilitando uma boa articulação entre os diferentes entes federativos como forma de
superação da centralização característica das políticas sociais no Brasil. Porém, o PBF
também precisa evitar que instrumentos abertos a agentes municipais e estaduais
favoreçam a reprodução do uso do programa para fins privados, o que pode ocorrer
quando gestores locais detêm muito poder sobre os beneficiários.
Já no que diz respeito à possibilidade de utilização do programa de modo
clientelista, ela pode estar sendo reduzida com a adoção de algumas medidas, como o
fato de o benefício ser entregue ao beneficiário por intermédio da Caixa Econômica
Federal, o que representa uma barreira para que o programa seja utilizado como forma
de captura de votos. Isso porque tal intermédio distancia o governo de quem recebe o
benefício, dificultando a concretização da barganha política.532 Outro mecanismo útil a
essa finalidade são as ICS, com participação social nas funções de acompanhamento,
monitoramento e fiscalização do PBF.
No entanto, esse tema também não é pacífico, havendo quem identifique que
o PBF estimula uma ―cultura de dependência‖ que leva à manutenção de práticas
clientelistas. Nesse contexto, Hall sugere, inclusive, a existência de uma relação entre a
eleição do Lula e o sucesso do PBF, com base em dados que indicam maior
popularidade do presidente onde há maior cobertura do programa e na informação de
que, em 2006, houve uma grande expansão do programa três meses antes das
eleições, período em que a imprensa relatou o uso do PBF por autoridades locais para
fins da captura de votos.533
O PBF não adota um modelo contributivo, pois seu benefício é concedido a
partir de um critério de renda e não de vinculação ao mercado de trabalho. Por outro
lado, ao selecionar beneficiários com base na comprovação da insuficiência de renda, o
programa ainda deixa de fora pessoas que precisariam dele, não incluindo uma
532
LINDERT, Kathy; LINDER, Anja; HOBBS, Jason; BRIÈRE, Bénédicte de La. The Nuts and Bolts of
Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized
Context.
Social Protection Discussion Papers 0709,World Bank, 2007.p.51.
533
HALL, Anthony. Brazil’s Bolsa Família: A Double Edged Sword? In: Development and Change, 39 (5),
2008.p.818 e 813.
201
―população altamente vulnerável à pobreza‖ que por mais que esteja um pouco acima
do limite de renda considerado no programa, tem dificuldades de acesso a serviços de
educação e saúde e provavelmente está mais suscetível a retornar à situação de
pobreza.534 Ainda, ao mesmo tempo em que o PBF não exige vinculação ao mercado
formal de trabalho, condiciona o recebimento do benefício ao cumprimento de
contrapartidas, não sendo uma política de renda básica distribuída para todos.
Sobre participação, de acordo com relato de Bruno Câmara, a relação entre
governo federal e municípios historicamente se deu na lógica da sanção, e por isso, há,
do ponto de vista desse gestor público, uma preocupação para que os objetivos do PBF
sejam alcançados pela lógica do incentivo. Assim, ―o PBF trabalha fundamentalmente
com o incentivo e não com a punição‖535. Pode haver, nesse sentido, uma relação entre
a maior descentralização e a opção pelo uso de mecanismos de estímulo na relação
entre o governo federal, os estados e os municípios.
Diante desse contexto, há muito mais a se esperar do direito constitucional.
Unger critica o constitucionalismo que vivemos, um constitucionalismo de impasse
deliberado e que não dá espaço para a causa democrática. Para ele, o imobilismo é
instrumento de defesa, justifica-se em um passado imaginário e idealizado; dirige a
atuação presente, ameaçando a imaginação institucional, que reputa de subversiva e
de inimiga da democracia. Apoia-se em presunções teóricas de grande efeito retórico, a
exemplo de proibição do retrocesso ou da constituição dirigente de Canotilho. Assim,
Unger prega um modelo de direito constitucional, totalmente refratário à experiência
que conhecemos e com a qual comungamos:
Um direito constitucional favorável ao engajamento do eleitorado
universal na resolução rápida de impasse entre órgãos do Estado deve
tomar o lugar de um direito constitucional simpático à desaceleração da
política. Entre os mecanismos de tal constitucionalismo alternativo
podem estar a combinação de formas pessoais plebiscitárias e
parlamentares de poder, o recurso a plebiscitos e referendos(...) Uma
estrutura jurídica da política eleitoral favorável a um aumento contínuo
do nível de mobilização política popular pode tomar o lugar da que
534
SOARES, Sergei; RIBAS, Rafael Perez; SOARES, Fábio Veras. Focalização e cobertura do Programa
Bolsa-Família: Qual o significado dos 11 milhões de famílias? Texto para discussão nº 1396. Rio de
Janeiro: IPEA, 2009.p.26.
535
Trecho de entrevista concedida por Bruno Câmara, gestor na SENARC/MDS, Brasília,2010.
202
transforma a política eleitoral numa interrupção ocasional e menor da
vida prática.536
Para Unger não há quem possa levar adiante as reformas que são
necessárias e que traduziriam institucionalmente a imaginação que exige que nos
organizemos de outro modo. Pelo menos, à luz das fórmulas institucionais existentes,
herdeiras do regime de tripartição dos poderes e da concepção racional-iluminista de
que o poder é o freio do próprio poder. Quem será o agente da mudança, a parteira do
novo mundo? O autor propõe que criemos esse novo agente transformador:
Essa mudança, contudo, demandaria a própria abertura ao
experimentalismo democrático em que o direito contemporâneo e as
democracias contemporâneas se provaram tão notavelmente
deficientes. Ela exigiria de nós, como advogados e cidadãos, que
completássemos a passagem do já realizado primeiro passo, de
insistência na efetividade do gozo de direitos, ao segundo e ainda
ausente passo de imaginação e reconstrução institucional.537
Unger se incomoda com o papel que o direito tem desempenhado,
permanecendo imóvel, dizendo-se ocupado com uma análise jurídica de problemas
imaginários, uma prática jurídica idealizante que sufocou o conflito social.538 O autor
desconfia desse modelo no qual a assepsia do direito rejeite a intervenção do Estado.
O discurso reformista é recorrente. Pretende-se mudar tudo, toda hora. Mas
não se vai muito longe. É o caso de artigos jurídicos, publicados em revistas
especializadas. Segundo Unger, esses artigos são sempre iguais. Partem da lei. Falam
mal dela e apontam como deve ser mudada. Mas não chegam ao fundo do problema;
ocupam-se com conjunturas, não se refere a estruturas. Pouco avança. É mero
adereço.539 Contra esse reformismo conservador, a tarefa principal do pensador do
direito seria o comprometimento com o desenvolvimento de uma teoria e de um modelo
que buscassem a realização de compromissos sociais de forte apelo democrático.
536
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp.p.28.
537
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p. 49.
538
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p.60.
539
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p.107.
203
Deve-se definir o método de uma maneira que respeite a realidade humana e
as necessidades práticas das pessoas que vão a juízo. Devemos estar certos de que
nossa prática judicial deixa aberto e disponível, na prática e na imaginação, o espaço
onde o trabalho real da reforma social pode ocorrer. Devemos evitar o dogma e aceitar
fazer concessões na nossa descrição da prática e também no nosso entendimento da
sociedade para o qual a prática contribui.540
Unger critica a excessiva racionalização que teorias contemporâneas
projetam no direito, em especial sob uma feição culturalista para a qual o direito seria a
representação direta do espírito de uma época e de um povo. Para ele, são abordagens
maculadas por ilusão e que
nos afastam da descoberta de oportunidade
transformadora. As ideias do autor encontra forma na expectativa de um modelo social
que nomina de poliarquia radical. Retoma-se antiga atitude política, localizada e
pluralista. Afirma-se a prestabilidade da pulverização de instâncias de poder. 541
A poliarquia radical opera por técnicas de descentralização de poder e
organização da sociedade civil. Ela pretende descentralizar o poder
estatal central para comunidades locais ou especializadas. Ela pretende
que a sociedade civil seja organizada, ou melhor, se organize, de modo
que possa receber e exercitar efetivamente esses poderes que lhe são
legados. A ligação entre descentralização e organização é o que mais
distingue o programa da poliarquia radical das ideias liberais ou
centristas tradicionais com as quais superficialmente se parece. O
princípio institucional básico é que a cada etapa na descentralização de
poder deve corresponder um avanço na organização da sociedade
civil.542
Unger sugere fórmulas para que se possa operar satisfatoriamente a
descentralização do poder, por intermédio de mecanismos de transferências. O
fracionamento de contextos de domínio é condição necessária para a engenharia de
comunidades centradas no esforço comum de melhora e de refinamento do indivíduo.
A transferência de poder se dá oferecendo oportunidades de iniciativa
cada vez maiores para as organizações mais próximas aos locais em
540
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.141-142.
541
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p.148.
542
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p.183.
204
que as pessoas vivem e trabalham ou aos contextos em que elas se
organizam em torno de preocupações partilhadas. Assim, uma forma de
transferência é o impulso para dividir grandes unidades produtivas em
partes menores, mais flexíveis e participativas, combinando essas
unidades descentralizadas em redes cooperativo-competitivas de
empresas.543
Para Unger outro exemplo de descentralização de poder é o fortalecimento
do governo local. A descentralização do poder daria vida e densidade à vida social,
contudo havendo necessidade de cautelas, afinal ―Transferir poder para empresas,
comunidades e associações existentes numa sociedade organizada desigual e
hierarquicamente sem reorganizar a sociedade significa simplesmente abdicar do poder
em favor daqueles já organizados e privilegiados‖.544
Quanto à essa nova sociedade civil que imagina, com vistas a um estágio
final para a concretização de uma democracia libertadora, Unger assente:
Para que a descentralização avance, a sociedade civil deve ser
reorganizada de modo que satisfaça a duas exigências fundamentais:
que nenhum grupo esteja persistente e significativamente em
desvantagem no seu nível de associação e que a ordem organizacional
inteira resista a um impulso recentralizador.(...)Tais reformas não
implicam uma virada abrupta e completa para um conjunto novo de
instituições. O que elas sugerem é um afrouxamento cumulativo das
formas institucionais recebidas em direção a um autogoverno
descentralizado na produção e troca, na vida em comunidade e na
distribuição de serviços de bem-estar.545
O projeto de Unger desemboca na democracia mobilizadora, tal qual um
terceiro nível (ou direção) na radicalização do projeto democrático e sucede à
socialdemocracia ampliada e à poliarquia radical.
Para a socialdemocracia ampliada, a verdadeira emoção ocorre na vida
do indivíduo; ela quer que a política se torne menor para que os
indivíduos possam se tornar maiores. Para a poliarquia radical, a
emoção acontece nas comunidades e organizações - as formas originais
de vida em grupo para as quais se transfere gradualmente o poder(...)
Para a democracia mobilizadora(...)o palco preferido é toda a sociedade;
543
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p.183.
544
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p.184.
545
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.184-185.
205
Ela se recusa a abandonar, ou estreitar, o espaço da política
abrangendo toda a sociedade.546
A democracia mobilizadora desdobra-se na necessidade de um direito
constitucional que promove resposta sobre qual o papel do direito na construção de
uma sociedade democrática, ―No lugar de estruturas que favorecem impasse ou exigem
consenso, a democracia mobilizadora coloca técnicas constitucionais que facilitam o
uso transformador do poder político e a execução resoluta de experimentos
programáticos.‖547. Outorga-se novo papel para o direito. A imaginação institucional
necessita de ferramentas. O direito tem muito mais a dizer e a fazer do que plasmar-se
em ficções e em problemas de presunções legais. O plano do livro de Unger dá as
linhas gerais da concepção de direito em favor de um projeto democrático:
O livro se inicia pelo desenvolvimento de um ponto de vista
experimentalista e democrático a partir do qual se podem julgar as
oportunidades intelectuais e políticas da atualidade. Discute por que a
imaginação institucional necessita de novas ferramentas e qual trabalho
podemos esperar realizar com elas. O livro então se volta para o direito
e para o pensamento jurídico como fonte dessas ferramentas.548
Diante do exposto até aqui e tomando-se as idéias de Unger de Direito como
Imaginação Institucional como ferramenta análitica para o estudo de caso do PBF,
numa espécie de Teoria Jurídica do Bolsa Família, parece-nos que, apesar dos grandes
ensinamentos de Marshal, das ideías de Murilo de Carvalho, o que existe atualmente é
o declínio da ideia de cidadania, considerando-se autores como Faria que fala em crise
do direito como reflexo do declínio do Estado nação, uma abordagem que desmonta,
incluive a ideia de Constituição Dirigente.
Para Habermas estariamos longe de um Estado Democrático de Direito,
inobstante as idéias defendidas por José Afonso da Silva e Paulo Bonavides que
identificam Estado Democrático de Direito com a Constituição. Habermas oferece uma
perspectiva mais ampla pelo que a democracia deve estar ancorada na sociedade civil
546
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp. p.198.
547
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.200.
548
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo: Boitempo, 2004.
Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e Marcio Soarez Grandchamp p.10.
206
e na esfera pública e não apenas nas instituições. Com base nessas ideias, concluimos
ser a falta de participação social um grave problema na gestão das políticas públicas
atuais, seja em razão de falta de mecanismos disponibilizados por tais políticas à
sociedade civil ou por uma falta de cultura política de cidadania da população como um
todo, desacostumados a serem vozes ouvidas, sobretudo os mais pobres.
Por outro lado, apesar da financeirização da economia, do enfoque
economicista dado às políticas públicas no brasil, pela esquerda ou pela direita, das
idéias de constitucionalização simbólica e subintegração de Marcelo Neves referidas ao
longo da pesquisa, das inúmeras dificuldades para implementar políticas de inclusão
definitiva, num contexto de capitalismo global e neoliberal, consideradas as
decorrências da tensão entre capitalismo de democracia, conforme ideias de
Habermas, Faria, Boaventura e outros, o PBF vem sim consolidando-se justamente
como uma prova da inclusão social e do papel da CRF/88 nesse processo.
Mas, ‗‘somente por meio de política social firme, instituições sociais estáveis,
recursos orçamentários, comprometimento da sociedade e uma equipe de agentes
assistenciais comprometidos com os programas, será possível reverter, definitivamente,
o quadro de miséria em nosso país. Ainda, há muito o que se fazer!‖.549
549
NOBRE, Edna Luiza. A Previdência, a Assistência e os Programas de Transferência de Renda.. In:
SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Patrícia Cristina; (Orgs.). O
Direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2015.
207
CAPÍTULO 3. PARA ALÉM DO BOLSA FAMÍLIA
Apesar dos expressivos ganhos redistributivos decorrentes do PBF, a
qualidade de vida de milhões de brasileiros tem sido afetada pela ausência de maior
proteção nas áreas de saúde, educação e saneamento. De acordo pesquisa do IBASE,
sob a perspectiva das políticas públicas, o PBF contribui para melhoraria das condições
de vida dos seus beneficiários, mas por si só, não garante índices satisfatórios de
segurança alimentar, questão associada a um quadro de pobreza mais amplo.550.
Partindo-se do pressuposto da concepção de pobreza não como mera
insuficiência de renda, e por isso mesmo para o seu combate deve-se ir muito além da
transferência de recursos financeiros para as famílias mais pobres, tem-se como
necessária a articulação do PBF com outras políticas públicas direcionadas ao
desenvolvimento das capacidades dos seus beneficiários. A realização dos objetivos do
programa depende da sua integração com ações e serviços que possibilitem o referido
desenvolvimento das capacidades das famílias. Em outras palavras, o seu sucesso está
indissocialmente ligado a ações complementares.
Inobstante a apresentação dos resultados já mensurados, pode-se afirmar
que o PBF ainda está em processo de construção. No que diz respeito a sua
ampliação, a identificação e cadastramento das famílias mais pobres é preocupação
constante. Hoje, apesar de trabalhar com uma estimativa oficial de 14 milhões de
famílias pobres, o CadÚnico mostra um número adicional de famílias com o perfil do
PBF e o maior desafio é assegurar que todo esse público seja atendido pelo programa.
Além disso, imaginar que o Brasil, com forte histórico de pobreza e
desigualdade, pudesse ter encontrado a solução em tão pouco tempo seria apelo
simplório. Muito ainda há por fazer nas esferas pública, privada e no terceiro setor, para
que o Brasil encontre o caminho sustentável de desenvolvimento econômico e social. O
PBF poderá ser também um instrumento, basta fortalecê-lo nesta direção.
Contudo, a situação de vulnerabilidade dessas famílias não se restringe à
insuficiência de renda para suprirem suas necessidades básicas, pois também faltam
550
IBASE (2008). Repercussões do Programa Bolsa-Família na Segurança Alimentar e Nutricional das
famílias beneficiadas. Disponível em: http://www.ibase.br/userimages/documento_sintese.pdf p.10.
Acesso em 13 de agosto de 2013.
208
meios para a inserção no mercado de trabalho ou para o desenvolvimento de
alternativas de geração de renda compatíveis com uma existência digna. 551
A emancipação dos beneficiários do programa projeta ao PBF um caráter
educativo de promoção cidadã, sendo necessário que os beneficiários produzam sua
própria renda, sem depender do poder público, minimizando o risco de retornar à
situação de miséria. Os meios seriam cursos profissionalizantes, formação de
cooperativas, restaurantes populares, bancos de alimentos, comitês gestores e etc.
Senhor Presidente uma ajuda ela se acaba; o que necessito é de um
emprego que garanta minha vida.
(Trecho de uma carta vinda do interior da Paraíba, publicada no livro
Cartas ao Presidente Lula de Amélia Cohn).
Ao que tudo indica, ninguém quer deixar um cartão de Bolsa Família como
herança para seus filhos
3.1. A articulação entre políticas púbicas sociais
A difusão de direitos sociais no Brasil e inovação institucional podem ser
classificadas em três grandes fases: os anos de bem-estar corporativo, entre 1930 e
1964; o período de universalismo básico, compreendido entre os anos de 1964 a 1984;
e o período pós-88, considerado como universalismo estendido.
A
fase
do
bem
estar
corporativo
caracteriza-se
pelo
desenho
e
implementação das legislações trabalhistas e previdenciárias, cuja ideia de expansão
de
direitos
sociais
estava
quase
completamente
submissa
ao
projeto
de
industrialização.552 Na década de 1930, com início da trajetória de industrialização do
país, começou-se a estruturar um sistema nacionalmente articulado e regulado de
proteção social. Contudo, essas políticas sociais, sobretudo arranjos previdenciários
551
QUINHÕES, Trajano Augustus; FAVA, Virginia Maria Dalfior. Intersetorialidade e transversalidade: a
estratégia dos programas complementares do Bolsa Família. In: Revista do Serviço Público Jan/Mar
2010. Disponível: <http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3537>
Acesso em 01 de setembro de 2014. p.67
552
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio de Janeiro:
Campus, 2012.
209
contributivos, serviram mais aos interesses de elites políticas; sendo heterogêneas,
fragmentadas e beneficiando apenas grupos sociais específicos.553 Constituindo-se em
um modelo corporativo, a proposta era a incorporação social via mercado de trabalho,
nos quais a institucionalização de direitos estava relacionada às necessidades de
mudanças abruptas na sociedade e economia brasileiras.554
Enquanto isso, no período de universalismo básico, entre os anos de 1964 a
1984, houve a unificação e extensão da cobertura previdenciária para extratos sociais
tradicionalmente excluídos e a criação simultânea de um segmento privado e público de
saúde; gerando uma relativa massificação, mas com universalização pouco efetiva e
ampliação desigual de proteções e oportunidades.555
No período pós-1984 e com a instalação da transição democrática, o debate
sobre o Estado de Bem Estar Social – EBES - no Brasil ganhou centralidade, rejeitando
a tese de que o desenvolvimento social é uma decorrência espontânea do
crescimento.556 Muito influenciada por esses debates, a CRF/88 incorpora em seu texto
os anseios de transformação da sociedade; positivou os direitos de seguridade social
(arts. 194 e 195); introduziu o modelo de federalismo cooperativo aliado ao princípio da
solidariedade funcional; um rol extenso de direitos sociais que, apesar de não poderem
ser exigidos subjetivamente, obrigam uma atitude positiva, constante e diligente do
Estado, no intuito de promover a transformação das estruturas sociais. 557
Não havia até então uma cultura de que os direitos sociais deveriam compor
a estrutura do Estado de uma forma que não fosse residual ou que apenas servisse aos
interesses de uma política macroeconômica de ideário nacional-desenvolvimentista;
capaz de ser totalmente desvinculada de uma lógica contratual e adquirisse um status
553
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa
Bolsa Família. In: TRUBEK, David M.; SCHAPIRO, Mario G. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um
diálogo entre os BRICS. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2012.
554
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio de Janeiro:
Campus, 2012.
555
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio de Janeiro:
Campus, 2012.
556
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa
Bolsa Família. In: TRUBEK, David M.; SCHAPIRO, Mario G. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um
diálogo entre os BRICS. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2012.
557
BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição. Para uma crítica do Constitucionalismo. SP: Quartier
Latin, 2008.
210
político, sendo garantida a todos os cidadãos558
O período pós-88, considerado de universalismo estendido, caracteriza-se
pela institucionalização da assistência social, a fixação de um mínimo social, a extensão
da cobertura previdenciária não contributiva, a criação do SUS e a política de
valorização do salário mínimo559; além das políticas de transferência de renda
condicionada e diversos programas sociais ligados a emprego, renda e acesso a
serviços com foco nos mais pobres560, que podem indicar um avanço rumo a um
sistema ainda não completamente concretizado, mas que pode ser denominado
provisoriamente de universalismo redistributivo561.
As fases incluídas no período que vai da década de 1930 até os primeiros
anos da Constituição de 1988 tiveram como característica uma multiplicidade de
políticas sociais, mesclando tipos variáveis, cujos procedimentos burocráticos de gestão
e acompanhamento tornavam-se um desafio não só para o Governo nas políticas
fragmentadas em vários ministérios, como para os próprios beneficiários.
Nem sempre uma política social faz parte de uma estratégia de Estado para
o desenvolvimento econômico. Para Comparato, o direito, depois da grande depressão,
transformou a ideia de economia política para uma ideia de política econômica, na qual
as prioridades do Estado estariam presentes e teriam mecanismos para serem
executadas.562 Sempre há na razão do Estado alguma política econômica, todavia, isso
não significa que na política econômica esteja incluída uma política social. Disso
resultou um problema na concepção da política social como separada da política
econômica ou, por vezes, até antagônica. O Brasil seguiu esse modelo, sendo os
benefícios sociais, na maioria dos estudos, sequer tratados de forma sistematizada e
única, como uma política, mas como instrumentos isolados que buscavam resolver
558
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio de Janeiro:
Campus, 2012.
559
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio de Janeiro:
Campus, 2012.
560
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa
Bolsa Família. In: TRUBEK, David M.; SCHAPIRO, Mario G. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um
diálogo entre os BRICS. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2012.
561
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio de Janeiro:
Campus, 2012.
562
COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. In Estudos e Pareceres de Direito
Empresarial, Rio de Janeiro, Forense, 1978, pp. 453-472.
211
problemas pontuais.563
Paralelamente as políticas sociais ―principais‖ com benefícios contributivos
vinculados ao trabalho formal havia as políticas de alívio à pobreza, constantemente
incluídas no orçamento estatal, mas com pouca racionalidade e com estruturas
completamente despreparadas para a gestão e acompanhamento
564
. A Infinidade de
documentos, cadastros, prazos e burocracia necessários à concessão e gestão de
benefícios, tornavam o procedimento de acesso extremamente complexo, causando
empecilhos ou até impossibilitando que chegassem aos seus destinatários finais.
O resultado era um gasto excessivo e ineficiente do governo com estes
programas, gerando a cultura de que políticas sociais eram gastos perdulários ao
Estado, como salienta Cohn565. O processo decisório centralizado, sem previsão de
mecanismos de controle social nem tampouco articulação e integração entre os entes
federados gerava uma apropriação de uma parcela significativa das provisões sociais
pelos setores privados e classes economicamente privilegiadas.566
O período entre 1994-2002 foi o momento em que os programas de
enfrentamento à pobreza baseados em transferência monetárias (condicionados ou
não) foram adicionados à política social no Brasil. O período pode ser entendido como
uma expansão de direitos, já que teriam cumprido um papel complementar e não
confrontado as políticas sociais anteriores; porém acompanhado de maiores desafios,
já que quanto mais programas implementados simultaneamente, maiores são os
desafios de coordenação intersetorial que sua gestão simultânea enfrenta.567
Em 2003 foi lançado o PBF que torna o período subsequente até os dias
563
DRAIBE, Sônia Miriam. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702003000200004&script=sci_arttext.
COHN, Amélia. Políticas Sociais e Pobreza no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, n. 12, jun/dez
1995, p.1-17. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/138/140>
564
COHN, Amélia. Políticas Sociais e Pobreza no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, n. 12, jun/dez
1995, p.1-17. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/138/140>
565
COHN, Amélia. Políticas Sociais e Pobreza no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, n. 12, jun/dez
1995, p.1-17. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/138/140>
566
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa
Bolsa Família. In: TRUBEK, David M.; SCHAPIRO, Mario G. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um
diálogo entre os BRICS. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2012.
567
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa
Bolsa Família. In: TRUBEK, David M.; SCHAPIRO, Mario G. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um
diálogo entre os BRICS. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2012.p.95 e 96.
212
atuais marcado pela expansão e consolidação das transferências condicionadas de
renda, que utilizando mecanismos de focalização acompanhados de condicionalidades,
busca a redução da pobreza através de metas que, em longo prazo, visam também o
desenvolvimento do capital humano.568
Como visto em tópico específico, a estrutura institucional é operacionalizada
através do CadÚnico e do IGD, contando o programa com uma articulação entre
Estados, Municípios e Governo Federal. Por esta característica a gestão é
descentralizada e compartilhada da qual participam todos os entes estatais e a
sociedade civil. A gestão também é considerada intersetorial, pois é organizada
internamente por um processo intenso de diálogo e interação entre Ministérios e órgãos
da administração pública, sendo MDS responsável formal.569
As políticas públicas locais são compostas por programas governamentais de
distintas procedências - federal, estadual, municipal e mesmo, por programas nãogovernamentais ou outros ligados à cooperação internacional, pelo que um dos grandes
desafios na obtenção dos objetivos desenhados por essas ações passa a ser a
articulação entre atores e setores envolvidos.
Nesse contexto, a questão da articulação entre políticas públicas pode ser
analisado sob perspectivas tais como, a procedência das ações governamentais, o
espaço decisório, considerando-se a questão dos arranjos institucionais e ainda, o
poder dos atores e instituições sobre as oportunidades dessa articulação. Considera-se
que ―As estruturas da desigualdade podem ser, se não modificadas, bastante
perturbadas na sua inércia conservadora, mediante processos jurídicos-institucionais
bem articulados‖570.
O caráter sistemático das políticas públicas é o que possibilita enfrentar
a fragmentação ou desarticulação da ação governamental, evoluindo no
sentido do desenvolvimento. Esses problemas apresentam-se tanto no
âmbito intragovernamental, quando a ação depende do envolvimento
sistemático de vários pólos de competência com atribuição sobre o
568
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas sociais brasileiras: um estudo sobre o Programa
Bolsa Família. In: TRUBEK, David M.; SCHAPIRO, Mario G. (orgs.). Direito e desenvolvimento: um
diálogo entre os BRICS. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva/FGV, 2012.
569
COUTINHO, Diogo R. Capacidades Estatais no Programa Bolsa Família: o desafio de consolidação do
Sistema Único da Assistência Social. Texto para Discussão (IPEA. Brasília), v. 1, p. 1-50, 2013.
570
BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. São Paulo:
Saraiva, 2013.p.30.
213
tema, como extragovernamental, quando o sucesso da ação
governamental está relacionado ao comportamento de agentes externos
ao corpo do governo.571
A superação da pobreza, da desigualdade e da exclusão social no Brasil é
um desafio que extrapola a capacidade de um único nível de governo e requer a
adoção de políticas que incorporem a intersetorialidade e a transversalidade, e
consigam atender as demandas dos segmentos excluídos. 572
O enfrentamento da pobreza em seu caráter multidimensional, que
apresente resultados que sejam significativos, requer uma estratégia
que consiga alcançar a intersetorialidade e a transversalidade com
esforços integrados dos diferentes setores dos três níveis de governo e
da sociedade civil e que tenha a capacidade de incorporar temas,
visões, públicos, problemas e objetivos às tarefas da organização que
não se encaixam nas estruturas organizativas tradicionais verticais573
A intersetorialidade é definida como ―a articulação de saberes e experiências
no planejamento, na realização e na avaliação de ações, com o objetivo de alcançar
resultados integrados em situações complexas visando a um efeito sinérgico no
desenvolvimento social‖574.
Toma-se a ideia de intersetorialidade como convergência de esforços dos
diversos setores governamentais e não governamentais na produção de políticas
públicas integrais e integradas que respondam às necessidades da sociedade de forma
completa.575 Intersetorialidade como imperativo à coordenação entre os órgãos da
administração pública, bem como entre o Estado e a sociedade civil, em todo o ciclo de
formação
das
políticas
sociais.
Considera-se
a
perspectiva
da
articulação
intergovernamental (entre entes federativos) e a intragovernamental (mesma esfera de
571
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito: In: (Org.). Políticas Públicas:
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p.253.
572
QUINHÕES, Trajano Augustus; FAVA, Virginia Maria Dalfior. Intersetorialidade e transversalidade: a
estratégia dos programas complementares do Bolsa Família. In: Revista do Serviço Público 61(1): 67-96
Jan/Mar2010.Disponívelem:<http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid
=3537> Acesso em 01 de setembro de 2014. p.67
573
MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. Gestão de Políticas Públicas: Estratégias Para Construção de
Uma Agenda. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 2006.p.78.
574
JUNQUEIRA, L.A.P. Novas formas de gestão na saúde: descentralização e intersetorialidade. Saúde
Social, 6(2): 31-46, 1997.p.79.
575
MENDES, R.; AKERMAN, M. Intersetorialidade: reflexões e práticas. In: FERNANDES, J.C.A.;
MENDES, R. (Org.). Promoção da saúde e gestão local. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2007.
214
governo, entre diferentes setores ou áreas). A articulação intersetorial com a sociedade
dá-se com a construção de redes entre ela e o Estado, incluindo as parcerias com
organizações sociais e instituições privadas.
No tocante a esse compartilhamento de responsabilidades entre as esferas
de governo, atribui-se a sua especial importância ao fato de que, embora a CRF/88
defina o combate à pobreza e à desigualdade como objetivos da federação, não prevê
o direito à renda como direito constitucional. Além disso, tem-se o PBF como uma
criação de lei ordinária e, portanto culmina-se em ausência de um poder para se definir
as responsabilidades dos estados e municípios. A sua implementação passou a
depender de processos de negociação e coordenação entre os entes federativos e por
isso, necessária foi a construção de voluntários mecanismos de adesão e pactuação. 576
Ao demandar-se integração e articulação entre ações e serviços de
diferentes esferas e áreas do governo são apresentados desafios complexos de
coordenação. Para Coutinho um dos desafios é a ―articulação e aproveitamento de
potenciais e sinergias, externalidades positivas e ganhos de escopo e escala entre
políticas sociais diferentes‖.577 Integradas para melhor atender os destinatários, evita-se
a duplicidade de procedimentos, bem como a multiplicação dos custos. Coutinho
aponta para um ―feixe de ações ancoradas na descentralização, coordenação
intersetorial, participação e controle social‖, com arranjos institucionais num sistema
universal mais amplo e integrado, enfrentando-se os desafios da orquestração,
coordenação e articulação.
Castel considera a perspectiva da articulação no contexto da redução das
desigualdades, levando-se em conta realidades locais e a exclusão de grupos.
A redução de desigualdades específicas depende da articulação de
políticas sensíveis ao atendimento de demandas particulares,
direcionadas a realidades locais, e de uma mudança nas políticas
sociais, de políticas de integração para políticas de inserção dos grupos
576
QUINHÕES, Trajano Augustus; FAVA, Virginia Maria Dalfior. Intersetorialidade e transversalidade: a
estratégia dos programas complementares do Bolsa Família. In: Revista do Serviço Público.
Jan/Mar2010.Disponíve:<http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3
537> Acesso em 01 de setembro de 2014.
577
COUTINHO, Diogo R. Capacidades Estatais no Programa Bolsa Família: o desafio de consolidação do
Sistema
Único
da
Assistência
Social.
Disponível:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19366. Acesso 28/08/13
215
excluídos da sociedade, para que não se construa cidadania sobre
inutilidade social578.
Diante do exposto nesse tópico, conclui-se que a articulação entre as
politicas sociais complementares ao PBF passa a ser considerado como um grande
desafio, em todos os níveis de poder, rompendo-se ciclos de políticas públicas que
desconsideram as diversidades locais e regionais. E mais, pensar na continuidade de
ações ao longo de diferentes governos, em lugar de governos que apenas desfaçam ou
ignorem ações de antecessores. Uma articulação institucional e política que integre de
forma ordenada as ações e estratégias governamentais repercutem diretamente num
resultado positivo de menor demanda judicial para concretização de direitos sociais,
dando a sua contribuição, inclusive, para mitigar os problemas decorrentes do
fenômeno crescente da Judicialização desses direitos.
A retórica distributivista existiu sempre como retórica eleitoral, mas
nunca conseguiu efetivar-se politicamente em um conjunto articulado de
políticas públicas com vistas a promover a cidadania democrática. Sua
história na modernização econômica do país foi sempre a de veículo de
uma incessante postergação de decisões políticas para efetivar políticas
distributivistas. Políticas públicas voltadas para a feitura de consistentes
investimentos estatais direcionados a encaminhar algumas soluções
destinadas a reduzir ao máximo o impacto das imensas desigualdades
sociais foram sistematicamente adiadas em nome de ―impossibilidades
técnicas‖. 579
3.2. Programas complementares e a inclusão social dos beneficiários
Uma abordagem sobre as condições de saída dos beneficiários do PBF
aponta para a necessidade de uma maior articulação com outras políticas e programas
sociais de modo que esses beneficiários passem a ser autossustentáveis perante o
Estado e Sociedade, concretizando assim uma efetiva inclusão social desses
indivíduos no Estado Social e Democrático de Direito que constitui o Brasil.
578
CASTEL Robert. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus, Maria Carmelita Yazbek.
Desigualdade e a questão social / São Paulo: EDUC, 2000. p.71
579
REGO, Walquiria Leão. Aspectos teóricos das políticas de cidadania: uma aproximação ao Bolsa
Família. Lua Nova, São Paulo, 73. 2008. 147-185.
216
As famílias beneficiárias do PBF se enquadram em situações de pobreza e
extrema pobreza. A pobreza tem diversas dimensões o que, para esta pesquisa,
sugere a articulação das Políticas Públicas com olhar específico para aqueles que
sempre foram excluídos do acesso a direitos sociais básicos, de forma a garantir
equidade de oportunidades no exercício da cidadania a todos.
O PBF é composto por três dimensões, permeadas pelas lógicas da
transversalidade e da intersetorialidade. A primeira refere-se ao alívio imediato da
pobreza, por meio da transferência direta de renda; a segunda diz respeito ao reforço
que o benefício visa oferecer para que direitos sociais básicos de saúde e educação
sejam ofertados e acessados, contribuindo para que as famílias rompam o ciclo da
pobreza perpetuado entre as gerações. Essa dimensão do programa propõe-se a se
materializar por meio das chamadas condicionalidades.
A terceira dimensão do PBF relaciona-se à articulação do governo federal
com estados, municípios e entidades da sociedade civil para ampliar e potencializar a
oferta aos beneficiários de programas e ações complementares. O objetivo é
complementar e potencializar os impactos proporcionados pelas transferências
condicionadas de renda na redução das desigualdades, promovendo um salto
qualitativo que contribua para a melhor distribuição da renda e conduza as famílias
para uma situação de superação sustentada da vulnerabilidade econômica e social.
O decreto que regulamenta o PBF estabelece como objetivo básico do
programa ―estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de
pobreza e extrema pobreza‖580. Nesse sentido, os programas complementares à
transferência de renda, articulados em 2006 e 2007, visaram contribuir para o
desenvolvimento das capacidades dos membros dessas famílias e para a oferta de
oportunidades de trabalho e de geração de renda, a fim de possibilitar a superação da
situação de pobreza e de vulnerabilidade social em que se encontravam.
Em consonância com os eixos do PBF relacionados à ruptura intergeracional
da pobreza e desenvolvimento das famílias são desenvolvidas parcerias intersetoriais
consideradas estratégicas. As parcerias visam qualificar o acesso das famílias
beneficiárias a direitos sociais básicos, por meio de políticas e programas relacionados
580
Decreto nº 5.209 de setembro de 2004, artigo. 4o, inciso III.
217
às áreas de Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional, Educação e Assistência Social,
em complementação às condicionalidades. Na área de Educação, a Alfabetização de
Adultos e Educação Integral e na área de Saúde, a Atenção Básica a Saúde, sobretudo
das gestantes, nutrizes e a crianças, são consideradas centrais a esse processo.581
Programas complementares são ações organizadas e regulares de iniciativa
do Governo Federal, dos governos estaduais, municipais, do Distrito Federal e da
sociedade civil direcionadas às famílias beneficiárias do PBF para o desenvolvimento
de suas capacidades e oferta de oportunidades, visando a superação da
vulnerabilidade
social.
Devem
levar
em
conta
o
perfil das famílias,
suas
vulnerabilidades, potencialidades, e considerar as potencialidades econômicas e
socioculturais específicas de cada localidade. Abrangem ações e políticas setoriais nas
áreas de acesso ao conhecimento e ampliação da escolaridade, geração de trabalho e
renda, garantia dos direitos sociais, desenvolvimento local, dentre outras.582
Os Programas Complementares podem ser específicos ou já existentes. Os
específicos são criados exclusivamente para atender as pessoas inscritas no
CadÚnico, em
especial as beneficiárias
do PBF e os existentes focalizam e/ou
priorizam as famílias de maior vulnerabilidade.583
O Decreto 5.209 de 17 de setembro de 2004 afirma que cabe aos estados e
municípios estabelecer parcerias para a oferta de programas complementares e prevê
a celebração de termos de cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e
os municípios, visando à formulação desses programas. O Decreto 6.393 de 12 de
março de 2008 estabelece o Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social, que
define como competência da União oferecer aos estados e ao Distrito Federal apoio
para o desenvolvimento de políticas complementares ao PBF.
Dessa forma, considera-se a articulação de ações para promover às famílias
beneficiárias oportunidades e condições para superar a pobreza de forma sustentável,
abrangendo-se diferentes áreas como educação, trabalho, cultura, microcrédito,
581
Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/acoes-integradas acesso 240515
Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/capacitacao/arquivos/apresentacoes/programascomplementares.pdf/view?searchterm=programas complementares
583
Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/capacitacao/arquivos/apresentacoes/programascomplementares.pdf/view?searchterm=programas complementares
582
218
capacitação e melhoria das condições habitacionais. São exemplos dessas ações os
programas para alfabetização e aumento de escolaridade, qualificação e inserção
profissional, formação
de
microempreendimentos,
concessão de
microcrédito,
estratégias de apoio à aquisição, construção ou reforma de unidade habitacional,
produção e acesso à cultura e emissão de documentos de identificação civil.584
Os programas complementares são planejados em três etapas: diagnóstico,
planejamento e execução e acompanhamento dos resultados. O diagnóstico começa
pelo levantamento de dados socioeconômicos da população a ser atendida; o
planejamento leva em conta o perfil dos beneficiários, suas vulnerabilidades e
habilidades, além das ações e serviços já em desenvolvimento. É fundamental que os
programas complementares explorem sempre as vocações econômicas e culturais de
cada localidade. Por fim, o acompanhamento dos resultados possibilita a melhoria dos
processos por meio da identificação de pontos fortes e fracos, desenvolvendo e
aprimorando métodos de trabalho, além de ser fundamental para o monitoramento da
ação e o correto direcionamento de sua execução.585
As vulnerabilidades quanto às potencialidades das famílias beneficiadas pelo
PBF devem ser levadas em consideração para a coordenação intergovernamental e o
estabelecimento
de
parcerias
com
entidades
não
governamentais
para
a
implementação de ações que as beneficiem. Para que as famílias beneficiadas tenham
sua cidadania fortalecida e possam estruturar sua renda a partir de seu próprio trabalho
e as crianças e jovens tenham a oportunidade de um futuro melhor, faz-se necessário
que as famílias sejam contempladas por essas ações. A organização dos programas
complementares deve levar em conta o perfil e a demanda de cada família e as ações
e serviços existentes no local. Para algumas famílias a alfabetização e educação de
jovens e adultos são de fundamental importância e para outras a capacitação
profissional ou acesso ao microcrédito. 586
584
Disponível:http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/programascomplementares/programascomplementares/
?searchterm=programas complementares
585
Disponívelhttp://www.mds.gov.br/bolsafamilia/programascomplementares/programascomplementares/?
searchterm=programas complementares
586
ABREU, Débora Nunes. Ação Complementar do Programa Bolsa Família em Congonhas-MG:
correlação de políticas públicas e gênero. Especialização em Gestão em Políticas Públicas. 2012.
Universidade Federal de Ouro Preto MG.
219
Os programas complementares constituem-se em estratégias de intervenção
articuladas e integradas entre as diferentes áreas dos governos federal, estaduais e
municipais e da sociedade. Deve possibilitar o desenvolvimento das capacidades das
famílias e a redução de vulnerabilidades específicas. São resultado da associação
entre políticas de redução da pobreza e políticas de promoção da cidadania e
demandam, necessariamente, uma articulação intersetorial, bem como, uma
coordenação e integração entre políticas que priorizem o atendimento das famílias
beneficiárias587.
Ditas ações complementares não compõem o PBF e nem a ele subordinamse. São exemplos de programas complementares: programas de geração de trabalho e
renda, de alfabetização de adultos, projeto de promoção do desenvolvimento local e
economia solidária, programa nacional da agricultura familiar, programas de
microcrédito do banco do nordeste, programa nacional biodiesel, de fornecimento de
registro civil e demais documentos, programa luz para todos, aumento da escolaridade
e
ampliação
do
acesso
ao
conhecimento,
das
melhorias
nas
condições
habitacionais588.
O desenvolvimento dos programas e de ações complementares está
apoiado na premissa de que a realidade é complexa e que os problemas e as
desigualdades sociais são fenômenos multidimensionais. Essa lógica conceitual,
presente na tese de Amartya Sen ―Desigualdade Reexaminada‖, estabelece que não
se deve medir o bem-estar individual com base apenas em dimensões de renda e
acesso a bens de consumo. Uma vida boa é a que permite ao indivíduo fazer suas
próprias escolhas. Contudo, para que se possa escolher, é preciso que existam
oportunidades reais, isto é, acesso a diferentes possibilidades e alternativas.
O desenvolvimento das capacidades das famílias mais pobres seria uma
forma de tornar esses indivíduos mais exigentes em relação a suas escolhas e tornálos mais capazes e qualificados para alcançar e manter seus objetivos.
587
LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb; CURRALERO, Claudia Regina Baddini. Desafios
para a Coordenação Intergovernamental do Programa Bolsa Família. In Revista de Administração de
Empresas,vol.51,n.5.2011.Disponível:http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S00347590201
1000500003_0.pdf.
588
MDS. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/o_programa_bolsa_familia/o-que-e/> .
220
Os programas complementares apresentam uma estratégia de longo prazo e
uma de curto prazo. Na primeira, incluem-se as ações que produzem resultados e
impactos de forma não imediata, por meio do desenvolvimento de capacidades dos
membros das famílias, tanto as suas capacidades relativas ao labor quanto as de
escolher os melhores rumos para a própria vida. O objetivo com esses programas é
tornar os indivíduos mais aptos, mais qualificados e mais seguros quando
oportunidades lhes forem oferecidas. Nessa estratégia, estão incluídos os programas
de aumento da escolaridade, de melhoria das condições habitacionais, por meio da
oferta de infraestrutura básica de moradia e de qualificação profissional.
As ações complementares ao PBF tencionam potencializar os efeitos da
transferência de renda, buscando promover as portas de saída do programa. Contudo,
ainda que legislação do PBF estabeleça responsabilidades a serem partilhadas entre
os governos federal, estadual e municipal na oferta e na articulação dos programas
complementares, os resultados ainda são incipientes.
O panorama indica à ausência de uma coordenação efetiva da estruturação
de parcerias e do desenvolvimento de incentivos aos governos locais e aos demais
órgãos do governo federal na promoção dessas ações. Ressalta-se que um dos
principais desafios do programa é uma visão territorial, com identificação de
potencialidades
regionais.
No
âmbito
federal,
alguns
esforços
de
integrar
horizontalmente o PBF a outros programas, tal como o Brasil Alfabetizado, Luz para
Todos e o Pró- Jovem. Mas, são esforços que continuam carecendo de formalização e
de estruturação de competências.589
Em recente visita ao Brasil, o coordenador de Campanhas e Políticas da
ONG ActionAid, Ben Phillips assinalou que ―O Brasil é um exemplo internacional no
combate à pobreza, mas precisa ir além do Bolsa Família se quiser avançar na redução
da desigualdade por um caminho sustentável‖. Programas de transferência de renda,
ele diz, devem ser apenas parte de um pacote de medidas. Phillips elogiou o esforço
do Brasil nos últimos anos e disse que o trabalho que foi feito no país, que tirou 36
589
LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb; CURRALERO, Claudia Regina Baddini. Desafios
para a Coordenação Intergovernamental do Programa Bolsa Família. In Revista de Administração de
Empresas, vol. 51, n. 5.2011. Disponível: http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S003475902011000500003_0.pdf.
221
milhões de pessoas da pobreza em dez anos, mostra que existem alternativas no
combate à desigualdade social. Para ele e ativistas de outras cinco importantes ONGs
internacionais (ActionAid, Greenpeace, Oxfam, Civicus e Aywid), a concentração de
riquezas é o principal entrave na luta por uma sociedade mais justa.
Acho que há duas críticas comuns ao Bolsa Família, uma justa e outra
injusta. Essa é a injusta: dizer que as pessoas estão ganhando dinheiro
de graça, que é uma mesada, que estimula a dependência. Quem diz
isso desconhece os efeitos da pobreza e o desespero causado por ela.
O Bolsa Família não substitui um emprego, é um complemento de
renda. A crítica que faz sentido é que programas de transferência de
renda nunca são suficientes para reduzir a desigualdade de forma
sustentável. Eles são uma parte do pacote. Você tem que olhar para
toda a equação de riquezas e garantir acesso a terra, melhores salários,
ter uma política econômica que promova o emprego. É um pacote de
medidas que faz com que as pessoas saiam da pobreza. E o pacote
envolve, essencialmente, acesso a educação de qualidade, não apenas
fundamental como também no ensino médio.590
A implementação de programas complementares ao PBF fundamenta-se no
desenvolvimento do capital humano e na autonomização dos beneficiários. Contudo, os
desenhos, a cobertura e a avaliação dessas estratégias são frágeis. É o que revela um
estudo feito na localidade de Manguinhos/RJ, fazendo os gestores locais afirmarem que
a articulação com a saúde e a educação é frágil, muitas vezes dependendo da iniciativa
individual de algum profissional.
Se existisse efetivamente uma articulação, o que a gente chama de
intersetorialidade entre a saúde, educação, assistência e habitação na
área, você projetava conjuntamente. Não acontece isso. Cada um no
seu quadrado, sem conversar. Às vezes você conheceu o assistente
social do posto por acaso numa reunião, aí eu faço uma articulação,
mas isso não é institucional (Gestor3).591
Os gestores destacaram o fato dos programas complementares oferecidos
pelo Governo Federal não se adequarem à realidade local, considerando-se o perfil
590
Ben Phillips é coordenador de Campanhas e Políticas da ONG ActionAid - organização não
governamental internacional que luta contra pobreza, com bases em vários paises, incluindo Brasil.
Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/05/150430_action_aid_entrevista_jc_lg
Acesso em 25/05/2015
591
SANTOS, Cláudia Roberta Bocca. Magalhães, Rosana. Pobreza e Política Social: a implementação de
programas complementares do Programa Bolsa Família. Ciência & Saúde Coletiva, 17(5): 2012.
222
socioeconômico das famílias e suas vulnerabilidades. Há também atores não
governamentais envolvidos no movimento social local e que desconhecem as principais
condições do programas ofertados, revelando que não há um planejamento conjunto
das atividades, culminando numa incongruência entre a ação e a necessidade local.
O que está acontecendo é construção civil, eletricista, azulejista
[referindo-se aos cursos do Próximo Passo].Na comunidade, as pessoas
já estão expert em fazer isso, pelo histórico do processo de
autoconstrução, de trabalhar em obra. [...]Não tem muita adesão[...] não
tem interesse nisso[...]Então a não adesão está pelo deslocamento do
que é ofertado pela demanda real, há uma incongruência aí(Gestor3).592
A despeito da existência de programas complementares em diferentes áreas
governamentais, ainda não está clara uma real convergência dessas ações para as
famílias beneficiárias do PBF. Em 2008, 268 mil beneficiários do PBF foram atendidos
pelo Programa Brasil Alfabetizado; até 2010, apenas 1.491dos beneficiários tinham sido
atendidos pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado do Ministério do
Trabalho; em 2010, cerca de 256 mil famílias do PBF foram beneficiadas pelos
programas de microcrédito Agroamigo (23 mil) e Crediamigo (233 mil) do Banco do
Nordeste. Revela-se a fragmentação dessas iniciativas que operam na casa dos
―milhares‖ de beneficiários, ao passo que o PBF opera na casa dos ―milhões‖.593
Verifica-se um grande desafio no sentido de pautar e priorizar o público
atendido pelo PBF de modo a abrir novos espaços de inclusão e ampliar
espaços já existentes. Isso não é tarefa fácil, visto que alguns
programas não estão acostumados a trabalhar com as famílias mais
pobres e têm dificuldade para distinguir os beneficiários do PBF como
público prioritário de suas ações.594
592
SANTOS, Cláudia Roberta Bocca. Magalhães, Rosana. Pobreza e Política Social: a implementação de
programas complementares do Programa Bolsa Família. Ciência & Saúde Coletiva, 17(5). 2012.
593
LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb; CURRALERO, Claudia Regina Baddini. Desafios
para a Coordenação Intergovernamental do Programa Bolsa Família. In Revista de Administração de
Empresas, vol. 51, n. 5.2011. Disponível em http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S003475902011000500003_0.pdf.
594
SANTOS, Cláudia Roberta Bocca. Magalhães, Rosana. Pobreza e Política Social: a implementação de
programas complementares do Programa Bolsa Família. Ciência & Saúde Coletiva, 17(5): 2012.
223
3.2.1. Programas complementares federais e Boas Práticas Locais
De acordo o MDS, um dos eixos de atuação do PBF é a articulação de ações
que promovem às famílias beneficiárias oportunidades e condições para superar a
pobreza de forma sustentável.595 A Intersetorialidade como estratégia possível para
conquista da emancipação das famílias beneficiadas pelo PBF aponta para programas
complementares
que
focalizam
esse
público-alvo.
São
Exemplos
de
ações
complementares: Programa Brasil Alfabetizado, ProJovem, Projeto de Promoção do
Desenvolvimento Local e Economia Solidária, Programa Nacional de Agricultura
Familiar, Programas de Microcrédito do Banco do Nordeste, Tarifa Social de Energia
Elétrica e Programa Luz para Todos e Plano Setorial de Qualificação e Inserção
Profissional para os beneficiários do programa Bolsa Família (Planseq Bolsa Família).
Os nove programas complementares que foram articulados pela Senarc/MDS
ao PBF em 2006 e 2007, relacionados no quadro 1, eram programas que já estavam
sendo implementados pelos respectivos ministérios executores antes da parceria
firmada com o MDS. Esses programas complementares, após a parceria com a
Senarc/MDS, passaram a ter como clientela prioritária as famílias beneficiárias do PBF
ou o público potencial das famílias inscritas no CadÚnico, conforme o que se
demonstrava como o mais adequado para cada programa. Essas parcerias
proporcionariam para essas famílias a oportunidade de serem incluídas em um amplo
conjunto de serviços e políticas federais, satisfazendo as suas necessidades e
considerando as suas características.
O Brasil Alfabetizado (PBA) é um exemplo de programa articulado ao PBF,
visando empreender esforços a fim de ofertar aos beneficiários uma ação
complementar à transferência de renda para o aumento da escolaridade e a redução do
analfabetismo, além de promover a sinergia das ações do poder público no combate à
pobreza e à exclusão social. A articulação entre o PBA e o PBF tem como foco a
localização de pessoas com perfil para alfabetização, inscritas no CadÚnico; a
mobilização e sensibilização de gestores locais, ICS, coordenadores estaduais do PBF
595
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/programascomplementares Acesso em 16 de setembro de 2013.
224
e gestores locais do PBA para promoverem a inscrição desses cidadãos no programa; e
o monitoramento e a avaliação conjunta das ações e dos resultados da cooperação.
A oferta de ações de trabalho e renda contribui tanto para a redução da
exclusão laboral como da exclusão econômica. São programas e ações que dialogam
com diferentes estratégias de políticas setoriais (agricultura familiar, desenvolvimento
regional e local, economia solidária, etc.) e consideram a especificidade do público a
ser atendido e as experiências histórica e territorial do local onde serão implementados.
As ações articuladas nessa área em 2006 e 2007 foram: Juventude Cidadã e Brasil
Local, executadas pelo MTE; o projeto piloto do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), executado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) e associado aos programas de microcrédito do Banco do Nordeste do Brasil; e o
Programa Nacional Biodiesel, executado também pelo MDA.
O Brasil Local (antigo Projeto de Promoção do Desenvolvimento Local e
Economia Solidária), em articulação com o PBF, tem o objetivo de fomentar o
desenvolvimento local sustentável como uma possibilidade de inclusão produtiva de
famílias pobres no mercado de trabalho. Esse projeto busca promover ações de apoio
ao desenvolvimento local, a partir da organização de empreendimentos coletivos
solidários.
Para a diminuição da exclusão sóciosanitária ou urbano-territorial são
necessárias ações que envolvam a possibilidade de acesso à propriedade de imóvel, à
água, ao esgoto sanitário, à coleta de lixo, à eletricidade e à pavimentação, entre
outros. As ações articuladas nesse campo foram o Programa Luz Para Todos e o
Programa Tarifa Social, ambos em parceria com o Ministério de Minas e Energia. O
Programa Tarifa Social de Energia Elétrica concede descontos de até 65% na conta de
luz às famílias que apresentem baixo consumo de energia elétrica, estejam inscritas no
CadÚnico e atendam às condições que as habilitem a serem beneficiárias do PBF, de
acordo com a resolução normativa, no 253, de 14 de fevereiro de 2007, da Agência
Nacional de Energia Elétrica.
Os programas associados ao exercício dos direitos civis e políticos dos
cidadãos e aos serviços de proteção básica de assistência social visam à redução da
exclusão política e da cidadania. São ações que promovem o fortalecimento da
225
cidadania, incentivam o protagonismo e a participação política nos processos
decisórios, o empoderamento das famílias, o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários e a consciência dos direitos individuais e coletivos. Foram articulados os
programas Agente Jovem, em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social
do MDS, e o de ação de combate ao trabalho escravo, em parceria com o MTE.
Quadro 1 – Fonte:
Atualmente, os programas complementares articulados em nível federal
estão descritos no quadro a seguir:596
596
http://www.mds.gov.br/programabolsafamilia/programas_complementares/programas-federais
226
Programa
Categoria
Objetivo
Agente Executor
Programa Brasil Alfabetizado Acesso a conhecimento
Alfabetização
MEC
Acesso a trabalho e
Qualificação profissional nas áreas
Próximo Passo
MTE
renda
da construção civil e turismo
Programa de Qualificação
Acesso a trabalho e
Qualificação e inserção profissional Construtora Norberto
Profissional Continuada –
renda
em obras da construtora
Odebrecht
Acreditar
Acesso a trabalho e
Reforço escolar para seleção para Governos estaduais e
Prominp
renda
cursos de qualificação profissional
municipais
Programa Nacional da
Acesso a trabalho e
Desenvolvimento rural e
Agricultura Familiar
MDA
renda
fortalecimento da agricultura familiar
(PRONAF B)
Acesso a trabalho e
Concessão de crédito orientado e
Crediamigo e Agroamigo
BNB
renda
acompanhado para população rural
Programa Nacional de
Acesso a trabalho e
Concessão de crédito orientado e
Microcrédito Produtivo
MTE
renda
acompanhado
Orientado
Promover o desenvolvimento
Territórios da Cidadania
Acesso a cidadania
econômico e universalizar
Casa Civil e Ministérios
programas básicos de cidadania
Promover a inscrição de famílias
Assentamentos rurais
Acesso a cidadania
assentadas no Cadastro Único e
priorizar inserção no PBF
Enquanto isso, o Observatório de Boas Práticas na Gestão do PBF é um
espaço que tem por finalidade identificar, reunir e divulgar as boas práticas na gestão
do PBF, desenvolvidas pelos estados e municípios, e apoiar a constituição de uma rede
de gestores que atuam na implementação e no acompanhamento do Programa. Foram
publicadas em 2014 as práticas concorrentes e aprovadas durante o Prêmio Rosani
Cunha de Desenvolvimento Social: Edição Especial – Bolsa Família 10 Anos que
contou
com
a
cooperação
do
Banco
Internacional
para
Reconstrução
e
Desenvolvimento (BIRD) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) para a sua realização.597
Amostra
de
programas
complementares
articulados
pelos
governos
estaduais e municipais, publicados no Observatório de Boas Práticas, em Abril de 2009:
Acesso a microcrédito para famílias beneficiárias do PBF; Ações socioeducativas do
Programa Bolsa Família; Alfabetização de jovens e adultos; Aprender a aprender e
apreender para construção da cidadania; Ateliê da família; Bom de Bola: educando pelo
597
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/observatorio-de-boas-praticas-na-gestao-do-programa-bolsafamilia-pbf acesso 240515
227
esporte; Capacitar para incluir: construção civil gerando emprego e renda; Comunidade
e paz é você quem faz; Cozinhando com a energia solar; Cozinhas comunitárias –
Unidades I e II; CRAS itinerante; Cultivo de tilápias em tanques-redes; Educação
financeira cidadã para empreendimentos solidários; Escola Móvel de Inclusão Digital –
Caminhão Digital; Fundo Carioca; Geração de emprego e renda – Araxá (MG); Gerando
oportunidades de inclusão social; Grupo de Salgadinhos Básicos; Horta Familiar: cultive
uma horta e colha qualidade de vida; Inclusão social com hortas comunitárias; Iogurte
de leite de cabra produzido por assoc. de Mulheres do PBF; Kerubim Net – programa
de inclusão digital; Monitoramento e acompanhamento social; Mulheres Chefes de
Família – Dona Lindu; Oficina sócio-terapêutica e comunitária de costura; Padaria
Comunitária Xakriabá; Participação e ação para nossa inclusão; PENARUA – Programa
Empreendedorismo na Rua; Produção solidária – Incentivo à criação de cooperativas;
Programa Bolsa Trabalho; Projeto Acordes da Vida; Projeto Cavalgar; Projeto de
Segurança Alimentar e Nutricional; Projeto técnicas de manejo em cana de açúcar e
preparo do álcool; Propen – Programa Porta de Entrada; Qualificação profissional em
tecnologia de sistemas de segurança; Salão de beleza popular; Utilização do Cadastro
Único para famílias para política habitacional.
Programas que visam à redução da exclusão laboral e econômica aparecem
com maior frequência, com ações na área da qualificação profissional e da geração de
trabalho e renda que envolvem o acesso ao crédito, o estímulo ao associativismo e ao
cooperativismo e parcerias com o setor privado para absorção de mão de obra
qualificada. Apesar de os governos estaduais estarem menos mobilizados nesse
processo, há vários casos de programas complementares estaduais, e o envolvimento
desses é muito importante para o enfrentamento da desigualdade e da exclusão social.
O Programa Bolsa Trabalho, por exemplo, é um programa estadual
complementar ao PBF executado pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e
Renda do Pará, que visa à qualificação profissional e à concessão de crédito para micro
e pequenos negócios. Esse programa tem o objetivo de proporcionar oportunidades de
emprego, trabalho e renda a jovens residentes há mais de três anos no estado, com
idade entre 18 e 29 anos, pertencentes a famílias beneficiárias do PBF e que tenham
mais de cinco anos de estudo. Os participantes recebem benefício no valor de R$ 70,00
228
por mês, condicionado à participação nas atividades de qualificação profissional e em
reuniões trimestrais.
O desenvolvimento local integrado e sustentável é uma estratégia compatível
com a superação emancipatória da pobreza. Dessa forma, pode ser utilizada por todas
as políticas que atuam em determinado território, com a devida integração entre as
políticas setoriais e a participação popular, de forma a promover a ativação das
potencialidades locais, alcançando assim um desenvolvimento sustentável.
O Plano Brasil Sem Miséria (BSM) foi lançado em junho de 2011 com a
finalidade de aprofundar a transferência de renda, priorizando crianças, gestantes e
nutrizes; criando novos mecanismos de inclusão produtiva e ampliamos o acesso a
serviços públicos essenciais, levando o Estado onde estão os que mais precisam dele.
Segundo documento oficial598 o BSB tem três grandes eixos de atuação: ―(...) garantia
de renda, relativo às transferências para alívio imediato da situação de extrema
pobreza; inclusão produtiva, com oferta de oportunidades de ocupação e renda ao
público-alvo; e acesso a serviços, para provimento ou ampliação de ações de cidadania
e de bem-estarsocial8(sem grifos no original).‖ 599
Em cada um dos eixos estão articulados diversos programas sociais – como
o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, o Pronatec, Programa Crescer e, até mesmo, a
criação de unidades básicas de saúde e escolas em regiões ainda carentes desses
aparelhos, etc. Outra inovação do plano é a chamada busca ativa, que consiste na
procura minuciosa com o objetivo de localizar, cadastrar e incluir nos programas as
famílias em situação de pobreza extrema, identificar os serviços existentes e a
necessidade de criar novas ações para que essa população possa acessar os seus
direitos. Esse mecanismo é operacionaliza do através de mutirões, campanhas,
palestras, atividades socioeducativas, visitas domiciliares, cruzamentos de bases
cadastrais e a qualificação dos gestores públicos no atendimento à população
extremamente pobre.
Além disso, de acordo com o site do BSB, o programa articula 6 ministérios e
6 secretárias. De fato, com esse grau elevado de institucionalização acompanhado de
598
A revista Brasil Sem Miséria – instrumento oficial de divulgação dos resultados do plano. Revista Brasil
sem miséria, 2012, p.6. Disponível em; < www.brasilsemmiseria.gov.br
599
De acordo com http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao/conheca-o-plano
229
áreas tão abrangentes de atuação, ao menos formalmente, o plano se mostra
diferenciado em relação a diversos outros programas sociais do próprio governo, que já
contam com estruturas complexas de execução e gestão, sobretudo pela notável
característica de mesclar universalização e focalização; ora dando concretude a direitos
positivados constitucionalmente, ora ampliando benefícios considerados discricionários,
concebidos através de política públicas – em geral associadas a governos específicos que visam provocar impacto na desigualdade e pobreza através de arranjos
reparatórios ou distributivos.
Essa nova fase de direitos e políticas sociais no Brasil se diferencia
completamente da anterior, notadamente, pela estrutura extremamente flexível.
Enquanto os arranjos previdenciários e direitos trabalhistas orientavam-se por uma
estrutura jurídica rígida, que conforma tanto a forma de acesso quanto sua
operacionalização; essa nova fase é marcada por leis com conteúdo abstrato, em geral,
atribuindo competências e regulando instrumentos no intuito de promover uma atividade
coordenada capaz de atingir objetivos predeterminados, podendo ser alteradas ou
redesenhadas constantemente, contando para isso com a participação social.600
3.3. Direito, Desenvolvimento e Novos Desafios na agenda governamental
Já caminhando para algumas conclusões desta pesquisa importa pensar
sobre as transformações do direito nas políticas sociais. Como as políticas e direitos
sociais foram capazes de se adaptar a essa fase atual que parece mais flexível,
questionando-se sobre as capacidades do Estado para uma concretização efetiva;
refletir sobre como o direito é capaz de se adaptar as necessidades conjunturais sendo,
inclusive, incorporado à gestão macroeconômica. E mais, cumpre-se pensar sobre o
papel do direito no desenvolvimento; como ele se relaciona com o desenvolvimento,
600
O PBF é um exemplo. Sobre isso ver COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas sociais
brasileiras: um estudo sobre o programa Bolsa Família. In: SCHAPIRO, Mário Gomes; TRUBEK, David
(orgs). Direito e Desenvolvimento: um diálogo entre os Brics. São Paulo: Saraiva, 2012.
230
devendo, nessa perspectiva, ser observado por quais meios, funções, limites e
objetivos o direito pode influenciar na trajetória evolutiva dos países. 601
Enfrentando
essas
questões
Rittich602defende
que
ao
direito,
no
desenvolvimento, cabem desempenhar três tipos de função com escopo amplo: a
constitutiva, a discursiva e a distributiva .
A função constitutiva refere-se à reconstrução constante do próprio
significado de desenvolvimento naquela determinada circunstância e momento
histórico. O conteúdo do desenvolvimento é, em parte, um sentido jurídico, extraído da
constante reinterpretação de diversos atores, que lhe agregam sentidos.603 A função
discursiva é desempenhada à medida que a linguagem dos direitos subjetivos (ter
direito a algo) é vocalizada para assegurar a prioridade de certos objetivos, legitimando,
tematizando e institucionalizando agendas políticas e dando-lhes um status
diferenciado ao positivá-las. Um exemplo dessa função seria a previsão Constitucional
brasileira no art.° 3, que prescreve a redução da desigualdade e pobreza. 604 A função
distributiva está relacionada à capacidade das normas jurídicas de alocar poder e
recursos perante grupos sociais, articulando e estruturando um feixe de políticas
públicas que intervêm diretamente nos fluxos econômicos, determinando perdas e
ganhos num processo de equalização, identificando classes que foram privilegiadas ou
não a partir da configuração de determinados arranjos.605
601
SCHAPIRO, Mário G. Repensando a relação entre Estado, direito e desenvolvimento: os limites do
paradigma do rule of law e a relevância das alternativas institucionais. São Paulo. Revista direito GV.
2010.Disponível: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322010000100011>
602
RITTICH, kerry. The future of Law and Development: Second Generation of Reforms and the
Incorporation of the Social. Michigan Journal of International Law, v.26. p.199-243. apud COUTINHO,
Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.
603
RITTICH, kerry. The future of Law and Development: Second Generation of Reforms and the
Incorporation of the Social. Michigan Journal of International Law, v.26. p.199-243. apud COUTINHO,
Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.
604
RITTICH, kerry. The future of Law and Development: Second Generation of Reforms and the
Incorporation of the Social. Michigan Journal of International Law, v.26. p.199-243. apud COUTINHO,
Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.
605
RITTICH, kerry. The future of Law and Development: Second Generation of Reforms and the
Incorporation of the Social. Michigan Journal of International Law, v.26. p.199-243. apud COUTINHO,
Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.
231
Diogo Coutinho606 ao enfrentar a mesma questão analisando a estrutura
jurídica do PBF e buscando também traçar um diálogo com Rittch, estabelece o que
denomina os quatro papéis do direito nas políticas públicas: moldura, vocalizador de
demandas, ferramenta e arranjo institucional.
O direito como moldura é o reconhecimento de que o arcabouço jurídico é
capaz de delimitar metas ou pontos de partida das políticas. Um exemplo seriam as
normas programáticas da Constituição. Um sentido do
direito como moldura sugere
formalizar um programa de ação governamental ou política pública, obrigando o
aplicador (ou interprete da norma) e tornando-a vinculante, distinguindo-se de meras
interações, recomendações ou diretrizes; podendo transformar os direitos politicamente
definidos em direitos subjetivos, permitindo, inclusive, o controle de seu conteúdo em
face dos demais direitos existentes – o ordenamento jurídico. No caso do PBF o direito
moldura estipula, no próprio texto do Decreto que o instituiu, que os objetivos do
programa são promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde,
educação, assistência social, combater a fome e a pobreza extrema etc.607
O Direito como vocalizador de demandas parte do pressuposto que as
decisões devem ser tomadas de modo mais fundamentado possível, através de uma
argumentação coerente e constante de documentos sujeitos ao escrutínio público. Ou
seja, as normas jurídicas podem dotar ou privar políticas de mecanismos de
deliberação, participação, consulta, controle social, colaboração e decisão conjunta;
assegurando a participação até mesmo de grupos de interesse menos organizados. No
caso do PBF, o exemplo seriam as instâncias de controle social que auxiliam na gestão,
execução e monitoramento do plano.608
O Direito como ferramenta é uma forma de sublinhar a seleção dos meios a
serem empregados para perseguir os objetivos predefinidos. Nessa classificação estão
inclusas as diferentes formas de modelagem jurídica, a compreensão de diferentes
formatos de políticas públicas, a análise de formas de indução de comportamentos, o
606
COUTINHO, Diogo R. O Direito nas Políticas Sociais Brasileiras: um estudo do Programa Bolsa
Família. In: Mario G. Schapiro e David Trubek. (Org.). Direito e Desenvolvimento - Um Diálogo Entre os
Brics. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 1.
607
COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.p.114.
608
COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.p.124.
232
alinhamento de incentivos e a escolha do ―tipo‖ de norma a ser utilizada (Constituição,
Lei, Decreto, Regulamento, Portaria). Demonstram o direito exercendo esse papel o
CadÚnico e o sistema de monitoramento de condicionalidades na gestão do
programa.609
O Direito como arranjo institucional define que as normas jurídicas são
capazes de estruturar o funcionamento, regular seus procedimentos e viabilizar a
articulação entre diferentes atores direita e indiretamente ligados a tais políticas,
gerando um aproveitamento da sinergia entre eles, através de uma ação bem
articulada, cujas ―vertebras‖ são dadas pelo direito. Exemplificando esse papel do
direito, pode-se tomar os mecanismos intersetoriais de articulação institucional dentro
do próprio Governo – entre Ministérios , e entre este e entidades externas – como a
Caixa Econômica Federal, Estados e Municípios.610
Diante disso, no atual momento das políticas sociais, talvez seja possível
traçar uma importante distinção entre um direito social e política social, expressões
geralmente tomadas como sinônimas quando se referem a um mesmo fenômeno – o
atendimento por parte do Estado, parcial ou completamente, das necessidades básicas
de sua população. De forma geral, um direito social tem a estrutura mais ―rígida‖ ou
―concentrada‖, que condiciona as instituições responsáveis por concretizá-los e
possibilita seu controle por instâncias externas a essa estrutura institucional. Possuem
uma forma de acesso, modificação e extinção complexa, com altos custos de transação
para múltiplas instituições, além de gradientes diferentes de exigibilidade; que podem
partir da obrigação subjetiva – ter direito a algo individualmente –até a obrigação da
elaboração de políticas públicas – norma programática.
Em contrapartida, as políticas sociais, a despeito de serem orientadas pelo
conjunto de direitos que as fundamentam, possuem uma estrutura extremamente
flexível; constantemente reformulada no tocante a procedimentos, objetivos, regras de
acesso e até mesmo nos tipos de benefícios. Essas modificações, em geral, são
promovidas por uma burocracia especializada, orientada por resultados obtidos por
processos constantes de avaliação e contando, por vezes, com a participação da
609
COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.p.118-119.
COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013.p.122.
610
233
sociedade. Para isso, sua estrutura jurídica é feita de normas cuja alteração pode ser
feita via instrumentos flexíveis – como portarias -, revogáveis e editáveis de acordo
com as necessidades; contrapondo-se a exigência da edição de lei, característica dos
benefícios mais tradicionais.
Outra distinção marcante é que as políticas sociais podem ser construídas
com o direito executando diferentes funções (moldura, ferramenta, arranjo institucional,
vocalizador de demandas sociais), cujos conteúdos podem não estar expressamente
ligados ao direito que as fundamenta, sentido que só pode ser aferível quando a política
e tomada em conjunto. Diante de tais constatações, o que se pode observar nas
transformações das políticas e direitos sociais é um aparente trade off entre o que
podemos denominar abstratamente de exigibilidade e efetividade. A efetividade seria
caracterizada pelo conjunto das novas políticas sociais, que conseguem obter
resultados substantivos em termos de melhoria de vida de populações específicas –
especialmente os grupos com maior nível de exclusão que sequer conseguiam acessar
a política por conta do grau extremo de marginalização – e de alcançar resultados
expressivos verificados através de importantes indicadores – como o índice GINI o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
A grande questão embutida na ideia de efetividade e nas novas políticas
sociais é que, apesar desses resultados positivos, na perspectiva jurídica, esse modelo
está completamente focado na realidade material; pois, apesar de uma estrutura formal
juridicamente bem delineada para operacionalização, sua possibilidade jurídica de
exequibilidade enquanto direito social –
sua
liquidez
e
certeza
jurídica
–
é
completamente atenuada ou até mesmo praticamente impossível em alguns casos.611
Por sua vez a exigibilidade dos direitos sociais tradicionais corresponde à
possibilidade de perenidade dos direitos, ou seja, sua liquidez e certeza através de um
formato duradouro ao longo do tempo e assimilável pelas instituições que, ao receber
uma demanda com base nesse conteúdo jurídico específico, são obrigadas a respondêlas na forma procedimental. Essas instituições podem ser da estrutura do Poder
Executivo, mas também contam com o Poder Judiciário como arena de cobrança pela
611
O artigo 21 do Decreto n. 5.209 de 17 de setembro de 2004, que regulamenta o PBF diz
expressamente que ele não gera direito adquirido.
234
concretização desses direitos, exatamente por conta dessa liquidez apriorística.
Obviamente, como todo direito, esse modelo também pode sofrer transformações, mas
o procedimento formal para sua mudança é, em geral, rígido; tornando-se uma garantia
a grupos mais enfraquecidos politicamente.
Entretanto, como vimos na análise das fases dos direitos sociais no Brasil,
essas estruturas mostravam-se extremamente ineficientes no tocante a consecução dos
objetivos, gerando uma cultura política clientelista, excludente; um gasto excessivo ao
Estado e, ainda, apesar de sua liquidez, não eram incorporados à política
macroeconômica, sendo concebido sem sua grande maioria como caridade ou
associadas a benevolências de governos específicos. É esse o aparente paradoxo
marcante nas políticas sociais brasileiras. Não haveria capacidades estatais suficientes
para uma estrutura simultânea de efetividade e exigibilidade? Há a necessidade do
direito intervir nesse sentido ou a própria estrutura participativa permitiria que a esfera
política concretizasse esses direitos? Essa justaposição de formatos jurídicos sinaliza
uma transição ou um conflito? Não haveria alternativas para que atingir eficiência em
um modelo mais rígido? Que estruturas institucionais impedem a formulação de
políticas com tais perfis?
São questões como essas demonstram como a relação entre direito e
desenvolvimento é extremamente complexa. Disso decorre a necessidade de uma
reflexão constante, balizada por um diálogo entre os implementadores das políticas
públicas, pesquisadores e a sociedade, visando construir um conhecimento
interdisciplinar mediado por diferentes perspectivas e capaz de oferecer parâmetros
claros e satisfatórios que possam orientar análises e decisões.
A cada mudança do Estado, há também uma transformação do direito, que
passa a ser orientado por um novo sentido, o que inclui também a forma de
concretização dos direitos sociais. No Estado desenvolvimentista, temos um direito
rígido, demarcado; que utilizava as políticas sociais apenas para consolidar seu projeto
de industrialização; através de benefícios garantidos apenas ao trabalhador formal, com
alguma massificação em momentos posteriores, ainda que sem manter os padrões de
qualidade. No momento neoliberal todo o direito e o Estado são flexibilizados e, sob o
pressuposto de garantir alguma maleabilidade às atividades estatais, novas formas de
235
concretização de direitos sociais começam a emergir, especialmente as transferências
condicionadas de renda muito influenciadas pela Constituição de 1988 que cristaliza um
modelo de Estado de Bem Estar Social. Todavia, diante da trajetória de ineficiência das
políticas e gastos sociais no Brasil, novos modelos de políticas sociais são desenhados,
e tendo como base essa experiência de flexibilização, se aliam ao momento
contemporâneo, no qual não há protagonismo nem do mercado, nem do Estado; mas
uma sinergia entre esses setores, bem como entre eles e a sociedade.612
Esse modelo extremamente flexível traz consigo a eficiência e o alcance de
taxas elevadas de sucesso, mas não gera nenhuma garantia aos beneficiários. Este
fato, traz a tona o trade off nas políticas e direitos sociais, no qual o Estado tem a
expertise em um modelo mais rígido juridicamente, cristalizado e exequível de diversas
formas, mas que historicamente não foi capaz de atingir os resultados esperados. Em
contrapartida, a outra expertise do Estado é um modelo extremamente flexível, com
altas taxas de sucesso e perceptíveis avanços sociais, mas com baixa exigibilidade e
perenidade, podendo ser alterado a qualquer momento pelas estruturas do Estado;
que não gera garantias aos beneficiários.
O direito das políticas sociais, para responder a essas necessidades,
também se transforma, sendo possível, no momento atual, perceber bem demarcados
diferentes papéis exercidos pelo direito – moldura, ferramenta, arranjo institucional e
vocalizador de demandas- que parecem agora permitir diferenciar um direito social de
uma política social, exatamente por essa perda do gradiente jurídico da nova geração
de benefícios, no tocante à sua liquidez.
Esses modelos justapostos indicariam uma fase seria transitória ou uma
transformação? Que tipo de Estado de Bem Estar Social, do ponto de vista jurídico,
está se constituindo no país num contexto de flexibilização de direitos? Aos diversos
atores sociais passarão apenas a reivindicar políticas específicas para determinados
grupos, abandonado a tradicional luta por direitos? Como as relações políticas serão
influenciadas por essa dinâmica extremamente flexível? São algumas das questões
que demonstram os desafios colocados aos pesquisadores, operadores do direito e
612
SCHAPIRO, Mário G; TRUBEK, David. Redescobrindo o direito e desenvolvimento: experimentalismo,
pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In SCHAPIRO, Mário G. TRUBEK, David (orgs). Direito e
desenvolvimento: um diálogo entre os Brics. São Paulo. Saraiva. 2012.
236
implementadores de políticas públicas no momento atual que por isso motiva um
intenso diálogo intersetorial e interdisciplinar extremamente desafiador que se não
conseguir encontrar um consenso, ao menos terá agregado diversas perspectivas ao
conhecimento acadêmico e ao debate público.
A força norteadora da cidadania no Estado Social, segundo Comparato é a
participação efetiva do povo, dada em diferentes níveis, no desenvolvimento e
promoção e promoção social. Estamos diante da moderna concepção de cidadania
participativa.613 Nesse sentido, no Estado Social e Democrático de Direito tem-se as
Leis como garantidores dos direitos e deveres dos cidadãos, as políticas públicas como
mediadores, instrumentalizando os objetivos constitucionais e os canais populares.
De fato, para que o Estado possa cumprir adequadamente suas funções
na efetivação de Direitos Fundamentais, o fio condutor das Políticas
Públicas passa necessariamente pela Teoria Jurídica e a relação entre
Direito e política precisa ser firmada com maior clareza, especialmente
no que se refere à formação do Estado Democrático e Social de
Direito.614
Para Smanio o desafio da atualidade é a efetivação da democracia integral
que então abrange a cidadania e o pleno desenvolvimento. É a ideia de cidadania
participativa e ativa através da solidariedade. Destacando-se que as políticas públicas
devem nortear-se na cidadania, em todas as suas dimensões, considerando-se os
aspectos políticos, econômicos e sociais615. Consolida-se a democracia brasileira com o
atendimento das demandas sociais à universalização e melhoria dos serviços de saúde
e educação, dentre outras.
Em países como o Brasil que enfrenta os problemas de um enraizado
processo
de
desigualdade
progressiva,
nas
suas
mais
variadas
formas
e
manifestações, além de outras grandes mazelas nacionais, tais como, a miséria e
613
COMPARATO, Fabio Konder. A nova cidadania. In Lua Nova, São Paulo, n.28-29, Apr.1993.
Disponível:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264451993000100005&lng=en&n
rm=iso>. Acesso em 20 de agosto de 2013.
614
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da Cidadania.
In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; (Orgs.). O Direito e as políticas
públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.p.5
615
SMANIO, Gianpaolo. A conceituação da cidadania brasileira e a Constituição Federal de 1988. In: Os
20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. Coordenador: Alexandre de Moraes. São
Paulo: Editora Atlas, 2008.
237
pobreza, a questão da efetivação dos Diretos Sociais apresenta-se como crucial. Nesse
sentido, uma cidadania que demanda cada vez mais direitos exige-se um Estado ainda
mais atuante para efetivar o que está declarado e garantido na Constituição Federal.
Faz-se necessária e urgente uma mudança no modo de ver as políticas
públicas no Brasil. É preciso deixar de vê-las como meros atos de discricionariedade
política e passar a concebê-las como instrumentos concretizadores dos direitos
humanos, em especial os direitos sociais rumo ao desenvolvimento econômico e social
do país, com vistas, sobretudo, a melhoria da vida das populações vulneráveis.
Nesse sentido, constata-se a necessidade de um Estado comprometido com
a efetivação de metas que realizem e ampliem a igualdade entre os cidadãos. Dessa
maneira cabe ao Estado o planejamento e ações para a concretização das diretrizes
constitucionais,
sobretudo,
com
a
implementação
de
políticas
públicas
que
instrumentalizem a prática dos direitos sociais. Para Santos os direitos sociais
associam-se a certa forma política de se entender a cidadania e, portanto, é mais
relevante atentar-se para as contribuições que uma política social traz na esfera da
promoção da cidadania do que se fixar em outros resultados616, afinal tem-se que a
construção de cidadania via políticas estatais criadas para tal intento constitui-se num
campo de provas decisivo, intimamente relacionado com à construção de uma Nação
democrática e mesmo, da democratização da própria democracia.
Cumpre-se destacar que o intento constitucional em questão afigura-se como
um complexo desafio para o Estado, afinal a criação dessas políticas públicas está
intimamente ligada à disponibilidade de recursos, ao passo que os diversos grupos
sociais exigem respostas para as suas inúmeras demandas. Nesse caso o alvo do
Estado passa a ser a harmonização, tanto quanto possível, entre as prestações e essas
demandas, não se distanciando da realização do bem comum cuja concepção vai muito
além da soma de interesses individuais ou de grupos.
Eis que surge um ponto de tensão. Fase posterior à criação dessas políticas
públicas, a questão passa a ser quanto ao acesso que, como no momento da criação,
deve ter como paradigma os limites dos recursos para realização dos direitos que visem
616
SANTOS, Guilherme Wanderley. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de
Janeiro: Campus, 1979, p. 83.
238
instrumentalizar. Portanto, o contexto é a relação entre a liberdade versus direito de
acesso a ditos direitos, tendo-se em mente que as políticas públicas são um direito de
todos que delas necessitam e que por isso, exigem a sua prática pelo Estado.
Por certo, a implementação de políticas públicas e de programas federais
depende de ação do governo local e da articulação entre os atores e organizações nos
três níveis - federal, estadual e municipal. Assim, as políticas públicas necessitam de
ações específicas por parte dos agentes e diversas formas de cooperação, o que
requer um processo de negociação entre atores políticos (autoridades políticas,
comunidades políticas, grupos de interesse) e uma interação em diversas arenas.
Contudo, não se pode olvidar que cada política pública, certamente, traz em
seu entorno uma estrutura própria, a saber, atores e diversidades na forma de
cooperação e ainda, apresenta seus próprios canais institucionalizados, seguindo uma
dinâmica diferente em relação às demais, que pode estar caracterizada pelo conflito ou
o consenso quanto aos seus objetivos e estratégias.
É possível observar algumas características da política de transferência de
renda no Brasil: concorrência institucional, dificultando ou mesmo inviabilizando a
coordenação de ações de caráter intersetorial para o combate à pobreza; sobreposição
de beneficiários, possibilitando que uma mesma família participasse de dois ou três
programas, enquanto outros grupos, na mesma localidade e em situação semelhante,
não recebiam nenhum apoio e valor da transferência muito baixo 617.
Considerando-se o PBF como política social capaz de diminuir a exclusão
social decorrente da economia capitalista e assim, promover o desenvolvimento
humano, é preciso avançar para a efetiva inclusão social dos seus beneficiários rumo à
emancipação que lhes garanta uma vida digna. Para isso é fundamental fortalecer as
pessoas e as comunidades, potencializando as suas capacidades, de modo que
passem a produzir a própria renda, sem depender do poder público para o mínimo da
existência e assim, minimizando o risco de retornar à situação de miséria.
617
MESQUITA, Camile Sahb. Contradições do processo de implementação de políticas públicas: Uma
análise do Programa Bolsa Família 2003-2006. In: Revista do Serviço Público, vol, 57, nº 4 - Out/Dez
2006. Brasília: ENAP, 2006.
239
Com os textos aqui apresentados ainda não foi demonstrado uma
possível quebra do ciclo intergeracional da pobreza. Para precisa tal
avanço, talvez uma década seja insuficiente. Entretanto, pesquisas que
visem esse objetivo não podem ser negligenciadas e precisam começar
prontamente. O programa não pode ser avaliado apenas pelos seus
resultados imediatos, que são, acreditamos, em larga medida, positivos;
precisamos ter condições de avaliar sua sustentabilidade e seu potencial
de impactar positivamente a vida de gerações de brasileiros. É preciso
investigar se o Programa cria realmente condições para o fim da miséria
e da pobreza extrema.618
O grande desafio é pautar e priorizar o público atendido pelo PBF para abrir
novos espaços de inclusão e ampliar os já existentes. Os motivos e condições da saída,
tais como permanência máxima, insuficiência de recursos, falta de estrutura, alcance de
renda superior ao patamar exigido para entrada no programa, dentre outros, compõem
um cenário cujo plano de fundo consiste no planejamento de uma saída sustentável do
programa por parte dos beneficiários. É a estruturação do pós bolsa família. Para a
socióloga Walquiria Leão619 o caminho são as políticas complementares específicas, ou
seja, que sejam pensadas e implementadas para aquele público alvo, os beneficiários.
Tornar-se indispensável enfrentar o problema da falta de articulação entre as
estratégias governamentais, ao passo que se busque soluções para promover uma
integração entre os atores e setores envolvidos nas diferentes etapas do ciclo dessas
ações. Com vistas à sustentabilidade futura do programa, o grau de articulação com as
iniciativas estaduais e municipais ainda é uma questão em aberto. Ainda há
sobreposições de funções e desarticulação entre programas federais e locais, em
termos de valores de benefícios, critérios de elegibilidade ou metas de atendimento.
Propõe-se o caminhar no sentido da articulação do PBF com outras políticas
sociais de escopo mais amplo.620 A articulação dessas ações e estratégias
618
PIRES, Flavia Ferreira; REGO, Walquiria Domingues Leão. 10 anos de Programa Bolsa Família:
apresentação do dossiê. In: Revista de Ciências Sociais, n.38, Abril de 2013, pp. 13-19. Disponível em:
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/15178<http://www.enap.gov.br/index.
php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3537>. p.18Acesso em 10 de setembro de 2014.
619
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e
cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013.
620
LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb; CURRALERO, Claudia Regina Baddini. Desafios
para a Coordenação Intergovernamental do Programa Bolsa Família. In Revista de Administração de
Empresas,
vol.
51,
n.
5,
set-out
2011).
Disponível
em
http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75902011000500003_0.pdf.
240
governamentais para efetivar o que está declarado e garantido na Constituição Federal,
é sem dúvida, um dos desafios a serem enfrentados.
Com a transformação paulatina da política social em curso, novas
dinâmicas e tensões de economia política, novos objetivos de política
pública, novos atores e novas instâncias de coordenação, participação,
deliberação, consulta e pactuação passaram a demandar o
desenvolvimento de capacidades técnicas e políticas na construção e no
funcionamento de novos arranjos político-institucionais. Some-se a isso
o fato de que a definição de novos objetivos, meios, instituições e
processos requer não ―apenas‖ imaginação e habilidade de desenho
institucional para tornar concretos arranjos novos ou inovadores;
pressupõe, também, a tarefa complexa e cumulativa de reformar,
adaptar e interligar arranjos jurídico-institucionais já existentes a outros,
novos.621
Por fim, adota-se a sugestão de maior responsabilidade dos estados na
elaboração de políticas de desenvolvimento regional, no contexto da gestão do PBF.
Com essa iniciativa preencher-se-á uma lacuna na coordenação regional da gestão do
Programa, enquanto se conquistará uma maior atuação no âmbito da coordenação das
ações de geração de trabalho e renda. Um importante passo para se avançar na
conformação do modelo de gestão compartilhada, descentralizada e intersetorial do
PBF. Um desafio. Diogo Coutinho vem destacando a necessidade de uma obeservação
abrangente e centrada nos pontos de confluencia existentes entre os arranjos politicos
institucionais, catalisando capacidades estatais. Como resultado dessa abordagem, os
olhares voltam-se para uma nova concepção de desenvolvimento - descentralizado,
diversificado e sustentável.
A falta de articulação entre ações governamentais pode explicar o desafio da
saída dos beneficiários rumo à cidadania plena. Considera-se que redes de articulação
de atores, instituições e programas reforçam a capacidade de ação coletiva dos atores
locais, estimulando as alianças, fortalecendo a implementação participativa das
políticas públicas, construindo condições institucionais para uma articulação e
integração crescentes dessas ações, ainda que diversas e contraditórias, mas todas
voltadas para o desenvolvimento local/ territorial. Na abordagem da articulação dos
621
COUTINHO, Diogo R. Capacidades Estatais no Programa Bolsa Família: o desafio de consolidação do
Sistema
Único
da
Assistência
Social.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19366. Acesso 28/08/2013.
241
programas complementares conclui-se que o padrão ainda é desarticulado nas relações
intergovernamentais, com problemas de escala, num reflexo da imaturidade da
coordenação federativa dessas ações. Percebeu-se fragmentação das iniciativas e
grande dificuldade em alcançar a população alvo.
Em que pese a boa intenção das declarações da Presidente Dilma Rousseff,
nas comemorações aos dez anos do Bolsa Família, em especial um jogo de palavras
que remete as portas de entrada e saída do programa que ―foi criado para ser não
apenas a porta de saída da miséria, mas também a porta de entrada em um mundo
com futuro e esperança‖, algumas questões precisam ser enfrentadas, dentre elas
incluir políticas de educação e emprego que possam mudar a vida da população alvo,
consolidando-se como programa social capaz de transformar efetivamente a vida dos
pobres, rompendo-se o clico de pobreza intergeracional.
Depois da ditadura, a democracia voltou mas as velhas elites nunca foram
desafiadas. O grande capital, a grande indústria, as oligarquias. Não é uma questão de
derrotá-los, mas sim de moderá-los. Criar um teto para a riqueza e um piso para a
pobreza. Não é uma revolução, é uma questão de humanidade.622.
A corrupção é um problema internacional e sempre contrapõe interesses
privados e do Estado. Às vezes, grandes grupos privados argumentam que, para evitar
corrupção no governo, o Estado precisa encolher. Mas para reduzir a pobreza é
necessário ter um Estado forte, que ofereça serviços públicos de qualidade e
oportunidades igualitárias. Para evitar a corrupção, você precisa de forças que
contrabalanceiem esse poder, precisa de um Judiciário e uma imprensa independentes
– e você não tem mídia livre se uma pessoa é dona de todos os jornais e canais (...) - e
e de uma sociedade civil engajada. 623
Houve progresso, mas ainda insuficiente. Agora há um risco de o país
regredir, e a sociedade civil precisa se unir para pressionar autoridades a agirem de
acordo com sua responsabilidade social. A ameaça imposta pela concentração de
622
Ben Phillips é coordenador de Campanhas e Políticas da ONG ActionAid - organização não
governamental internacional que luta contra pobreza em vários países, incluindo Brasil. Disponível:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/05/150430_action_aid_entrevista_jc_lg Acesso25/05/2015
623
Ben Phillips é coordenador de Campanhas e Políticas da ONG ActionAid - organização não
governamental internacional que luta contra pobreza em vários países, incluindo Brasil. Disponível:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/05/150430_action_aid_entrevista_jc_lg Acesso25/05/2015
242
renda está entrando no caminho dos esforços para combater a pobreza e de criar
qualquer tipo de sociedade decente. É nesse contexto que o Brasil passa a ser tão
importante. Porque o Brasil tem sido exemplo de uma alternativa (no combate à
pobreza). Podemos dizer que, sim, há jeito, vejam como o Brasil está fazendo.624
Os avanços no Brasil não vieram apenas com o Bolsa Família, envolveram
um conjunto de políticas públicas. A estratégia deve continuar sendo Bolsa Família, e
mais. Na esteira da reflexão da professora e pesquisadora Amélia Cohn sobre o livro
Vozes do Bolsa Família espera-se que esse estudo se preste a ―pensar em que
consiste, efetivamente, a democracia social e política neste país. E mais que isso: que
os caminhos até aqui trilhados apontam de certa forma na direção correta, mas ainda
há muito a percorrer para que sejamos uma sociedade mais justa, que permita aos
indivíduos terem projetos de futuro, para si e seus descendentes.625
624
Ben Phillips é coordenador de Campanhas e Políticas da ONG ActionAid - organização não
governamental internacional que luta contra pobreza em vários países, incluindo Brasil. Disponível:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/05/150430_action_aid_entrevista_jc_lg Acesso25/05/2015
625
http://www.teoriaedebate.org.br/estantes/livros/vozes-do-bolsa-familia-autonomia-dinheiro-e-cidadania
243
CONCLUSÃO
A Constituição Federal de 1988, forte nos anseios de transformação de uma
sociedade desigual elevou a pobreza ao status de problema nacional e configurou a
assistência social como um direito, na perspectiva da construção de um conjunto de
ações governamentais capazes de levar os cidadãos para uma instância de
autonomização, na qual eles possam acontecer como cidadãos, com os outros
cidadãos, perante um Estado Democrático de Direito.
Por outro lado, diante da vulnerabilidade social de milhões de brasileiros que
não vivem a Constituição Cidadã, o Programa Bolsa Família firmou-se como principal
programa de transferência de renda brasileiro. Buscou oferecer cobertura à população
pobre, em idade ativa, com objetivos propagados de romper com a trajetória excludente
e caritativa do sistema de proteção social brasileiro. Forte na promessa constitucional
da inclusão social a ser realizada pelo Estado e pela sociedade foi criado com o
discurso de superar as debilidades dos programas sociais que lhe antecederam, de
modo a promover uma ruptura na tradição das políticas sociais brasileiras.
A pesquisa abraçou a ideia do Direito como Imaginação Constitucional de
Roberto Mangabeira Unger como ferramenta analítica pelo que restou convencida da
necessidade de discussões que conduzam a instâncias criativas, considerando o direito
não como lógica, mas como experiência, tendo uma função no desenvolvimento que vai
muito além dos debates em torno de si mesmo.
A trajetória constitucional brasileira é exemplo da preocupação levantada por
Mangabeira Unger sobre o fetichismo das instituições. Canonizou-se o texto
constitucional de 1988. Deu-se-lhe o epíteto de constituição cidadã. O direito exige
mudanças e delas é veículo. Mas, quem levará adiante as reformas que exige? Uma
sociedade desorganizada ou organizada desigualmente não pode se reinventar.
Através de uma reflexão aplicada sobre o direito na dinâmica de
implementação do PBF, percebendo-se como ele e algumas de suas categorias
oferecem ferramentas para compreensão, elaboração, pesquisa e avaliação dessa
política pública, analisou-se características do programa e dos processos de mudanças
pelos quais passou desde sua criação, atentando-se para questões tais como: quais
244
contrapontos entre o direito e as políticas são evidenciados pela implementação do
PBF? que processos dessa implementação têm mostrado flexibilidade e possibilidades
de revisões? de que maneira experiências vividas na ―ponta‖ relacionam-se a essas
mudanças? por meio de quais instrumentos elas ocorreram? Dentre outras.
Analisou-se a estrutura normativa do programa, destacando o papel do
Direito na sua institucionalização e operacionalização, abordando a sustentabilidade de
suas finalidades, seus efeitos diretos e indiretos, e suas deficiências, abordando-se a
potencialidade do arranjo jurídico-institucional do PBF e sua conexão entre redução da
pobreza e desigualdade com desenvolvimento econômico.
Numa fase mais recente, o PBF parece está estruturando-se sobre uma
racionalidade
de
incentivos,
além
de
apresentar
traços
como
estímulos
à
descentralização, distanciamento entre quem dá e quem recebe o benefício,
mecanismos de participação e estratégias de focalização, que tem o diferenciado de um
padrão centralizado, clientelista e contributivo. O IGD e as condicionalidades em seus
moldes atuais foram mostrados com um exemplo para esse argumento, uma vez que,
no caso do IGD o repasse de recursos depende da eficiência da gestão local e, no caso
das condicionalidades são percebidas no seu momento atual mais como parte de uma
engrenagem de incentivos do que punições.
Assim, o Bolsa Família vem destacando-se dos demais programas de
transferência de renda da América Latina, em virtude de sua larga escala, sua gestão
descentralizada,
a
utilização
de
mecanismos
de
estímulo
ao
desempenho
administrativo dos Municípios que dele participam e seu papel de política social
integradora, considerando-se inclusive sua aproximação com o SUAS, conforme
explorado ao longo da pesquisa.
A despeito dos seus limites e deficiências tratados no desenvolvimento do
trabalho e da consciência de que não é capaz de por si só promover um novo ciclo de
desenvolvimento econômico e social, o PBF vem contribuindo para a redução da
pobreza, em que pese a necessidade de se considerar o caráter multidimensional dela
e mesmo, os demais fatores que envolvem a desigualdade social brasileira que
teimosamente permanece como grave problema não encarado de forma estrutural, mas
apenas nos seus efeitos.
245
Fundamentando-se em estudos do Sociólogo Jesse de Souza sobre a
realidade das classes brasileiras, esta pesquisa enxerga questões importantes na
declaração da presidente Dilma ―Queremos um Brasil de classe média‖, posto o
enfoque economicista dado a essa dita classe média. Uma frase como essa parece
contribuir para a cegueira da já colonizada e economicista esfera pública. Certamente,
um grave problema na gestão das políticas públicas sociais, seja num governo da
Direita ou da Esquerda.
O crescimento da renda por si só não resolve problemas estruturais como
saúde, saneamento e educação. Para isso, é preciso a incorporação na vida social,
econômica e política dos cerca de 30% da população que Jesse Souza chama
provocativamente de ―ralé‖ por ser tratada como lixo pela sociedade e pelas instituições
modernas como o mercado competitivo para o qual não foram aparelhadas. As
promessas de inclusão social por meio de estímulos apenas econômicos não irão se
concretizar de verdade.
Acreditamos, como Jesse de Souza, que ou recuamos para atender uma
sociedade de 20% ou aprofundamos a inclusão. No processo de aprofundamento da
democracia o espaço que temos nessa luta tem a ver com uma postura crítica também
quanto às ideias que dominam as cabeças da direita e da esquerda que parecem
sequestrar a inteligência do povo brasileiro que passa a comprar uma legitimação de
interesses que só servem a uma minoria. A sociedade deve perceber o que tem a
perder e o preço que isso envolve.
Dados recentes mostram que a desigualdade continua caindo e a renda real
do trabalho continua subindo. O analfabetismo caindo e tudo indica que continua a
haver uma melhora nas condições de vida classe trabalhadora que ascendeu nos
últimos anos. Todo esse cenário, certamente, tem a ver com a transformação no modo
de fazer políticas sociais no Brasil nos últimos 50 anos; teve muito a ver com os
programas sociais e políticas como o aumento do salário mínimo, o Bolsa Família, o
crédito mais fácil e outras. Houve impacto significativo na renda dos mais pobres.
Contudo, considerado os aspectos conjunturais, especialmente no mercado de
trabalho, o desemprego aumentou. Tudo combinado mostra que o modelo de
desenvolvimento com ascensão social dos mais pobres não está liquidado. Só com o
246
aumento da renda tendem a permanecer como a ralé de Souza, uma classe
precarizada, sem condições de competir no mercado de trabalho.
Somos uma sociedade altamente conservadora que aceita conviver com
parcela significativa da população vivendo como "subgente", a mão de obra barata de
empregadas domésticas, motoboys, porteiros, carregadores, babás e outros. Diante
disso, não surpreende que os últimos governos deem-se por satisfeitos com o suposto
legado de ter criado uma ―Nova Classe Média‖, ainda mais em um país com uma longa
tradição de extrema desigualdade. Daí a construção de uma narrativa que organiza os
ganhos reais dos salários de pessoas de baixa renda no Brasil e os avanços nas
políticas sociais sob este título.
Ao se destacar os méritos e progressos da política de inclusão social e
aumento real da renda durante os anos 2000, a classe diretamente atingida, sem as
benesses do Welfare State europeu montou-se como classe sobre o dinamismo
econômico e profunda desigualdade social. Moradias inadequadas, escolaridade
insuficiente, acesso limitado a crédito nas condições habitualmente disponíveis e uso
incipiente de serviços sociais privados permitem prever o limitado horizonte para
progresso social por parte desse segmento que por outro lado abocanhou e segue
abocanhando ganhos de renda, mas estão longe de corresponder à promoção social
que lhes é atribuída. São pobres sob qualquer critério que leve em consideração
adequação nos níveis de bem-estar. As insuficiências são tamanhas.
A promoção de fato dessas famílias à classe média depende de poderem
acessar bens e serviços de qualidade. Classificá-los na classe média é ignorar o fato
ordinário de que a pobreza (assim como a riqueza) é um fenômeno multidimensional e
de que linhas de pobreza de renda são definidas muito frequentemente em função do
orçamento público e não das reais necessidades das famílias. Uma via de fuga poderia
estar aberta para os filhos se à disposição deles estivessem oportunidades sociais
efetivas, como a educação de qualidade, que permitissem melhorar suas chances de
vida. Contudo, o futuro parece ameaçado. Crianças pequenas não têm acesso a
oportunidades externas de desenvolvimento infantil; adolescentes e jovens fora da
escola têm como limite de realização o ensino médio.
247
Investimentos públicos maciços em serviços sociais que impliquem em
aumento da provisão e principalmente da qualidade parecem essenciais para o alcance
de melhores posições sociais para esse significativo contingente de brasileiros, dentro
do qual se encontra confinado o Brasil do Futuro – 38 milhões de crianças e jovens, boa
parte dos quais apenas acima do limiar da pobreza. Do ponto de vista de justiça social,
esses investimentos são uma oportunidade de promoção social sem apoio excessivo na
capacidade de pagamento dos indivíduos para a realização de bem-estar. São a
semente do apoio político crucial para a construção de uma sociedade mais solidária.
O que se critica aqui é uma espécie de fetichização da eficiência do mercado
que termina por enfraquecer o Estado Democrático. Nestas políticas sociais
mercantilizadas
a
democracia
passa
a
ser
uma
determinante
ausente.
As
manifestações que tomaram conta das ruas brasileiras em junho de 2013 tem como um
dos aspectos relevantes o fato de que através dele se discute os rumos e as
prioridades políticas do desenvolvimento da sociedade brasileira no futuro próximo.
Demanda-se vozes críticas ao que deve ser concebido como um projeto político de
grande porte que precisa, urgentemente, de análise mais profunda.
O Programa Bolsa Família, considerada a análise da sua primeira década,
centrada no eixo da retirada da miséria dos milhões de brasileiros que lá estava, com
seus impactos positivos na vida dessas famílias, num segundo momento, percebendose as suas capacidades políticas e institucionais, destacando-se os seus limites e
desafios e, finalmente, apontando-se o seu gargalo no sentido das portas de saída,
numa abordagem da inclusão social produtiva por meio da articulação de programas
complementares, tem chances de culminar num virtuoso ciclo, despertando-se a
consciência social da população, fazendo-as perceber que são titulares de direitos,
podendo exigir dos governantes o atendimento das suas necessidades básicas,
promovendo a cidadania.
O cénario é uma sociedade variada e complexa demais para análises sob
óticas disciplinares únicas e excludentes. Considerou-se a consolidação e expansão do
fenômeno sócio-econômico-cultural da globalização no mundo contemporâneo e a
perspectiva de crise do Direito como reflexo do declínio do Estado nação, bem como
declínio da cidadania e da democracia representativa. É um tempo fruto do
248
desenvolvimento humano, da capacidade criativa e transformadora do homem e que
parece não apontar vilões únicos e isolados nos conflitos que apresenta, em especial a
realidade dos interesses cada vez mais mercantilistas num sistema que afronta os
direitos humanos fundamentais e direitos sociais conquistados ao longo de uma história
profundamente marcada por mazelas sociais.
Nesse sentido, percebe-se que um grande desafio político que se coloca
diante da implementação das políticas públicas e na efetivação dos direitos sociais
contidos na CFR/88 é enfretamento do modelo econômico que se baseia na hegemonia
neoliberal. Além disso, a globalização econômica faz surgir um direito que põe em
xeque o modo tradicional de pensar as relações entre direito e mudança social. A
financeirização da economia capitalista, a reestruturação dos processos produtivos e as
reformas do Estado voltadas para o mercado compromete a lógica universalista das
políticas econômicas.
Considerado todo o exposto acima, a concretização dos direitos sociais
parece exigir um profundo redimensionamento do papel do Direito e das instituições
jurídico-democráticas, requerendo um modelo de Estado de direito inclusivo, que
assume obrigações perante os cidadãos e procura dialogar com os anseios dos mais
diferentes conjuntos de atores sociais. É preciso ir além ―da ―cegueira‖ da percepção
unilateral e amesquinhada da determinação econômica. Certamente, a economia tem
muito a contribuir para o esclarecimento da realidade social. O problema está no
economicismo, uma visão empobrecida e amesquinhada da realidade, como se fosse
toda a realidade social
O PBF com seus mais de dez anos é a face visível da transformação da
política social. Mas, a mudança é profunda e tem seus percalços. É um fato o alcance
do PBF nas demandas mais urgentes, como a fome. Mas, a questão é se um programa
assim será suficiente para dar as respostas aos graves problemas que envolvem as
questões sociais do país.
Diante de todo o exposto, reflete-se o Direito como instrumento de
desenvolvimento e a partir disso, percebendo a sua capacidade de modificar
comportamentos sociais, modernizar a economia e promover justiça social. Diogo
Coutinho estabelece o que denomina os quatro papéis do direito nas políticas públicas:
249
moldura, vocalizador de demandas, ferramenta e arranjo institucional. Ressaltando-se
que estamos falando de um país com tantas desigualdades e disparidades que
demanda um modelo de desenvolvimento pelo qual não se pode aceitar a idéia de que
o nordeste replique o que ocorre no sul e no sudeste. É preciso enxergar o Brasil no
seu todo e perceber as regiões Norte e Nordeste, sob alguns aspectos, como bolsões
de um Brasil pré-moderno.
O estudo de caso através do PBF revela aspectos do funcionamento das
políticas públicas para além dos manuais. Ainda que se aproveite de elementos que já
estavam presentes em programas que o antecederam, o PBF traz questionamentos às
categorias com as quais uma abordagem do direito costuma trabalhar, conquanto
venha passando por processos paulatinos e contínuos de construção e reconstrução
mais dinâmicos do que sugerem definições de conceitos jurídicos. Assim, conclui-se
que o direito das políticas públicas talvez tenha a característica de ser mais efetivo para
concretizar direitos e garantias se, na sua implementação, a administração puder adotar
uma dinâmica mais aberta a transformações que são positivas quando podem ser
conduzidas pela própria administração a partir de sugestões de gestores e dos
beneficiários, atores que constroem a política no seu dia-a-dia.
Outro grande desafio percebido na implementação das políticas públicas e
na efetivação dos direitos sociais contidos na CFR/88 está associado a aumentar a
participação cidadã na elaboração, execução e fiscalização dessas políticas através da
ampliação dos espaços de participação política e da esfera pública democrática via
sociedade civil organizada. A falta de participação social é um grave problema na
gestão das políticas públicas atuais, seja em razão de falta de mecanismos
disponibilizados por tais políticas à sociedade civil ou por uma falta de cultura política
de cidadania da população como um todo, desacostumados a serem vozes ouvidas,
sobretudo os mais pobres.
A pesquisa adotou a concepção de sociedade civil de Habermas que nos
oferece uma perspectiva ampla da democracia que deve estar ancorada na sociedade
civil e na esfera pública e não apenas nas instituições e, a partir disso, percebe-se o
quanto estamos longe de um Estado Democrático de Direito. No contexto das políticas
250
públicas, a expansão da intervenção estatal precisa ser acompanhada de participação
política e maior espaço para a democracia deliberativa e ampliação da esfera pública.
Diante do exposto até aqui e tomando-se as idéias de Unger de Direito como
Imaginação Institucional como ferramenta análitica para o estudo de caso do PBF,
numa espécie de Teoria Jurídica do Bolsa Família, parece que, apesar dos grandes
ensinamentos de Marshal, das ideías de Murilo de Carvalho, o que existe atualmente é
o declínio da ideia de cidadania, considerando-se autores como José Eduardo Faria
que fala em crise do direito como reflexo do declínio do Estado nação, uma abordagem
que desmonta, incluive a ideia de Constituição Dirigente.
Por outro lado, apesar da financeirização da economia, do enfoque
economicista dado às políticas públicas no brasil, pela esquerda ou pela direita, das
idéias de constitucionalização simbólica e subintegração de Marcelo Neves referidas ao
longo da pesquisa, das inúmeras dificuldades para implementar políticas de inclusão
definitiva, num contexto de capitalismo global e neoliberal, consideradas as
decorrências da tensão entre capitalismo de democracia, o PBF vem sim consolidandose justamente como uma prova da inclusão social e do papel da CRF/88 nesse
processo.
Diante das reflexões ao longo da pesquisa, destacamos a perspectiva da
análise que leva a crer que o sucesso do PBF está justamente no seu fim,
considerando que consolide uma fase de estruturação de portas de saída efetivas aos
beneficiários que, saindo e não precisando voltar a ele, culmine no fim do programa. É
o contexto da articulação entre as politicas sociais complementares ao PBF que passa
a ser considerado como um grande desafio, em todos os níveis de poder, rompendo-se
ciclos de políticas públicas que desconsideram as diversidades locais e regionais.
As ações complementares ao PBF tencionam potencializar os efeitos da
transferência de renda, buscando promover as portas de saída do programa. Contudo,
ainda que legislação do PBF estabeleça responsabilidades a serem partilhadas entre
os governos federal, estadual e municipal na oferta e na articulação dos programas
complementares, os resultados ainda são incipientes. O panorama indica à ausência
de uma coordenação efetiva da estruturação de parcerias e do desenvolvimento de
incentivos aos governos locais e aos demais órgãos do governo federal na promoção
251
dessas ações. Um dos principais desafios do programa é uma visão territorial, com
identificação de potencialidades regionais.
Por tudo isso, considera-se que s avanços percebidos Brasil ao longo dos
úlimos anos envolveram um conjunto de políticas públicas que inclui o Bolsa Família. A
estratégia deve continuar sendo Bolsa Família e mais. Espera-se que esse estudo se
preste a pensar na democracia social e política do país. Os caminhos até aqui trilhados
apontam de certa forma na direção correta, mas ainda há muito a percorrer para que
sejamos uma sociedade mais justa, que permita aos indivíduos terem projetos de
futuro, para si e seus descendentes.
Ao que tudo indica, no país do futuro, o sonho dos pais não é deixar aos
seus filhos um cartão Bolsa Família como herança.
252
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, C. Los derechos sociales como derechos
exigibles 2.ed. Madrid: Trotta, 2004.
ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, C. Direitos sociais são exigíveis. Dom Quixote:
Porto Alegre, 2011.
ABRAMOVICH, Victor. Linhas de trabalho em direitos econômicos, sociais e culturais:
instrumentos e aliados. Revista Internacional dos Direitos Humanos. ano 2,
n.2.p.188-223, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sur/v2n2/a09v2n2.pdf
ABRANCHES, Sergio Henrique; SANTOS, Wanderley Guilherme; COIMBRA, Marcos
Antonio. Política Social e Combate à Pobreza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1987.
ABREU, Lidiane Rocha. Direitos Sociais no Brasil: Programa Bolsa Família e
Transferência de Renda, 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Político e
Econômico)–Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011.
ABRUCIO, Fernando Luiz. Coordenação é a peça-chave do Bolsa Família. In: Bolsa
família: cidadania e dignidade para milhões de brasileiros. Brasília: MDS, 2010.
AGUIAR, Marcelo; ARAÚJO, Carlos Henrique. Bolsa Escola. Educação para enfrentar
a pobreza. Brasília UNESCO, 2002.
Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129723m.pdf.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva.
São Paulo: Malheiros, 2008.
ANNENBERG, Flávia Xavier. Direito e políticas públicas: uma análise do direito
administrativo a partir do estudo de caso do Programa Bolsa Família. 2014. Dissertação
- Faculdade de Direito da USP. Orientador: Diogo Rosenthal Coutinho.
APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá,
2008.
ARRETCHE, Marta. Federalismo e relações intergovernamentais no Brasil: a reforma
de programas sociais. Dados, v.45, n. 3, p. 431-458, 2002.
ARRETCHE, Marta. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas
políticas públicas. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 31, jun. 1996.
ARRETCHE, Marta. Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. In:
BARREIRA, Maria Cecília Roxo Nobre. CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (orgs.).
253
Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais. São
Paulo: IEE/PUC-SP, 2001.
ARRETCHE, Marta. Federalismo e políticas públicas sociais no Brasil: problemas de
coordenação e autonomia. In: São Paulo em Perspectiva, v.18, nº 2, São Paulo:
Fundação SEADE, 2004. pp.17-26.
ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e globalização: lições de filosofia
do direito e do Estado. tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro:
Renovar, 1999.
ARZABE, Patrícia Helena Massa. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In: BUCCI,
Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico.
São Paulo: Saraiva, 2006.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2010.
BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e
Controle das Políticas Públicas. Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 83-103,
2005.
BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito
(O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil)
Disponível:<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE_9_MAR%C70_2007_LUIZ%
20ROBERTO%20BARROSO.pdf>.
BARROS, Ricardo Paes de; FOGUEL, Miguel Nathan. Focalização dos gastos
públicos sociais e erradicação da pobreza no Brasil. Brasília, 2001.
Disponível<http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1132/1031 >
BARROS, Ricardo Paes de; HENRIQUES, Ricardo & MENDONÇA, Rosane, In: A
Estabilidade Inaceitável: Desigualdade e Pobreza no Brasil – Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas, IPEA, 2001.
BASTAGLI, Francesca. From social safety net to social policy? The role of conditional
cash transfers in Welfare State Development in Latin America. International Policy
Centre for Inclusive Growth. Working paper 60, 2009.
BICHIR, Renata Mirandola. Mecanismos federais de coordenação de políticas
sociais e capacidades institucionais locais. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
BICHIR, Renata Mirandola O Bolsa Família na berlinda? Os desafios atuais dos
programas de transferência de renda. Novos Estudos - CEBRAP, 2010, p.115-129
BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia. 10 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
254
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ªed. São Paulo: Malheiros,
2006.
BRASIL. Sobre a recente queda da desigualdade de renda no Brasil. Nota técnica.
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA). 2006.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Relatório de
Condicionalidades - 1º semestre de 2010. Brasília, DF, 2010, 58 p.
Disponível
em:
<http://www.mds.gov.br/biblioteca/secretaria-nacional-de-renda-decidadania-senarc/cadernos/relatorio-de-condicionalidades-2013-1b0-semestre-de2010/relatorio-de-condicionalidades-2013-1b0-semestre-de2010/?searchterm=relatório%20condicionalidades>
BRITTO, Tatiana; SOARES, Fabio Veras. Bolsa Família e Renda Básica de
Cidadania: um passo em falso? Texto para discussão n. 75. Brasília: Centro de
Estudos da Consultoria do Senado Federal, 2010.
BRUGUÉ, Quim; GOMÁ, Ricard; SUBIRATS, Joan. De la pobreza a la exclusión social:
nuevos retos para las políticas públicas. Revista Internacional de Sociología (RIS),
Tercera Época, n. 33, sept-dec, 2002, pp. 7-45.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas
Públicas. São Paulo: Saraiva, 2013.
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito: In: (Org.).
Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo;
Saraiva, 2002.
CAMARGO, Camila Fracaro; CURRALERO, Claudia Regina Baddini; LICIO, Elaine
Cristina; MOSTAFA, Joana. Perfil socioeconômico dos beneficiários do Programa Bolsa
Família: o que o Cadastro Único revela? In: CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo
Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília: IPEA,
2013.
CAMPILONGO, Celso. Direito e diferenciação social. São Paulo: Saraiva, 2011.
CAMPELLO, Tereza. Uma década derrubando mitos e superando expectativas. In:
CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo Côrtes(orgs).Programa Bolsa Família: uma
década de inclusão e cidadania. Brasília: Ipea, 2013.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do
legislador. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1994.
255
CANOTILHO José Joaquim Gomes. Brancosos e interconstiucionalidade: itinerários
dos discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2008.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.
Almedina, 1993.
6ª ed. Coimbra:
CARDOSO JÚNIOR, José Celso; JACCOUD, Luciana. Políticas sociais no Brasil:
organização, abrangência e tensões da ação estatal. In: JACCOUD, Luciana (Org.).
Questão social e políticas sociais no Brasil contemporâneo. Brasília: Ipea, 2005.
CARVALHO, José Murilo. A Cidadania no Brasil. O longo caminho. São Paulo:
Civilização Brasileira, 2008.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário.
Tradução de Iraci Poleti. 8ª ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
CASTEL Robert. orgs. Mariângela Belfiore-Wanderley, Lúcia Bórgus, Maria Carmelita
Yazbek. Desigualdade e a questão social / São Paulo: EDUC, 2000.
CAVALCANTE, Pedro Luiz. Programa Bolsa Família: Descentralização, centralização
ou gestão em redes? In: Revista do Serviço Público. Brasília: ENAP, jan./mar. 2009.
CAVALCANTE, Pedro Luiz. Programas de Transferência Condicionada de Renda na
América Latina: uma abordagem comparada entre Brasil, México, Chile e Colômbia In:
Revista do Serviço Público nº 62, Brasília: ENAP, abr./jun. 2011.
CHAMBERS, Robert. What is poverty? Who ask? Who answers? In: Internatinal
Poverty Centre - poverty in focus. UK. Dez. 2006.
Disponível em: <www.undp-povertycentre.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf>.
CHRISPIANO, Álvaro. Binóculo ou luneta: Os conceitos de política pública e ideologia e
seus impactos na educação. Revista Brasileira de Política e Administração da
Educação. Rio Grande do Sul, v. 21, n. 1/2, p.61-90, jan./dez. 2005.
COELHO, Helena Beatriz Cesarino Mendes. Políticas públicas e controle de
juridicidade: vinculação as normas constitucionais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Ed, 2010.
COHN, Amélia. Cartas ao Presidente Lula: Bolsa Família e direitos sociais. Rio de
Janeiro: Pensamento Brasileiro; 2012.
COHN, Amélia. O PBF e seu potencial como política de Estado. In: CASTRO, Jorge
Abrahão de; MODESTO, Lúcia (orgs.). Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios.
Vol. 1. Brasília: IPEA, 2010.
256
COLIN, Denise Ratmann Arruda; PEREIRA, Juliana Maria Fernandes; GONELLI,
Valéria Maria de Massarani. Trajetória de construção da gestão integrada do Sistema
Único de Assistência Social, do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família para a
consolidação do modelo Brasileiro de proteção social. In: CAMPELLO, Tereza; NERI,
Marcelo Côrtes. Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania.
Brasília: IPEA, 2013.
COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. In Estudos e
Pareceres de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, Forense, 1978, pp. 453-472.
COMPARATO, Fabio Konder. A nova cidadania. In Lua Nova, São Paulo. Apr.1993.
COSTA, Bruno Lazzarotti Diniz; SPINELLI, Mário Vinícius Claussen. Participação,
accountability e desempenho institucional: o caso dos Conselhos de Controle Social do
Programa Bolsa Família nos pequenos municípios brasileiros. In: XXII Concurso del
CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública"La
participación de los ciudadanos en la gestión pública". Caracas, 2009.
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (org.). Canotilho e a constituição dirigente.
Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O Direito nas Políticas Públicas. In: Carlos Ari Sundfeld e
Guilherme Jardim Jurksaitis. (Org.). Contratos Públicos e Direito Administrativo.
1ed. São Paulo: Malheiros-SBDP, 2015, v. 1, p. 447-480.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Qual o Papel do Jurista na Assistência Social?. In:
Simone Aparecida Albuquerque; Karoline Aires Olivindo; Sandra Mara Campos Alves.
(Org.). Direito e Assistência Social. 1ed. Brasília: Fiocruz Brasília - Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2014, v. 1, p. 48-55.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Entre Eficiência e Legitimidade: o Bolsa Família no
Desafio de Consolidação do SUAS. In: Alexandre de Ávila Gomide e Roberto Rocha C.
Pires. (Org.). Capacidades Estatais e Democracia: Arranjos Institucionais de Políticas
Públicas. 1ed.Brasília: IPEA, 2014, v. 1, p. 267-293.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Targeting Within Universalism? The Bolsa Família
Program and the Social Assistance Field in Brazil. Verfassung und Recht in Ubersee, v.
47. 2014.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Capacidades Estatais no Programa Bolsa Família: o
desafio de consolidação do Sistema Único da Assistência Social. Texto para Discussão
(IPEA. Brasília), v. 1, p. 1-50, 2013.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Decentralization and coordination in social law and
policy: the Bolsa Família Program. In: TRUBEK, David et al. (Ed.). Law and the new
developmental state: the Brazilian experience in Latin American context. Cambridge
University, 2013.
257
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo:
Saraiva, 2013.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo;
FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de (eds.). Política pública como campo disciplinar.
São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. No centro da Agenda (resenha do livro 'O Estado do
Bem Estar Social na Idade da Razão, de Celia Kerstenetzky'. Revista Ciência Hoje,
Rio de Janeiro.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. O Direito nas Políticas Sociais Brasileiras: um estudo do
Programa Bolsa Família. In: Mario G. Schapiro e David Trubek. (Org.). Direito e
Desenvolvimento - Um Diálogo Entre os Brics. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 1.
COUTINHO, Diogo Rosenthal. Linking Promises to Policies: Law and Developmentin an
Unequal Brazil. In: The Law and Development Review: Vol. 3, n. 2, Article 2,2010.
CUNHA, Rosani. A garantia do direito à
renda no Brasil: a experiência do
Programa Bolsa
Família.
Programa
África-Brasil
de
Cooperação
em
Desenvolvimento Social - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e
International Policy Centre for Inclusive Growth.2008.
Disponível:<http://www.ipcundp.org/doc_africa_brazil/Webpage/missao/Artigos/ARTIGO
_ROSANICUNHA.pdf>
CURRALERO, Cláudia Regina Baddini. O enfrentamento da pobreza como desafio
para as políticas sociais no Brasil: uma análise a partir do Programa Bolsa Família,
2012. Tese (Doutorado em Teoria Econômica do Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas) - Universidade Estadual de Campinas, 2012.
CURRALERO, Claudia Regina Baddini; SILVA, Ana Amélia; XIMENES, Daniel de
Aquino; VASCONCELLOS, Ana Beatriz Pinto de Almeida; AQUINO, Kelva Karina
Nogueira
de
Carvalho
de;
OLIVEIRA, Kathleen Sousa; SILVA, Ana
Carolina Feldenhemeier da; NILSON, Eduardo Augusto Fernandes. As
condicionalidades do Programa Bolsa Família. In: CASTRO, Jorge Abrahão de.
MODESTO, Lúcia (orgs.) Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. Vol. 1. Brasília:
IPEA, 2010.
CURRALERO, Claudia Regina Baddini; LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile
Sahb. Desafios para a coordenação intergovernamental do Programa Bolsa Família. In:
Revista de Administração de Empresas, vol. 51, n. 5, São Paulo, set./out.2011.
DRAIBE, Sônia Miriam. A política social no período FHC e o sistema de proteção
social.Disponível:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010320702003000200004&scrip
t=sci_arttext.
258
DRAIBE, Sônia Maria. Estado de Bem- Estar, Desenvolvimento Econômico e
Cidadania. In: HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo.
Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011, p.29.
DRAIBE, Sonia Miriam. Programas de transferências condicionadas de renda. In:
Cardoso, F. H; Alejandro Foxley (Ed) América Latina: desafios da democracia e do
desenvolvimento – políticas sociais para além da crise. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
DRAIBE, Sonia Miriam. Brasil: Bolsa-Escola y Bolsa-Família. In: COHEN, Ernesto;
FRANCO, Rolando (coords.). Transferencias com corresponsabilidad. Uma mirada
latinoamericana. Cap. III. México D. F.: FLACSO, 2006.
DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo das Políticas Públicas. In SMANIO, Gianpaolo Poggio;
BERTOLIN, Patrícia Tuma (org.). Atlas, 2014. O Direito e as Políticas Públicas no
Brasil p.16 a 43.
DURAN, Camila Villard. O STF e a constitucionalidade dos planos econômicos.
Constitucional,
Economia,
14/01/2014
Disponível
em:
http://www.editorajc.com.br/2014/01/stf-constitucionalidade-planos-economicos/
DURAN, Camila Villard. A Moldura Jurídica da Política Monetária: um estudo de
caso. Tese Doutorado. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito Departamento
de Filosofia e Teoria Geral do Direito São Paulo 2012 sob a orientação do Professor
José Eduardo Campos de Oliveira Faria e do Professor Jean-Marc Sorel.
FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Revista Crítica das Ciências
Sociais, nº 21. 1986.
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo, Malheiros,
2004.
FARIA, José Eduardo de. Direito e conjuntura. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva,
2010.
FARIA, José Eduardo. Estado e direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2001.
FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de; COUTINHO, Diogo Rosenthal. O Direito nas
Políticas Públicas. In: Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria. (Org.). A
Política Pública como Campo Multidisciplinar. São Paulo e Rio de Janeiro: Editora
Unesp e Editora Fiocruz, 2013.
FAVA, Virgínia; QUINHÕES, Trajano. Intersetorialidade e transversalidade: a estratégia
dos programas complementares do Bolsa Família. In: Revista do Serviço Público vol.
61. ENAP. Brasília, 2010.
FERREIRA, Dina Maria Martins. Não pense, veja: o espetáculo da linguagem no palco
do Fome Zero. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2006.
259
FGV. Fundação Getúlio Vargas. Indicadores de pobreza. In: Indicadores sociais.
Disponível em: <http://fgvdados.fgv.br/>>.
FLEURY, Sônia. A expansão da cidadania. Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas – EBAPE, 2004 (a), mimeo.
FLEURY, Sônia. Políticas Sociais e Cidadania. Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas – EBAPE, 2004 (b), mimeo.
FONSECA, A; VIANA, A. L. A. Tensões e avanços na descentralização das políticas
sociais: o caso do Bolsa Família. In: FLEURY, S. (Org) Democracia, descentralização
e desenvolvimento: Brasil e Espanha. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006.
FREIRE, Viviam Rafaela Barbosa Pinheiro; SILVA, Simone Souza da Costa Silva;
CAVALCANTE, Lilia Lêda Chaves; PONTES, Fernando Augusto Ramos. Programa
Bolsa Família como estratégia de combate à pobreza em Dissertações e Teses no
Brasil.
Disponível: http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/8603/6495
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA. Estudos de caso sobre controle social do
Programa Bolsa Família (sumário executivo). Brasília: MDS, abr. 2009.
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA. Estudo sobre o desenho, a gestão, a
implementação e os fluxos de acompanhamento das condicionalidades de saúde
do PBF no nível municipal (sumário executivo). Brasília: MDS, jan. 2013
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. V.2.
HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Madrid: Trota, 1998.
HALL, Anthony. From Fome Zero to Bolsa Família: Social Policies and Poverty
Alleviation under Lula. Journal of Latin American studies v. 38, 2006.
HALL, Anthony. Brazil‘s Bolsa Família: A Double Edged Sword? In: Development and
Change, 39 (5), 2008.
HEVIA, Felipe J. Relaciones sociedad-Estado, participación ciudadana y clientelismo
político en programas contra la pobreza. El caso de Bolsa Familia en Brasil, América
Latina hoy, Salamanca, v. 57, 2011.
IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Repercussões do
Programa Bolsa-Família na Segurança Alimentar e Nutricional das famílias
beneficiadas. Documento síntese. Junho 2008.
Disponível em: http://www.ibase.br/userimages/documento_sintese.pdf.
260
INOJOSA, Rose Marie. Intersetorialidade e a configuração de um novo paradigma
organizacional. Revista
, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, p. 3548, mar./abr de 1998.
JACCOUD, Luciana. Pobres, pobreza e cidadania: os desafios recentes da proteção
social. In: FAGNANI, E. (Org.). Previdência social: como incluir os excluídos. São
Paulo: LTr, 2005.
JUNQUEIRA, L.A.P. Novas formas de gestão na saúde: descentralização e
intersetorialidade. Saúde Social, 6(2): 31-46, 1997
JUSTO, Carolina Raquel D. de M. Direito à Renda Básica de cidadania: um marco na
história brasileira. IHU ONLINE. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São
Leopoldo, Unisinos, ano 10, n. 333, 2010, p. 13-16.
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais: focalização ou universalização?,
Universidade Federal Fluminense, Economia, Textos Para Discussão n. 180, 2005, p. 111. Disponível em: <http://www.uff.br/econ/download/tds/UFF_TD180.pdf>
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Desigualdade e pobreza: lições sobre Amartya Sem.
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 15, n. 42, 2000.
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas Sociais sob a perspectiva do Estado do
Bem estar social: desafios e oportunidades para o ―catching up‖ social brasileiro. Rio
de Janeiro: Centro de estudos sobre desigualdade e desenvolvimento. Texto para
discussão 34, março, 2011.
Disponível em: < http://www.proac.uff.br/cede/sites/default/files/TD34.pdf >
KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado de bem-estar social na idade da razão. Rio
de Janeiro: Campus, 2012.
KERSTENETZKY, Célia Lessa. Redistribuição e desenvolvimento? A economia
política do Programa Bolsa Família. In: Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de
Janeiro, vol. 52, n. 1, 2009.
KOWARICK, Lúcio. Viver em Risco: sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil. IN:
Novos estudos, nº 63. São Paulo: SEBRAP, julho de 2002.
LAVINAS, Lena; NICOLL, Marcelo. Pobreza, transferências de renda, e
desigualdades de gênero: conexões diversos. Parcerias Estratégicas, Brasília, n. 22,
junho 2006, p. 39-76. Disponível em: <http://www.cgee.org.br/arquivos/pe_22.pdf>
LAVINAS, Lena. Pobreza e exclusão: traduções regionais de duas categorias da
prática. Econômica, v. 4, n. 1, jun. 2002.
261
LAVINAS, Lena. Combinando compensatório e redistributivo: o desafio das políticas
sociais no Brasil. Texto para discussão n. 748 Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. IPEA, 2000.
LAVINAS, Lena. Programas de Garantia de Renda Mínima: Perspectivas Brasileiras.
Texto para Discussão n. 596. IPEA, 1998.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega,1993.
LICIO, Elaine Cristina; MESQUITA, Camile Sahb; CURRALERO, Claudia Regina
Baddini. Desafios para a Coordenação Intergovernamental do Programa Bolsa
Família. In Revista de Administração de Empresas, vol. 51, n. 5, set-out 2011.
LÍCIO, Elaine Cristina. A trajetória dos programas de transferência de renda no
Brasil: o impacto da variável federativa. Revista do Serviço Público. ano 55. Brasília:
ENAP, 2004.
LÍCIO, Elaine Cristina. Para além da recentralização: os caminhos da coordenação
federativa do Programa Bolsa Família (2003-2010). Tese (Doutorado em Política Social)
– Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
LIMA, Valeria Ferreira Santos; SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Avaliando o Bolsa
Família: unificação, focalização e impactos. São Paulo: Cortez, 2010.
LINDERT, Kathy; LINDER, Anja; HOBBS, Jason; BRIÈRE, Bénédicte de La. The Nuts
B
f B z ’
B
F í
g
: Implementing Conditional
CashTransfers in a Decentralized Context. Social Protection Discussion Papers
0709,World Bank, 2007.
LOBEL, Orly. The Renew Deal: The fall of regulation and the rise of governance in
contemporary legal thought. Legal Studies Research Paper Series. Research Paper n.
07-27. University of San Diego – School of Law, dec. 2005.
LOTTA, Gabriela Spanghero. Implementação de políticas públicas: o impacto dos
fatores relacionais e organizacionais sobre a atuação dos Burocratas de Nível de Rua
no Programa Saúde da Família. Tese de doutoramento em Ciência Política - Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.
MAGALHÃES, Rosana; SANTOS, Cláudia Roberta Bocca. Pobreza e Política Social: a
implementação de programas complementares do Programa Bolsa Família.
Ciência&SaúdeColetiva -1215-1224, 2012.
MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro. Zahar, 1967.
262
MEDEIROS, Rogério de Souza; MACHADO, Nínive Fonseca. Condicionalidades e
monitoramento: desafios à gestão do Programa Bolsa Família em municípios
paraibanos (sumário executivo). Brasília: MDS, 2011.
MELO, Carlos Ranulfo; SÁEZ, Manuel Alcântara (orgs.). A Democracia Brasileira:
balanço e perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
MESQUITA, Camile Sahb. Contradições do processo de implementação de
políticas públicas: Uma análise do Programa Bolsa Família 2003-2006. In: Revista do
Serviço Público, vol, 57, nº 4 - Out/Dez 2006. Brasília: ENAP, 2006.
MESQUITA, Camile Sahb. O programa Bolsa Família: uma análise de seu impacto e
alcance social. 2007. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Universidade de
Brasília, Brasilia, 2007.
MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. Intersetorialidade, o desafio atual para as
políticas sociais. In: Revista Pensar BH/Política Social. Maio/Junho de 2002. P. 10-13.
MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. Gestão de Políticas Públicas: Estratégias
Para Construção de Uma Agenda. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 2006.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME/SAGI. Nota Técnica
N.º 110/2010/DA/SAGI/MDS. Brasília: MDS, 4 ago. 2010. Disponível em:
<http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2010/agosto/arquivos/nt-110-2010sintese-aibf-2a-rodada-educacao-e-saude-2.pdf>
MOCELIN, Cassia Engres. O Programa Bolsa Família enquanto principal estratégia de
enfrentamento à pobreza rural no contexto brasileiro atual. In: Seminário
Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão.
MONNERAT, Giselle Lavina; SENNA, Mônica de Castro Maia; SCHOTTZ, Vanessa;
MAGALHÃES, Rosana; BURLABDY, Luciene. Do direito incondicional à
condicionalidade do direito: as contrapartidas do Programa Bolsa Família. Revista
Ciência e Saúde coletiva. Rio de Janeiro, v. 12, n.6, pp.1453-1462, 2007.
MONNERAT, Giselle Lavina. Transferência condicionada de renda, saúde e
intersetorialidade: lições do Programa Bolsa Família [tese]. Rio de Janeiro: Escola
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca; 2009.
MORAIS, José Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o
Estado e o Direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.
MOREIRA, Rafael de Farias Costa. Empreendedorismo e Inclusão Produtiva: uma
análise de perfil do microempreendedor individual beneficiário do Programa Bolsa
Família.2013.Em:http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/130507_radar
25.pdf
263
NASCIMENTO. A. F; Reis. C. N. Os programas de transferência condicionada de renda
na América Latina: especificidades de uma realidade que se mantém. Revista Políticas
Públicas, São Luís, v. 13, n. 2, p. 183-193, 2009.
NERI, Marcelo Cortes. Miséria, Desigualdade e Políticas de Rendas: O Real do Lula.
Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2007.
NERI, Marcelo Cortez (Coord.). Atlas do Bolso Brasileiro do Brasileiro - Rio de
Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2009. Disponível em: http://www.fgv.br/cps/atlas/ p.12.
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente.
Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2. 1994.
NOBRE, Edna Luiza. A Previdência, a Assistência e os Programas de Transferência de
Renda. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL,
Patrícia Cristina; (Orgs.). O Direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo:
Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2015.
OLIVEIRA, A.M.H.C ; ANDRADE, M.V ; RESENDE, A.C.C. ; RODRIGUES, C. G. ;
SOUZA, L.R. ; RIBAS, R. P. Primeiros resultados da análise da linha de base da
Pesquisa de Avaliação de Impacto do Bolsa Família. In: Jeni Vaitsman; Rômulo PaesSousa. (Org.). Avaliação de Políticas e Programas do MDS - Resultados. Brasília:
Cromos, 2007.
OLIVEIRA, Francisco. Crítica à Razão Dualista. São Paulo: Boitempo, 2003.
PAIVA, Luis Henrique; FALCÃO, Tiago; BARTHOLO, Letícia. Do Bolsa Família ao Brasil
Sem Miséria: um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da
pobreza extrema. In: CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. Programa Bolsa
Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília: IPEA, 2013.
PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e
execução das políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas
públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. P.163-176.
PIMENTA, Ligia Rosa de Rezende. Pesquisa qualitativa de avaliação sobre as
condições de acesso aos serviços de saúde e educação, a partir do acompanhamento
das condicionalidades do Programa Bolsa Família (sumário executivo). Brasília: MDS,
2012.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. (org.). História da Cidadania. São Paulo:
Contexto, 2008.
264
PIRES, Roberto Rocha C. Burocracias, gerentes e suas ‗histórias de implementação‘:
narrativas do sucesso e fracasso dos programas federais. In: FARIA, Carlos Aurélio
Pimenta de (org.). Implementação de Políticas Públicas: teoria e prática. Belo
Horizonte: PUC Minas, 2012.
PNUD. Glossário de direitos humanos e desenvolvimento humano. In: PNUD. Relatório
do
desenvolvimento
humano
2000.
Brasília:
2000.
Disponível
em:
http://www.pnud.org.br/hdr/arquivos/RDHglobais/hdr_2000_en.pdf.
PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Glossário da pobreza e
desenvolvimento humano. In: PNUD. Relatório do desenvolvimento humano 1997.
Brasília: 1997. Disponível em: <www.pnud.org.br/hdr/hdr97/rdh7-1.htm>.
PNUD. Objetivos do Milênio. Disponível em: http://www.pnud.org.br/odm.
PNUD. Relatório nacional de acompanhamento dos ODM. Disponível em:
http://www.pnud.org.br/Docs/5_RelatorioNacionalAcompanhamentoODM.pdf.
POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social: os ricos no Brasil. São
Paulo: Cortez, 2005.
POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social, v. 4: a exclusão no
mundo. São Paulo: Cortez, 2004.
POCHMANN, Márcio et. al (Org.). Atlas da exclusão social: a dinâmica da exclusão
social na primeira década do século 21. São Paulo: Cortez, 2015.
QUINHÕES, Trajano Augustus; FAVA, Virgínia Maria Dalfior. Intersetorialidade e
transversalidade: a estratégia dos programas complementares do Bolsa Família
Revista do Serviço Público Brasília. Jan/Mar 2010. p.67-96.
RADAR social 2006. Principais iniciativas do Governo Federal / Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos.
Brasília:
MP,
2006.
Disponível
em:
<
www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/radar_social/radar _social_2006.pdf.>.
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita Maria Rímoli
Esteves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia,
dinheiro e cidadania. São Paulo, Editora Unesp, 2013.
REGO, Walquiria Leão; PINZANI, Alessandro. Liberdade, dinheiro e autonomia: O
caso do Bolsa Família. In: Política e Trabalho. Revista de Ciências Sociais, 38, Abril de
2013.
265
REGO, Walquiria Leão. Aspectos teóricos das políticas de cidadania: uma
aproximação ao Bolsa Família. Lua Nova, São Paulo, 73. 2008. 147-185.
REIS. Fábio Wanderley. Deliberação, Interesses e ―Sociedade Civil‖. In: COELHO, Vera
Shattan P; NOBRE, Marcos (orgs). Participação e deliberação: teoria democrática e
experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. 34, 2004.
RIBEIRO, Helcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO,
Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. (Org.). O Direito e as Políticas
Públicas no Brasil. 1a.ed.SÃO PAULO: ATLAS, 2013.
ROCHA, Sonia. Transferências de renda: o fim da pobreza? Rio de Janeiro: Elsevier,
2013.
ROCHA, Sonia. O programa Bolsa Família: Evolução e efeitos sobre a pobreza.
Economia e Sociedade, v. 20, n.1, 2011, pp. 113-39.
ROCHA, Sônia. O declínio recente da pobreza e os programas de transferência de
renda. In: SCHWARTZMAN, Felipe et al. (orgs.). O sociólogo e as políticas públicas.
Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2009.
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal do que se trata? Rio de Janeiro: FGV, 2006.
ROCHA, Sonia. Transferências de renda federais: focalização e impactos sobre
pobreza e desigualdade. Revista de Economia Contemporânea, v. 9, n. 1, p. 67-95,
jan./abr. 2008.
ROCHA, Sonia. Transferência de renda focalizadas nos pobres: O BPC versus o
Bolsa Família. Sinais Sociais, v. 3, n. 8, p. 150-186, set./dez. 2008b.
ROCHA, Sonia. Pobreza e indigência no Brasil – Algumas evidências empíricas com
base
na
PNAD
2004.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010363512006000200003&script=sci_arttext
RODRIGUES. Marta Maria Assumpção. Políticas Redistributiva e Direitos Civis e
Sociais no Brasil: O dilema de construir a democracia num ambiente de desigualdade.
Disponível em: http://www.ipc-undp.org/publications/mds/42P.pdf
ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado–providência. Trad. Joel Pimentel de
Ulhôa. Goiânia: UnB/UFG, 1997.
ROSANVALLON, Pierre. O Liberalismo, da crítica do Estado providência à teoria da
sociedade sem Estado. In: A crise do Estado-providência. Trad. Joel Pimentel de
Ulhôa. Goiânia: Unb,1997.
SABEL, Charles F.; REDDY, Sanjai. Learning to learn: Undoing the Gordian Knot of
Development Today. In: Challenge, vol. 50, n. 5, set./out. 2007.
266
Santos CB, Magalhães R. Pobreza e Política Social: a implementação de programas
complementares do Programa Bolsa Família. Cien Saude Colet 2012; 17(5):1215-1222.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pósmodernidade. Editora Cortez, 2001.
SANTOS, Guilherme Wanderley. Cidadania e justiça: a política social na ordem
brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. Rio de Janeiro: Record, 2007.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2008.
SÁTYRO, Natália. SOARES, Sergei. O Programa Bolsa Família: desenho institucional e
possibilidades futuras. In: CASTRO, Jorge Abrahão; MODESTO, Lúcia (orgs.).n Bolsa
Família2003-2010: avanços e desafios. Vol. 1. Brasília: IPEA, 2010
SCHAPIRO, Mário G. Repensando a relação entre Estado, direito e desenvolvimento:
os limites do paradigma do rule of law e a relevância das alternativas institucionais. São
Paulo.
Revista
direito
GV.
2010.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322010000100011 >
SCHAPIRO, Mário G; TRUBEK, David. Redescobrindo o direito e desenvolvimento:
experimentalismo, pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In SCHAPIRO, Mário
G. TRUBEK, David (orgs). Direito e desenvolvimento: um diálogo entre os Brics. São
Paulo. Saraiva. 2012.
SEN, Amartya. A desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro: Record; 2001.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras,
2010.
SENNA, Mônica de Castro Maia; MONNERAT, Gisele Lavinas; Schottz, Vanessa;
MAGALHÃES, Rosana; BURLANDY, Luciene. Programa bolsa família: nova
institucionalidade no campo da política social brasileira? Revista Katálysis. Santa
Catarina.v.10, n. 1, pp.86-94, 2007.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2013.
SILVA, Maria Ozanira da Silva; YAZBEK, Maria Carmelita; GIOVANNI, Geraldo. A
política social brasileira no século XXI: a prevalência dos programas de transferência
de renda. 6. Ed .São Paulo: Cortez, 2012.
267
SILVA, M. O. S.; LIMA, V. F. S. A. (Orgs.). Avaliando o Bolsa Família: unificação,
focalização e impactos. São Paulo: Cortez, 2011.
SILVA, Maria Ozanira da Silva; GUILHON, Maria Virginia Moreira. O Bolsa Família (BF)
no contexto da proteção social: significado e realidade das condicionalidades e do
Índice de Gestão Descentralizada (IGD) no Estado do Maranhão (sumário executivo).
Brasília: MDS, 2011.
SILVA, Maria Ozanira da Silva. Valéria Ferreira Santos de Almada. Avaliando o Bolsa
Família: unificação, focalização e impactos. São Paulo: Cortez, 2010.
SILVA, Maria O. S. O Bolsa Família: problematizando questões centrais na política de
transferência de renda no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 6, p. 1429-1439,
dez. 2007.
SILVA, Maria Ozanira da S. e.; YABEK, Maria Carmelita; DI GIOVANNI, Geraldo. A
Política Brasileira no século XXI: a prevalência dos programas de transferência de
renda. São Paulo: Cortez, 2007.
SILVA E MELLO, Leonardo. 35º XXXV Encontro Anual da Anpocs GT 36 Trabalho,
Ação Coletiva e Identidades Sociais GOVERNANÇA DO EMPREGO REALMENTE
EXISTENTE: O CASO DOS PLANOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
Disponívelem:http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=1244&Itemid=353
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo
Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BRASIL, Patrícia Cristina; (Orgs.). O Direito
na fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica,
2015.
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a Efetivação
da Cidadania. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins;
(Orgs.). O Direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013. p. 3-13.
SOARES, Fábio Veras; SOARES, Sergei; MEDEIROS, Marcelo; OSÓRIO, Rafael
Guerreiro. Programas de transparência de renda no Brasil: impactos sobre a
desigualdade. Texto para discussão n. 1228. Brasília, IPEA, 2006. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1228.pdf>.
SOARES, Sergei. Distribuição de renda no Brasil de 1976 a 2004 com ênfase no
período entre 2001 e 2004. Brasília: Ipea, 2006. 27p. (Texto para Discussão, n. 1166).
SOARES, Serguei. O ritmo da queda da desigualdade no Brasil. Revista de
economia política, v. 30, n. 3, 2010.
268
SOARES, Sergei; RIBAS, Rafael Perez; SOARES, Fábio Veras. Focalização e
cobertura do Programa Bolsa-Família: Qual o significado dos 11 milhões de famílias?
Texto para discussão nº 1396. Rio de Janeiro: IPEA, 2009.
SOUZA, André Portela. Política de Distribuição de Renda no Brasil e o Bolsa Família.
In: Bacha, Edmar Lisboa; SCHWARTZMAN, Simon.(Org.). Brasil: a nova agenda
social. Rio de Janeiro: LTC, 2011. p.166-186.
SOUZA, Jesse. A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular
pela elite. São Paulo: LeYa, 2015.
SOUZA, Jessé. A invisibilidade da luta de classes ou a cegueira do economicismo. In:
Bertelt, Dawid.. (Org.). A nova classe média no Brasil. Sao Paulo: 2013, p.56-68.
SOUZA, Jessé. Max Weber, patrimonialismo e a singularidade cultural brasileira. In:
COSTA, Silvio (org.). Concepções e formação do estado brasileiro. São Paulo: Anita
Garibaldi, 1999.
SOUZA, Jesse. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da
modernidade periférica. Belo Horizonte: Editora UFMG: Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006.
SOUZA, Jessé. Política e desigualdade social. 2006, mimeo.
SOUZA, Jesse. A ralé brasileira. Quem é e como vive. Belo Horizonte: Ed. da UFMG,
2009.
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto
Alegre, n.16, dez. 2006.
SOUSA, Juliane Martins Carneiro de. A superação da pobreza através da
distribuição justa das riquezas sociais: uma análise da consistência teórica do
Programa Bolsa Família e das perspectivas dos beneficiários de saída autossustentada
do Programa, 2009. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Fundação
Getúlio Vargas.
SULPICY, Eduardo Matarazzo. Renda básica de cidadania: a resposta dada pelo
vento. Porto Alegre: L&PM, 2006.
SULPICY, Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania: A saída é pela porta. São Paulo:
Cortez, 2002.
SUNDFELD, Carlos
Malheiros,2013.
Ari.
Direito
Administrativo
para
céticos.
São
Paulo:
269
TESTA, Maurício Gregianin; FRONZA, Paula; PETRINI, Maira; PRATES. Análise da
contribuição do Programa Bolsa Família para o enfrentamento da pobreza e a
autonomia dos sujeitos beneficiários. Rev. Adm. Pública vol.47 no.6 Rio de
Janeiro Nov./Dec. 2013.
TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: TORRES,
Ricardo Lobo (org) Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 2009.
TRUBEK, David. (Org.); GARCIA, H. A. (Org.) ; SANTOS, A. (Org.) ; COUTINHO, Diogo
R. (Org.) . Law and the New Developmental State - The Brazilian Experience in Latin
American Context. 1. ed. New York: Cambridge University Press, 2013.
TRUBEK, David M.;COUTINHO, Diogo; SCHAPIRO, Mario G. New State activism in
Brazil and the challenge for law. In: TRUBEK, David M.; GARCÍA, Helena A.;
COUTINHO, Diogo R.; SANTOS, Álvaro (orgs.). Law and the New Developmental
State: The Brazilian Experience in Latin American Context. New York: Cambridge
University Press, 2013.
TRUBEK, David; SCHAPIRO, Mario Gomes; COUTINHO, Diogo Rosenthal. Toward a
New Law and Development - New State Activism in Brazil and the Challenge for Legal
Institutions. In: Cisse, Hassane; Muller, Sam; Thomas, Chantal; Chenguang, Wang.
(Org.). The World Bank Legal Review 4. 1 ed. Washington, DC: The World Bank, 2012.
TRUBEK, David. Developmental States and the Legal Order: Towards a New Political
Economy of Development and Law. University of Wisconsin Legal Studies, Research
Paper 1075:1-34, 2008.
TRUBEK, Louise; TRUBEK, David. New governance and legal regulation:
complementarity,
rivalry
and
transformation,
2007.
Disponível
em:
<www.law.wisc.edu/facstaff/trubek/Coexistence__CJEL__Final.doc>.
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro da Democracia. São Paulo:
Boitempo, 2004. Tradução do inglês para o português por Caio Farah Rodriguez e
Marcio Soarez Grandchamp.
UNGER, Roberto Mangabeira. Uma nova faculdade de direito no Brasil. Paper
apresentado na Fundação Getúlio Vargas como parecer sobre a criação da Escola de
Direito de São Paulo/FGV – EDESP, 2001.
VERA, Ernesto Isunza; LAVALLE, Adrian Gurza. Arquitetura da participação e
controles democráticos no
Brasil e no México. In: Novos estudos, n. 92, São
Paulo: CEBRAP, mar. 2012.
VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2005.
270
WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Enigmas do social. In: CASTEL, Robert;
WANDERLEY,
Luiz
Eduardo
W.;
BEL-FIORE-WANDERLEY,
Mariângela.
Desigualdade e a questão social. São Paulo: Educ, 2007. p. 163-234.
WEISSHEIMER, Marco Aurelio. Bolsa família: avanços, limites e possibilidades do
programa que está transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo:
Fundação Perseu Abramo, 2006.
YAZBEK, Maria Carmelita. O Programa Fome Zero no contexto das políticas sociais
brasileiras. São Paulo. Perspec., São Paulo, v.18, n. 2, abr./jun. 2004. Disponível em:>
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392004000200011&script=sci_arttext>.
ZIMMERMANN, Clóvis Roberto. Os programas sociais sob a ótica dos direitos
humanos: o caso do Bolsa Família do governo Lula no Brasil. SUR – Revista
Internacional de Direitos Humanos, ano 3, n. 4, 2006, p. 144-159.
ZIMMERMANN, Clóvis Roberto. Principio democrático e constitucional da
dignidade de pessoa humana e a existência do programa bolsa família. 2009.
Apontamentos sobre direitos elementares dos cidadãos de baixa renda.