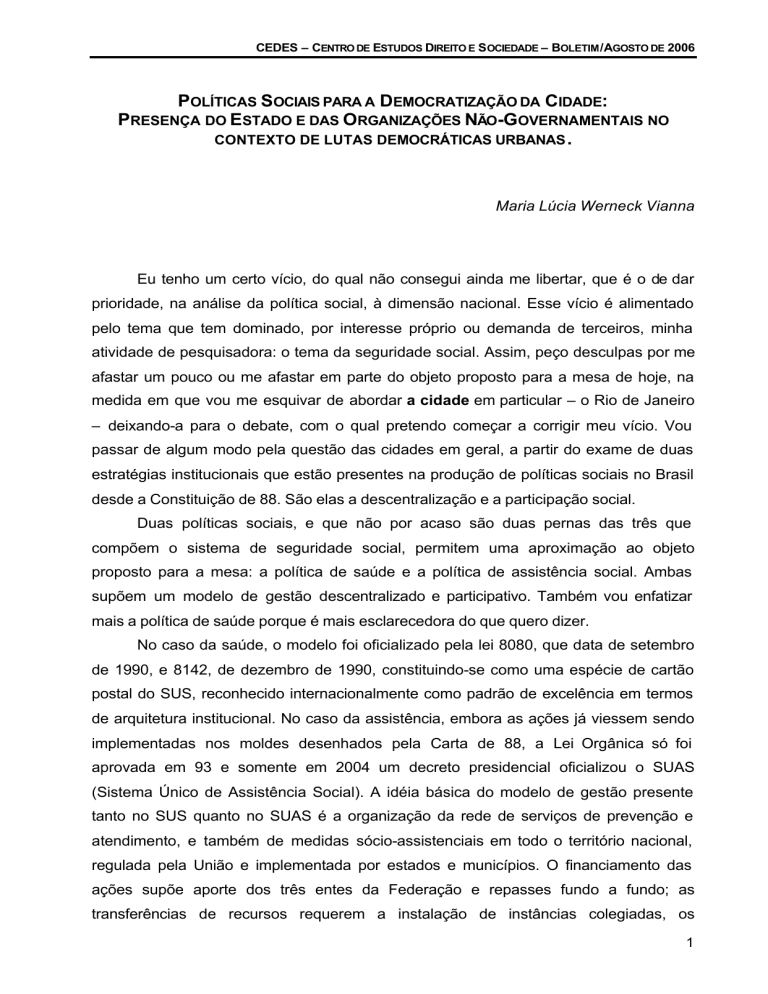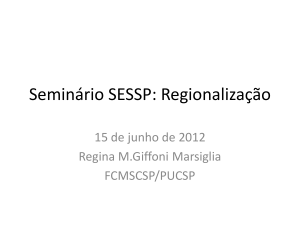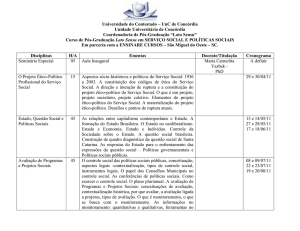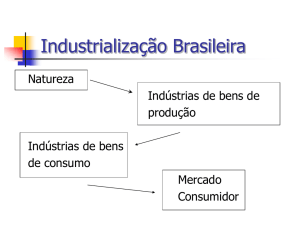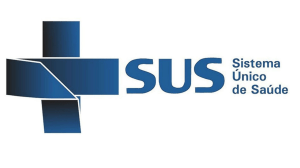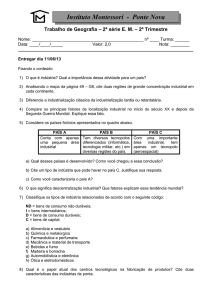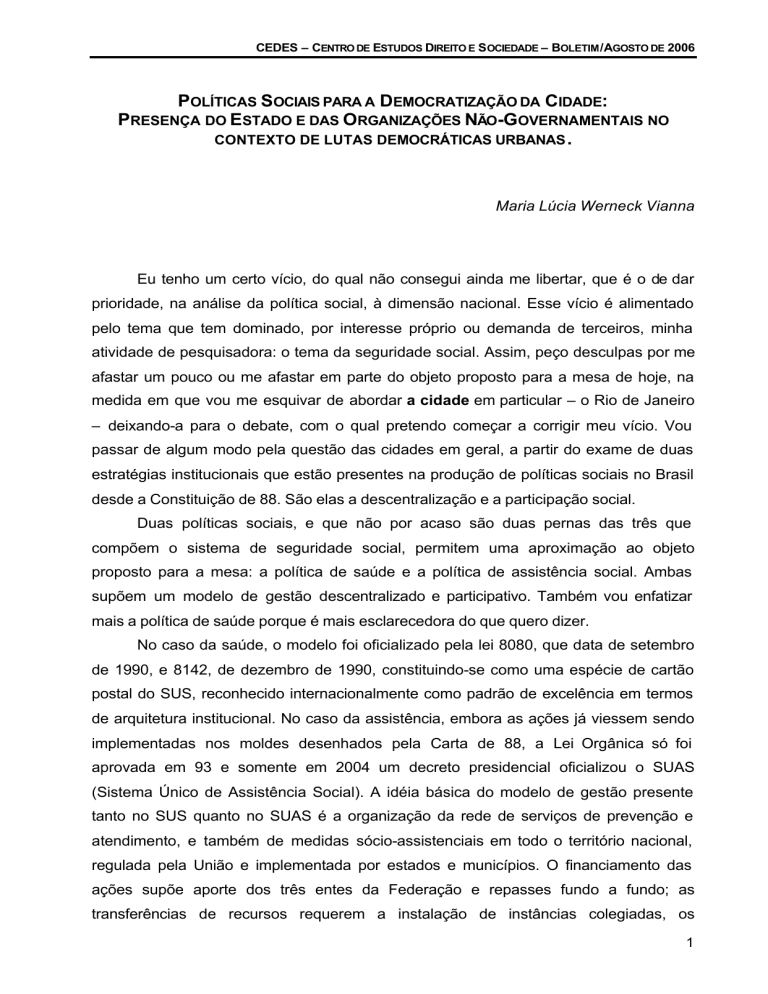
CEDES – CENTRO DE ESTUDOS DIREITO E SOCIEDADE – BOLETIM /AGOSTO DE 2006
POLÍTICAS SOCIAIS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA CIDADE:
PRESENÇA DO ESTADO E DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS NO
CONTEXTO DE LUTAS DEMOCRÁTICAS URBANAS .
Maria Lúcia Werneck Vianna
Eu tenho um certo vício, do qual não consegui ainda me libertar, que é o de dar
prioridade, na análise da política social, à dimensão nacional. Esse vício é alimentado
pelo tema que tem dominado, por interesse próprio ou demanda de terceiros, minha
atividade de pesquisadora: o tema da seguridade social. Assim, peço desculpas por me
afastar um pouco ou me afastar em parte do objeto proposto para a mesa de hoje, na
medida em que vou me esquivar de abordar a cidade em particular – o Rio de Janeiro
– deixando-a para o debate, com o qual pretendo começar a corrigir meu vício. Vou
passar de algum modo pela questão das cidades em geral, a partir do exame de duas
estratégias institucionais que estão presentes na produção de políticas sociais no Brasil
desde a Constituição de 88. São elas a descentralização e a participação social.
Duas políticas sociais, e que não por acaso são duas pernas das três que
compõem o sistema de seguridade social, permitem uma aproximação ao objeto
proposto para a mesa: a política de saúde e a política de assistência social. Ambas
supõem um modelo de gestão descentralizado e participativo. Também vou enfatizar
mais a política de saúde porque é mais esclarecedora do que quero dizer.
No caso da saúde, o modelo foi oficializado pela lei 8080, que data de setembro
de 1990, e 8142, de dezembro de 1990, constituindo-se como uma espécie de cartão
postal do SUS, reconhecido internacionalmente como padrão de excelência em termos
de arquitetura institucional. No caso da assistência, embora as ações já viessem sendo
implementadas nos moldes desenhados pela Carta de 88, a Lei Orgânica só foi
aprovada em 93 e somente em 2004 um decreto presidencial oficializou o SUAS
(Sistema Único de Assistência Social). A idéia básica do modelo de gestão presente
tanto no SUS quanto no SUAS é a organização da rede de serviços de prevenção e
atendimento, e também de medidas sócio-assistenciais em todo o território nacional,
regulada pela União e implementada por estados e municípios. O financiamento das
ações supõe aporte dos três entes da Federação e repasses fundo a fundo; as
transferências de recursos requerem a instalação de instâncias colegiadas, os
1
CEDES – CENTRO DE ESTUDOS DIREITO E SOCIEDADE – BOLETIM /AGOSTO DE 2006
conselhos, nos quais os usuários têm representação paritária em relação aos demais
segmentos (gestores e prestadores).
Não tenho a pretensão, aqui, de discutir a adequação dessa institucionalidade
até porque, como disse, ela é bastante apreciada. Também não tenho a menor
intenção de apresentar qualquer tipo de avaliação sobre a efetividade da mesma. Vou
apenas chamar a atenção para alguns pontos relacionados às concepções que são
subjacentes a esse modelo institucional, bem como às possibilidades e limites que
apresentam.
Descentralização e participação têm uma história comum e, como seria de
esperar, de íntima associação uma com a outra. Mas a trajetória recente das duas
permite observar algumas de suas respectivas especificidades.
Ambas integraram, no Brasil, a agenda do movimento pela democratização nos
anos 80. Com visibilidade total no debate, então muito vivo, sobre políticas sociais.
A descentralização se apresentava, então, como o antídoto ao federalismo
deturpado que o autoritarismo militar havia imposto ao país. A substituição de um
processo decisório burocratizado e centralizado no Executivo Federal passava pelo
envolvimento dos entes sub-nacionais na formulação de políticas e, claro, pela
ampliação do papel dos legislativos nas deliberações a elas referentes.
É interessante que no caso da saúde, a pugna pela descentralização vem de
mais longe. Em 1963, a III Conferência Nacional de Saúde já subscrevia proposta com
esse teor. Nos anos 1970, particularmente quando tem início o processo de abertura,
as questões relacionadas com as díspares carências regionais em matéria de
indicadores de saúde e atendimento médico começam a ganhar repercussão. A V
Conferência Nacional de Saúde, em 1975, as incluiu, ainda que timidamente, na pauta.
Também na segunda metade dos anos 1970 se organiza entre profissionais da saúde o
chamado movimento sanitarista, na esteira de ações de agências multilaterais da área
como OMS (Organização Mundial de Saúde) e OPAS (Organização Pan-Americana da
Saúde) que têm nesse momento papel importante na valorização da saúde coletiva. As
eleições diretas para os governos estaduais em 1982 abriram espaços para que
profissionais ligados ao movimento sanitarista viessem a ocupar cargos e colocar em
marcha medidas descentralizadas. Em 1986, na VIII Conferência – um marco na
trajetória da reforma sanitária no Brasil, reunindo 4.000 delegados –, o tema da
descentralização ocupou praticamente todas as discussões. O mesmo se pode dizer
em relação à participação, na medida em que, se a participação requer
2
CEDES – CENTRO DE ESTUDOS DIREITO E SOCIEDADE – BOLETIM /AGOSTO DE 2006
descentralização, essa, por sua vez, foi concebida também como propiciadora da
participação. No campo da assistência social a movimentação tem história menos
brilhante – ou menos aparente -, mas igualmente contemplou os vínculos entre
democratização, descentralização e participação.
A Constituição de 88, que oficializou a descentralização como forma de
implementação das políticas de saúde e assistência social também radicalizou a idéia
de Federação, atribuindo aos municípios, tanto quanto aos estados, a condição de
entes sub-nacionais.
De fato, a municipalização vai ser o caminho da descentralização da política
social (especialmente na área de saúde) nos anos 1990. Esse caminho, aparentemente
natural dada a institucionalidade federativa do país, foi, porém, atravessado por
algumas armadilhas que estavam engatilhadas desde antes e que mudaram bastante a
natureza da descentralização reivindicada nos anos 1980 e sinalizada pela
Constituição de 88. Convergindo com as mudanças operadas no Estado e na
economia, em função da imposição dos conhecidos ajustes, e em um contexto de
crescente predomínio da individualização e da supremacia do mercado como vetores
das relações sociais, a descentralização vai, na década de 1990, cada vez mais ter o
significado de delegação de funções. Delegação não apenas aos entes sub-nacionais
que devem agora gerir racionalmente os recursos que recebem ou arrecadam. Mas
delegação também a entes privados – família, ONGs, empresas; numa lógica
instrumental de desresponsabilização do Estado. Sobretudo, a descentralização vai
instrumentalizar uma estratégia de ação fundada em programas, substitutiva à
estratégia que era precípua ao SUS e à própria concepção de seguridade, que era a
estratégia sistêmica. Ou seja, praticamente se deixa de lado a formulação de uma
política de saúde (como se deixará de lado a formulação de uma política de assistência
social) e passa-se rotineiramente a implementar programas.
Incentivos e recomendações de agências multilaterais entram nesse processo,
atravessam esse caminho – agora não mais da OMS ou da OPAS, mas do Banco
Mundial, principalmente.
É interessante mencionar nesse sentido, o Programa gestão Pública e Cidadania
– iniciativa conjunta entre FGV (Fundação Getúlio Vargas) e Fundação Ford, desde
1995. Em 1997 o BNDES tornou-se parceiro. Objetivo de identificar, analisar, premiar e
disseminar as experiências inovadoras dos níveis sub-nacionais de governo. Assim, já
recebeu mais de 8 mil programas governamentais em seus ciclos anuais de premiação.
3
CEDES – CENTRO DE ESTUDOS DIREITO E SOCIEDADE – BOLETIM /AGOSTO DE 2006
Um dos critério de premiação é a gestão descentralizada. A média de programas na
área de saúde inscritos, é de cerca de 12% por ano.
Um outro critério de premiação é ter impacto na melhoria da qualidade de vida
do público beneficiário. Essa frase, melhoria da qualidade de vida do público
beneficiário, é chave, pois expressa bem o sentido do caminho tomado. A
descentralização passa a ser entendida como delegação de funções à sociedade para
implementação de medidas voltadas para certos segmentos (aqueles que precisam ter
sua qualidade de vida melhorada).
Hoje, o carro-chefe da política de saúde é o Programa Saúde da Família, um
programa inteiramente descentralizado (iniciado em 1994), referência internacional,
que, segundo dados do Ministério da Saúde, está implantado em 4.986 municípios e
cobre cerca de 78 milhões de pessoas, mas que é um programa de atenção básica
para pobres. Não tem PSF em Ipanema no Rio, nem no Jardim Europa em São Paulo.
A menção ao programa gestão pública e cidadania – em relação ao qual não há
porque fazer objeções – serve também para introduzir o tema da participação, outro
alicerce da arquitetura institucional tanto do SUS quanto do SUAS.
No que concerne a esse tema da participação haveria muito o que falar. Talvez
seja, ainda hoje, um tema tipo prato cheio para as Ciências Sociais. Resumidamente, a
literatura que trata de políticas públicas em geral apresenta o tema da participação
como novidade que teria aparecido lá por finais da década de 1960, no mundo
desenvolvido, no rastro do desencanto com as formas tradicionais de funcionamento da
democracia liberal. Ou seja, teria surgido com um sentido de protesto diante da
incapacidade da representação parlamentar e dos partidos políticos em dar conta das
reivindicações de grupos emergentes. Na América Latina, segundo essa literatura, o
tema da participação teria sido incorporado em consonância com a luta pela
democratização nos anos 80.
O que é interessante, para cientistas sociais, observar e discutir, é que a
novidade não consiste na incorporação do tema à agenda de reflexões ou à pauta de
reivindicações. Consiste na mudança sofrida pelo conceito de participação. Pois o tema
da participação, “tomar parte”, tem a idade do pensamento social moderno, cerca de
400 anos. Está nos contratualistas – o pacto social de Hobbes é um artifício para dizer
que todos igualmente tomam parte na criação da polis. E o tema vai estar presente nas
teorias da democracia que a partir do século XIX são formuladas. A Poliarquia de Dahl,
por exemplo, implica competição e participação.
4
CEDES – CENTRO DE ESTUDOS DIREITO E SOCIEDADE – BOLETIM /AGOSTO DE 2006
Trocando em miúdos: o tema da participação tem longa história, mas pensado
sempre como participação de todos na política, na esfera pública. A novidade que a
literatura sobre políticas públicas detecta pode ser descrita como a substituição da idéia
de participação política (como participação de todos na esfera pública) pela idéia de
participação social. E como participação social, o conceito vai ter o significado de
participação de certos segmentos (pobres, excluídos, minorias) nas decisões que
afetam sua “qualidade de vida” (emprego, moradia).
Esse é o sentido que a participação vai adquirir na última década. Também
alterando a concepção – utópica, de certo modo – presente nos debates dos anos 1980
e no ideário da reforma sanitária. Há hoje uma vasta literatura sobre conselhos
municipais de saúde. Eles estão instalados em praticamente todos os municípios.
Foram instituídos por Lei com funções deliberativas e fiscalizadoras.
Na mesma linha da descentralização os conselhos passaram a seguir a lógica
instrumental da delegação e da desresponsabilização das funções do Estado. Com
uma especificidade. A participação, ou a idéia de participação aparece nos documentos
oficiais como a voz que é oferecida à população pobre como compensadora da
impossibilidade de usar o mecanismo da saída (usando a terminologia de Hirschman)
num contexto de ausência de uma política nacional de saúde e, pois, de funcionamento
efetivo do sistema.
A participação é apresentada como um bem em si, uma vez que propicia
consciência de cidadania, empoderamento, etc. Ora quem precisa ser empoderado
para tentar melhorar sua qualidade de vida são os excluídos do mercado. Os
segmentos médios e os que estão no mercado de trabalho (mesmo em segmentos do
informal) têm o poder de usar a saída – no caso, os planos de saúde.
Aqui aparece uma especificidade da participação como um dos pilares da
arquitetura institucional do SUS. As funções deliberativas e fiscalizadoras exigidas dos
conselhos – e dos conselheiros – aparentemente não combinam com essa visão de
que a participação é útil para ampliar a cidadania daqueles que precisam dessa
ampliação. De fato, é difícil para esses segmentos opinar sobre relatórios financeiros,
vigiar orçamentos, etc. De fato, essa participação não ocorre. Nos conselhos em geral
predominam os gestores e prestadores.
Finalizando, e tentando chegar ao objeto proposto para o debate. A arquitetura
institucional do SUS e da política social em geral no Brasil hoje reforça a concepção de
5
CEDES – CENTRO DE ESTUDOS DIREITO E SOCIEDADE – BOLETIM /AGOSTO DE 2006
que política social é para os pobres. Concepção que por sua vez agrava a
fragmentação da cidadania. Usuários do SUS X consumidores de planos de saúde.
Beneficiários dos programas assistenciais X filiados da previdência social. E por aí vai.
Não me parece que essa seja uma lógica capaz de tornar a vida dos cidadãos, de
todos os cidadãos, ali onde vivem, nas cidades, melhor. Ao contrário, a segmentação
consolidada tem efeitos deletérios.
Eu prefiro entender, como Polanyi, que a política social tem por objetivo maior
proteger a sociedade como um todo. Proteger dos riscos que as desigualdades
acarretam. Daí que, se programas dirigidos aos mais pobres são necessários, decerto,
mais importante é garantir direitos universais e avançar no sentido de que esses
direitos – direitos sociais – sejam efetivamente compreendidos por todos enquanto tais.
6