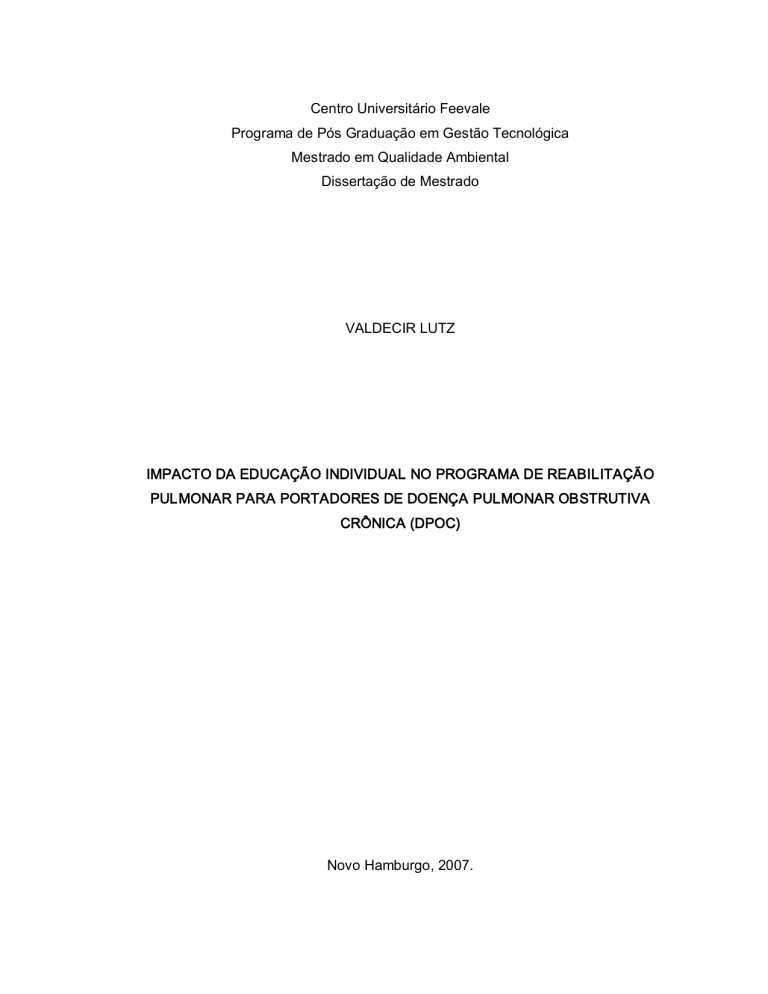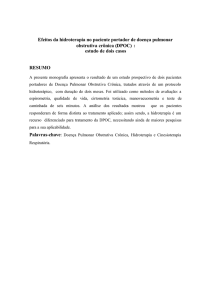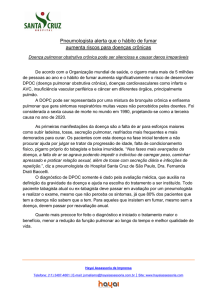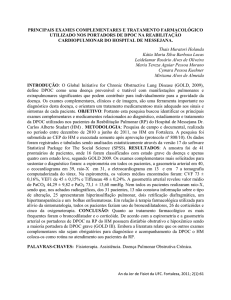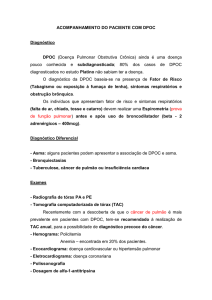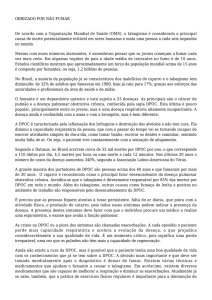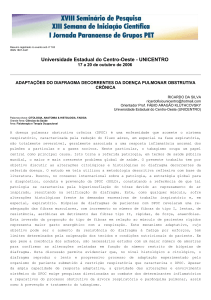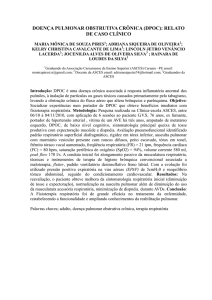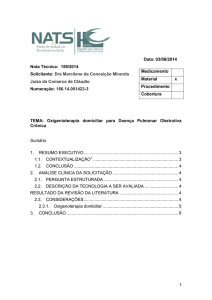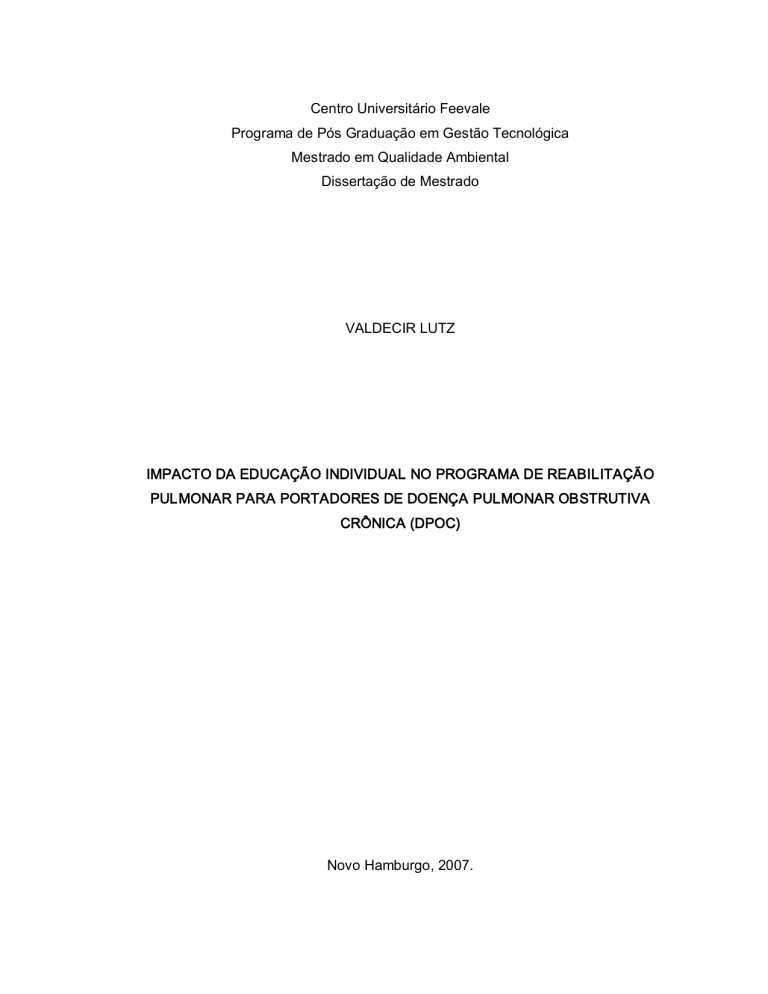
Centro Universitário Feevale Programa de Pós Graduação em Gestão Tecnológica Mestrado em Qualidade Ambiental Dissertação de Mestrado VALDECIR LUTZ IMPACTO DA EDUCAÇÃO INDIVIDUAL NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR PARA PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) Novo Hamburgo, 2007.
II Centro Universitário Feevale Programa de Pós Graduação em Gestão Tecnológica Mestrado em Qualidade Ambiental Dissertação de Mestrado Valdecir Lutz IMPACTO DA EDUCAÇÃO INDIVIDUAL NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR PARA PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) Dissertação apresentada ao Programa de Pós­graduação em Gestão Tecnológica como requisito para a obtenção do título de mestre em Gestão Tecnológica: Qualidade Ambiental Oientador: Prof. Dr. Paulo José Zimermann Teixeira Novo Hamburgo, 2007.
III DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) Lutz, Valdecir Impacto da educação individual no programa de reabilitação pulmonar para portadores de DPOC / Valdecir Lutz. – 2007. 84 f. ; 30 cm. Dissertação (Mestrado em Qualidade Ambiental) – Programa de Pós­ Graduação em Gestão Tecnológica: Mestrado em Qualidade Ambiental, Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, 2007. Inclui bibliografia e apêndice. “Orientador: Prof. Paulo José Zimermann Teixeira”.
Bibliotecária responsável: Rosimere Teresinha Marx Griebler – CRB 10/1425 IV Centro Universitário Feevale Programa de Pós Graduação em Gestão Tecnológica Mestrado em Qualidade Ambiental Dissertação de Mestrado Valdecir Lutz IMPACTO DA EDUCAÇÃO INDIVIDUAL NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR PARA PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) Dissertação de mestrado aprovada pela banca examinadora, conferindo ao autor o título de mestre em Gestão Tecnológica: Qualidade Ambiental. Componentes da Banca Examinadora: Prof. Dr. Paulo José Zimermann Teixeira (orientador) Centro Universitário Feevale Prof. Dr. Eduardo Garcia Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre Prof. Dra. Geraldine Alves dos Santos Centro Universitário Feevale.
V “ Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos razão e intelecto, pretenda que não os utilizemos.” GALILEO GALILEI
VI MEU OBRIGADO! A DEUS Por conceder­me a vida e saúde. AO MEU FILHO ARTUR Por compreender minhas angústias e necessidade de ausência. A MINHA NAMORADA GISELE Por ter paciência nas horas de aflição e tristeza AOS AMIGOS Por me apoiarem em meus objetivos. AO MEU ORIENTADOR Por permitir tomá­lo como fonte de conhecimento e pesquisa, orientando­me onde buscar o saber. AOS MEUS PAIS Por ter paciência e acreditar em mim.
VII LISTAS DE ABREVIATURAS ATS DPOC FEV 1º FEV/FVC% FR FVC GOLD IMC SGRQ American Thoracic Society Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Volume Expiratório Máximo no 1º segundo Razão entre FEV1 e a FVC Freqüência Respiratória Capacidade Vital Forçada Global Initiative for Chronic Obstrutive Lung Disease Índice de Massa Corporal Laboratório de Estudos da Atividade Física, do Exercício e dos Esportes. Organização Mundial de Saúde Pico de Fluxo Expiratório Medical Outcomes Study 36­Item Short­Form Health Survy Questionário de Doenças Respiratórias do Hospital Saint George SpO2 TC6’ Saturação Periférica de Oxigênio Teste de Caminhada de Seis Minutos VO2 Consumo de Oxigênio VO2 máx Consumo Máximo de Oxigênio
LEAFEES OMS PFE SF36 VIII LISTA DE TABELAS Tabela 1: Estadiamento da DPOC com base na espirometria............................. Tabela 2: Descrição dos Níveis de Evidência....................................................... Tabela 3 : Componentes de um programa de reabilitação pulmonar................... 11 27 28 Tabela 4: Características de basais de 30 pacientes de DPOC submetidos à 41 reabilitação pulmonar............................................................................................. Tabela 5: Nível de Conhecimento sobre DPOC em 30 pacientes portadores de 43 DPOC antes do Programa de Reabilitação Pulmonar........................................... Tabela 6: Resultados de capacidade de exercício e qualidade de vida em 30 44 pacientes de DPOC após o programa de reabilitação pulmonar......................... Tabela 7: Qualidade de vida avaliada através do questionário SF36 em 30 pacientes portadores de DPOC antes e após o programa de reabilitação 47 pulmonar................................................................................................................ Tabela 8: Nível de Conhecimento sobre DPOC em 30 pacientes portadores de 48
DPOC após término do Programa de Reabilitação Pulmonar............................... IX LISTA DE FIGURAS Figura 1: Qualidade de vida no GI – grupo com reforço individual antes e após a 45 reabilitação pulmonar.............................................................................................. Figura 2: Qualidade de vida no GII, sem reforço individual, medido através do 46 Questionário Saint George..................................................................................... Figura 3: Comparando os resultados antes e depois do teste de 49
conhecimento........................................................................................................... X RESUMO A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza­se pela presença de obstrução ou limitação crônica do fluxo aéreo, de progressão lenta, persistente e irreversível, que manifesta pela tríade: dispnéia, limitação ao exercício e piora da qualidade de vida. Um Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP) compreende uma abordagem multidisciplinar que objetiva reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida, proporcionar uma maior independência nas atividades de vida diária e um maior conhecimento sobre a doença. Este estudo teve por objetivo avaliar o papel da educação na melhora da qualidade de vida de portadores de DPOC submetidos a um PRP no Centro Universitário FEEVALE. Para isso, foram utilizados os questionários de qualidade de vida de Saint George e SF­36 e um questionário estruturado para avaliar o aspecto educacional específico antes e depois do PRP. Trinta portadores de DPOC foram randomizados em dois grupos: GI (16 pacientes), receberam reforço educacional individualizado e GII (14 pacientes) receberam apenas educação coletiva. Houve predomínio do sexo feminino (56,7%), a idade média foi de 62,69 ±10,33 e 60% dos pacientes não tinham o primeiro grau completo. Apenas 6,7% tinham grau superior. Não houve diferença entre os grupos quando comparadas as idades, sexo, escolaridade, altura, peso e IMC. Já em relação a CVF, a média foi estatisticamente maior no grupo I (p< 0,05), o que também ocorreu ao comparar a média prevista tanto da CVF quanto do VEF1. O nível de conhecimento específico sobre a doença no GI passou de 70,83% para 100% e no GII de 75% de acertos para 95% (p>0,05). No entanto, quando comparados os grupos entre si, não foram encontradas diferenças significativas entre eles. A qualidade de vida medida pelo questionário Saint George mostrou melhora significativa em todos os domínios, com redução acima de 4%, tanto no GI quanto no GII, mas não mostrou diferença entre os grupos. Da mesma forma, o SF­ 36 mostrou redução na maioria dos ítens em cada grupo, mas não entre os grupos. No item limitação de aspectos físicos e aspectos emocionais não ocorreram alterações estatísticas no GI e estado geral de saúde e aspectos emocionais no GII. Conclui–se que a estratégia educativa determinou melhora significativa no conhecimento específico sobre a doença e na qualidade de vida dos pacientes portadores de DPOC tratados no PRP. O reforço educacional individual não trouxe vantagens para este grupo de pacientes.
XI ABSTRAT Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is characterized by the presence of obstruction or chronic limitation to the airflow, slow progression, persistent, and irreversible. It is manifested by the triad: dispnea, limitation in exercising, and derangement in quality of life. A Pulmonary Rehabilitation Program (PRP) comprehends a multidisciplinary approach with the purpose of reducing symptoms, improving quality of life, yielding more independence in doing daily life activities, and a providing a better understanding about the illness. This study had the purpose of assessing the role of patient education in the improvement of quality of life of patients with COPD participating in a PRP in the Centro Universitário Feevale. For this purpose, questionnaires were applied such as Saint George and SF­36 and a structured questionnaire to assess specific patient education before and after the PRP. Thirty subjects with COPD were randomized in two groups: G1 (16 subjects) who received reinforced individualized education and G2 (14 subjects) who received education in a group. There was a predominance of female individuals (56.7%), average age of 62,69 ±10,33 and 60% had not completed elementary school education. Only 6.7% had college education completed. There were no differences when groups were compared related to age, gender, education, height, weight, and Body Mass Index (BMI). About CVF, the average was statistically higher in G1 (p< 0.05), the same happening when comparing the predicted average for CFV and VEF1. The level of specific knowledge about the illness in G1 went from 70.83% to 100% and in G2, from 75% to 95% (p> 0.05). However, when comparing the two groups, there could not be found significant differences. Quality of life assessed by Saint George Questionnaire demonstrated a significant improvement in all domains, with reduction over 4% in G1 and G2, but revealed no differences between groups. Likewise, Questionnaire SF­36 demonstrated reduction on the majority of items in each group, but not between the groups. Considering limitation in physical exercising and emotional issues, there were no statistical alterations in G1 and health general status and emotional issues in G2. It can be concluded that the education strategy determined a significant improvement in the specific knowledge about the illness and in the quality of life of patients with COPD submitted to a PRP. Individual reinforced education did not yield any advantage for these groups of subjects.
XII SUMÁRIO LISTAS DE ABREVIATURAS ................................................................................. VII LISTA DE TABELAS .............................................................................................. VIII LISTA DE GRÁFICOS .............................................................................................. IX RESUMO.................................................................................................................... X ABSTRAT ................................................................................................................. XI SUMÁRIO ................................................................................................................ XII INTRODUÇÃO ............................................................................................................1 1.1 Bronquite Crônica ......................................................................................................... 2 1.1.2 Enfisema Pulmonar................................................................................................ 3 1.2. Fatores de Risco ...................................................................................................... 4 1.2.1. Tabagismo Associado a Fatores de Risco.............................................................. 4 1.2.2. Fatores Pessoais/ Individuais ................................................................................ 5 1.2.3. Desnutrição .......................................................................................................... 5 1.3. Epidemiologia .............................................................................................................. 7 1.4. Mortalidade.................................................................................................................. 8 1.5 Custo da Doença ........................................................................................................... 9 1.6 Diagnóstico e Características Clínicas ........................................................................... 9 1.7 Estadiamento............................................................................................................... 11 1.8 Exacerbação ................................................................................................................ 12 1.9 Tratamento.................................................................................................................. 13 2 REABILITAÇÃO PULMONAR...............................................................................14 2.1Histórico ...................................................................................................................... 14 2.2. Educação.................................................................................................................... 14 2.3 Papel do Enfermeiro Educação .................................................................................... 17 2.4 Papel da Nutrição ........................................................................................................ 19
XIII 2.5. Papel da Psicologia..................................................................................................... 19 XII20 2.6 Qualidade de Vida.......................................................................................................
2.7 Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ)..................... 23 2.8 Medical Outcomes Study 36­Item Short­Form Health Survy (SF­36) ......................... 24 3 EXERCÍCIO NA DPOC ..........................................................................................25 3.1Testes para avaliação do processo de reabilitação pulmonar. ........................................ 28 3.1.1 Tolerância ao Exercício ....................................................................................... 28 3.1.2 Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6’) ....................................................... 29 3.1.3 Avaliação da Dispnéia ......................................................................................... 31 3.2. Componentes de Exercício em Reabilitação Pulmonar ............................................... 31 3.2.1 Prescrição de Exercício........................................................................................ 31 3.2.1.1 Exercícios para Membros Superiores ................................................................ 32 3.2.1.2 Treinamento de Resistência e força................................................................... 32 3.2.1.3 Exercícios para Membros Inferiores.................................................................. 33 3.2.1.4 Efeitos do Exercício.......................................................................................... 33 4 OBJETIVOS...........................................................................................................34 4.1 Objetivo Geral............................................................................................................. 34 4.2 Objetivo Específicos ................................................................................................... 34 5 MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................... 35 5.1 Critérios de inclusão.................................................................................................... 35 5.2 Critérios de exclusão ................................................................................................... 36 5.3 A avaliação médica ..................................................................................................... 36 5.4 Avaliação nutricional .................................................................................................. 36 5.5 Composição corporal................................................................................................... 37 5.6 Teste de caminhada de seis minutos (TC6min) ............................................................ 37 5.7 Avaliação da qualidade de vida pelo Questionário do Hospital de Saint George (Anexo A) ........................................................................................................................................ 37 5.8 Avaliação do SF­36, Medical Outcomes Study 36­Item Short­Form Health Survy (Anexo B) ............................................................................................................................ 38 6 RESULTADOS.......................................................................................................40 7 DISCUSSÃO ..........................................................................................................50 CONCLUSÕES .........................................................................................................53 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ..............................................................................54 ANEXOS ...................................................................................................................61 XIV INTRODUÇÃO A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por limitação crônica do fluxo aéreo, que não é completamente reversível após o uso de broncodilatador. A limitação ao fluxo aéreo é freqüentemente progressiva e associada à resposta inflamatória anormal dos pulmões a gases ou partículas tóxicas (MEZOMO 1992; GOLD, 2006). Estima­se que 10% (dez por cento) da população acima de 40 (quarenta) anos seja portadora de DPOC, e que, no Brasil, existam aproximadamente entre 4,5 (quatro virgula cinco) a 6 (seis) milhões de pessoas portadoras de DPOC (IICONSENSO BRASILEIRO DE DPOC, 2004 e GOLD, 2006). A morbidade e mortalidade é bastante elevada, ocupando o segundo lugar nas internações por doenças respiratórias, e a primeira causa de óbito dentre as doenças respiratórias (DATASUS, 2004). A DPOC é uma doença geralmente progressiva, que se caracteriza pela presença de sintomas respiratórios crônicos (tosse, produção de secreção e dispnéia), que surge, geralmente, após os 40 anos, em pacientes que fumaram por um longo período. O termo DPOC engloba a Bronquite Crônica e o Enfisema Pulmonar que coexistem na maioria dos pacientes.
2 As alterações patológicas nos pulmões de um DPOC consistem em três entidades distintas: bronquite crônica, enfisema e doença das pequenas vias aéreas. Sendo, a tosse e a produção de secreções brônquicas, encontradas na bronquite crônica devido a um aumento do número de glândulas mucosas, que não estão relacionadas com a obstrução do fluxo aéreo. Assim, como o enfisema descreve as alterações patológicas relativas ao alargamento dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais em associação da destruição das paredes alveolares, marcando um processo irreversível. (SMITT, M., BALL, V., 2004). O processo inflamatório crônico pode produzir alterações brônquicas, nos bronquíolos e no parênquima pulmonar, ocasionando: bronquite crônica, bronquiolite obstrutiva e enfisema pulmonar respectivamente. (II CONSENSO BRASILEIRO DE DPOC, 2004). 1.1 Bronquite Crônica Segundo Palombini (2001) e Gold (2006), bronquite crônica simples pode ser definida como: uma alteração da estrutura e das funções brônquicas, resultantes de agentes irritantes e ou infecções, não sendo necessariamente associada à limitação ao fluxo aéreo. Epidemiologicamente referida por apresentar produção de expectoração, na maioria dos dias, de três ou mais meses do ano, durante dois anos consecutivos, sendo descartadas as possibilidades de manifestações de outras doenças broncopulmonares. Apresentando clinicamente com freqüência sibilância e infecções recorrentes. Na bronquite crônica obstrutiva, o resultado de alterações inflamatórias e obliterantes em pequenas vias aéreas (diâmetro inferior a dois mm) evidencia­se com o declínio ao fluxo expiratórios forçados no final da expiração. Esta é detectável aos testes de função pulmonares convencionais e manifestações clínicas. (PALOMBINI, 2001). Para Silva., et al., (2000), o volume pulmonar e a retração elástica pulmonar são normais, sua obstrução ocorre devido a fatores anatômicos da
3 parede da luz brônquicas, levando a algum grau de hipoxemia em fases relativamente precoces de evolução da doença, ocorrendo desuniformemente a relação ventilação/ perfusão. 1.1.2 Enfisema Pulmonar O Enfisema Pulmonar é definido anatomicamente pelo alargamento anormal e permanente dos espaços aéreos distais. A presença da fibrose ainda é debatido, enquanto que a Bronquite crônica é definida pela presença da tosse crônica e expectoração de secreções por um período mínimo de três meses a um ano, em dois anos consecutivos (CONSENSO BRASILEIRO DE DPOC, 2004). Enfisema Pulmonar, evidência­se anatomicamente por distensão permanente dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com suas paredes alveolares destruídas, sem presença de fibrose óbvia, sendo um termo patológico utilizado clinicamente de maneira incorreta (PALOMBINI, 2001). Atualmente, o advento da tomografia computadorizada de tórax tornou possível a demonstração das alterações que antes eram observadas apenas no exame macroscópico do pulmão. Com esse aumento e destruição, há hiperinsuflação pulmonar, redução da retração elástica e prejuízo de difusão, e vários efeitos produzidos, porém os mais importantes são as alterações na superfície alveolar e suas relações com a rede capilar em torno dos alvéolos, comprometendo as trocas gasosas. Devendo­se considerar a existência da perda do tecido que sustenta as pequenas vias aéreas em combinação com as alterações do tônus muscular dos bronquíolos, podendo vir a produzir a doença das pequenas vias respiratórias e a obstrução ao fluxo aéreo. Os pacientes se tornam hipoxêmicos com a perda progressiva de tecido alveolar, inicialmente durante os exercícios e futuramente, mesmo em repouso com uma (PaO2 inferior a 60mmHg). Os principais efeitos e de maior relevância são hipertensão pulmonar, retenção de líquidos e insuficiência cardíaca (cor pulmonale),
4 são marcas freqüentes do estágio final da DPOC. (SMITT, M., BAAL , V., 2004). Os pacientes enfisematosos apresentam emagrecimento progressivo, enquanto os pacientes portadores de bronquite podem apresentar características obesas ou manter seu peso (PALOMBINI e GODOY, 2001). 1.2. Fatores de Risco A principal causa da DPOC é o tabagismo. A doença também pode ser provocada pela inalação persistente da fumaça gerada pela queima da lenha, utilizada em fogões domiciliares, infecções respiratórias graves na infância e condição socioeconômica. Como fatores individuais destacam­se a deficiência de glutationa tranferase e de alfa­1 antitripsina, alfa­1 antiquimotripsina, hiper­ responsividade brônquica, desnutrição e pré­maturidade (II CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DPOC, 2004). É importante a determinação dos fatores de risco para prevenir e tratar determinadas doenças. 1.2.1. Tabagismo Associado a Fatores de Risco O tabagismo é apontado como o principal fator de risco para a DPOC, porém, é importante que haja uma relação de maior complexidade como considerar diferentes predisposições genéticas para a doença ou sua longevidade (CORRÊA DA SILVA, 2001; GOLD, 2006). A inalação de agentes redutores e oxidantes que compõem a poluição aérea urbana, ocupacional e/ou irritantes químicos age de forma aditiva à ação destruidora do cigarro. Assim como as infecções respiratórias recorrentes aumentariam a tendência ao desenvolvimento da DPOC, pois durante as infecções
5 bacterianas e virais do pulmão, há um acúmulo local de leucócitos e intensa fagocitose, com liberação de elastase e formação de radicais livres oxidantes, exacerbando a ação proteolítica. Pessoas não fumantes conseguem neutralizar esse processo, pois o sistema de antiproteases é íntegro. (CONSENSO, 2004., PALOMBINI, 2001). 1.2.2. Fatores Pessoais/ Individuais O componente genético de deficiência em alfa1­antitripsina, (AAT), um inibidor circulatório de proteases séricas, é o responsável por 1% dos casos de DPOC. Ou seja, existe deficiência das antiproteases no sangue, em especial a alfa­ 1­antitripsina. Nesses indivíduos o enfisema é desenvolvido com muito mais facilidade, em geral aos 40 anos, aproximadamente. (SMITT, M., BALL, V., 2004 e M. NEEDHAM., R. A. STOCLEY, 2004). O declínio da função pulmonar pode se sobrepor em fumantes, aumentando sensivelmente seu risco. Sendo a hiperresponsividade brônquica relacionada à asma apontada como um importante contribuinte para o risco de DPOC que pode ser relacionada à quantidade de fatores genéticos e ambientais e ou mesmo ter relação direta ao tabagismo. (SILVA, 2001 e GOLD, 2006). 1.2.3. Desnutrição A desnutrição tem seu papel como fator de risco para o desenvolvimento da DPOC, em especial no enfisema, devido à associação estado metabólico/ catabólico e desnutrição. As alterações nutricionais observadas nesses pacientes apontadas de forma complexa é de determinação multifatorial. A perda de peso e uma nutrição deficiente podem aumentar os riscos de redução de resistência e força muscular respiratória e global, reduzindo sua massa
6 muscular e influenciando a força de fibras musculares restantes. Uma redução no peso corporal abaixo de 90% do peso ideal e em valores abaixo do índice de massa corporal (IMC) pode ter prognóstico negativo, independendo da gravidade da doença. Em doenças crônicas e em estresse prolongado, as reservas musculares são mobilizadas para atender uma demanda de síntese de proteínas, causando de alguma forma, depleção muscular, assim como é sugerido em estudos clínicos e experimentais a respeito da liberação de mediadores inflamatórios, que poderiam contribuir para o hipermetabolismo, para diminuição de ingestão energética calórica alimentar, resultando em alterações nutricionais descritas nesse pacientes com DPOC. (GOLD, 2006; BETHLEM, 2000). Então com o gasto energético excessivo em pacientes com DPOC associado ou não a ingesta inadequada, possui relação com a perda de peso, embora possa existir uma dieta adequada à quantidade de calorias nesses pacientes ou em indivíduos sãos. É destacado o hipermetabolismo, com gasto energético basal elevado e maior consumo de oxigênio pelos músculos da respiração, pelo trabalho aumentado, aumento de resistência pulmonar e déficit da eficiência muscular. Do mesmo modo que algumas condições podem ser propícias a uma ingestão inadequada e gasto energético excessivo devido ao isolamento em que vivem alguns pacientes, a falta de adequação socioeconômica para uma alimentação equilibrada de acordo com seu estado de saúde, intensa anorexia de causa não evidente, vícios alimentares, estado dentário e próteses mal adaptadas, assim como capacidade de deglutição e alterações nas funções intestinais. Apresentação de dispnéia, que lentifica o processo de ingestão e, além disso, certos alimentos aumentam a sintomatologia clínica, relacionada à maior produção de CO2, como o excesso de carboidratos na alimentação. Além das considerações a possibilidade de achatamento diafragmático e hiperinsuflação, podendo interferir sobre as condições de funcionamento normais do estômago, com diminuição de volume alimentar que poderia ser consumido.
7 As medicações utilizadas por esse grupo de pacientes, como broncodilatadores e corticóides, e os prejuízos gástricos conseqüentes como irritação, náuseas e vômitos, alteração de paladar, suprimento no apetite, como interferência na biodisponibilidade de vitaminas e outros nutrientes influencia na nutrição. (PIVA, A. L , et al, 1996). 1.3. Epidemiologia Estimativas recentes sugerem que 16 (dezesseis) milhões de americanos são afetados (cerca de 14 milhões com bronquite crônica e 02 milhões com enfisema) e, atualmente, a DPOC é a quarta maior causa de morte nos Estados Unidos, onde o número de óbitos por bronquite e enfisema dobrou em 15(quinze) anos e nos últimos 10 (dez) anos a mortalidade aumentou em 600% (seiscentos por cento).(TARANTINO e SOBREIRO; DWEIK e STOLLER; 2001). Há no mundo 01 (um) bilhão de fumantes consumindo 5 (cinco) trilhões de cigarros. Em conseqüência do cigarro, estima­se em 2,5 (dois vírgula cinco) milhões de mortes por ano, equivalente a 5% (cinco por cento) da mortalidade geral. Em 2020 (dois mil e vinte) estima­se que 07 (sete) milhões de pessoas irão morrer nos países em desenvolvimento devido ao fumo. Dados norte­americanos responsabilizam a DPOC por milhões de dias/anos de hospitalizações e por bilhões de dólares gastos direta ou indiretamente com seu tratamento, benefícios e perda de produtividade. (DATASUS, 2004). No Brasil, estudos apontam para aproximadamente 30 (trinta) milhões de fumantes, e que 02(dois) milhões por ano de pessoas morrem em razão de causas relacionadas ao tabaco em países em desenvolvimento. A rede hospitalar previdenciária contabilizou cerca de 190.000 (cento e noventa mil) internações devido a DPOC em 1983 ou 2,5% (dois e meio por cento) do total das mesmas. Ainda em 1983, foram concedidas mais de 3.000 (três mil) aposentadorias
8 por invalidez devido a DPOC. Esta é uma doença muito grave e que o índice de mortalidade, após 10 (dez) anos do diagnóstico da doença, é maior do que 50% (cinqüenta por cento). Além da mortalidade, a morbidade produzida pela doença também é significativa. Sintomas como os citados anteriormente resultam em ansiedade, medo, frustrações, isolamento social, uma paulatina redução no nível de atividade física, descondicionamento dos músculos periféricos, especialmente os da locomoção, provocando um marcado sedentarismo, tornando­os incapazes de realizar as atividades da vida diária independentemente. O exercício fisco realizado de maneira controlada e sistemática contribuiria para o rompimento do ciclo vicioso, no qual quanto mais dispnéia, menos mobilidade e quanto menos mobilidade, maior a dispnéia, o que agrava a doença. A grande prevalência, associada à alta incidência, à morbidade e à mortalidade da DPOC desperta a atenção dos estudiosos da patologia do aparelho respiratório e de uma equipe multiprofissional de especialista, por se tratar de um problema de saúde pública, que leva a um grande comprometimento da qualidade de vida, nas etapas mais avançadas da doença. A prevalência da DPOC é mais alta em países onde o consumo de cigarros foi, ou ainda é muito comum, ao passo que a prevalência é mais baixa em países onde o fumo é menos comum ou o consumo total de tabaco por indivíduo é baixo (GOLD, 2006). 1.4. Mortalidade No Brasil, segundo DATASUS (2006), há um alto índice de mortalidade por doenças do aparelho respiratório chegando aos três primeiros meses de 2006 a 314.080 (trezentos e quatorze mil e oitenta) óbitos. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que no ano de 2005 ocorram 2,74 (dois milhões e setecentos e
9 quarenta mil) de óbitos provocados pela DPOC. 1.5 Custo da Doença Consideram­se custos diretos os que estão relacionados com a detecção, tratamento, prevenção e reabilitação da doença em estudo. A maioria desses estudos está concentrada na análise dos custos relacionados à atenção hospitalar, ambulatorial e farmacológica da doença. Outros custos diretos à margem do sistema de atenção sanitária, como por exemplo, os serviços sociais, não são incluídos por falta de informações precisas. Os custos indiretos são os que se referem à morbidade e à mortalidade provocadas pela doença. O que se tenta medir é o impacto que pode ter a doença sobre o aparato produtivo nacional. O método mais utilizado para o cálculo é o que está baseado na abordagem do capital humano, pelos quais os dias de ausência ao trabalho, sejam por doença ou por falecimento, se transformam em unidade monetária por meio da aplicação de remunerações médias. Esse método tem sido amplamente criticado, entre outros motivos, porque não inclui a população que não está integrada ao mercado de trabalho: crianças, idosos, donas de casa, etc. 1.6 Diagnóstico e Características Clínicas O diagnóstico de DPOC deve ser considerado na presença de tosse, produção de escarro, dispnéia e, ou história de exposição a fatores de risco para o desenvolvimento da doença, onde o diagnóstico só é confirmado quando o teste de espirometria for alterado (ZANCHET; VIEGAS; LIMA; 2005). A espirometria com obtenção da curva expiratória volume­tempo é obrigatória na suspeita clínica de DPOC, devendo ser realizada antes e após a administração de broncodilatador (BD), de preferência em fase estável da doença (II
10 CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DPOC, 2004). A espirometria consiste em aferir a entrada e saída de ar dos pulmões. Como o ar por si só, apresenta certa dificuldade de ser medido volumetricamente, a espirometria utiliza­se de registros gráficos desse ar. (COSTA; JAMANI; 2001). Embora a espirometria não capture o impacto completamente da DPOC na saúde de um paciente, permanece o padrão de ouro para diagnosticar a doença e monitorar a sua progressão (GOLD, 2006). A tosse é o sintoma mais encontrado, pode ser diária ou intermitente e pode preceder a dispnéia ou aparecer simultaneamente a ela. A tosse produtiva ocorre em aproximadamente 50% (cinqüenta por cento) dos fumantes (II CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DPOC, 2004). A dispnéia é o principal sintoma associado à incapacidade, redução da qualidade de vida e pior prognóstico. Muitos pacientes só referem à dispnéia numa fase mais avançada da doença, pois atribui parte da incapacidade física ao envelhecimento e a falta de condicionamento físico (II CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DPOC, 2004). Esta é a razão pela qual a maioria dos pacientes, procura por atendimento médico e é uma causa importante de incapacidade e ansiedade associadas à doença. À medida que a função pulmonar se deteriora, a falta de ar se torna mais intensa. A sibilância e a pressão torácica são sintomas relativamente não específicos e podem variar entre dias ou ao longo de um único dia (GOLD, 2006). Na DPOC deve­se solicitar, rotineiramente, uma radiografia simples de tórax nas posições póstero­anterior e perfil, não para definição da doença, mas para afastar outras doenças pulmonares, principalmente a neoplasia pulmonar (II CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DPOC, 2004). Segundo Oliveira (2000), a radiografia de tórax pode mostrar um achado isolado de capacidade de difusão diminuída e ainda identificar bolhas com provável indicação cirúrgica, quando excedente a um terço do campo pulmonar.
11 A tomografia computadorizada de tórax está indicada na DPOC somente em casos especiais, como suspeita da presença de bronquiectasias ou bolhas, indicação de correção cirúrgica destas ou programação de cirurgia redutora de volume (II CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DPOC, 2004). 1.7 Estadiamento Tabela 1 ­ Estadiamento da DPOC com base na espirometria Fonte: Gold, 2006 Estádio Características I: Leve VEF1/CVF < 70% VEF1≥ 80% do previsto Com ou sem sintomas crônicos (tosse, expectoração) II: Moderada VEF1/CVF < 70% 30% ≥ VEF1 < 80% do previsto Com ou sem sintomas crônicos (tosse, expectoração, dispnéia) III: Grave VEF1/CVF < 70% VEF1< 30% do previsto ou VEF1 < 50% do previsto Com ou sem sintomas (tosse, expectoração) IV: Muito Grave VEF 1/CFV < 70% VEF1 < 30% do previsto ou VEF1 < 50% do previsto com falência respiratória crônica _________________________________________________________________ Os sintomas característicos de DPOC são: tosse, produção de expectoração, e dispnéia. A produção crônica da tosse e da expectoração precede freqüentemente o desenvolvimento da limitação do fluxo aéreo por muitos anos, embora não todos os indivíduos com produção de tosse e expectoração vão desenvolver DPOC. O estadiamento oferece identificar os riscos dos pacientes com DPOC e
12 intervir quando a doença não for ainda um problema entre profissionais da saúde e o público em geral do significado destes sintomas. Estádio I: DPOC leve – Caracterizado pela leve limitação do fluxo aéreo (VEF1/CVF < 70%, mas VEF1 > 80% do previsto) e geralmente pela produção de tosse crônica e de expectoração. Nesse estádio, o indivíduo pode não estar ciente de que sua função pulmonar está anormal. Estádio II: DPOC moderado – Caracterizado pelo agravamento da limitação do fluxo aéreo (50% < VEF1 < 80% do previsto) e, geralmente a progressão dos sintomas evoluem para falta de ar desenvolvida aos esforços da respiração que se torna tipicamente exarcebada. Este é o estádio em que os pacientes procuram à atenção médica por causa da dispnéia ou da exacerbação de sua doença. Estádio III: DPOC grave – Caracterizado por grave limitação do fluxo aéreo (30% VEF1 < 50% do previsto) ou pela presença de insuficiência respiratória e repetidas exarcebações que têm um impacto nos pacientes da qualidade de vida. Estádio IV: DPOC muito grave – Caracterizado pela grave limitação do fluxo aéreo (VEF1 < 30% do previsto) ou pela presença de insuficiência respiratória crônica com uma pressão arterial de oxigênio menor que 60mmHg, e com ou sem pressão arterial parcial de CO2 (PaCO2), maior que 50mmHg inspirado no nível do mar. Insuficiência respiratória pode causar repercussões, como cor pulmonale (falência do ventrículo direito). Sinais clínicos da cor pulmonale incluem da pressão da veia jugular e edema em tornozelo. Os pacientes podem ter estágio IV: DPOC muito grave mesmo se o VEF1 for > 30% predito, sempre que estas complicações estão presentes. Neste estágio a qualidade de vida está muito comprometida e as exarcebações podem apresentar risco de vida. 1.8 Exacerbação Segundo o consenso de DPOC (2004), exacerbação ou agudizações são
13 marcadas por um quadro infeccioso no paciente com DPOC, com características típicas de infecção pulmonar, como febre, leucocitose sendo que alterações no exame radiográfico de tórax podem não estar presentes, porém não são imprescindíveis para o início do tratamento com antibiótico. As características principais notadas em períodos de exacerbação são restritas em geral à mucosa brônquica, que possui uma alteração no aspecto e, ou na quantidade de secreção eliminada, que é alterada passando de mucóide a purulenta com seu volume aumentado, acompanhada pelo aumento da dispnéia do paciente. Segundo o mesmo consenso, o tratamento pode ser realizado em hospitais ou ambulatórios de acordo com a gravidade do quadro. Usualmente os pacientes são recomendados a utilizar terapêutica broncodilatadora da exacerbação com seu uso mediante prescrição médica. Por via inalatória para sua administração, por possibilitar absorção mais rápida ao início de ação das drogas e em pequenas doses causando efeitos adversos menores. Os corticóides também são utilizados na exacerbação e podem reduzir as taxas de falhas terapêuticas e o tempo no hospital, com melhora no VEF1 e da PaO2. 1.9 Tratamento Segundo Hetzel e Corrêa da Silva (2001), os principais recursos para o tratamento da DPOC são: cessação do tabagismo; tratamento do componente reversível da obstrução; controle da produção e do acúmulo de secreções respiratórias; tratamento e prevenção das infecções das vias aéreas; controle da hipoxemia e dos problemas cardiovasculares; evitar fatores agravantes da doença; alívio da ansiedade e da depressão; reabilitação – aumento da tolerância ao exercício; tratamento intensivo e seleção dos casos que poderão ser beneficiados por tratamento cirúrgico – cirurgia redutora de volume pulmonar, ressecção de bolhas, transplante.
14 2 REABILITAÇÃO PULMONAR 2.1Histórico Na década de 50 e início dos anos 60 recomendava­se que os pacientes com a DPOC limitassem o exercício. Esta recomendação agora parece tão inapropriada quanto o repouso prolongado no leito prescrito aos pacientes com infarto agudo do miocárdio no mesmo período. (Barach et al apud Oliveira, C. 2004). Há mais de 40 (quarenta) anos atrás Barach et al apud Oliveira, C. (2004), observaram o benefício do exercício na DPOC. Nos anos 60, Pierce et al. apud Oliveira C. (2004), colocaram 09 (nove) pacientes com DPOC grave e estável em um programa de exercícios; o resultado foi uma diminuição na freqüência cardíaca, na freqüência respiratória e na ventilação minuto e aumento na tolerância ao exercício. Um programa de cuidados amplos para pacientes com DPOC foi primariamente descrito por Petty et al. apud Oliveira, C. (2004). 2.2. Educação Segundo o II Consenso Brasileiro de DPOC (2004), a reabilitação pulmonar é um programa multiprofissional de cuidados a pacientes com alteração respiratória crônica que engloba o estabelecimento de:
15 1) diagnóstico preciso da doença primária e de co­morbidades; 2) tratamento farmacológico, nutricional e fisioterápico; 3) recondicionamento físico; 4) apoio psicossocial; 5) educação, adaptado às necessidades individuais para otimizar a autonomia, o desempenho físico e social. Educação: orientação sobre anatomia e fisiologia respiratória e de como a doença de base às altera. Treinamento respiratório: reeducação dos movimentos respiratórios, posturas adaptativas, técnicas de limpeza brônquica. Condicionamento físico: recuperação das condições físicas como um todo. Terapêutica farmacológica: adequação dos fármacos atuantes no aparelho respiratório para cada paciente especificamente. Interrupção do tabagismo: medidas de apoio às síndromes de abstinências física e psíquica. Oxigenioterapia domiciliar: estabelecimento de sua real necessidade e apoio logístico para sua execução, caso seja necessária. Grupos de auto­ajuda: cada paciente deve ter oportunidade de integrar­se a um grupo que compartilhe mais intimamente suas dificuldades e apreensões. A formação do grupo multidisciplinar deve incluir o pneumologista, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e, ou psiquiatras, nutricionistas, educador físico e assistente sociais.
16 Um aspecto importante é a limitação de vida que os pacientes portadores de DPOC ficam submetidos. A dispnéia determina uma limitação nos movimentos. A idéia de parar para não cansar determina um maior esforço e ansiedade a cada novo movimento e um aumento da sensação de dispnéia. A isto se denomina ciclo vicioso da dispnéia. A intervenção multidisciplinar com o objetivo de quebrar este ciclo vicioso causador desta inatividade, constitui a modalidade terapêutica denominada reabilitação pulmonar. Para Zanchet, Viegas e Lima(2005), a reabilitação pulmonar consegue quebrar o ciclo vicioso da DPOC, melhorando a qualidade de vida e a capacidade de exercício funcional dos pacientes. Segundo Maltais(2003) apud Dourado e Godoy (2005), a intolerância ao exercício é manifestação comum em pacientes com DPOC, por apresentarem distúrbio respiratório, entretanto, atualmente tem­se verificado que a disfunção muscular esquelética periférica é fator importante para a diminuição da capacidade para realizar exercícios nessa população. Neste sentido, observa­se a persistência desta intolerância, mesmo após transplante de pulmão, situação em que ocorre melhora na função pulmonar. Tendo em vista que, a função ventilatória dos portadores de DPOC pode ser melhorada apenas discretamente por terapias clínicas, o condicionamento físico tem papel fundamental com a finalidade de reduzir a demanda respiratória e a sensação de dispnéia. A procura pela reabilitação pulmonar vem aumentando consideravelmente (NEDER apud DOURADO e GODOY, 2005). A estratégia utilizada pela reabilitação pulmonar é integrar­se ao manejo clínico e à manutenção da estabilidade clínica dos portadores de DPOC, principalmente nos pacientes que, mesmo com tratamento clínico otimizado, continuam sintomáticos e com diminuição de sua função física e social (ATS apud RODRIGUES, ASSIS VIEGAS e LIMA, 2002).
17 2.3 Papel do Enfermeiro Educação As mudanças no ambiente de atenção à saúde, hoje, impõem o uso de uma abordagem organizada de educação, que possibilita atender às necessidades que incluem a disponibilidade da atenção à saúde fora do ambiente hospitalar, ao emprego dos diversos provedores de cuidados de saúde para atender às metas do gerenciamento do cuidado, e ao aumento do uso de estratégias alternativas, possibilitando fornecer ao paciente informação compreensiva sobre seus problemas de saúde, ao longo de seu ciclo de vida, acentuando­a toda vez que ocorra o encontro paciente­enfermeiro. (BRUNNER & SUDDARTH, 2002) A atividade educativa do enfermeiro com o cliente/paciente é considerada antiga e teve origem na Enfermagem Moderna, com Florence Nightingale, no século XIX. Com as transformações sócio­culturais ocorridas nas últimas décadas, a atividade educativa do enfermeiro tem sido destacada como fundamental para a promoção e manutenção da saúde. Na situação de doença, ela é estratégica para a obtenção da participação do cliente/paciente no tratamento e reabilitação. (BARTLETT,1985). Portanto, ensinar é uma função da enfermagem, e esta premissa está incluída em todas as normas estaduais, assim como na American Nurses Association’s Standards of Clinical Nurses Practice (ANA, 1992). Educação para saúde é uma função independente da prática de enfermagem, e é a principal responsabilidade da profissão do enfermeiro. Todo o cuidado do enfermeiro é dirigido à promoção, manutenção e restauração da saúde, através do contato que o enfermeiro tem com o paciente, estando ele doente ou não. Apesar de qualquer pessoa ter o direito de decidir se aprende ou não, o enfermeiro tem a responsabilidade de apresentar a informação que motivará as pessoas quanto à necessidade de aprendizagem. Segundo (BRUNNER & SUDDARTH, 2000), o propósito da educação para a saúde está no direito do público a uma atenção à saúde compreensiva, pois um
18 dos maiores grupos de pessoas que requerer, em este tempo de, nos dias de hoje, são as portadoras de doenças crônicas, pois com o aumento da longevidade da nossa população, aumenta também o número de pessoas com essas doenças. A questão da longevidade associada à educação possibilita ensinar às pessoas como viver da maneira mais saudável. Nesta perspectiva, busca­se fazer com que o indivíduo atinja seu potencial de saúde máxima, o que reduz os custos com a atenção à saúde, previna doenças diminuindo o tempo de internação e possibilita a alta do paciente ainda mais cedo. Para (GREEN & KAUER, 1991), o sucesso com a educação em saúde é determinado pela avaliação constante das variáveis que afetam a capacidade do paciente adotar comportamentos específicos, em obter recursos e em manter um ambiente social propício. Os programas têm maior chance de êxito se existirem variáveis que afetem a aderência da pessoa, e estas são identificadas e consideradas em um plano de ensino. Conforme Marchi (2004), a palavra de ordem, é hoje, promover saúde. Com toques de prevenção e educação, a promoção de saúde é uma área voltada para o gerenciamento integral de saúde. Não só a física, mas também a intelectual, a familiar. E o mais importante da questão é ensinar as pessoas a terem um estilo de vida saudável. Desta forma, justifica­se a necessidade de reforçar os programas de educação de pacientes, através de equipes multidisciplinares, conforme o Consenso de asma (1996) apud BETTENCOURT at al (1998) os programas de educação são baseados nas orientações recomendadas nos consensos e são aplicados integrados ao atendimento médico, devendo ser adaptados às características socioeconômico­ culturais da população­alvo. A sua condução é multidisciplinar e pode ser realizada por médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Portanto Maiman e Gibson(1979) o papel da enfermagem em prol da saúde coletiva é reconhecido; sendo o enfermeiro o ser atuante como mediador entre a comunidade e o sistema de saúde local, visando como principal objetivo a educação
19 em saúde. 2.4 Papel da Nutrição A avaliação nutricional pode utilizar métodos simples como o índice de massa corporal (razão entre o peso em kg dividido pelo quadrado da altura em metros). Quando ocorre diminuição da massa corporal os pacientes sofrem ação prognostica negativa independente da gravidade da doença (evidência A) (CELLI, 2004; GRAY­DONALD, 1996). A desnutrição protéico­calórica é um problema que freqüentemente aparece em portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica. Intervenções simples trazem benefícios. Os pacientes habitualmente sentem­se estufados e dispnéicos durante as refeições devido à distensão gástrica, que reduz a movimentação do diafragma. (TEIXEIRA e CELLI, 2001). A alteração no estado nutricional dos indivíduos pode variar de alteração na composição corporal, sobrepeso ou obesidade e até casos de desnutrição. Considerando que o peso reduzido está associado à mortalidade aumentada para os pacientes com DPOC, independente da função pulmonar (GRAY­DONALD K et al., 1996). O peso diminuído também está associado com redução no desempenho ao exercício durante o teste de caminhada e capacidade muscular aeróbica diminuída (SCHOLS et al., 1991; PALANGE et al., 1998). 2.5. Papel da Psicologia A ansiedade e a depressão são bastante freqüentes em pacientes portadores de DPOC. O tratamento destas alterações pode reduzir a sensação de dispnéia e facilitar a participação em todo o processo de reabilitação. (TEIXEIRA e CELLI, 2001).
20 Segundo um estudo realizado por Godoy (2002) ocorre um alívio dos níveis de ansiedade e depressão após a reabilitação pulmonar. A qualidade de vida é alterada nestes pacientes devido a limitações impostas pela diminuição da capacidade ao exercício. Para avaliar a qualidade de vida de doentes respiratórios existem questionários validados no Brasil por Souza et al. (2000) como o de (St. George Hospital Respiratory Questionnaire – SGRQ; JONES, 1992). A ansiedade e depressão são avaliadas por outros instrumentos em forma de questionários específicos, como o inventário de Beck para Depressão (BDI) e para Ansiedade (BAI) Esse procedimento é fundamental para avaliar o nível de ansiedade do paciente, a sua qualidade de vida e proporcionar a integração do mesmo ao grupo, para que aprendam a compartilhar suas dificuldades e apreensões. Para tal são propostos atividades tais como: Grupos de auto­ajuda visando, principalmente, proporcionar apoios na interrupção do tabagismo que serão úteis na síndrome da abstinência física e psíquica que se instalará. 2.6 Qualidade de Vida. De acordo com Ramos­Cerqueira e Crepaldi (2000) aumentar quantitativamente a sobrevida dos pacientes nem sempre produzia um impacto qualitativo que fosse capaz de garantir uma recuperação significativa do seu estado físico, emocional e social. Dessa forma, medir esse impacto tornou­se importante na seleção de tratamentos mais efetivos, na distribuição de recursos e na implementação de programas de saúde. Para Cella e Tulsky apud Ramos­Cerqueira e Crepaldi (2000) qualidade de vida refere­se à avaliação pelo indivíduo da satisfação com seu nível de funcionamento, quando este é comparado com o que considera como ideal. O termo
21 “qualidade de vida” é difícil de ser definido, pois é um conceito subjetivo e individual, além de incluir aspectos negativos e positivos da vida (BRITTO, SANTOS e BUENO, 2002). Dimenäs et al. apud Ramos­Cerqueira e Crepaldi (2000) propõem um modelo de qualidade de vida baseado em bem­estar, saúde e fatores externos. Englobando quatro aspectos: atividade de vida diária, função social, função psicológica e habilidade de participar de atividades de lazer (BRITTO, SANTOS e BUENO, 2002). A vivência da perda de controle sobre as atitudes físicas e mentais, de quadros dolorosos, ausência de crenças e de um projeto de vida claro, a falta de energia e esperanças explicariam a percepção de pior qualidade de vida (RAMOS­ CERQUIRA e CREPALDI, 2000). Para Silva et al. (2005) qualidade de vida é um conceito dinâmico, que se modifica no processo de viver das pessoas. Consta em Ramos­Cerqueira e Crepaldi (2000) que estratégias racionais (conhecer a doença, seguir uma meta) têm­se mostrado mais eficaz na garantia de uma percepção mais positiva, quando comparadas com as estratégias evitativas (negar a doença) e emocionais (culpar­se, culpar outras pessoas). Os dados de qualidade de vida têm sido muito úteis na avaliação do sucesso de intervenções em pacientes com DPOC e têm sugerido que os objetivos principais destas intervenções deveriam ser a melhora do desempenho físico e o desenvolvimento de métodos de enfrentamento mais adequados (RAMOS­ CERQUIRA e CREPALDI, 2000). De acordo com Ramos­Cerqueira e Crepaldi (2000) independente do instrumento e da definição utilizada para avaliar a qualidade de vida a DPOC sempre cria fatores prejudiciais. Estudos têm observado altos índices de ansiedade e depressão em portadores de DPOC, bem como diminuição do desempenho cognitivo. Sugere­se que mudanças no humor resultam da auto­ percepção negativa e do prejuízo funcional, os quais se relacionam diretamente com a diminuição da capacidade física.
22 Segundo Jones apud Ramos­Cerqueira e Crepaldi (2000) caso um questionário não possa favorecer uma estimativa exata de qualidade de vida do paciente, poderia, ao menos, promover uma estimativa confiável sobre esta. Dessa forma, uma medida obtida por questionários adequadamente desenvolvidos e validados não seria diferente de nenhuma outra medida em medicina. Entre os pacientes portadores de DPOC, 50 % (cinqüenta por cento) sofrem com limitações em suas atividades de vida diária devido a déficits respiratórios. Para Rodrigues, Viegas e Lima (2002) o descondicionamento físico em associação à inatividade inicia um ciclo vicioso em que a piora da dispnéia se associa a esforços físicos cada vez menores, com grave comprometimento da qualidade de vida. De acordo com Britto, Santos e Bueno (2002) as limitações fisiológicas e funcionais são acompanhadas de distúrbios psicológicos, com altos níveis de depressão, ansiedade e prejuízo na qualidade de vida. Os programas de Reabilitação Pulmonar podem trazer benefícios na capacidade de exercício e na qualidade de vida destes pacientes. A combinação de RP e tratamento medicamentoso são responsáveis por uma significativa melhora na qualidade de vida e na capacidade funcional dos pacientes. A aplicação destes questionários pode estender o campo de informações e promover uma avaliação mais completa sobre os benefícios da RP (BRITTO, SANTOS e BUENO, 2002). Há dois tipos de questionários de qualidade de vida, os genéricos e os específicos. Os genéricos avaliam pacientes com qualquer tipo de doença e os específicos foram desenvolvidos para obter uma alta sensibilidade dentro de uma condição clínica específica. É recomendada a associação dos dois instrumentos, pois as informações obtidas se completam (BRITTO, SANTOS e BUENO, 2002). Segundo Fernansdes e Cukier (2006) um questionário precisa ser confiável, válido e responsivo. Deve levar a um resultado igual ao avaliar o mesmo fenômeno em circunstâncias diferentes, mensurar o que se propõe a avaliar com fidelidade e
23 ser capazes de detectar mudanças no decorrer do tempo ou relacionadas a intervenções. 2.7 Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) É um instrumento validado no Brasil para medir qualidade de vida em portadores de DPOC. O SGRQ é um questionário específico para avaliação da qualidade de vida na DPOC, é auto­aplicativo e consiste em 76 (setenta e seis) questões divididas em 03 (três) categorias: sintomas, atividades e impacto. Este instrumento pode identificar mudanças no estado de saúde em um período de aproximadamente um ano (BRITTO, SANTOS e BUENO, 2002). Baseado em Sousa, Jardim e Jones (2000) cada domínio possui uma pontuação máxima possível; seus pontos para cada resposta são somados e seu total referido como um percentual deste máximo. Escores acima de 10% são correspondentes a alteração no determinado domínio e uma redução do escore melhora na qualidade de vida. Alterações iguais ou superiores a 4% após uma intervenção, em qualquer domínio ou em sua soma total de pontos, são indicativos de mudança significativa na qualidade de vida Por ter uma boa reprodutividade é adequado para estudos comparativos relacionados aos efeitos da doença pulmonar nas atividades de vida diária. A validação e a utilização de questionários de qualidade de vida são fundamentais para avaliar, reavaliar e comprovar os efeitos de uma intervenção, já que os parâmetros fisiológicos não têm mostrado alterações de grande significância após os programas de RP e que seus benefícios se tornam evidentes quando se avalia a qualidade de vida (BRITTO, SANTOS e BUENO, 2002).
24 2.8 Medical Outcomes Study 36­Item Short­Form Health Survy (SF­36) O SF­36, Medical Outcomes Study 36­Item Short­Form Health Survy, é um novo instrumento que foi projetado para medir a percepção de saúde da população em geral. É fácil de ser usado e de boa aceitabilidade pelos pacientes, além de preencher rigorosos critérios de segurança e validade. Pode ser usado em vários contextos e em diferentes grupos de doenças para facilitar a pesquisa. Inicialmente foi projetado para ser usado na prática clínica e pesquisa, na avaliação da saúde de policiais e na inspeção da população em geral (WARE e SHERBOURNE, 1992; BRAZIER et al., 1992). Baseado em Castro et al (2003) e Costa e Matias (2005) o questionário SF­ 36, é um instrumento genérico, auto­aplicativo, constituído de 36 (trinta e seis) questões subdivididas em 08 (oito) domínios que avaliam: capacidade funcional (desempenho nas atividades diárias), dor (nível de dor e o impacto no desempenho das atividades diárias e/ou profissionais), estado geral de saúde (percepção subjetiva do estado geral de saúde), aspectos físicos (impacto da saúde física no desempenho das atividades diárias e, ou profissionais), vitalidade( percepção subjetiva do estado de saúde), aspectos sociais ( reflexo da condição de saúde física nas atividades sociais), saúde mental (escala de humor e bem­estar) e aspectos emocionais (reflexo das condições emocionais no desempenho das atividades diárias e, ou profissionais). Cada categoria é avaliada por várias perguntas onde o paciente escolhe entre respostas diferentes trazidas pelo questionário que estabelecerá um resultado numérico final. Cada componente recebe um valor (de zero a 100) onde o zero corresponde ao pior e o 100 ao melhor estado de saúde. Pode ser aplicado a qualquer pessoa acima dos 14 anos de idade O II Consenso Brasileiros sobre DPOC (2004) recomenda o uso do SF­36 como questionário genérico e o SGRQ como específico.
25 3 EXERCÍCIO NA DPOC A intolerância ao exercício é a principal característica da DPOC, podendo ocorrer dificuldade para realização das atividades domésticas, atividades do trabalho, exercícios de recreação e atividades de lazer. Essa intolerância ao exercício aumenta com o passar do tempo (O`DONNELL, 2001). A tolerância reduzida ao exercício resulta em um aumento nas necessidades ventilatórias e da redução da capacidade ventilatória. (O`DONNELL, 2001). A dispnéia durante o exercício é um fato comum e comumente incapacitante nos pacientes com DPOC. A dispnéia pode ser decorrente de vários fatores, incluindo má oxigenação e hipertensão pulmonar, mas, sem dúvida alguma, a hiperinsuflação dinâmica tem um papel importante. O aprisionamento de ar durante os esforços leva à dispnéia, e como o paciente apresenta dispnéia, ele reduz suas atividades e perde o seu condicionamento físico, passando a apresentar mais dispnéia ao realizar a atividade física. Esse ciclo é mantido e se amplia cada vez mais, com o seguinte resultado final: baixa qualidade de vida relacionada à saúde (JARDIM, 2004). Igualmente leva a fraqueza muscular periférica contribuindo assim para a limitação ao exercício dos pacientes portadores de DPOC (GOSSELINK et al., 1996). O paciente com DPOC, comumente apresenta limitada tolerância ao exercício devido a sua incapacidade de sustentar a ventilação, sendo atingido um limiar em decorrência a um aumento excessivo da ventilação. (BRUNETO, 2003). Assim sendo, nos pacientes com DPOC não se utilizam o VO2 máximo e a
26 freqüência cardíaca máxima como parâmetros (BENDSTRUP et al., 1997; GRIFFTH et al., 2000; CASABURI, 2003). Uma associação entre exercícios aeróbicos e resistidos parece apresentar vantagens em relação ao uso de cada tipo de exercício isoladamente (BERNARD et al., 1999). A musculação fortalece grupos musculares específicos, de modo que possa ser o tipo de exercício direcionado para os membros superiores e inferiores. (ATS – Pulmonary Rehabilitation, 1999). O exercício aeróbico é feito mediante caminhadas ou com a utilização de esteira ou bicicleta ergométrica e os exercícios para fortalecimento de grupos musculares específicos, utilizando elásticos ou pesos. (SIMPSON et al., 1992; CLARK et al., 2000; GREEN et al., 2001; WIJKSTRA et al., 1996). Os exercícios para a musculatura respiratória são controversos, possuem evidência “B” e segundo Lothers et al.(2002), o treinamento da musculatura respiratória, demonstrou benefícios para os pacientes com DPOC que apresentam fraqueza muscular respiratória (Pi máx ≤ 60 cmH2O). Os níveis de evidência são divididos em quatro categorias que segue abaixo a descrição referente a cada uma delas.
27 Tabela 2: Descrição dos Níveis de Evidência Categoria de Evidência Recursos de Evidência Ensaios A Definição A evidência é proveniente de resultados de RCTs bem aleatorizados e elaborados que fornecem um modelo consistente de controlados descobertas na população para a qual a recomendação é feita. (RCTs). A categoria A requer números substanciais de estudos Rica base dados. envolvendo números substanciais de participantes. A evidência é proveniente de resultados de estudos de B Ensaios intervenção que incluem somente um número limitado de aleatorizados e pacientes, análises posthoc ou de subgrupos de RCTs, ou controlados meta­análise de RCTs. Em geral, a categoria B é pertinente (RCTs). Limitada quando existem poucos ensaios aleatorizados, quando eles base dados. são pequenos em extensão, quando são realizados em uma população que difere da população­alvo recomendada ou quando os resultados são, de alguma forma, inconsistentes. Ensaios não­ C A evidência é proveniente dos resultados de ensaios aleatorizados. não­controlados e não­aleatorizados ou de estudos de Estudos de observação. Observação. Esta categoria é utilizada somente em casos onde o Consenso entre D participantes do painel. fornecimento de algum tipo de ajuda foi considerado valioso, mas a literatura clínica sobre o assunto foi considerada insuficiente para justificar a colocação em uma das outras categorias. O Painel Consensual é baseado em experiência ou conhecimento clínico que não se enquadram nos critérios acima listados.
28 Segue abaixo os componentes de um programa de reabilitação e sua classificação nos níveis de evidência: Tabela 3 : Componentes de um programa de reabilitação pulmonar Componentes Nível de Evidência Dispnéia A Treinamento de membros inferiores A Treinamento de membros superiores B Treinamento de músculos respiratórios B Qualidade de vida B Educação C Sobrevida C (ACCP / AACVPR, 1997) 3.1Testes para avaliação do processo de reabilitação pulmonar. Os testes são utilizados tanto para avaliação inicial e também como medidas para verificar os resultados do tratamento. 3.1.1 Tolerância ao Exercício A tolerância ao exercício é essencial no início do programa de reabilitação, sendo seu objetivo aumentar a habilidade do paciente no desempenho da atividade física. Seu resultado é um preditor avaliativo do nível de incapacidade, identificador da limitação ao exercício continuado, elaboração de uma programação de uma rotina de treinamento e identificação de quaisquer benefícios da reabilitação. Um exemplo está no TC6 minutos. (SMITH e BALL, 2004). Para Jamami (1999), em pacientes portadores de DPOC há uma redução
29 no nível de condicionamento físico e, exercícios de leve intensidade, podem ter impacto de condicionamento. Sendo, o benefício estendido ao treinamento de força em grupos musculares exercitados, como de endurance muscular global. Os testes de esforço são essenciais antes do início do programa de reabilitação pulmonar, devem ser realizados para uma melhor análise de capacidade física funcional em relação às suas atividades diárias, deve quantificar a tolerância ao exercício, alterações e limitações físicas ocorridas no paciente, como: dificuldade respiratória, periférica ou cardiovascular. (WALLACE, D. M e FARINATTI, P. T. V., 2003). É importante distinguir fatores relacionados ao sistema respiratório, devido à dispnéia, limitação e descondicionamento físico para a realização da prova e interrupção do exercício por problemas de natureza cardiovascular, dor em membros inferiores, claudicação intermitente, angina, sendo pouco provável sua participação aos exercícios previstos em um programa de reabilitação pulmonar. Não é rara a participação de pacientes pulmonares com concomitante história de osteoartrite, angina, dentre outras, sendo que esses fatores não sejam considerados limitantes a prática do exercício. (WALLACE, D. M e FARINATTI, P. T. V., 2003). A avaliação pode ser realizada por meio de uma bicicleta ergométrica ou na esteira, em que são analisados alguns parâmetros fisiológicos, incluindo consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.), freqüência cardíaca máxima, carga máxima na atividade estipulada (1­ RM). Principalmente o teste em esteira ergométrica é um tipo de teste não é amplamente usado, devido a seu custo (equipamento e equipe técnica) para inclusão em serviços de reabilitação. (RODRIGUES e VIEGAS, 2002). 3.1.2 Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6’) Este teste é simples, de menor custo e mais amplamente utilizado. É um teste que determina capacidade de exercício, seu controle é realizado pela velocidade do paciente que caminha o máximo possível em tempo estabelecido em
30 seis minutos. Podendo variar sua velocidade durante o período do teste ou mesmo interrompê­la em caso de apresentar fadiga, dispnéia, síncope ou vertigem, sem que com isso o cronômetro seja interrompido. Sendo seu percurso registrado em relação ao seu tempo. (SMITT e BALL., 2004., BRUNETO., 2003). As monitorizações realizadas no teste de caminhada de seis minutos são FC, SpO2 e acompanhamento do nível de percepção do esforço, determinado pela escala 0­ 10 de BORG (anexo B) integram fatores importantes na avaliação da dispnéia do paciente. As medidas de SpO2 e FC devem ser realizadas através de um oxímetro de pulso, com um sensor posicionado no terceiro dedo, tendo sua leitura determinada após estabilização do sinal, antes e a cada minuto do teste. A prova é realizada em corredor plano, com distância previamente demarcada. O paciente é acompanhado por um membro da equipe de reabilitação, orientado a realizar o percurso estipulado em seis minutos, podendo parar o teste se necessário. (Moreira., et al, 2001). Devem ser indicativas para avaliação, as respostas cardíacas e pulmonares de moderada a severa. São analisadas alterações na saturação de O2 em repouso e durante o exercício, para diagnóstico diferencial de dispnéia, disfunção respiratória, perfil do paciente para a reabilitação pulmonar, necessidade de oxigênio suplementar, avaliações terapêuticas interventivas relacionadas às respostas globais e de interesse aos sistemas envolvidos durante a realização do exercício relativos ao sistema pulmonar, cardiovascular, circulação sistêmica e periférica, unidades neuromusculares e metabólicas. Informando o nível submáximo de capacidade funcional, compatíveis com as atividades de vida diária. (RABINOVICH, 2004). A fidedignidade do teste e treino devem ser padronizados, quanto a fatores que influenciem seu resultado e significado, como por exemplo, orientações ao ritmo individual de caminhada, indicação e limitações dos pacientes, aferições e métodos, incentivo verbal ao teste ou não, aprendizado e repetição na realização do teste, dentre outras questões estabelecidas em um programa de reabilitação pulmonar. (ATS STARTMENT, 2002).
31 3.1.3 Avaliação da Dispnéia Um objetivo relevante da reabilitação está na ajuda ao paciente a controlar e reduzir a falta de ar (dispnéia), pois assim como a dor é uma percepção subjetiva, sua magnitude de desconforto possui identificação particular. A escala de BORG é um instrumento simples, podendo ser usada em repouso, durante ou imediatamente após o exercício. Avalia o grau de esforço percebido, referente ao trabalho muscular intenso envolvido em tensão relativamente grande sobre os sistemas musculoesquelético, cardiovascular e pulmonar. Deste modo, o esforço percebido é relacionado à intensidade de exercício e ao treino aeróbico. Podendo sofrer influência de sua motivação, emoção, condições patológicas especiais, devendo ser bem conduzido pela equipe operacional e quanto a sua relação ao método de exercício utilizado. Basicamente o esforço percebido pelo paciente traduz o quão pesado e extenuante pode ser uma tarefa física. (Martins Neto e Amaral, 2003); (BORG. , 2000); ( Marques., Coelho., Cavalheiro., 2004). 3.2. Componentes de Exercício em Reabilitação Pulmonar 3.2.1 Prescrição de Exercício Segundo a ACSM (2000) e Donald, A., Mahler, M. D., (1998), em pacientes portadores de DPOC, devem ser observadas as bases fisiológicas de prescrição de exercício quanto às individualidades específicas de cada paciente para determinação de sua intensidade. É recomendado, antes de qualquer série de treinamento, um período de aquecimento, a fim de se aumentar as taxas metabólicas em repouso a um nível apropriado de treinamento. Os exercícios são aumentados gradativamente, na proposta ao treinamento aeróbico, e a realização por período médio de 20 a 30 minutos, três a quatro vezes por semana e intensidade
32 correspondente a cerca de 50% (cinqüenta por cento) do consumo máximo de oxigênio do indivíduo, priorizando o decréscimo da dispnéia. A caminhada é tida como mais apropriada nesse tipo de paciente. 3.2.1.1 Exercícios para Membros Superiores Segundo Martins Neto e Amaral, (2003), exercícios para os membros superiores justificam­se num PRP, devido a quantidade de força e coordenação dos membros superiores (MsSs) nas atividade de vida diária (AVD’s). Nesses pacientes há um déficit dessas funções, pois a musculatura acessória geralmente assiste os músculos da respiração, pelo desempenho das atividades do braço, é um suporte perdido e sua carga é de volta forçada e remetida para os músculos respiratórios, conseqüentemente para o diafragma, que possui sua mecânica modificada pelos mecanismos de hiperinsuflação pulmonar. Portanto, a regulação da respiração precisa ser adequada a todo exercício dos membros superiores, produzindo exalação durante o alongamento ou esforço. 3.2.1.2 Treinamento de Resistência e força A maioria dos PRP e seus estudos priorizam uma rotina de treinamento de resistência e força musculares, pois tem sido sugerido que a fadiga dos músculos periféricos contribuam à limitação do exercício. A resistência é obtida por meio de exercícios de baixa intensidade e de alta freqüência, nesse treinamento o número de capilares e o conteúdo mitocondrial na musculatura treinada aumenta. Assim como no treinamento de força, realizado por meio de baixas repetições e resistência elevada, aumentam a força muscular, aumentando as miofibrilas em algumas fibras musculares. (WEBBER, 2002 e FRONTERA., et al, 2001).
33 3.2.1.3 Exercícios para Membros Inferiores Vários estudos relatam uma relação quantitativa direta dos benefícios relacionados com um aumento de resistência e força dos grupos musculares treinados, melhor capacidade de resistência e melhora na qualidade de vida. Em pacientes com DPOC principalmente há preocupação em se evitar a diminuição na capacidade de realizar as atividades de vida diárias, tais como subir escadas e carregar objetos, estando associados a quedas, sendo lógico um treinamento adequado a fim de se evitar perda de força, no tamanho muscular, manutenção das AVD’s e qualidade de vida, assim como independência. (PRYOR e WEBBER, 2002 e FRONTERA., et al, 2001). 3.2.1.4 Efeitos do Exercício Segundo Martins Neto e Amaral (2003), o programa de reabilitação pulmonar quebra e reverte o efeito da inatividade, perda de condicionamento físico, isolamento social, depressão e seu ciclo vicioso. Os benefícios do exercício à curto prazo sobre respostas ao sistema cardiovascular e metabólicos podem inclusive dessensibilizar à dispnéia. Assim como melhora global em relação à coordenação neuromuscular e aumento da autoestima e confiança.
34 4 OBJETIVOS 4.1 Objetivo Principal Avaliar o impacto das aulas educativas para a melhoria da qualidade de vida num Programa de Reabilitação Pulmonar para portadores de DPOC. 4.1.2 Objetivo Específicos ­ Verificar a eficiência do ensino realizado pelos diversos profissionais para os pacientes com DPOC; ­ Verificar a influência de um reforço educacional individual realizado pelo enfermeiro sobre o nível de conhecimento dos pacientes portadores de DPOC. ­ Verificar a influência da educação individual sobre a qualidade de vida medida através dos questionários Saint George e SF­36.
35 5 MATERIAIS E MÉTODOS Esta pesquisa foi realizada dentro de uma abordagem quantitativa do tipo randomizado cujo campo de estudo constituiu­se pelos pacientes do Programa de Reabilitação Pulmonar do Centro Universitário Feevale, de Novo Hamburgo, no ano de 2005 e 2006. O Programa de Reabilitação Pulmonar é desenvolvido nas segundas, quartas e sextas­feiras, em atendimentos específicos nos quais os pacientes foram avaliados e acompanhados pela equipe multidisciplinar que integra o Projeto. Todos os pacientes eram avaliados no ingresso e ao término do programa de reabilitação conforme protocolo descrito abaixo, que tinha duração de 4 meses. Os pacientes foram convidados a participar do projeto de pesquisa, e os que se dispusessem, assinaram o termo de Consentimento livre e esclarecido. 5.1 Critérios de inclusão Pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, nos diferentes estádios da doença; Pacientes sintomáticos, limitados pela doença, porém estáveis e em uso de terapêutica medicamentosa máxima; Pacientes motivados e em condições de acompanhar as atividades relacionadas ao programa de reabilitação (palestras, sessões de recondicionamento físico, avaliações e consultas programadas);
36 5.2 Critérios de exclusão Doenças associadas a cardiopatias, doenças neurológicas, doenças musculares ou qualquer outra doença que pudesse interferir no programa de reabilitação pulmonar e a realização de exercícios. Não participação ativa do programa e pouca assiduidade. Deficiência cognitiva acentuada que dificultasse o andamento e o entendimento do treinamento. 5.3 A avaliação médica Era realizada pelo médico pneumologista do programa de reabilitação pulmonar do Centro Universitário Feevale. Neste momento eram coletados os dados clínicos dos pacientes, revisada a espirometria que já era trazida e confirmando o diagnóstico feito pelo médico assistente. Caso fosse necessário algum exame adicional, o paciente era novamente encaminhado ao seu médico de origem para conclusão diagnóstica 5.4 Avaliação nutricional Era realizado pela nutricionista envolvida no projeto, e visava atender as necessidades nutricionais dos pacientes, para o bom desempenho no programa de reabilitação pulmonar. Eram calculados o Índice de Massa Corporal (IMC) e fornecidas orientações nutricionais individualizadas a cada paciente de acordo com seu estado nutricional, durante todo o programa de reabilitação.
37 5.5 Composição corporal Foi realizada pelo educador físico onde foram realizadas as medidas de circunferências e dobras cutâneas, o valor das circunferências de coxa superior e panturrilha foram utilizados para comparar os grupos antes e depois do treinamento. 5.6 Teste de caminhada de seis minutos (TC6min) Foi realizado pelo fisioterapeuta em um corredor aberto, no Campus I do Centro Universitário Feevale, com 48 metros de comprimento, coordenado pelo pesquisador. Eram mensuradas as variáveis freqüência cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio (SpO2) por oxímetro de pulso Nonin®, freqüência respiratória (f), sensação de esforço por dispnéia (Escala modificada de Borg­CR 10) e distância percorrida em metros, imediatamente antes de iniciar o teste, a cada minuto e logo após o término do mesmo, a distância era mensurada por uma fita métrica. No final do teste, utilizando os pontos de referência demarcado no piso e no local onde o paciente parou de caminhar. Eram feitos pelo menos dois testes para excluir a possibilidade do aprendizado influenciar nos resultados. 5.7 Avaliação da qualidade de vida pelo Questionário do Hospital de Saint George (Anexo A) Foi aplicado pela psicóloga responsável pelo projeto de reabilitação pulmonar. O teste foi realizado individualmente, em uma sala fechada. Entregou­se uma folha com as questões objetivas, em que era solicitado para o paciente ler e interpretar e marcar suas respostas, sem intervenção da psicóloga, para que as respostas assinaladas fossem fidedignas. Isso foi feito não concomitantemente com os dias de testes, evitando, assim, que a ansiedade aumentasse e interferisse nos resultados coletados.
38 Para efetivação da soma referente aos domínios do questionário, utilizaram­ se as pontuações próprias do questionário de qualidade de vida do Hospital Saint George. 5.8 Avaliação do SF­36, Medical Outcomes Study 36­Item Short­Form Health Survy (Anexo B) Foi aplicado pelo Enfermeiro responsável pela educação individualizada no projeto de reabilitação pulmonar. O teste foi realizado individualmente, em uma sala fechada, na qual o enfermeiro lia as questões objetivas e o paciente respondia ou marcava a questão correta, sem intervenção do Enfermeiro, para que as resposta fossem fidedignas. Isso foi realizado antes do início do programa de reabilitação pulmonar e após o término do mesmo. Para efetivação da soma aos domínios do questionário utilizaram­se as pontuações e os escores do questionário Medical Outcomes Study 36­Item Short­ Form Health Survey Ao ingressarem no projeto, 30 pacientes foram randomizados em dois grupos: O grupo 1 (16 pacientes) recebeu aulas educativas com os diversos profissionais durante o período de 4 meses em que durou o treinamento físico, com duração aproximada de 30 a 40 minutos, sempre propiciando a participação dos pacientes com perguntas e colocações. O grupo 2 (14 pacientes), além das reuniões educacionais coletivas, cada paciente teve um encontro semanal com o enfermeiro, que fazia um reforço educacional de todos os aspectos que haviam sido discutidos na reunião da semana, com duração de 30 minutos. O instrumento de pesquisa contou com os questionários SF­36, readequado para insuficiência respiratória (Apêndice A), Saint George (Apêndice B) para medirem a qualidade de vida e um questionário Educacional Estruturado (Apêndice C) para medir o aprendizado específico sobre os aspectos concernentes à doença,
39 aplicados antes e após o programa de reabilitação pulmonar. Os tópicos que foram abordados nas reuniões educacionais coletivas e também nos encontros individuais para reforço compreenderam: ­ Anatomia do Sistema Respiratório; ­ Funcionamento da Respiração; ­ O que é DPOC; ­ Como Utilizar os Medicamentos; ­ Como Reconhecer a Piora Clínica; ­ A Ansiedade e a Falta de Ar; ­ Conservação de Energia; ­ Importância da Atividade Física; ­ Oxigenioterapia; ­ Nutrição e DPOC. Os dados nominais foram expressos através de análises de freqüência e os dados contínuos através de média ± desvio padrão e também através da mediana. Quando os grupos foram comparados em momentos antes e depois foi utilizado o teste qui­quadrado para as variáveis nominais e teste Mann Whitney para as variáveis contínuas. Quando comparadas amostras pareadas foi utilizada o teste de Wilxon. Foi considerado significativo um alfa menor que 0.05.
40 6 RESULTADOS Trinta pacientes portadores de DPOC foram randomizados em dois grupos sendo um grupo com reforço educacional individualizado e outro grupo sem reforço educacional individualizado. Na amostra podemos observar que houve predomínio do sexo feminino (56,7%), a idade média foi de 62,69 ±10,33 e 60% dos pacientes não tinham o primeiro grau completo enquanto 6,7% tinham grau superior. Estas características estão descritas na tabela 4, onde também podemos observar que não houve diferença entre os grupos quando comparadas as idades, sexo, escolaridade, altura, peso e IMC. Já em relação a CVF, a média foi estatisticamente maior no grupo I (p< 0,05), o que também ocorreu ao comparar a média prevista tanto da CVF quanto do VEF1. Em relação à qualidade de vida dos pacientes não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quando comparado os dois grupos.
41 Tabela 4– Características de basais de 30 pacientes de DPOC submetidos à reabilitação pulmonar
GI Reforço Educacional Individualizado 62,78 ± 10,91 10 (62,5%) 6 (37,5%) IDADE Masculino (%) Feminino (%) ESCOLARIDADE Primeiro Grau Completo (%) 4 (25%) Primeiro grau Incompleto (% ) 11 (68,75%) Segundo Grau Completo (%) 0 Segundo Grau Incompleto (%) 0 Superior (% ) 1 (6,25%) ALTURA ( cm±DP) 1,64 ± 0,01 PESO 67,55 ± 16,22 IMC 24,96 ± 5,07 CVF 2,22 ± 0,68 CVF% 64,08 ± 15,66 VEF1 1,19 ± 0,38 VEF1% 44,50 ± 12,57 VEF1/CVF 56,37 ± 17,53 TCDist antes 353,56 ± 90,80 Qualidade de Vida Sintomas Saint Georg 43,86 ± 18,36 Atividades Saint Georg 61,65 ± 25,85 Impacto Saint Georg 28,76 ± 13,12 Total Saint Georg 43,11 ± 13,98 Capacidade Funcional ­ SF36 40,36 ± 25,23 Limitação por aspectos sociais – SF 36 68,75 ± 20,07 Limitação por aspectos físicos ­ SF36 25,89 ± 16,60 Dor ­ SF36 13,36 ± 10,60 Estado geral de saúde ­ SF36 52,07 ± 26,17 Vitalidade ­ SF36 46,64 ± 12,48 Limitação por aspectos sociais ­ SF 36 68,75 ± 20,07 Limitação por aspectos emocionais – SF36 0,33 ± 0,41 Saúde Mental – SF 36 42,29 ± 16,28 a – Foi utilizado o teste Exato de Fischer b ­ Foi utilizado o teste Mann Witney ** significativo a 5% GII Sem Reforço educacional individualizado 63,07 ± 10,03 7 (50%) 7 (50%) p 0,96 a 0,37 3 (21,42%) 7 (50%) 2 (14,28%) 1 (7,14%) 1 (7,145) 1,62 ± 0,12 64,91± 18,95 24,27 ± 4,56 1,42 ± 1,08 1,69 ± 0,74 0,87 ± 0,47 33,53 ± 13,99 52,14 ± 13,47 361,24 ± 73,78 0,41 a 0,29 b 0,68 b 0,68 b p < 0,05 ** b p < 0,05 ** b 0,05 b p < 0,05 ** b 0,47 b 0,80 b 40,19 ± 24,05 69,81± 20,65 23,75 ± 13,33 40,67 ± 15,99 35,71 ± 21,91 0,64 b 0,35 b 0,31 b 0,66 b 0,68 b 64,29 ± 27,24 0,98 b 18,75 ± 15,31 12,07 ± 6,26 53,14 ± 26,80 49,29 ± 19 0,31 b 0,98 b 0,59 b 0,88 b 64,29 ± 27,24 0,68 b 0,38 ± 0,41 43,71 ± 15,57 0,62 b 0,74 b 42 Na tabela 5 estão descritas as perguntas e os percentuais de acertos entre os dois grupos ao iniciarem o programa de reabilitação pulmonar. Neste momento foi avaliado o conhecimento sobre anatomia, fisiologia, importância dos componentes de um programa de reabilitação pulmonar, uso de medicamentos e como reconhecer a exacerbação da doença. Não foi observada nenhuma diferença no conhecimento entre os grupos, embora tenha sido detectada uma tendência no grupo I com relação ao tabagismo ser o principal fator causal da doença.
43 Tabela 5– Nível de Conhecimento sobre DPOC em 30 pacientes portadores de DPOC antes do Programa de Reabilitação Pulmonar.
GI Reforço educacional individualizado n=16 GII Sem Reforço Educacional Individualizado n=14 p Toda pessoa tem dois pulmões 12 (75%) 13 (92,86%) 0,38 O pulmão é formado por brônquios e Alvéolos Os brônquios servem para colocar o ar para dentro e fora dos alvéolos Nos alvéolos é o lugar onde o oxigênio é captado para ser distribuído ar para todo seu organismo? A minha doença se chama DPOC por que ela é uma doença pulmonar Obstrutiva crônica Desenvolvi esta doença como conseqüência de ter fumado por muito tempo? Eu sinto falta de ar por que o calibre dos meus brônquios diminuiu e nos meus pulmões a ar fica aprisionado e não sai As bombinhas são importantes para mim por que contêm medicamentos que servem para dilatar meus brônquios e aliviar a minha falta de ar? As bombinhas nunca viciam como tenho uma doença crônica eu preciso do tratamento para me sentir melhor. Por isso devo usar sempre. Um efeito colateral das bombinhas que dilatam os brônquios é palpitação. Sei que isso pode acontecer, mas passa em poucos minutos. Toda vez que meu catarro amarelar pode aumentar aminha falta de ar significa que estou com piora da minha doença Embora minha doença não tenha cura, posso melhorar muito se utilizar os medicamentos de forma correta. Como minha doença causa falta de ar, ficando mais parado a minha musculatura perde a resistência e força. Logo tenho mais dificuldade de movimentação. Por isso devo manter a minha atividade física É muito importante a minha alimentação, por isso devo me alimentar de forma equilibrada, em pequenas quantidades e em diversos horários. É melhor ser assim para que meu estômago não distenda e com isso a minha falta de ar aumente. O programa de reabilitação pulmonar por meio dos diversos profissionais pode melhorar a minha qualidade de vida e o meu desempenho nas tarefas do meu dia­a dia como limpar casa, tomar banho, fazer barba... Esse programa ajuda a ganhar mais independência. 6 (37,5%) 5 (35,71%) 0,61 9 (56,25%) 8 (57,14%) 0,52 6 (37,5%) 7 (50%) 0,5 6 (37,5%) 8 957,14%) 0,63 12 (75%) 9 (64,29%) 0,07 13 (81,25%) 9 (64,295) 0,2 11 (75%) 11 (78,57%) 0,63 11 (68,15%) 10 (71,43%) 0,63 10 (62,5%) 10 (71,43%) 0,39 13 (75%) 13 (92,86%) 0,14 12 (75%) 14 (100%) 0,23 14 (87,5%) 14 (100%) 0,53 12 (75%) 12 (85,71%) 0,26 15 (93,75%) 14 (100%) 1 44 Tabela 6­ Resultados de capacidade de exercício e qualidade de vida em 30 pacientes de DPOC após o programa de reabilitação pulmonar.
GII GI TCDis DEPOIS Reforço educacional Sem reforço educacional individualizado n=16 individualizado n=14 P 452,53 ± 71,58 394,8 ± 98,35 0,09 435 (396,48; 489,075) 391,2 (296,97 ; 467,2) TCDxP DEPOIS b b 0,34 Sintomas Saint Georg DEPOIS 34,87 ± 19,011 29,78 ± 13,23 0,41 Atividade Saint Georg DEPOIS 47,18 ± 15,35 54,35 ± 15,51 0,21 Impacto Saint Georg DEPOIS 13,50 ± 9,93 14,07 ± 10,01 0,88 Total Saint Georg Depois 27,50 ± 11,60 28,78 ± 10,58 0,75 66,43 ± 23,62 62,21 0,68 Limitação por aspectos físicos SF36 29,46 ± 17,97 38,39 ± 17,31 0,11 Dor SF 36 32,29 ± 6,33 31,43 ± 6,54 0,98 Estado geral de saúde SF 36 76,4 ± 27,43 69 ± 20,94 0,59 Vitalidade SF 36 67,14 ± 20,25 69,29 ± 9,58 0,88 0,64 ± 0,44 0,71 ± 0,39 0,62 SF36 83,04 ± 23,53 89,29 ± 10,81 0,68 Saúde Mental SF 36 55,14 ± 14,65 59,43 ± 8,13 0,74 Capacidade DEPOIS Funcional Limitação por emocionais SF36 SF36 aspectos Limitação por aspectos Sociais a – Dados expressos através de média ± desvio padrão b – Dados expressos através de mediana (percentil 50; percentil 75) ­ Foi utilizado o teste Mann Wittney 45 Tanto a distância percorrida no teste de caminhada dos seis minutos quanto o trabalho de caminhada medido pelo produto distância x peso corporal não foi diferente entre os dois grupos após o programa de reabilitação (Tabela 6), sendo que é possível verificar que antes e após a reabilitação pulmonar também não houve mudança na qualidade de vida avaliadas através do questionário Saint George e SF36. Quando comparamos os resultados obtidos no Questionário Saint George de qualidade de vida antes e após a reabilitação em cada grupo estudado, foi possível observar uma melhora significativa, ou seja, com redução superior a 4%, em todos os domínios tanto no grupo submetido a reforço individual (Sintomas: antes 43,86 ± 18,36 vs. depois 34,87 ± 19,011 , Atividades: antes 61,65 ± 25,85 vs. depois 47,18 ± 15,35 ; Impacto: antes 28,76 ± 13,12 vs. depois 13,50 ± 9,93 . e Total: antes 43,11 ± 13,98 vs. depois 27,50 ± 11,60 ) quanto no grupo sem reforço individual (Sintomas: antes 40,19 ± 24,05 vs. depois 29,78 ± 13,23 , Atividades: antes 69,81 ± 20,65 vs. depois 54,35 ± 15,51 ; Impacto: antes 23,75 ± 13,33 vs. depois 14,07 ± 10,01 e Total: antes 40,67 ± 15,99 vs. depois 28,78 ± 10,58 ). A fig 1 e 2 demonstram a melhora ocorrida intra grupos. Antes Sant Georg Saint Geor ge Crupo I ­ Antes X Depois . Gr upo I – Antes X Depois
70 Depois 61,65 60 50 40 43,86 47,18 43,11 34,87 28,76 30 20 27,5 13,5 10 0 sintomas atividade impacto total 46 Sant Georg Saint George Crupo II ­ Antes X Depois Gr upo II – Antes X Depois
P < 0,05 80 Antes Depois 70 69,81 54,35 60 50 40,67 40,19 40 29,78 28,78 30 23,75 20 14,07 10 0 sintomas atividade impacto total Figura 2: Qualidade de vida no GII, sem reforço individual, medido através do Questionário Saint George. Quando comparamos os resultados obtidos no SF 36 de qualidade de vida antes e após a reabilitação em cada grupo estudado, foi possível observar uma melhora significativa, ou seja, em quase todos os domínios tanto no grupo submetido a reforço individual (GI Lim. Aspec. Sociais: antes 68,75 ± 25,85 vs. depois 68,75 ± 20,07 ; Dor. 13,36 ± 10,60 vs. depois 32,29 ± 6,33, Estado Geral de Saúde 52,07 ± 26,17vs. depois 76,4 ± 27,43, Vitalidade 46,64 ± 12,48 vs. depois 67,14 ± 20,25 e Saúde mental 42,29 ± 16,28. vs. depois 55,14 ± 14,65) quanto no GII (Capacidade funcional 35,71 ± 21,91 vs. depois 62,21, Lim. Aspec. Sociais: antes 64,29 ± 27,24 vs. depois 89,29 ± 10,81 ; Lim. Aspec. Físicos 18,75 ± 15,31 vs. depois 38,39 ± 17,31, Dor. 12,07 ± 6,26 vs. depois 31,43 ± 6,54, Estado Geral de Saúde 53,14 ± 26,80 vs. depois 69 ± 20,94, Vitalidade 49,29 ± 19 vs. depois 69,29 ± 9,58 e Saúde mental 43,71 ± 15,57. vs. depois 59,43 ± 8,13). No item limitação de aspectos físicos e aspectos emocionais não ocorreram alterações estatísticas no GI e estado geral de saúde e aspectos emocionais no GII. 47 Tabela 7 – Qualidade de vida avaliada através do questionário SF36 em 30 pacientes portadores de DPOC antes e após o programa de reabilitação pulmonar.
SF36 GI GII n=16 n=14 Antes Depois p Antes Depois p Capacidade Funcional 40,36 66,43 p=0,09 35,71 62,21 p=<0,05 Lim. Aspec. Sociais 68,75 83,04 p=<0,05 64,29 89,29 p=<0,05 Lim. Aspec. Físicos 25,89 29,46 p=0,62 18,75 38,39 p=<0,05 Dor 13,36 23,29 p=<0,05 12,07 31,43 p=<0,05 Saúde 52,07 76,4 p=<0,05 53,14 Vitalidade 46,64 67,14 p=<0,05 49,29 69,29 p=<0,05 Aspectos emocionais 0,33 0,64 0,38 0,71 Saúde mental 42,29 55,14 p=<0,05 43,71 59,43 p=<0,05 Estado Geral de p=0,12 69 p=0,94 p=0,11 48 Tabela 8. Nível de Conhecimento sobre DPOC em 30 pacientes portadores de DPOC após término do Programa de Reabilitação Pulmonar.
Reforço Sem reforço Educacional educacional Individualizado individualiza n=16 do n=14 p Toda pessoa tem dois pulmões 16 (100%) 14 (100%) 1 O pulmão é formado por brônquios e alvéolos Os brônquios servem para colocar o ar para dentro e fora dos alvéolos Nos alvéolos é o lugar onde o oxigênio é captado para ser distribuído ar para todo seu organismo? A minha doença se chama DPOC por que ela é uma doença pulmonar obstrutiva crônica Desenvolvi esta doença como conseqüência de ter fumado por muito tempo? Eu sinto falta de ar por que o calibre dos meus brônquios diminuiu e nos meus pulmões a ar fica aprisionado e não sai As bombinhas são importantes para mim por que contém medicamentos que servem para dilatar meus brônquios e aliviar a minha falta de ar? As bombinhas nunca viciam como tenho uma doença crônica eu preciso do tratamento para me sentir melhor. Por isso devo usar sempre. Um efeito colateral das bombinhas que dilatam os brônquios é palpitação. Sei que isso pode acontecer, mas passa em poucos minutos. Toda vez que meu catarro amarelar pode aumentar a minha falta de ar significa que estou com piora da minha doença Embora minha doença não tenha cura, posso melhorar muito se utilizar os medicamentos de forma correta. Como minha doença causa falta de ar, ficando mais parado a minha musculatura perde a resistência e força. Logo tenho mais dificuldade de movimentação. Por isso devo manter a minha atividade física É muito importante a minha alimentação, por isso devo me alimentar de forma equilibrada, em pequenas quantidades e em diversos horários. É melhor ser assim para que meu estômago não distenda e com isso a minha falta de ar aumente. O programa de reabilitação pulmonar por meio dos diversos profissionais pode melhorar a minha qualidade de vida e o meu desempenho nas tarefas do meu dia­a dia como limpar casa, tomar banho, fazer barba... Esse programa ajuda a ganhar mais independência. 16 (100%) 13 (92,85%) 0,47 16 (100%) 13 (92,85%) 0,47 16 (100%) 12 (85,71%) 0,21 16 (100%) 12 (85,71%) 0,21 16 (100%) 12 (85,71%) 0,21 16 (100%) 14 (100%) 1 16 (100%) 14 (100%) 1 16 (100%) 12 (85,71%) 0,21 16 (100%) 14 (100%) 1 16 (100%) 14 (100%) 1 16 (100%) 14 (100%) 1 16 (100%) 14 (100%) 1 16 (100%) 14 (100%) 1 16 (100%) 14 (100%) 1 49 A tabela 08 representa o Nível de Conhecimento sobre DPOC em 30 pacientes portadores de DPOC após término do Programa de Reabilitação, e nela podemos observar que não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa no percentual das respostas, quando também comparado o grupo com aulas coletivas educativas e individualizada com o grupo que recebeu apenas educação coletiva. Também podemos observar que houve acerto de 100% nas perguntas, independente do grupo estudado. P<0,05 P<0,05
Figura 3: Comparando os resultados antes e depois do teste de conhecimento Podemos observar que houve aumento significativo em relação ao percentual de acertos no teste de conhecimento depois da reabilitação, quando comparado com o momento antes da reabilitação. Para o grupo de pacientes observados que tiveram educação individualizada, o percentual de acertos passou de 70,83% para 100% e, no grupo de pacientes sem educação individualizada, o percentual de acertos passou de 75% de acertos para 95%. Em ambos os grupos a diferença foi considerada estatisticamente significativa. (P< 0,05). No entanto, quando comparados os grupos entre si, não foram encontradas diferenças significativas entre eles. 50 7 DISCUSSÃO Este é o primeiro estudo brasileiro que se tem conhecimento que avaliou a influência da educação na qualidade de vida de portadores de DPOC num programa de reabilitação pulmonar. Da mesma forma, foi estudado o papel do enfermeiro como interventor de um reforço educacional para estes mesmos pacientes. Por meio destes dados foi possível demonstrar que ambos os grupos apresentaram melhoras significativas no nível de conhecimento sobre a doença, bem como na qualidade de vida, mas que o reforço educacional individual não trouxe nenhum benefício. Um programa de reabilitação pulmonar compreende o envolvimento de vários profissionais, com um custo elevado, e a definição de estratégias específicas avaliando a real necessidade de cada intervenção passa a ter um papel fundamental como elemento de pesquisa. A educação do paciente é considerada um componente central num programa de reabilitação, embora haja consenso da dificuldade de mensuração desta contribuição quando se avalia os desfechos do programa (Nici; Wouters; Zuwallack; 2006). Neste sentido, a intervenção educativa tem como objetivo fornecer conhecimento ao paciente para que ele seja capaz de desenvolver habilidade de se auto manejar. Assim, através do melhor conhecimento da doença, do uso das medicações, da importância do exercício físico, dos aspectos nutricionais e emocionais espera­se uma mudança de comportamento capaz de proporcionar uma melhor condição de saúde. Embora não tenha sido avaliado neste estudo, a intervenção educacional tem auxiliado na redução pela procura dos serviços de saúde, reduzindo as hospitalizações em 57,1%, visitas as emergências em 41% e consultas extras em 58,9% melhorando a qualidade de vidas dos pacientes portadores de DPOC (Bourbeau; et al. 2003). Outro estudo realizado por
51 (Gallefos 2003) demonstrou que o grupo de pacientes com DPOC que foram submetidos a um processo educacional reduziram o número de visitas ao médico em 75% comparados aos 15% de redução no grupo sem educação. Este mesmo autor demonstrou uma redução na dosagem dos medicamentos para alívio da dispnéia e uma redução significativa nos custos de tratamento. (Gallefos ,2003) Pacientes com DPOC freqüentemente são segregados da sociedade e, na sua maior parte, recebem tratamento fragmentado e incompleto, fato provocador de baixa qualidade de vida para si e seus familiares. Neste estudo foram usados os questionários de Qualidade de Vida Saint George e SF­36, ambos amplamente aplicados para portadores de DPOC, além de um criado para avaliar o conhecimento específico sobre anatomia, fisiologia, causa da doença e suas repercussões. Observou­se neste estudo, mediante os questionários de qualidade de vida, que a intervenção educativa com reforço individual não interferiu nos resultados do programa. No entanto, tanto o GI como GII tiveram melhora significativa em termos de qualidade de vida, ao analisarmos os resultados antes e após o programa. O questionário de Saint George, mais específico para portadores de DPOC, mostrou melhora significativa em todos os domínios, isto é, nos sintomas, atividades, impacto e no total de pontos. Quando o questionário SF­36 foi analisado, sendo este um questionário mais amplo e, portanto, não específico para portadores de DPOC, também foi possível observar melhora na maioria dos itens em cada grupo. Outro aspecto que deve ser analisado é o fato de que todos os pacientes, em ambos os grupos, apresentaram melhora no nível de conhecimento específico demonstrados quando o questionário foi reaplicado no final do programa. Estes achados acrescentam informações importantes com relação a necessidade da intervenção educativa, mas não demonstrou vantagem na alocação de um profissional para reforçar o ensino. Quando analisado questão por questão, as modificações nas respostas não foram estatisticamente significativas, porém ao analisar o questionário como um todo, na educação individualizada os pacientes acertaram todas as questões ao término da reabilitação pulmonar. Para o grupo de pacientes que tiveram educação individualizada, o percentual de acertos passou de 70,83% para 100% e no grupo de pacientes sem educação individualizada, o percentual de acertos passou de 75% de acertos para 95%. Em ambos os grupos a
52 diferença foi considerada estatisticamente significativa (p< 0,05). A melhora na capacidade de exercício medido através da distância percorrida no teste de caminhada dos seis minutos não foi diferente entre os dois grupos, apesar de ter sido significativa a melhora tanto no GI quanto no GII. Estes mesmos resultados foram observados no trabalho de caminhada, medido através do produto da distância percorrida pelo peso corporal do paciente. A avaliação destes desfechos que avaliam a capacidade de exercício nos pacientes submetidos ao programa de reabilitação são dependentes do treinamento físico e sofrem pouca influência dos demais aspectos conforme já foi demonstrado por Godoy e cols. , ressaltando que a melhora na qualidade de vida é mais significativa quando os demais componentes do programa estão associados. (Godoy et al. 2005) Segundo o GOLD (2007) a educação do paciente não melhora por si só o desempenho físico ou a função pulmonar, ela pode atuar no sentido de melhorar não só habilidades específicas, mas também a condição de se lidar com a doença e a qualidade de vida (90). Além disso, a educação do paciente é eficaz no alcance de certos objetivos específicos, incluindo a cessação do tabagismo, (Evidência A), propiciando discussões e entendimento sobre orientações prévias e questões sobre a fase terminal da doença (Evidência B) e melhorando as respostas dos pacientes a exacerbações (Evidência B).
53 CONCLUSÕES 1. Ocorreu melhora significativa no nível de conhecimento dos pacientes sobre a sua doença, auxiliando na melhora da qualidade de vida, medido através dos questionários Saint George e SF­36 de qualidade de vida. 2. A estratégia educativa aplicada pelos diversos profissionais foi eficaz para melhorar o nível de conhecimento dos pacientes portadores de DPOC. 3. O reforço educacional individual não apresentou vantagens sobre a educação coletiva neste grupo de pacientes estudados.
54 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ACSM – American College of Sports Medicine. Guidelines for Exercise Testing and Prescription. WILLIAMS & WILKINS. 5ª ed.Copyright. 1995. de J. (John) Mantas, Arie Hasman ­ Medical ­ 2002 ­ 504 páginas Washington, DC: ANA (1992). [8] American Nurses Association. Standards of clinical nursing practice. Washington, DC: ANA (1991). ATS Statment, 2002. AMERICAN THORACIC SOCIETY. ATS STATMENT: Guidelines For The­six­minute Walk test. AMJ Respir crit care med. v.166, p.111­ 117, 2002. ATS – Skeletel Muscle Dysfunction in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit care Med vol 159,p.s1­s40, 1999 (Bourbeau J; Marcel J; Maltais F; Rouleau M; Beaupré A; Bégin R; Renzi P; Nault D; Borycki E et al. Reduction of Hospital Utilization in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Arch Intern Med 2003;163:585­591) BARTLETT, E.E. Editorial: At last, a definition. Patient Educ.Couns. v. 7, p. 323­324, 1985. BENDSTRUP K.E.; INGEMANN Jensen J.; HOLM S.; BENGTSSON B. Out­patient rehabilitation improves activities of daily living, quality of life and exrecice tolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J, 10:2801­06, 1997. BETHLEM,N. Pneumologia.4ed Atheneu, SP, RJ, BH:2000 BETTENCOURT, Ana Rita de Cássia Educacao de pacientes portadores de asma brônquica: atuacao da enfermeira / Patient education carriers of bronchial asthma: acting of nurses., Sao Paulo; s.n; 1998. 110 p. ilus, tab. BORG, Gunnar. Escalas de Borg para a Dor e o Esforço Percebido. São Paulo: Manole, 2000.
55 BRAZIER JE, Harper R, Jones NMB, O'cathain A, Thomas KJ, Ushe Wood T, Westlake L. Validating the SF­36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. Br Med J 1992; 6846 (305): 129­202. BRITTO, R. R; SANTOS, C. F. F; BUENO, F. F. Reabilitação Pulmonar e Qualidade de Vida dos Pacientes Portadores de DPOC. Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.9, n.1, p.9­16, jan/jun., 2002. BRUNNER, L.S. ;SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico­cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 4 v. BRUNETTO; A. F; PAULIN; E; YAMAGUTI, W. P. S. Comparação entre a escala de borg modificada e a escala de borg análogas visuais aplicadas em pacientes com dispnéia. Revista Brasileira de Fisioterapia. v. 6 n. 1. Londrina, 2002. CASABURI, R. Considerações Especiais para o Treinamento com Exercícios. In: ROITMAN, J.L. American College of Sports Medicine. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 349­353, 2003. CASTRO, M. et. al Qualidade de vida de pacientes com Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise avaliada através do instrumento genérico SF­36. Revista da Associação Médica do Brasil. Vol.49– nº 3. 2003 CICONELLI, Rozana M., et al.. Tradução para língua portuguesa e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF­36 (Brasil SF­36). Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, v.39, n.3, p.143­150, mai.­ jun.,1999 CICONELLI RM. Tradução para o português e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida "Medical Outcomes Study 36­item Short­form health survey (SF­36). [dissertação]. São Paulo (SP): Universidade Federal de São Paulo­ Escola Paulista de Medicina; 1999 II Consenso Brasileiro sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 30. supl. 5, nov. 2004. CELLA DF, Tulsky DS. Measuring quality of life today: methodological aspects. Oncology 1990; 4(5): 29­38 CELLI, B. R.,et al., Population impact of different definitions of airw ay obstruction. Eur. J. 2004; 22:268­273. Disponível em: Http://www:scielo.com.br. Acesso em 04/02/06 CLARK C. J.; COCHRANE L.M.; MACKAY E. PATON B. Skeletal muscle strength and endurance in patints with mild COPD and the effects of weight training. Eur
56 Respir J, 15:92­97, 2000. CÔRREA DA SILVA, L. C. Condutas em Pneumologia, v.1Revinter, RJ, 2001 COSTA, D; JAMAMI, M. Bases fundamentais da Espirometria. Revista Brasileira de Fioterapia. v. 5 Nº2 (2001). _________, D; JAMAMI, M. Bases fundamentais da Espirometria. Revista Brasileira de Fioterapia. v. 5 Nº2 (2001). COSTA, P. C; OZEKI,C.M; VELLOSO, M., Métodos de Mensuração da Dispnéia. Rev. Reabilitar 15: 26­31,2002 CUKIER, A.; FERNANDES, F. Dispnéia. Curso de Atualização em DPOC. Disponível em: <http://www.pneumoatual.com.br>. Acesso ed 10 de Outubro de 2006. _________, A.; LUNDGREN, F.; JARDIM, J. R.; OLIVEIRA, J.A. Estratégia Global para o Diagnóstico, a conduta e a Prevenção da Doença Pulmonar obstrutiva Crônica Relatório do Painel de Estudos do NHLB/OMS. Global Initiative for Chronic Disease. São Paulo, 1998. DATASUS. Caderno de Informações de Saúde, dados de 2000. Disponível em: http:// www.datasus.gov.br. Acesso em: 13 de junho de 2004. DOURADO, Z. D; GODOY, I., Recondicionamento muscular na DPOC: principais intervenções e novas tendências. Rev. Bras Méd Esporte­vol10,n°4­jul/ago,2004 FARINATTI, P.. T. V; MONTEIRO, W. D. fisiologia e Avaliação Funcional. RJ:4ª edição: Sprint, 2000 FRONTEIRA, W. R, et al., Exercício Físico e Reabilitação. Porto Alegre: Artmed, 2001. GOLD: Disponível em:www.Gold.com.br. Acesso em junho de 2006. GOSSELINK, R TROOSTER, T. DECRAMER M. Distribution muscle weakness in patients with stable choronic obstructive pulmonary disease. J Cardiopulm Rehabil, 20:353­60, 2000. ___________, R TROOSTER, T. DECRAMER M. Peripheral muscle weakness contributes to exercise limitation in COPD. Am J. Respir Crit Care Med, 153:976­ 80, 1996. GALLEFOS F. The effects of patient education in CPOD in a 1­year follow­up randomised, controlled trial. Patient Educ Couns 2004;52(3):259­266 GODOY DV; Godoy RF; Junior BB; Vaccari PF; Miichelli M; Teixeira PJZ, Palombini BC. O efeito da assistência psicológica em um programa de reabilitação pulmonar para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. J Bras
57 Pneumol 2005;31(6):499­505 GRAY­DONALD K.; GIBBONS L. SHAPIRO S.H. et al. Nutricional status and mortality in chonic obstructive pulmonary disease. Am J Resp Crit Care Med, 153:961­6,1996. GREEN R.H.; SINGH S.J.; WILLIAMS J.; MORGAN M.D.L. A rondomised controlled trial of four weeks versus seven weeks of pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax, 56(2): 143­5, 2001. _________R.H.; SINGH S.J.; WILLIAMS J.; MORGAN M.D.L. A rondomised controlled trial of four weeks versus seven weeks of pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax, 56(2): 143­5, 2001. GRIFFITHS T.L.; BURR M.L.; CAMPBELL I.A. et al. Results at 1 year of outpatient mutidisciplinary pulmonary reabilitation: a randomised controlled trial. The Lancet, 355:362­8, 2000. HETZEL, L. J.; SILVA, L. C. C. Doença pulmonar Obstrutiva Crônica. In: Condutas em Pneumologia. Rio de Janeiro: Revinter , 2001. JAMAMI, M., et al., Efeitos da Intervenção Fisioterápica na Reabilitação Pulmonar de Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) Rev. Fisioter. Univ. São Paulo, v.6,n.2,p.140­53,jul./dez.,1999. JARDIM, José R. Hiperinsuflação pulmonar em DPOC. Curso Atualização 2004 em DPOC. SIED/PneumoAtual. Disponível em: <http://www.pnemoatual.com.br>. Acesso em: 10 de abril de 2005. JONES P.W.;QUIRK F.H.; BAVEYSTOCK C.M.; LITTLEJOHNS P. A self­complete measure of helth status for chronic airflow limitation. The St. George`s Respiratory Questionnaire. Am Rev Respir Dis, 145:1321­7, 1992. MAHLER, D.A.Pulmonary Rehabilitation. Chest1998; 113:263S­2638S MAIMAN L, Green LW, Gibson G, Mackenzie EJ. Education for self treatment by adult asthmatics. JAMA 1979;241:1919­22 MARCHI, Ricardo de. Promoção de saúde­ Os desafios da Superação. Disponível em:< http://www.abqv.org.br/artigos009.php. Acesso em 06/07/2004. MARQUES, A. M. B; COELHO, C; CAVALHEIRO, L. V., Dispnéia em DPOC: relação entre a limitação ao exercício e as atividades de vida diária. Reabilitar 2004(6):20­23 MARTINS, N. J. E. C., AMARAL, R. O. Reabilitação Pulmonar e Qualidade de Vida em Pacientes com DPOC. Lato & Senso, Belém, v. 4, n. 1, p. 3­5, out. 2003. MEZOMO JC. Qualidade hospitalar: reinventando a administração do hospital.
58 São Paulo: MEMISA, 1992. MOREIRA, M. A. C; MORAES, M. R; TANNUS, R., Teste de Caminhada de Seis Minutos em pacientes com DPOC durante programa de reabilitação. J. Pneumologia vol.27 n.6São Paulo Nov/Dec.2001. 1­12 Disponível em http://wwwscielo.br. Acesso em 02/02/06. NICI L; Donner C; Wouters E; Zuwallack R; Ambrosino N. et al. Am J Respir Crit Care Med 2006;173:1390­1413) NEEDHAM, M; STOCKEY,R.A., deficiência de Alfa1­Antitripsina Manifestações Clínicas e História Natural. Tórax 2004;59:441­445 O`DONNELL D. E.; Ventilatory limitations in chronic obstructive pulmonary disease. Med Sci Sports Exerc, 33(7) S647­55, 2001. OLIVEIRA, J. C.; JARDIN, J. R. B.; RUFINO, R.. I Consenso Brasileiro de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Jornal de Pneumologia, v.26, 2000 OLIVEIRA, Carla Tatiana Martins de. Efeitos a curto prazo de um programa multidisciplinar de reabilitação pulmonar em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. Porto Alegre: UFRGS, 2004. Dissertação (Mestrado em Pneumologia), Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. PALANGE, P; FORTE S.; ONORATI P. et al. Effect of reduced body weight on muscle aerobic capacity in patients with COPD. Chest, 114:12­18, 1998. PALOMBINI, B. C. Doenças das Vias Aéreas­uma visão clínica integrada. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. ___________, B. C.; GODOY, D.V. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. In: Palombini, B. C. Doenças das Vias Aéreas ­ uma visão clínica integradora. Rio de Janeiro: Revinter, 2001, 321­333 p. PIVA, A. L. Estado Nutricional e Doença Pulmonar: Uma Revisão Bibliográfica.Fisioterapia em Movimento­vol.VIII,n2,out/março,1996 PRODANOV, C.,C. Manual de metodologia científica,3ª ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2005. PRYOR, J. A; WEBBER, B. A. Fisioterapia para Problemas Respiratórios e Cardíacos. 2ª ed .RJ: Guanabara Koogan. RJ. 2002. RABINOVICH, R.A. Evaluación de la tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC. Prueba de marcha de 6 minutos. Arch Broncopneumol 2004;40(2):80­5. RAMOS­CERQUEIRA, A. T. A. R.; CREPALDI, A. L. Qualidade de Vida em Doenças Pulmonares Crônicas: aspectos conceituais e metodológicos. Jornal de pneumologia, v. 26 n. 4, 2000. Disponível em <http://www.scielo.br>. Acesso em 25
59 de Abril de 2006. RODRIGUES Sérgio L.; VIEGAS Carlos A. A.. Estudo de correlação das provas funcionais respiratórias e o teste de caminhada de seis minutos em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Jornal de Pneumologia. São Paulo, v.28, n.6, p.324­8, nov. 2002. SCHOLS, A.M.W.J.; MOSTERT R.; SOETERS P.B., et al. Body composition and exercise performace in pacients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax, 46:695­699,1991 ___________, A.M.; SLANGEN J., VOLOVIS L. et al. Weigth loss is a reversible factor in the prognosis of chronic obstruction pulmonary disease. Am J Resp Crit Care Med, 157: 1791­97, 1998 SILVA Denise M.G.V. et al. Qualidade de vida na perspectiva de pessoas com problemas respiratórios crônicos: a contribuição de um grupo de convivência. Revista Latino Americana de Enfermagem. Ribeirão Preto, v.13, n.1, p.7­14, jan.­ fev. 2005 SILVA, L. C., et al. Avaliação Funcional Pulmonar. RJ: Revinter, 2000. SIMPSON K.; KILLIAN K.; McCARTNER N. et al. Randomised controlled trial of weightlifting exercise in patients with chronic airflow limitation. Thorax, 47:70­ 5,1992. SMELTZER C.Suzane; BARE G.Brenda Brunner & Suddart: Tratado de Enfermagem Médico­Cirúrgica. 9ª.ed. Vol 1. Rio de Janeiro: Guanabarra Koogan, 2002. SMITH, M; BALL, V. Cardiorrespiratório para Fisioterapeutas. Ed Premier, SP, 2004 SOUZA, T. C.; JARDIM, J. R; JONES, P. Validação do Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ) em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica no Brasil. J. Pneumologia., v.26, nº.3. SP. Mai/Jun. 2000. Disponível em: <www.scielo.br>.Acesso em:04/04/2006. TARANTINO, A. B. Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan: 1997. TEIXEIRA, P. J. Z.; CELLI, B. Reabilitação Pulmonar em Pacientes Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. In: Palombini, B. C. Doenças das Vias aéreas ­ uma visão clínica e integradora. 1° ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 365­ 369 p. WARE JJ, Sherbourne CD. The MOS 36 item short­form health survey (SF­36). I conceptual framework and item selection. Med Care 1992; 30: 473­83. _________ JE Jr. SF­36 health survey: manual & interpretation guide. Quality
60 metric incorporated. Lincoln Rhode Island; 1993. 293 p. VELOSO U, MONTEIRO Wallace, FARINATTI, Paulo. Exercícios contínuos e fracionados provocam respostas cardiovasculares similares em idosas praticantes de ginástica? Rev Bras Med Esporte v.9,n.2:78­84, 2003. WIJKSTRA, P.J.; MARK T.W.; KRAAN J. et al. Long­term effects of home rehabilitation on phsical performance in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Resp J., 9:104­110,1996. ZANCHET, R. C; VIEGAS, C. A; LIMA, T. A eficácia da reabilitação pulmonar na capacidade de exercício, força da musculatura inspiratória e qualidade de vida de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. J. Pneumologia., v.31, nº.2. SP. Mar./Abr. 2005. Disponível: <www.scielo.br>. Acesso em: 23/03/2005.
61 ANEXOS
62 ANEXO A Projeto: Impacto da educação individual em programa de reabilitação pulmonar para portadores de DPOC. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO O Senhor (a) está sendo convidado a participar de um estudo que irá avaliar a eficácia da educação individual no programa de reabilitação pulmonar. Você sabe que tem uma doença chamada Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e que com o tempo a falta de ar passou a lhe impedir de fazer o que antes fazia. Você cansa mais para atividades do dia­a­dia, tais como caminhar no plano, tomar banho, arrumar a casa etc... A reabilitação pulmonar é uma modalidade de tratamento que através da união de vários profissionais (médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, educador físico, nutricionista) você passa a ter um atendimento completo e a entender melhor sua doença sob todos os aspectos que ela possa lhe atingir. Desta forma, durante três meses, após realizar uma avaliação com todos estes profissionais, você receberá um atendimento três vezes por semana visando melhorar sua condição física. Neste período você fará exercícios físicos (de acordo com sua capacidade), receberá instruções quanto a alimentação, condições de higiene, apoio emocional e irá adquirir conhecimento sobre sua doença e medicações que utiliza. Você irá conviver com outras pessoas na mesma situação que você e terá oportunidade de trocar idéias e buscar soluções para viver melhor. O exercícios físicos serão realizados numa esteira ergométrica e em bicicletas. Também serão utilizados aqueles aparelhos que estão disponíveis nas academias de ginástica, para que você se exercite. Você precisará responder a alguns questionários que nos darão informações sobre a sua qualidade de vida e sobre o seu conhecimento sobre a doença que possui. Se em algum momento você não quiser mais participar do estudo, não quiser mais dar informações sobre a sua saúde, não tem problema. Você é livre e possui todo o direito de sair do estudo quando quiser. A sua participação neste estudo é importante, porque através dele estaremos juntando dados que comprovem que este tipo de tratamento melhora a qualidade de vida de pessoas com esta doença. Confidencialidade Os pacientes inscritos neste estudo têm direito à confidencialidade. Os relatórios da pesquisa serão codificados e separados ou completamente desvinculados dos nomes dos participantes. Desta forma, sua identidade será protegida, mantendo seu anonimato. Perguntas/Preocupações Se o(a) senhor(a) tiver alguma pergunta ou preocupação relacionada ao estudo, ou alguma dificuldade em realizar a reabilitação pulmonar, entre em contato, a qualquer momento, com o Enfermeiro Valdecir Lutz pelo telefone 92817666 ou com o Dr Paulo Teixeira pelo telefone 99678585. Eu, ____________________________________, abaixo assinado(a), estou ciente que: A natureza desta pesquisa foi explicada para _________________________________________________________________. Eu aceito participar deste estudo. Assinado(a)________________________________________________________ Pesquisador________________________________________________________ Testemunha________________________________________________________ Data__________________________________
mim por 63 QUALIDADE DE VIDA (SF­36) Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor solicite ajuda e tente responder o melhor que puder. 1 – Em geral, você diria que a sua saúde é: ( 1 ) Excelente ( 2 ) Muito Boa ( 3 ) Boa ( 4 ) Ruim ( 5 ) Muito ruim 2 – Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? ( 1 ) Muito melhor agora do que a um ano atrás. ( 2 ) Um pouco melhor agora do que há um ano. ( 3 ) Quase a mesma de um ano atrás. ( 4 ) Um pouco pior agora do que a um ano atrás. ( 5 ) Muito pior agora do que a um ano atrás. 3 – Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? ATIVIDADES SIM. SIM. NÃO. NÃO DIFICULTA DIFICULTA DIFICULTA DE MUITO UM MODO ALGUM POUCO a) Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais como correr, levantar objetos pesados, participar em esportes árduos b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa c) Levantar ou carregar mantimentos d) Subir vários lances de escada e) Subir um lance de escada f) Curvar­se, ajoelhar,­se ou dobrar­se g) Andar mais de 1 quilômetro h) Andar vários quarteirões i) Andar um quarteirão j) Tomar banho ou vestir­se 4 – Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como conseqüência de sua
64 saúde física? SIM NÃO a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (por exemplo: necessitou de um esforço extra)? 5 – Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como sentir­se deprimido ou ansioso)? SIM NÃO a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz? 6 – Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, vizinhos, amigos ou em grupo? ( 1 ) De forma alguma ( 2 ) Um pouco ( 3 ) Moderadamente ( 4 ) Bastante ( 5 ) Extremamente 7 – Quanta Falta de ar você teve durante as últimas 4 semanas? ( 1 ) Nenhuma ( 2 ) Muito leve ( 3 ) Leve ( 4 ) Moderada ( 5 ) Grave ( 6 ) Muito grave
65 TOD O TEMP O A MAIOR PARTE DO TEMPO UMA BOA PARTE DO TEMPO ALGUMA PARTE DO TEMPO UMA NUNC PEQUENA A PARTE DO TEMPO a) Quanto tempo você tem se sentido cheio de vigor, cheio de vontade, cheio de força? b) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa muito nervosa? c) Quanto tempo você tem se sentido tão deprimido que nada pode animá­lo? d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou tranqüilo? e) Quanto tempo você tem se sentido com muita energia? f) Quanto tempo você tem se sentido desanimado e abatido? g) Quanto tempo você tem se sentido esgotado? h) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa feliz? i) Quanto tempo você tem se sentido cansado?
8 – Durante as últimas 4 semanas, quanto a falta de ar interferiu com o seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho, fora e dentro de casa)? ( 1 ) De forma alguma ( 2 ) Um pouco ( 3 ) Moderadamente ( 4 ) Bastante ( 5 ) Extremamente 9 – Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido, com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente em relação às 4 últimas semanas. 10 – Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problema emocionais interferiram com as suas atividades casuais (como visitar amigos, parentes, etc.)? ( 1 ) Todo o tempo ( 2 ) A maior parte do tempo ( 3 ) Alguma parte do tempo ( 4 ) Uma pequena parte do tempo ( 5 ) Nenhuma parte do tempo 66 11 – O quanto verdadeiro ou falso é cada um das afirmações para você? DEFINITIVAM A MAIORIA NÃO A DEFINITIV ENTE DAS VEZES SEI MAIORIA AMENTE VERDADEIRO VERDADEI DAS FALSA RO VEZES FALSA a) Eu costumo adoecer um pouco mais facilmente que as outras pessoas b) Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa que eu conheço c) Eu acho que a minha saúde vai piorar d) Minha saúde é excelente
67 ANEXO B QUESTIONÁRIO DO HOSPITAL SAINT GEORGE NA DOENÇA RESPIRATÓRIA Este questionário nos ajuda a compreender até que ponto a sua dificuldade o perturba e afeta a sua vida. Nós o utilizamos para descobrir quais os aspectos de sua doença que causam mais problemas. Estamos interessados em saber o que você sente e não o que os médicos, enfermeiras e fisioterapeutas acham que você sente. Leia atentamente as instruções. Esclareça as dúvidas que tiver. Não perca muito tempo nas suas respostas. PARTE 1 Nas perguntas a seguir, assinale aquela que identifica seus problemas respiratórios nos últimos três meses. Assinale um só quadrado para as questões de 1 a 8: Maioria dos Vários dias Alguns Só com Nunca dias da da semana dias do mês infecções semana (05­ (02­04) respiratórias 07 dias) 1. Durante os últimos três meses tossi 2. Durante os últimos três meses tive catarro 3. Durante os últimos três meses tive falta de ar 4. Durante os últimos três meses tive chiado no peito 5. Durante os últimos três meses, quantas vezes você teve crises graves de problemas respiratórios: Mais de 3 3 2 1 Nenhuma
68 6. Quanto durou a pior dessas crises? (Passe para a pergunta 7 se não tiver crises graves) 1semana mais ou 3 ou mais dias 1 ou 2 dias Menos de 1 dia 7. Durante os últimos três meses, em uma semana considerada com habitual, quantos dias bons (com poucos problemas respiratórios) você teve: Nenhum dia 1 ou 2 dias 3 ou 4 dias Quase todos os dias 8. Se você tem “chiado no peito”, ele é pior de manhã? Sim Não PARTE 2 Seção 1 Assinale um quadrado para descrever a sua doença respiratória: È meu problema maior Me causa muitos Me causa alguns Não me causa problemas problemas nenhum problema Se você já teve um trabalho pago, assinale um dos quadrados: (passe para a seção 2 se você não trabalha). Minha doença respiratória me obrigou a parar de trabalhar Minha doença respiratória interfere (ou interferiu) com o meu trabalho normal ou já me obrigou a mudar de trabalho Minha doença respiratória não afeta (ou não afetou meu trabalho)
69 Seção 2 As perguntas abaixo referem­se às atividades que normalmente têm provocado falta de ar em você nos últimos dias. Assinale com um “X” no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta SIM ou NÃO, de acordo com seu caso: SIM NÃO Sentado/a ou deitado/a Tomando banho ou vestindo Caminhando dentro de casa Caminhando em terreno plano Subindo um lance de escada Subindo ladeiras Praticando esportes ou jogos que impliquem esforço físico Seção 3 Mais algumas perguntas sobre a sua tosse e a sua falta de ar nos últimos dias. Assinale com um “X” no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando SIM ou NÃO, de acordo com seu caso: SIM NÃO Minha tosse me causa dor Minha tosse me cansa Tenho falta de ar quando falo Tenho falta de ar quando dobro o corpo para frente Minha tosse ou falta de ar perturba meu sono Fico exausto/a com facilidade Seção 4 Perguntas sobre outros efeitos causados pela sua doença respiratória nos últimos dias. Assinale com um “X” no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta SIM ou NÃO, de acordo com o seu caso: SIM NÃO Minha tosse ou falta de ar me deixam envergonhado/a em público Minha doença respiratória é inconveniente para minha família, amigos ou vizinhos Tenho medo ou mesmo pânico quando não consigo respirar Sinto que minha doença respiratória escapa ao meu controle Eu não espero nenhuma melhora da minha doença respiratória Minha doença me debilitou fisicamente, o que faz com que eu precise da ajuda de alguém Fazer exercício é arriscado para mim Tudo o que eu faço parece ser um esforço muito grande
70 Seção 5 Perguntas sobre a sua medicação Assinale com um “X” no quadrado da cada pergunta abaixo, indicando a resposta SIM ou NÃO, de acordo com o seu caso: (passe para a seção 6 se não toma medicamentos). SIM NÃO Minha medicação não está me ajudando muito Fico envergonhado/a ao tomar medicamentos em público Minha medicação me provoca efeitos colaterais desagradáveis Minha medicação interfere muito com o meu dia­a dia Seção 6 As perguntas seguintes se referm às atividades que podem ser efetuadas pela sua doença respiratória. Assinale com um “X” no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta SIM se pelo menos uma parte da frase corresponde ao seu caso; se não, assinale NÃO. SIM Levo muito tempo para me lavar e me vestir Demoro muito tempo ou não consigo tomar banho de chuveiro ou na banheira Ando mais devagar que as outras pessoas, ou tenho que parar para descansar Demoro muito tempo para realizar as tarefas como o trabalho de casa, ou tenho que parar para descansar Quando subo um lance de escada, vou muito devagar, ou tenho que parar para descansar Se estou apressado/a ou caminho mais depressa, tenho que parar para descansar ou ir mais devagar Por causa da minha doença respiratória, tenho dificuldades para fazer atividades como: subir ladeiras, carregar objetos subindo escadas, dançar Por causa da minha doença respiratória, tenho dificuldades para fazer atividades como: carregar grandes pesos, fazer “Cooper”, andar muito rápido ou nadar Por causa da minha doença respiratória, tenho dificuldade para fazer atividades como: trabalho manual pesado, correr, nadar rápido ou praticar esportes muito cansativos
NÃO 71 Seção 7 a) Assinale com um “X” no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta SIM ou NÃO, para indicar outras atividades que geralmente podem ser afetadas pela sua doença respiratória no seu dia­a­dia: (não se esqueça que SIM só se aplica ao seu caso quando você não puder fazer essa atividade devido à sua doença respiratória). SIM NÃO Praticar esportes ou jogos que impliquem esforço físico Sair de casa para me divertir Sair de casa para fazer compras Fazer o trabalho de casa Sair da cama ou da cadeira b)A lista seguinte descreve uma série de outras atividades que o seu problema respiratório pode impedir você de realizar (você não tem que assinalar nenhuma das atividades, pretendemos apenas lembra­lo das atividades que podem estar afetadas pela sua falta de ar). Passear a pé ou passear com o seu cachorro; Fazer o trabalho doméstico ou jardinagem; Ter relações sexuais; Ir à igreja, bar ou locais de diversão; Sair com mau tempo ou permanecer em locais com fumaça de cigarro; Visitar a família e os amigos ou brincar com as crianças. Por favor, escreva qualquer outra atividade importante que sua doença respiratória pode impedir você de fazer: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Assinale com um “X” somente a resposta que melhor define a forma como você é afetado/a pela sua doença respiratória: Não me impede de fazer nenhuma das coisas que eu gostaria de fazer Me impede de fazer uma ou duas coisas que eu gostaria de fazer Me impede de fazer a maioria das coisas que eu gostaria de fazer Me impede de fazer tudo o que eu gostaria de fazer Antes de terminar, verifique se você respondeu a todas as perguntas.
72 ANEXO C Nome:___________________________________________________________ Idade:___________ Sexo: ( ) M ( ) F ( ) Grupo 1 ( ) Grupo 2 Data: ____/____/_____ Antes da Reabilitação ( ) Após reabilitação ( ) Este questionário nos ajuda a saber o que você conhece sobre a sua doença. Nós o utilizamos para descobrir quais os aspectos da sua doença que precisamos lhe informar melhor. Leia atentamente as colocações e responda se você concorda ou não. Esclareça as dúvidas que tiver. Não perca muito tempo nas suas respostas. O QUE VOCÊ JÁ SABE SOBRE SUA DOENÇA: Toda a pessoa tem dois pulmões ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO O pulmão é formado por brônquios e alvéolos ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO Os brônquios servem para colocar o ar para dentro e para fora dos alvéolos ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO Nos alvéolos é o lugar onde o oxigênio é captado para ser distribuídos para todo o meu organismo ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO A minha doença se chama DPOC porque ela é uma doença pulmonar obstrutiva crônica: ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO Desenvolvi esta doença como consequência de ter fumado por muito tempo: ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO Eu sinto falta de ar porque o calibre dos meus brônquios diminuiram e nos meus pulmões o ar fica aprisionado e não sai : ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO As bombinhas são importantes para mim porque contém medicamentos servem para dilatar os meus brônquios e aliviar a minha falta de ar: ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO que As bombinhas nunca viciam. Como tenho uma doença crônica eu preciso do tratamento para me sentir melhor. Por isso devo usar sempre ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO
73 Um efeito colateral das bombinhas que dilatam os brônquios é palpitação. Sei que isso pode acontecer, mas passa em poucos minutos ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO Toda vez que o meu catarro amarelar e aumentar de quantidade ou aumentar a minha falta de ar significa que estou com piora da minha doença. Neste caso devo procurar o médico para ajustar o meu tratamento. ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO Embora a minha doença não tenha cura, posso melhorar muito se utilizar os medicamentos de forma correta e fizer a reabilitação pulmonar ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO Como a minha doença causa falta de ar, ficando mais parado a minha musculatura perde a sua resistência e sua força. Logo tenho mais dificuldade de movimentação. Por isso devo manter sempre a minha atividade física. ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO É muito importante a minha alimentação. Por isso devo me alimentar de forma equilibrada, em pequenas quantidades e em diversos horários. É melhor ser assim para que o meu estômago não distenda e com isso a minha falta de ar aumente. ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO O programa de reabilitação pulmonar através dos diversos profissionais, pode melhorar a minha qualidade de vida e o meu desempenho nas tarefas do meu dia­a­ dia, tais como limpar a casa, tomar banho, fazer a barba, sair de casa. Este programa me ajuda a ganhar mais independência na minha vida. ( ) CONCORDO ( ) NÃO CONCORDO ( ) DESCONHEÇO