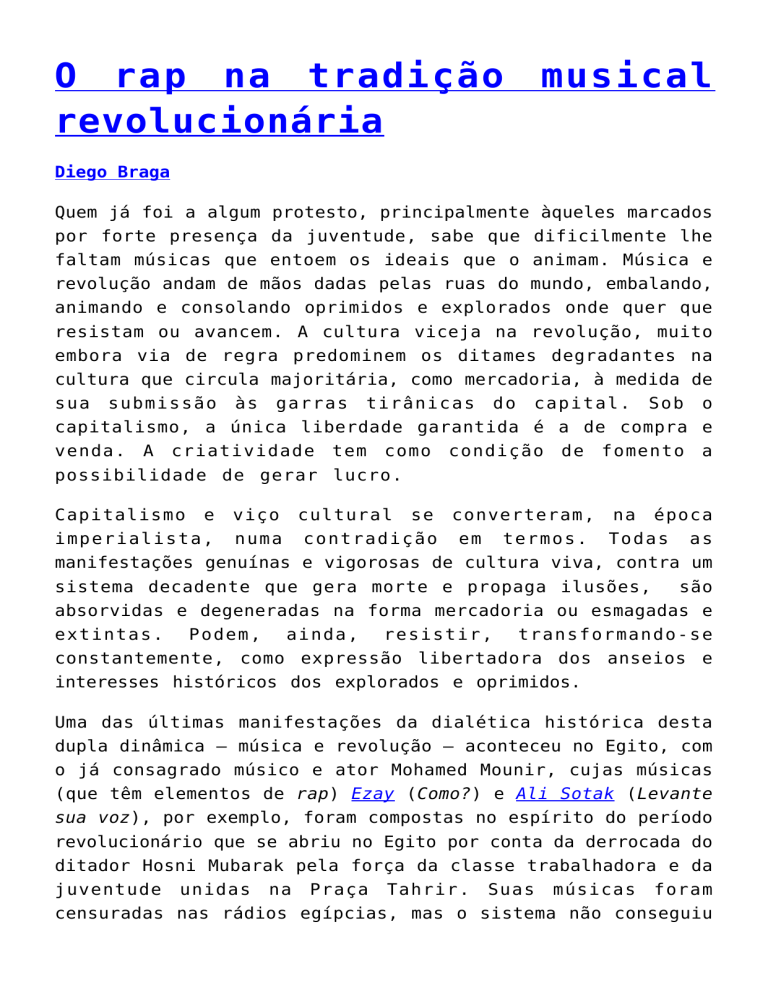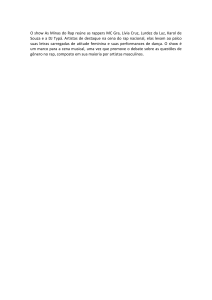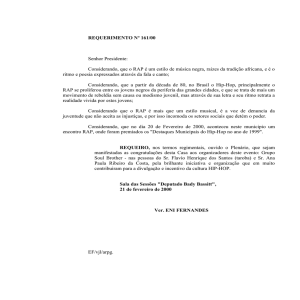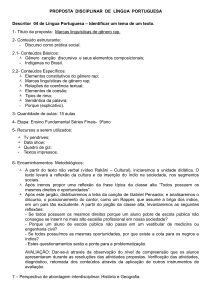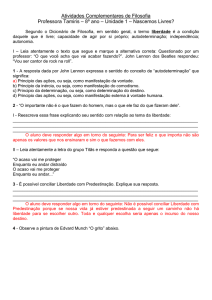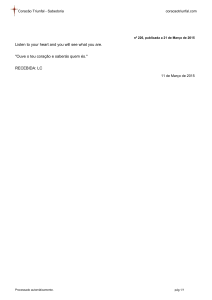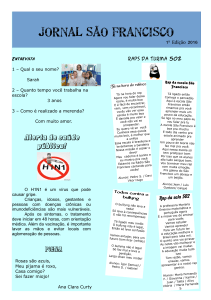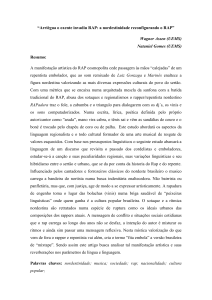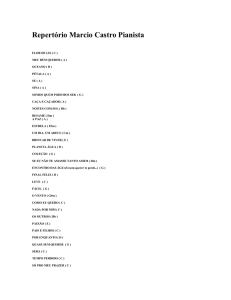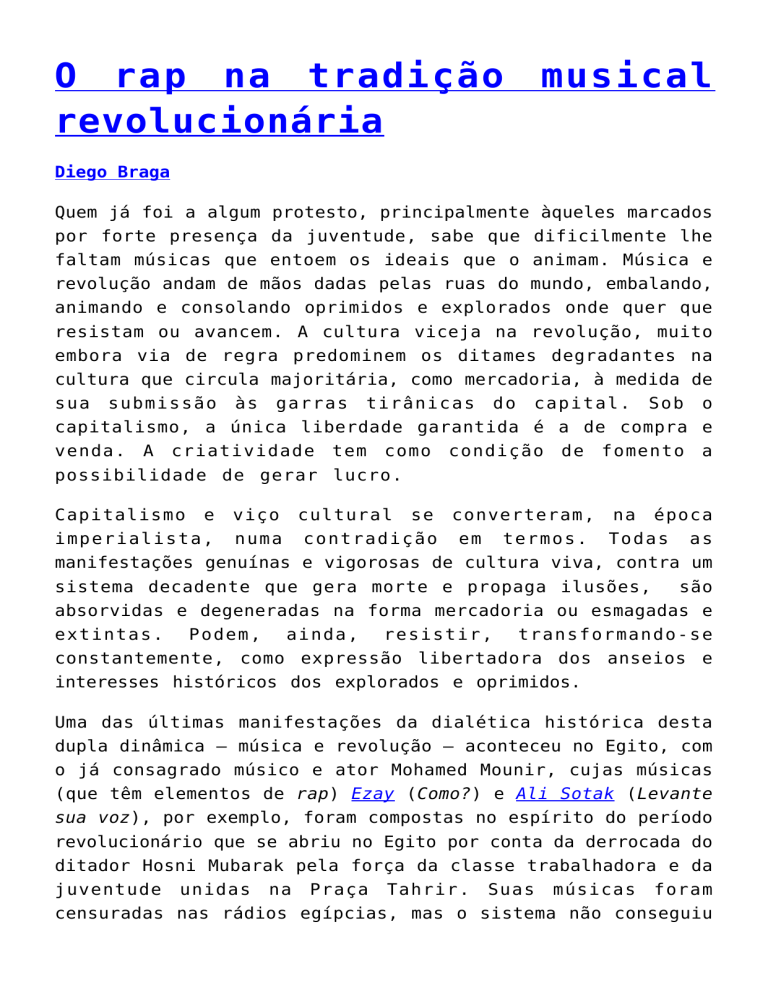
O rap na tradição
revolucionária
musical
Diego Braga
Quem já foi a algum protesto, principalmente àqueles marcados
por forte presença da juventude, sabe que dificilmente lhe
faltam músicas que entoem os ideais que o animam. Música e
revolução andam de mãos dadas pelas ruas do mundo, embalando,
animando e consolando oprimidos e explorados onde quer que
resistam ou avancem. A cultura viceja na revolução, muito
embora via de regra predominem os ditames degradantes na
cultura que circula majoritária, como mercadoria, à medida de
sua submissão às garras tirânicas do capital. Sob o
capitalismo, a única liberdade garantida é a de compra e
venda. A criatividade tem como condição de fomento a
possibilidade de gerar lucro.
Capitalismo e viço cultural se converteram, na época
imperialista, numa contradição em termos. Todas as
manifestações genuínas e vigorosas de cultura viva, contra um
sistema decadente que gera morte e propaga ilusões,
são
absorvidas e degeneradas na forma mercadoria ou esmagadas e
extintas. Podem, ainda, resistir, transformando-se
constantemente, como expressão libertadora dos anseios e
interesses históricos dos explorados e oprimidos.
Uma das últimas manifestações da dialética histórica desta
dupla dinâmica – música e revolução – aconteceu no Egito, com
o já consagrado músico e ator Mohamed Mounir, cujas músicas
(que têm elementos de rap) Ezay (Como?) e Ali Sotak (Levante
sua voz), por exemplo, foram compostas no espírito do período
revolucionário que se abriu no Egito por conta da derrocada do
ditador Hosni Mubarak pela força da classe trabalhadora e da
juventude unidas na Praça Tahrir. Suas músicas foram
censuradas nas rádios egípcias, mas o sistema não conseguiu
evitar que se espalhassem como espécie de hino dos novos
tempos entre a juventude.
A música, hoje, segue provando que as revoluções sempre estão
em pauta, e a juventude, apta a cantá-las de maneiras a todo
tempo inovadoras. Apesar da acachapante modernidade que
mistura batidas eletrônicas, rap e jazz a elementos de música
árabe, referências a redes sociais e televisão, a tradição em
que se inserem as canções revolucionárias ou de protesto como
as de Mounir assinala, ao mesmo tempo, uma já antiga caminhada
de luta pela liberdade e pela construção de uma sociedade mais
justa.
Música como tradição de liberdade e revolução
Do Canto de Guerra para o Exército do Reno (que seria
rebatizado como A Marselhesa) na revolução da burguesia
francesa à Internacional cantada pelo proletariado na Comuna
de Paris e retomada durante a Revolução Russa de 1917; da
Warszawianka (Varsoviana) dos poloneses contra o império russo
que por sua vez foi entoada pelos russos contra o seu próprio
czar em 1905 (mais uma mostra do internacionalismo intrínseco
aos interesses históricos do proletariado); da Lady Macbeth do
distrito de Mtensk de Shostakovitch, gênio musical russo
crítico ao stalinismo; e também da alegre espanhola La
Cucaracha, que em solo revolucionário mexicano, com sua
infinita variedade de letras, traz referências a Pancho Villa
e satiriza o ditador Huerta; passando pelo belíssimo Vai
Passar de Chico Buarque e Edu Lobo contra a ditadura no Brasil
e pela imortal Grândola, Vila Morena de Zeca Afonso, estopim
do levante de abril português, a tradição de músicas
revolucionárias ou de protesto se configura tão rica quanto
longa.
As guerras civis russa e espanhola nos legaram um cancioneiro
revolucionário profícuo, com hinos inesquecíveis como A las
barricadas que, via versão russa, é uma recriação em língua
espanhola da já mencionada Warszawianka. Só no século XX, a
lista é grande demais para sequer ser mencionada em nomes
aqui. Há, por exemplo, uma música cujo título virou slogan de
esquerda, The Revolution Will Not Be Televised (A revolução
não será televisionada), de Gil Scott-Heron, que incorpora o
canto falado de protesto do rap a uma levada soul e
instrumentação progressiva. Vale a pena ouvir a
pegada rock de The Revolution Starts… now (A revolução começa…
agora), de Steve Earle.
Mas não nos enganemos com qualquer título: Revolution, dos
garotos de Liverpool, trata-se de uma resposta irônica e
cética à onda revolucionária que atingiu a juventude europeia
em 68. Obviamente que, tendo parte desta onda referências em
Mao Tse-tung, apresentava por conseguinte contradições enormes
entre a liberdade que exigia e a referência burocrática e
autoritária de direção que reivindicava, estando a resposta
crítica dos Beatles ao menos parcialmente justificada.
As próprias spirituals, músicas de teor religioso cristão
cantadas pelos negros nos EUA, ao mesmo tempo em que são
expressão de um processo de imposição cultural e ideológica
violento e mistificador associado à realidade da escravidão,
testemunham igualmente sobre a criatividade daqueles que se
apropriaram do cristianismo e o manifestaram em música
contagiante e única. Não bastasse, as spirituals serviram,
simultaneamente, não raro como forma de comunicação entre
escravos de distintas regiões. De modo mais elaborado, estas
canções religiosas eram maneiras de passar mensagens em forma
cifrada ou metafórica entre escravos, indicando rotas de fuga
e pontos onde poderiam encontrar ajuda.
Por exemplo, uma das rotas mais comuns atravessava os estados
livres do norte dos EUA, rumo ao Canadá, pela chamada Ferrovia
Subterrânea, linha férrea que levava muitos negros fugidos da
escravidão para territórios onde esta prática era oficialmente
condenada. Estes trens repletos de negros em busca da
liberdade foram chamados de Gospel Trains, (Trens do
Evangelho), na música The Gospel Train’s a Comin’ (Os Trens do
Evangelho Estão Chegando). Ou seja, a própria ideologia
mistificadora imposta pelos proprietários brancos aos escravos
negros, que reservava a libertação para depois da morte, era
transmutada por estes escravos em música cuja linguagem
metafórica indicava os caminhos da liberdade em plena vida, a
liberdade genuína e possível.
Com o rap não é diferente, embora o caminho talvez seja o
oposto. Um dos grandes símbolos da resistência e da
consciência racial negra, de sua riqueza e criatividade, está
também eivado de contradições. Esta forma musical, tornada
sucesso mundial, foi apropriada pelo grande capital da
indústria de cultura e transformada em canal ideológico
predominantemente alienante e opressivo na vertente mais
mercantil do rap atual. Não que estivesse isento de
contradições desde suas origens, mas nos referimos aqui à
vertente que faz uma apologia à mais alienante das
mercadorias, o dinheiro[1], e retrata brutalmente as mulheres
como objeto, por exemplo.
Raízes africanas e americanas do Rap
Apesar de hoje não ser utilizada exclusivamente por artistas
negros, historicamente, a linguagem do rap moderno tem como
antepassada a tradição africana de récita poética acompanhada
por tambores e instrumentos melódicos, uma arte de contar
histórias, transmitir e atualizar a sabedoria tribal. Esta
arte era própria de poetas-cantores-sábios chamados griots[2],
jali ou jeli, que atuavam em regiões da África Ocidental
habitadas pelos Mandingas, os Fulas, os Hauçás e outros povos.
Estes sábios cantores normalmente estavam a serviço de reis,
como conselheiros, embora também atuassem entre o comum do
povo, nos vilarejos. A arte dos griots continua viva e
importante em diversas regiões da África ainda hoje.
Foi através da barbárie da escravidão que milhões de negros,
dentre os quais havia decerto inúmeros griots, foram trazidos
agrilhoados em tumbeiros para as Américas. O apego dos negros
à sua cultura, àquilo que os afirmava como seres humanos e não
como mercadorias, constituiu uma das principais formas de
resistência à disposição contra o flagelo da escravidão [3].
Nas plantations, as grandes plantações de algodão trabalhadas
por escravos no sul dos EUA, os negros e negras cantavam para
embalar o ritmo de trabalho. Não raro, este canto era imposto
pelo próprio dono da plantação, como forma de dar ritmo ao
trabalho, otimizando a produtividade. Ocorre que,
historicamente, as classes e setores sociais oprimidos sempre
foram capazes de transformar dialeticamente uma situação de
opressão em contexto de libertação. Assim, por exemplo, ocorre
quando os trabalhadores, levados pela burguesia à penúria,
decidem lutar contra a miséria e se chocam inevitavelmente
contra as bases da própria sociedade burguesa. A miséria que a
própria burguesia exploradora cria pode ser uma força
propulsora para lutas que tendem a destruir a própria
sociedade burguesa.
Da mesma forma, aquele canto de trabalho escravo muitas vezes
estimulado pelo escravista era ao mesmo tempo coordenado pela
técnica do chamado-e-resposta[4]: um cantor dentre os escravos
trabalhando na plantation dirigia a cantoria, “puxando” uma
estrofe ou verso, que por sua vez era respondida em coro pelos
demais. Esta técnica da música negra trazida para as Américas
por africanos está também na raiz de estilos de samba como o
partido alto, por exemplo. Incorporando a música ao trabalho
forçado, única atividade que lhes cabia na sociedade
escravista, os negros mantiveram viva sua cultura ao adaptá-la
às novas condições – brutais – e transformá-la numa forma de
resistência à cruenta desumanização feita em prol da
acumulação de capital.
O rap, em suas raízes, traz consigo as origens em solo
geográfico e cultural africano, mas também incorpora o lamento
pelo suplício da escravidão após o traslado da raça negra às
plantações, tecendo em suas estrofes a longa história de
resistência contra este flagelo e suas reminiscências
modernas. Afinal, esta luta continuou quando a escravidão em
sentido estrito se transformou em escravidão assalariada,
transformação que não alterou muito o complexo ideológico com
o qual a exploração capitalista se abateu com maior
intensidade sobre o povo negro: o racismo.
A manutenção do racismo sob a igualdade formal da democracia
burguesa serve à intensificação da exploração pela
desigualdade salarial de que são vítimas os povos negros. No
Brasil, esta desigualdade de facto disfarçada pela igualdade
de jus é mascarada ainda pelo terrível mito da democracia
racial brasileira, que procura impedir que os negros se
organizem e lutem contra o racismo uma vez que este mito
afirma que, por aqui, o racismo “não existe”. O rap, neste
contexto, seguiu como expressão de afirmação de negritude por
um lado, e de resistência contra o racismo e os males
inerentes ao capitalismo por outro.
Desde sua entrada no Brasil nos anos 80, uma das tarefas do
que de melhor há no rap nacional tem sido justamente
desmascarar a realidade com rimas e ritmos magistralmente
adaptados à prosódia brasileira. Obviamente, como já dissemos,
também o nosso rap está eivado de contradições, com diferenças
de grau. Há muito machismo, muita homofobia, muita capitulação
às ideologias burguesas que alimentam e refletem a própria
violência social contra a qual se levantam as vozes mesmas do
rap.
Criatividade e tradição como voz da liberdade e da resistência
Nascido com a juventude negra dos EUA como arte de rua nos
anos 70, o rap foi desenvolvido inicialmente nas festas de
comunidades em Nova Iorque, sobretudo na região sul do Bronx,
predominantemente habitada por negros. Os DJs (disc jockeys,
aqueles que “pilotam” os discos) começaram a isolar batidas de
estilos diversos de música negra como funk, soul, etc, ou a
estender determinada parte de uma música à vontade, pela
repetição.
Funcionava mais ou menos como aconteceu com o DJ Kook Herc, em
1973. Usando dois toca-discos, ambos com o clássico Give it up
or turn it a loose, de James Brown, Kool Herc deixou que um
dos toca-discos tocasse uma parte da música e depois,
imediatamente, mudou para o outro toca-discos, já preparado
para tocar a mesma parte da música. Ele pode assim ficar
alternando entre os toca-discos, repetindo à vontade
determinada parte da música. Assim se recriava, em linguagem
de rap moderno, uma das principais características da música
dos griots, a repetição de determinada passagem, só que agora
modernizada, não mais pela técnica do chamado-resposta.
O toca-discos, até então instrumento de mera reprodução de uma
música gravada, foi como que reinventado por aqueles jovens
negros como instrumento de produção de músicas sempre novas a
partir das que já haviam sido feitas. A técnica hoje conhecida
como looping ajudou a transformar a reprodutibilidade técnica
da arte sob o capitalismo de que falou Walter Benjamin (1994)
numa técnica de produção de novidade [5]. Não novidade como um
fim em si, novidade mercantil, mas novidade a serviço de uma
linguagem musical originalmente voltada para o protesto contra
o racismo e as mazelas do capital. Com o rap, a juventude
negra dos EUA criava um estilo musical a partir de suas bases
africanas, apto a falar a voz da modernidade e que logo se
espalharia pelo mundo.
A repetição de determinada passagem musical gravada em disco
pelo looping, contudo, ainda não era o rap propriamente dito,
mas uma de suas bases, de seus aspectos decisivos. O canto
falado tão característico do rap se desenvolveu em conjunto
com outros de seus aspectos. Este também tem suas origens em
tradições africanas, uma vez que deriva de técnicas de recital
narrativo ritmado, uma técnica mnemônica para armazenar e
transmitir informações numa cultura ágrafa.
No entanto, o canto falado do rap moderno é fundamentalmente
uma forma de arte contemporânea. Aquelas festas nas periferias
do Bronx em que a juventude negra, oprimida e superexplorada
se reunia eram ocasiões em que se trocavam experiências, se
compartilhavam os dramas, realizavam-se disputas numa espécie
de assembléia política ritmada, expunham-se as esperanças e a
poesia nascida da vida comum daqueles jovens [6]. Assim, as
festas onde nasceria o rap consistiam em importante espaço
para intervenções ao microfone, inicialmente entre uma música
e outra, mas logo as falas começaram a se incorporar nas
próprias músicas. Desta feita consubstanciou-se em linguagem
moderna a velha tradição da crônica musicada, a expressão da
voz coletiva por meio do talento individualizado de um artista
que se identificava fundamentalmente como artista daquela
comunidade e não como um indivíduo especial, isolado e
supostamente autônomo em relação à sociedade em que vive. A
figura do MC (Master of Ceremony, ou seja, o Mestre de
Cerimônias, aquele que, de posse do microfone, comanda a festa
com seus discursos e versos) surge, então, no contexto destas
festas, como parte fundamental do estilo que logo viria a ser
denominado de rap.
A aculturação brasileira do rap e a voz da mulher negra
Muitos de nossos rappers incorporam ao ritmo estadunidense
elementos específicos da linguagem musical brasileira, como
melodias modais, instrumentação latina e síncopes próprias de
ritmos afro-brasileiros, sem contar elementos mais
vanguardistas como certo atonalismo que já fora explorado nos
incomparáveis fraseados jazzísticos de um John Coltrane.
Salvo exceções, a matriz africana do rap não nos deixa sentir
grande estranhamento ao se fundir nossa música com este estilo
importado dos EUA. Está longe de ser simplesmente uma imitação
ou reprodução da cultura imperialista em solo brasileiro, e
não menos pelo fato de que esta linha de força cultural seja
de matriz negra. O nacionalismo, mesmo no caso de um país
semicolonial como o Brasil, pode nos tornar vesgos se não for
tomado dialeticamente. O rap é expressão musical de toda uma
cultura urbana negra contemporânea de raiz estadunidense
conhecida como cultura hip-hop, que inclui formas de
vestimenta, de dança, de linguagem verbal e visual (o
graffiti) e também uma determinada visão política que
consiste, de modo bem amplo, em ser um canal cultural de
expressão contra a exploração e a opressão racial, mas não
apenas estas.
Um dos mais felizes exemplos disto é que as mulheres negras de
nosso país vêm fazendo o rap dar um passo à frente na sua
longa história. Em matéria recente na revista R, que inclui
entrevistas com as principais expoentes mulheres – a maioria
negras – da nova geração do rap nacional, Janaína Oliveira e
Shuellen Peixoto (2015: 17-21) mostram que este estilo, ainda
dominado por homens, cada vez mais se torna expressão de uma
voz que funde, na essência tradicional de suas letras de
protesto, a voz do feminismo e do combate à opressão contra os
LGBTs.
Nesta entrevista, ficamos sabendo, por exemplo, como a rapper
Luana Hansen põe sua música em unidade com sua luta pela
emancipação feminina e LGBT, levantando pautas importantes –
mas raramente enunciadas na nossa música – como a defesa da
descriminalização do aborto na poderosa e ousada Ventre Livre,
que já no título claramente faz referência à questão negra
aliada à questão femininista. Os depoimentos das outras
rappers entrevistadas, Preta Rara (cuja Audácia tem uma pegada
rap clássica contagiante), Yzalú (vale ouvir Cabeça de Nego) e
Lurdez da Luz (destaque para Levante), apontam em direções
análogas. É uma entrevista que enche nosso coração de alegria,
nossa vista de esperança, e oxigena as ideias acerca da real
situação da música popular brasileira que, se a fôssemos
julgar pelo que a TV mostra, deveríamos julgar degradada e
angustiante.
Não podemos ter uma atitude populista e demagógica para com a
música popular, celebrando-a simplesmente, sem identificar
nela também as marcas e reflexos da opressão, expressões da
alienação, da carência de educação de qualidade, de tempo
livre, dentre tantas outras coisas que serão superadas,
enriquecendo ainda mais a música popular, com a construção de
uma sociedade socialista, sem exploração e apta a nos levar a
uma derrota definitiva a todas as formas de opressão. A visada
demagógica pode servir para esconder a necessidade de elevação
do nível cultural das massas como parte do processo
revolucionário. Tal elevação significa que tal como é preciso
expropriar as fábricas, bancos e terras, não para explorar
trabalho, mas para libertá-lo, também é necessário que os
trabalhadores se apropriem do rico legado da cultura burguesa,
não para repeti-la servilmente. Antes, para criar pela
primeira vez uma cultura universal sem limites de classe.
De modo contrário, também é errônea a visada elitista,
simplesmente condenadora, que vê na cultura popular apenas
pobreza simplória, degradação cultural e expressão tosca.
Trata-se, neste caso, de negar voz aos oprimidos e explorados,
tratando a cultura como prerrogativa da burguesia e de seus
servos mais ou menos conscientes. Em suma, é preciso olhar a
cultura popular, em que o rap já se inclui, de frente,
perceber o que esta forma de arte tem de mais valioso e que
deve
ser
valorizado
e
desenvolvido.
Da
mesma
forma, identificar o que nela grassa de violento, retrógrado e
bárbaro, para que destes elementos possamos depurá-la.
É isto o que as mulheres do rap brasileiro vêm fazendo, por
notável exemplo. Ao mesmo tempo em que a grande mídia e o
grande capital investido na cultura transformam o rap em
veículo de culto à mercadoria e ao dinheiro, em linguagem de
reificação machista do corpo da mulher, em expressão muda para
os protestos de raça e de classe, de gênero e de sexualidade,
por outro lado vemos o rap avançar, incorporando pautas
feministas e LGBTs, sendo cada vez mais absorvido e
transmutado em expressão musical brasileira e seguindo vivo na
história[7].
Esta história se lê refletida neste embate que se verifica no
seio da própria expressão musical do rap: de um lado, a reação
a serviço da burguesia, girando as rodas do capital; de outro,
a revolução, ainda que latente, expressa na voz dos oprimidos,
força propulsora para a construção de uma nova etapa
histórica. Tal é a mesma história que já fora definida há
muito tempo por Marx e Engels como luta de classes. A luta de
classes, portanto, também está presente no rap, o qual acentua
sobretudo o viés de raça oprimida ao situar-se na trincheira
da classe explorada.
Também no rap cabe escolher um dos lados. A cultura, ao
contrário do que prega a ideologia burguesa, não é um terreno
livre de conflitos sociais. Não podemos deixar que a ideologia
burguesa, cooptando artistas através das liberalíssimas
imposições da ditadura do mercado, volte o cano que dispara as
letras do rap contra nós. As principais vítimas destes
disparos são sempre os negros, as mulheres negras e os LGBTs
filhos da classe trabalhadora.
Notas
[1] “A venda é a prática da alienação. Assim como o homem –
enquanto permanece sujeito às cadeias religiosas – só sabe
expressar sua essência convertendo-a num ser fantástico, num
ser estranho a ele, assim também só poderá conduzir-se
praticamente sob o império da necessidade egoísta, só poderá
produzir praticamente objetos, colocando seus produtos e sua
atividade sob o império de um ser estranho e conferindo-lhes o
significado de uma essência estranha, do dinheiro.”. (MARX,
s.d.)
[2] “O escritor, historiador, etnólogo e um dos maiores
especialista em tradições africana, Amadou Hampaté Bâ, no seu
texto ―”A tradição viva”, nos informará detalhadamente quem
seriam os ―”griots”, e em uma das partes do texto dedicado a
estes, chamados de ― “Os animadores públicos ou ‘griots’
(‘dieli’ em bambara)”, começa assim: Se as ciências ocultas e
esotéricas são privilégios dos ‘mestres da faca’ e dos
chantres dos deuses, a música, a poesia lírica e os contos que
animam as recreações populares, e normalmente também a
história, são privilégios dos griots, espécie de trovadores ou
menestréis que percorrem o pais ou estão ligados a uma
família. Em seguida, classifica-os em 3 categorias: primeiro,
― “os griots músicos, [o qual nos interessa, particularmente,
neste trabalho], que tocam qualquer instrumento (monocórdio,
guitarra, cora, tantã, etc.). Normalmente são cantatores
maravilhosos, preservadores, transmissores da música antiga e,
além disso compositores”. Segundo, ― “os griots ‘embaixadores‘
e cortesões, responsáveis pela mediação entre as grandes
famílias em caso de desavenças. Estão sempre ligados a uma
família nobre ou real, às vezes a uma única família.”
Terceiro, ― “os griots genealogistas, historiadores ou
poetas(ou os três ao mesmo tempo), em geral são igualmente
contadores de história e grandes viajantes, não
necessariamente ligados a uma família” (TORRES, 2009: 71)
[3] “A vida familiar era decisiva para os escravos na criação
de um espaço de afirmação dos elementos mais básicos de sua
humanidade. Havia inúmeras outras formas. Rituais de todos os
tipos eram importantes para os escravos em todo lugar. A
celebração de nascimentos, casamentos, funerais, aniversários,
festas religiosas e seculares como o Ano Novo eram tão
importantes para as populações escravas como para os homens e
mulheres livres. Os escravos insistiam em organizar e
participar nestas e noutras celebrações coletivas em que
usavam suas melhores, roupas, preparavam refeições elaboradas
e tocavam música festiva, dançavam, bebiam e se alegravam como
quaisquer seres humanos em celebrações.” (BERGAD, 2007:177 –
tradução nossa)
[4] A técnica do chamado-e-resposta própria das tradições
musicais africanas que vieram para as Américas se diferencia
do canto antifônico da música europeia por uma série de
fatores complexos explicados minuciosamente por Waterman
(1990) em linguagem razoavelmente acessível ao leigo em
musicologia. Uma das diferenças mais claras é que o canto
africano, tendo como base a “o sentido de metrônomo” (a noção
de uma batida regular, mas ausente na execução instrumental,
com que o músico trabalha na tradição africana, e da qual
derivam, direta ou indiretamente, as principais peculiaridades
das tradições distintas da música africana), sobrepõe o canto
do chamado com o canto coral de resposta, uma vez que a base
do canto é o ritmo, não a melodia (WATERMAN, 1990: 89-90).
[5] Obviamente que as questões coirmãs da reprodutibilidade
técnica e da cultura de massas são vistas por Benjamin,
pensador radicalmente dialético, de uma maneira mais rica,
mais total, mais contraditória. O fenômeno não é meramente
identificado como um subproduto da degeneração cultural
capitalista, como tende a ser visto por Adorno e Horkheimer.
Benjamin argumenta que “Retirar o objeto do seu invólucro,
destruir sua aura, é a característica de uma forma de
percepção cuja capacidade de captar o ‘semelhante no mundo’ é
tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo até
no fenômeno único” (BENJAMIN, 1994: 170), ao mesmo tempo em
que reconhece os novos problemas que reprodução técnica coloca
à cultura: “(…)Mas, enquanto o autêntico preserva toda a sua
autoridade com relação à reprodução manual, em geral
considerada uma falsificação, o mesmo não ocorre no que diz
respeito à reprodução técnica, e isso por duas razões. Em
primeiro lugar, relativamente ao original, a reprodução
técnica tem mais autonomia que a reprodução manual. Ela pode,
por exemplo, pela fotografia, acentuar certos aspectos do
original, acessíveis à objetiva (…) mas não acessíveis ao
olhar humano. (…) Em segundo lugar, a reprodução técnica pode
colocar a cópia do original em situações impossíveis para o
próprio original. Ela pode, principalmente, aproximar do
indivíduo a obra, seja sob a forma da fotografia, seja do
disco. A catedral abandona seu lugar para instalar-se no
estúdio do amador1; O coro, executado ao ar livre, pode ser
ouvido num quarto. (…) elas [as cópias] desvalorizam, de
qualquer modo, o seu aqui e agora” (idem: 167-8). “(…) com a
reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela
primeira vez na história, de sua existência parasitária,
destacando-se do ritual. (…) Em vez de fundar-se no ritual,
ela passa a fundar-se em outra práxis: a política” (idem:
171-2, grifos do autor).Neste sentido, o que afirmamos é que à
cultura de resistência ou revolucionária cabe superar os
aspectos negativos da contradição cultural debatida por
Benjamin como traço da era da reprodução.Este processo, sem
dúvida, deve ser constante. Uma tradição musical não será para
sempre expressão de contestação e resistência simplesmente
porque seus traços de origem rementem à revolução.
[6] Trata-se de uma tradição musical fundada em uma matriz
cultural pré-capitalista que foi transportada para dentro do
capitalismo e a ele forçada a adaptar-se. Neste sentido, a
separação alienante entre ética e estética não lhe é tão
avassaladora (ao menos nas suas melhores partes), nem o
critério de julgamento puramente individualizante e formal:
“(…) entre músicos africanos um julgamento estético (isto soa
bem) é necessariamente também um julgamento ético (isso é
bom). A questão é o “equilíbrio”: “a qualidade das relações
rítmicas” descreve a qualidade da vida social. “Neste sentido,
o estilo é uma outra palavra para a percepção das relações”.
Sem equilíbrio e “coolness” [termo em inglês que,
especificamente no linguajar de músicos negros, designa certa
qualidade de uma música ou passagem musical que comporta a
totalidade dos valores essenciais pelos quais se a deve julgar
ética-esteticamente], o músico africando perde seu domínio
estético, e a música abdica de sua autoridade social, torandose tão somente vibrante [não equilibrada], intensa, limitada,
pretensiosa, abertamente pessoal, enfadonha, irrelevante e em
última instância alienante” (FRITH, 1996: 124 – tradução
nossa)
[7] Sobre
expressão
de grande
citando o
o caráter contraditório da cultura popular como
de conformismo e de resistência, ao mesmo tempo, é
valor a obra de Marilena Chauí (1986). Por exemplo,
trabalho de Ruth B. L. Terra, Memórias de Lutas:
Literatura de Folhetos do Nordeste, 1893-1930, analisa no
cordel, dentre outros, dois temas. Na categoria das ‘queixas
gerais’, o poeta contradiz o que o jornal – instrumento dos
poderosos – diz que acontece, queixando-se contra a pobreza e
problemas correlatos, bem como a opressão e exploração pelos
ricos e poderosos, retratados de modo satírico. No caso do
miserável, a pobreza aparece como ordem natual das coisas ou
vontade de Deus. No caso dos trabalhadores rurais e
seringueiros, como resultado da exploração. Em tom conservador
também critica a vaidade feminina, o avanço tecnológico que
não elimina a miséria, defendem a família contra o trabalho
feminino assalariado, idealizando o passado. [CHAUÍ, 1986:
155-7]. O outro tema é o das ‘salvações’, que tratam do povo
em armas, do banditismo e do cangaço em oposição à hierarquia
do poder instituído, das oligarquias locais ao governo
federal. O sertão e o nordeste não aparecem isolados, mas
integrados à política do país. Contrapondo-se à disputa pelo
poder político, própria dos poderosos, a ética aqui é a da
sedição, o direito à rebelião coletiva. O passado, por meio de
sua expressão literária como gesta e romance, instaura a ética
da honra e da luta contra a opressão [idem: 157-8]. Há ainda
inúmeros outros exemplos nesta obra, sob a luz de um conceito
bem amplo de cultura, como por exemplo o uso da bandeira
nacional como escudo contra a repressão pelos operários
durante da ditadura.
Referências Bibliográficas
BEGARD, Laird. The Comparative Histories of Slavery in Brazil,
Cuba and the United States. New York: Cambridge University
Press, 2007.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios
sobre literatura e história da cultura (Obras Escolhidas, v.
1). São Paulo: Duas Cidades, 1994, 7a edição.
CHAUÍ, Marilena. Conformismo e Resistência. Aspectos da
cultura popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986.
FRITH, Simon. “Music and Identity”, in: HALL, Stuart; DU GAY,
Paul (eds).
Questions of Cultural Identity. London: Sage,
1996.
MARX, Karl. A questão Judaica (parte II).. s.d. Disponível em
<https://www.marxists.org/portugues/marx/1843/questaojudaica.h
tm>
OLIVEIRA, Janaina; PEIXOTO, Shuellen. “As mulheres tomam conta
do mundo do Rap”, R (revista R), nº5, junho de 2015, 17-21.
TORRES, Francisco Leandro. “Vozes e visões, Cantos (Griots) e
Cabelos: Afribrasil”, in: LIMA, Tânia; NASCIMENTO, Izabel;
OLIVEIRA, Andrey (orgs.). Griots. Culturas Africanas.
Linguagem, memória, imaginário. Natal: Lucgraf, 2009.
WATERMAN, Richard Alan. “African Influence on the Music of
Americas”, in: DUNDES, Alan (ed.). Mother wit from the
laughing barrel: readings in the interpretation of AfroAmerican folklore. Jackson: University Press of Mississippi,
1990.
30 anos do primeiro disco da
Legião Urbana na visão de um
Legionário
Carlos Dias
No começo de 1985 a vida sorria para os torcedores do
Fluminense, o tricolor carioca era bicampeão estadual (numa
época em que isso valia muita coisa) e campeão brasileiro,
numa histórica final doméstica contra o Vasco. Um desses
tricolores, Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana,
iniciava a gravação do primeiro álbum da sua banda no Rio de
Janeiro, após apenas sonhar com o Maracanã por anos em
Brasília. Neste ano de 2015, aquele disco, batizado
simplesmente de Legião Urbana e usualmente conhecido como “o
primeiro”, completa 30 anos de seu lançamento.
O Começo
Mas nossa história começa um pouco antes disso, em 1983. Em
março daquele ano a Legião Urbana iniciou uma série de shows
semanais com outros grupos brasilienses na Associação
Brasileira de Odontologia(!), localizada na 616 Sul. O Brasil
vivia os últimos anos da ditadura militar e a banda tentava
escapar do cerco dos censores com táticas de guerrilha: “antes
de cada apresentação éramos obrigados a enviar para a
instituição responsável pela censura a letra de cada canção”,
lembra Dado. “Para ter as músicas liberadas trocávamos as
palavras mais fortes por outras mais suaves no formulário que
entregávamos para a censura”, conta o músico numa ensolarada
tarde de verão carioca.
A série de shows na ABO, aliada a várias outras apresentações
que o grupo fez pela cidade, chamou a atenção do então
diretor-artístico da EMI-Odeon, Jorge Davidson, que convidou
os quatro rapazes para gravar um compacto (nunca lançado), que
incluiria “Ainda é Cedo” e “Geração Coca-Cola”.
Quando a Legião chegou à Cidade Maravilhosa, Davidson se deu
conta do tesouro que tinha em mãos. Além das duas músicas
citadas acima, o grupo já tinha prontas “O Reggae”, “Teorema”
e “Baader-Meinhof Blues” (cujo nome é uma referência ao grupo
guerrilheiro alemão dos anos 1970), pra citar apenas três
clássicos. “Era um sonho pra gente, imagina, era a mesma
gravadora dos Paralamas nos contratando. Por sinal, o Herbert
Vianna, que já era nosso amigo, também deu bastante força”,
diz o artista, que tinha apenas 18 anos na época.
Só que não seria naquele momento que o sonho se tornaria
realidade. O primeiro produtor escalado para acompanhar o
grupo na gravação do álbum foi Marcelo Sussekind, excelente
profissional, porém com uma pegada de rock’n’roll tradicional
(basta lembrar que ele fazia parte do grupo de hard rock Herva
Doce): não rolou… A segunda tentativa trouxe Rick Ferreira,
fiel escudeiro de Raul Seixas. Mais uma vez, água; o choque de
gerações foi mais forte. “O Davidson nos mostrou um LP do Bob
Seger, que era como ele achava que nosso som poderia ser, na
época éramos um pouco radicais, não era o que queríamos”,
afirma Dado.
Achando o Tom
Os fracassos no estúdio levaram a banda de volta a Brasília.
“O que nos salvou foi um papo que tivemos com o Mayrton Bahia
(histórico produtor musical), foi empatia imediata,
conversamos horas com ele, o Mayrton era mais antenado com o
que acontecia na cena musical naquela época”. Além de Mayrton,
surge outra figura-chave: o jornalista José Emílio Rondeau. Ao
lado da também jornalista Ana Maria Bahiana, Rondeau editava a
revista Pipoca Moderna, publicação aberta para a nova cena
musical, que apresentava para o Brasil (naquela época não
havia internet…) talentos como Gang of Four, Joy Division e
Talking Heads, grupos que exerceram bastante influência na
jovem Legião Urbana. Assim, sob a batuta de Rondeau e com a
supervisão luxuosa de Mayrton, o grupo acha o tom e consegue
avançar no estúdio. “Foi uma época muito bacana, estávamos num
hotel em Copacabana e todo dia pegávamos o ônibus pra
Botafogo, pra gravar na sede da EMI. “Por Enquanto” foi a
última música a ficar pronta”, recorda o legionário.
O som novo
“lembro que
fera, mas
Gonzaguinha
da banda causava alguma estranheza na gravadora:
havia um engenheiro de produção, Amaro Moço, cara
que estava acostumado a gravar Clara Nunes,
e afins. Quando terminamos o disco, virei pra ele
e perguntei, diz aí, Amaro, qual música você gostou mais?
Lembro que fiquei surpreso quando ele respondeu ‘BaaderMeinhof Blues’”, recorda Dado. Curiosamente, a adição de
violões e guitarras menos distorcidas e mais melódicas acabou
dando razão a Davidson: “pois é, nosso primeiro LP até
lembrava um pouco Bob Seger”, ri Dado.
Rock in
Censura
Rio
e
a
Volta
da
Um pouco antes do lançamento do disco, que aconteceu em março
de 1985, o Rio de Janeiro recebeu o Rock in Rio, a Legião,
ainda sem álbum na praça, não foi sondada para participar do
festival. “Lembro que assisti ao RiR em Brasília, numa TV
preto e branco de 14 polegadas. Mas o festival foi fundamental
para institucionalizar o Rock no Brasil, de certa maneira ele
abriu caminho para que nosso disco de estreia fosse bem
recebido pelo público”. E como foi… Legião Urbana vendeu cem
mil cópias em pouco tempo (disco de ouro), e já acumula mais
de um milhão de unidade vendidas nesses trinta anos.
Dado conta qual era sua expectativa: “a gente fez o que tinha
que fazer, a banda deu o máximo, eram muitas músicas boas, mas
lembro que minha grande dúvida na época era se as músicas
tocariam no rádio”, recorda.
Curiosamente, a Legião Urbana voltou a ter problemas com a
censura em 1987, quando o país vivia sob o governo de José
Sarney (eleito vice-presidente pelo colégio eleitoral na chapa
de Tancredo Neves). O terceiro LP do grupo, Que País é este,
teve censuradas as faixas “Conexão Amazônica” e “Faroeste
Caboclo”. Ambas tiveram a execução pública proibida.
Hoje
Trinta anos e 20 milhões de cópias vendidas do trabalho da
Legião depois, Dado faz parte da Panamericana, banda na qual
está ao lado de Dé Palmeira, Charles Gavin e Toni Platão, e
que tem como objetivo estreitar e fortalecer os vínculos
culturais e musicais do Brasil com os países irmãos,
divulgando, com versões em português, algumas das canções mais
importantes do pop e do rock hispanoamericano. Além disso, tem
um programa de 25 minutos no canal Bis, O Estúdio do Dado,
onde recebe e canta com artistas com que tem uma relação
forte, em seu estúdio localizado no bairro do Horto (Zona Sul
do Rio de Janeiro). Em 2012 o artista – hoje com 49 anos –
lançou seu segundo álbum solo O Passo do Colapso. Está
previsto para abril deste ano de 2015 o lançamento de Dado
Villa-Lobos: Memórias de um Legionário (Mauad/Ediouro),
biografia escrita por Dado em parceria com Felipe Demier e
Romulo Mattos. Já a suculenta coleção O Livro do Disco,
editada pela carioca Cobogó, promete para breve livro sobre As
Quatro Estações (quarto álbum da Legião Urbana), escrito por
Mariano Marovatto.
John Lennon: a trajetória
política de um beatle de
esquerda (parte 2)
Romulo Mattos
Encerramos o texto anterior com a afirmação de que, no início
dos anos 1970, John Lennon viveu o seu período de maior
radicalização política, o que pode ser constatado em suas
canções e na entrevista concedida ao jornal trotskista Red
Mole. Neste segundo artigo, abordaremos as suas composições
mais expressivas, no que diz respeito ao ativismo de esquerda.
Vimos que o pacifismo hippie ocupava um lugar importante no
pensamento político do artista, na segunda metade dos anos
1960. Embora Lennon contestasse os valores da sociedade
tradicional, a crença no ideal de não-violência o levava a
pregar contra a revolução e o conflito, em músicas e frases de
efeito dirigidas à grande imprensa. Em debate público com
intelectuais da Nova Esquerda inglesa, o beatle chegou mesmo a
menosprezar o conceito de luta de classes. O ídolo pop e os
partidários da renovada esquerda britânica compartilhavam os
anseios de transformação social, que atingiram níveis elevados
em 1968; mas havia diferenças significativas, principalmente,
no que diz respeito à forma como essas mudanças mais amplas
seriam efetivadas. Seguindo a cartilha hippie, Lennon dava
como superada a proposta de enfrentamento político, prezada
por ativistas daquele grupo; acima de tudo, acreditava em que
a transformação individual fosse um passo indispensável para a
transformação coletiva.
Vale lembrar que nos Estados Unidos também havia uma
desconfiança mútua entre os estudantes ligados ao Free Speech
Movement, o grupo da Universidade de Berkeley que tanto lutou
pelos direitos civis, e a turma que ouvia rock e consumia
drogas
no
território
hippie
de
Haight-Ashbury,
em
São
Francisco. Decerto, esses dois grupos que pretendiam criar uma
nova América apresentavam estratégia de luta e filosofia
diferentes. Mas “a agitação política […] de Berkeley,
combinada com uma vida voltada para a criatividade, fora do
regime de trabalho e dos objetivos comerciais da sociedade
americana, seduzia a cada dia novos adeptos” (MERHEB, 2012, p.
139). Em Londres, embora John Hoyland, crítico musical
identificado com a Nova Esquerda, houvesse ironizado o
potencial político de “Revolution” (“Revolução”) – “tão
revolucionária quanto uma novela de rádio” (ALI, 2008, pp.
371-2) –, o mesmo podia considerar Lennon um companheiro de
luta, ao comentar a prisão desse último, por porte de drogas:
“talvez agora você perceba o que está (estamos) enfrentando”
(idem).
No documentário The U.S. vs. John Lennon, de David Leaf e John
Scheinfeld (2006), Tariq Ali, outro intelectual relacionado
com a Nova Esquerda britânica, recordou com admiração a
pregação antibelicista empreendida pelo cantor. A campanha
mundial “War is over (if you want it)” – “A guerra acabou (se
você quiser)” –, veiculada no natal de 1969, por exemplo,
incluía cartazes e outdoors pagos pelo próprio cantor, que
considerava o custo dessa operação “mais barato que a vida de
uma pessoa” (idem). Para Ali, o protesto de Lennon contra a
Guerra do Vietnã ia ao encontro dos objetivos da Nova
Esquerda, que apreciava a originalidade dos métodos empregados
pelo artista, verificada nos bed-ins promovidos em Amsterdã e
Montreal.
Em seu livro de memórias, Ali (2008, p. 348) não teve a
pretensão de acreditar em que o seu pensamento tivesse
influenciado de forma decisiva o músico na virada da década de
1960 para a de 1970. Embora esse último tenha ficado empolgado
com as conversas travadas entre os dois, o primeiro demonstrou
ter a consciência de que a época politizou Lennon. Mais
amplamente, entre 1968 e 1972, é possível observar um ciclo de
canções políticas em sua obra, iniciado com o single
“Revolution” e encerrado com o disco Some Time in New York
City. Dentro desse quadro, a sua palavra cantada começou a se
radicalizar em 1970.
“Working Class Hero” (“Herói da classe trabalhadora”) foi
incluída no disco John Lennon/Plastic Ono Band, gravado em
outubro de 1970 e lançado no mês seguinte. A composição mostra
a influência do movimento político de esquerda e de seus
pensadores. A expressão presente no título indica não um
militante e sim uma pessoa que, nascida nas classes mais
pobres, ascendeu socialmente. É muito usada para pop stars,
jogadores de futebol, astros de cinema, entre outros. Por meio
dessa canção, Lennon menosprezava a glória de ser um
superastro, à medida que essa era a opção que o sistema
permitia a um garoto da classe trabalhadora. Nesse sentido,
via a si próprio como uma conveniente válvula de escape para o
sistema burguês. O cantor primeiramente denuncia as regras da
família e da escola, que diminuem o indivíduo: “Te machucam em
casa e te batem na escola/ Te odeiam se você é esperto e
desprezam os tolos/ Até você ficar tão pirado que não consegue
seguir as regras deles/ Vale a pena ser um herói da classe
trabalhadora” (“They hurt you at home and they hit you at
school/ They hate you if you’re clever and they despise a
fool/ Till you’re so fucking crazy you can’t follow their
rules/ A working class hero is something to be”).
Em seguida, ressalta o pensamento de que os trabalhadores
podiam ser usados pelos estratos dominantes para construir a
riqueza e permanecer sem consciência de classe: “Mantém você
drogado com religião, sexo e TV/ E você se acha tão astuto,
sem classe social e livre/ Mas ainda não passa de um peão,
para mim/ Vale a pena ser um herói da classe trabalhadora”
(Keep you doped with religion and sex and TV/ And you think
you’re so clever and classless and free/ But you’re still
fucking peasants as far as I can see/ A working class hero is
something to be).
Na entrevista concedida à revista Rolling Stone (que chamou a
atenção de Ali), em 1970, Lennon afirmou:
“Eu acho que é uma canção revolucionária […] Eu acho que é
para as pessoas como eu, que são da classe trabalhadora, de
quem se espera que sejam processados para a classe média ou
para a indústria. É a minha experiência, e eu espero que
seja apenas um aviso para as pessoas” (WENNER, 2000, p. 93).
“Working class hero” contém apenas três acordes, sendo a voz
acompanhada por um violão tocado de forma econômica. A
mensagem política contida na letra é o elemento principal
desse material artístico. Mas a interpretação vocal,
melancólica, sugere o discurso de uma pessoa desiludida. O
parentesco com estilo folk fez a crítica musical sugerir a
ascendência de Bob Dylan sobre Lennon, que relativizou tal
ideia (Ibid, p. 5). Vale lembrar que, nessa época, a obra
dylaniana estava mais perto da reação do que do radicalismo.
Se o álbum The times they are a-changin’, de 1963, descortina
com profundidade as contradições do mundo capitalista – com o
detalhe de que a canção homônima trata a transformação
revolucionária como inevitável –, New Morning, de 1970,
expressa a felicidade campestre de um homem casado, numa
perspectiva autobiográfica. Não obstante, inclui uma
composição como “Father of night”, um hino de louvor ao Deus
Pai (ROLLASON, 1984, p. 58). Portanto, Lennon e Dylan viviam
processos diametralmente opostos em tal contexto – e isso pode
ajudar a explicar o porquê de o britânico ter negado a
influência direta do americano sobre a sua música.
Estranho às temáticas bucólicas e religiosas prezadas por
Dylan, em 1970, Lennon revia o seu afastamento dos
trabalhadores em “Working class hero”, o que é significativo
para quem colocara a questão de classe em segundo plano, nos
acalorados debates de 1968. Também do álbum John
Lennon/Plastic Ono Band, “I Found Out” censura acidamente a
ideia de religião. O arranjo cru da gravação – guitarra
distorcida, baixo e bateria sem floreios e um vocal rascante –
acentua a virulência da letra. O compositor anuncia estar
livre da ilusão proporcionada pelos falsos ídolos que acumulou
(e rejeitou) ao longo de sua vida: “Agora que eu lhe mostrei o
que eu passei/ Não se fie naquilo que os outros lhe dizem que
você pode fazer/ Não há nenhum Jesus caindo do céu/ Agora eu
descobri, sei que posso chorar/ Eu, eu descobri!” (“Now that I
showed you what I been through/ Don’t take nobody’s word what
you can do/ There ain’t no Jesus gonna come from the sky/ now
that I found out I know I can cry/ I, I found out!”).
Mais especificamente, o seu envolvimento com o movimento Hare
Krishna, na época dos Beatles, é tratado em termos negativos:
“O velho Hare Krishna não conseguiu nada com você/ Só deixou
você maluco sem nada para fazer/ Deixou você ocupado com as
doçuras no céu/ Não existe guru que possa ver através de seus
olhos/ Eu, eu descobri!” (“Old Hare Krishna got nothing on
you/ Just keep you crazy with nothing to do/ Keep you occupied
with pie in the sky/ There ain’t no guru who can see through
your eyes/ I, I found out!”).
Além dos gurus que passaram por sua vida, tendo sido Maharishi
Mahesh Yogi o mais famoso deles – criticado em “Sex Sadie”,
dos Beatles –, Lennon rejeita outras fontes percebidas de
iluminação, como as drogas, utilizadas para meditação: “Não
deixem que eles lhe enlouqueçam com tóxico e cocaína” (“Don’t
let them fool you with dope and cocaine”). O autor ainda
direciona as suas baterias para os seus pais – “Ouvi coisas
sobre meu pai e minha mãe/ Eles não me queriam e por isso me
fizeram uma estrela” (“I heard something about my ma and my
pa/ They didn’t want me so they made me a star”) – e o seu
antigo parceiro de composições nos Beatles – “Vejo a religião
de Jesus a Paul(o)” (“I seen religion from Jesus to Paul”).
Em entrevistas, Lennon dizia estar livre das “bobagens
religiosas” devido à terapia feita com Janov (ALI, 2008, p.
378). Uma composição especialmente importante em sua
trajetória política é “Power to the people” (“Poder para o
povo”), de 1971. No dia seguinte à entrevista concedida ao
jornal Red Mole, um animado Lennon telefonou para Ali: “Olhe,
fiquei tão entusiasmado com o que conversamos que fiz uma
música para o movimento, para vocês cantarem nas passeatas”
(Idem). “Power to the people” mostra uma mudança significativa
em relação a “Revolution”. Conforme foi escrito no texto
anterior, nessa canção, o artista avisa aos revolucionários
para não contarem com ele. Inversamente, em 1971, Lennon
canta: “Diga que queremos uma revolução/ É melhor começar
logo/ Se prepare/ E vá para as ruas” (“Say we want a
revolution/ we better get on right away/ Well, you get on your
feet/ And on the street”). A sua adesão aos movimentos
revolucionários é ratificada em um verso como: “Nós temos de
derrubar vocês/ Quando chegarmos à cidade” (“We got to put you
down/ When we come into down”). As suas declarações no período
vão no sentido de que o chamado Flower Power fracassara; por
essa razão, era necessário começar novamente. Lennon dizia
claramente: “Somos o começo da revolução […] Da América ela se
espalhará pelo resto do mundo. Viva a revolução” (cf. LEAF,
SCHEINFELD, 2006). O arranjo da música merece um rápido
comentário. No início da gravação, lançada como single, a
frase “Power to the people” é cantada em coro, sendo
acompanhada por um provável som de palmas, simulando um
protesto de rua.
É interessante notar em “Power to the people” a manifestação
do discurso feminista, uma influência de Yoko Ono: “Vou te
perguntar, camarada e irmão/ Como é que você trata a sua
própria mulher em casa/ Ela tem de ser ela mesma/ Para poder
se entregar” (“I’m gonna ask you, comrade and brother/ How do
you treat your own woman back home/ She got to be herself/ So
she can give herself”). A promoção do feminismo pode ser vista
como mais uma autocrítica realizada pelo artista, em seu
período de radicalização política. Afinal, Lennon fora capaz
de escrever “Run for your life”, presente no disco Rubber
Soul, de 1965: “É melhor você correr pela sua vida se puder,
garotinha/ Esconda sua cabeça na areia, garotinha/ Te pegar
com outro homem/ É o fim, garotinha” (“You better run for your
life if you can, little girl/ Hide your head in the sand
little girl/ Catch you with another man/ That’s the end,
little girl”). No mesmo álbum, “Norwegian Wood” (“Madeira
Norueguesa”), que aborda nas entrelinhas os seus
relacionamentos extraconjugais na época dos Beatles, conta a
história de um homem que, ao acordar e não encontrar a mulher
com quem passara a noite – porque a mesma saíra para trabalhar
–, ateou fogo ao quarto de sua amante (revestido de madeira
norueguesa), por vingança.
A adesão de Lennon ao ideal feminista renderia uma música
inteiramente dedicada ao tema: “Woman is the nigger of the
wold” (“A mulher é o negro do mundo”), de 1972, título
retirado de um artigo de Yoko. Vale ressaltar que, nos Estados
Unidos, “nigger” é um termo pejorativo para se referir aos
negros; logo, o seu emprego recrudesce a ideia de que as
mulheres ocupavam um lugar marginal na sociedade. Lennon
destacou a dominação masculina: “Nós a fazemos pintar seu
rosto e dançar/ Se não quer ser uma escrava, dizemos que não
nos ama/ Se for verdadeira que está tentando ser um homem/
Enquanto a derrubamos, fingimos que está acima de nós/ A
mulher é o negro do mundo/ Se não acredita em mim, dê uma
olhada na que está com você/ A mulher é a escrava dos
escravos/ Ah, yeah, melhor gritar sobre isso…” (“We make her
paint her face and dance/ If she won’t be slave, we say that
she don’t love us/ If she’s real, we say she’s trying to be a
man/ While putting her down we pretend that she’s above us/
Woman is the nigger of the world/ If you don’t belive me, take
a look at the one you’re with/ Woman is the slave of the
slaves/ Ah yeah… better screem about it”).
Embora a afirmação “A mulher é a escrava dos escravos” possa
parecer ingênua nos dias de hoje, ela não destoava do debate
travado na época, uma vez que o gênero como categoria
analítica ainda não se colocava teoricamente – e sim a ideia
de patriarcado, de subordinação das mulheres aos homens. O
recurso linguístico encontrado para denunciar a opressão à
mulher foi a imagem da escravidão (justamente por ser a
representação mais imediata da falta de liberdade e
igualdade). Tal verso sugere que, na hierarquia das minorias,
a mulher estava no patamar mais baixo.
“Woman is the nigger of the wold” foi incluída no disco Some
time in New York City, gravado em março de 1972 e lançado nos
Estados Unidos em junho. Nesse álbum, há também Sunday Blody
Sunday (“Domingo Sangrento”), uma referência ao dia 30 de
janeiro do mesmo ano, em que militantes católicos enfrentaram
soldados ingleses nas ruas de Londonderry, na Irlanda do
Norte, com um saldo de treze mortos e dezessete feridos, todos
irlandeses. Essa canção trata os garotos assassinados como
“mártires” e critica a ação do exército inglês, em termos
retóricos: “Nem sequer um soldado sangrava quando pregaram as
tampas dos caixões!” (“Not a soldier boy was bleeding when
they nailed the coffin lids!”). Além de versos exaltados
contra a Grã-Bretanha – “Vocês porcos ingleses e escoceses
mandados para colonizar o norte” (“You anglo pigs and scotties
sent to colonize the north”) –, a letra apoia a causa do
Exército Republicano Irlandês, o IRA, que lutava pela
separação da Irlanda do Norte da Grã-Bretanha e posterior
união com a República da Irlanda: “como é que vocês ousam
manter como refém um povo orgulhoso e livre?/ Deixem a Irlanda
para os irlandeses/ Botem os ingleses de volta ao mar!” (“How
dare you hold to ransom a people proud and free/ Keep Ireland
for the Irish/ Put the English back to sea!”).
Gerry O’Hare, que atuava no setor de imprensa do IRA,
confirmou que a liderança dessa organização levava Lennon
bastante a sério e o via como um aliado útil. O astro chegou a
se oferecer para fazer dois shows em benefício do grupo
paramilitar – um em Dublin e um em Belfast. Documentos do
Departamento Federal de Investigação (FBI) também comprovam a
informação de que os serviços de segurança britânicos estavam
espionando o cantor (que nessa época morava nos Estados
Unidos), por causa do seu apoio ao republicanismo irlandês
(cf. ROGAN, 2006). Não obstante, David Shayler, ex-agente do
serviço secreto inglês, afirmou que Lennon teria colaborado
financeiramente com o IRA. O antigo espião também teria visto
uma documentação que atesta o apoio do artista ao Partido
Revolucionário dos Trabalhadores, uma organização radical de
esquerda. Indignada, Yoko – que tem investido fortemente na
memória de Lennon como um pacifista inconteste, como será
visto no próximo artigo –, declarou que o beatle enviou
dinheiro à Irlanda do Norte, sim, mas apenas para ajudar
crianças e a comunidade afetada pela violência política (VEJA,
2000).
A simpatia do músico pelos republicanos irlandeses nunca foi
segredo. O ano de 1972 foi realmente agitado para Lennon, no
que diz respeito ao seu envolvimento com os movimentos
sociais. O artista foi o destaque do evento John Sinclair
Freedom Rally, um comício organizado por Jerry Rubin, pela
liberdade de seu colega de ativismo político, condenado a dez
anos de prisão por portar dois cigarros de maconha. A
participação do beatle foi considerada fundamental para a
conquista da opinião pública, tendo o Supremo Tribunal de
Michigan retrocedido e permitido a liberação de Sinclair. Esse
episódio levou o FBI a acompanhar com atenção a vida de Lennon
nos Estados Unidos.
Rubin e Abbie Hoffman chegaram a organizar um festival grátis
de rock, com três dias de duração, do lado de fora da
Convenção Nacional Republicana. Esses dois militantes ficaram
tão entusiasmados com o sucesso de sua luta, que planejaram
uma excursão de oposição, que seguiria o presidente dos
Estados Unidos, Richard Nixon, por todo o país, durante a sua
campanha de 1972. E o nome de Lennon foi anunciado pela dupla.
Logo, o FBI percebeu que o vencimento do visto do ídolo
britânico seria uma contramedida estratégica. A vitoriosa
(porém árdua) luta do artista pelo direito de permanecer na
América se estendeu até o ano de 1976 (cf. LEAF, SCHEINFELD,
2006).
Nixon, como se sabe, renunciou em 9 de agosto de 1974, em
virtude do escândalo Watergate, pouco antes da votação pelo
Congresso da cassação de seu mandato. A sarcástica “Gimmie
some truth” (“Me dê uma verdade”), do disco Imagine, de 1971,
cita o apelido “Tricky Dicky”, pelo qual o então presidente
era conhecido, em referência aos truques sujos que costumava
empregar para ganhar uma disputa. Essa canção ataca a
hipocrisia dos líderes políticos: “Estou farto de ler coisas/
De políticos neuróticos/ psicóticos e bem-estabelecidos/ Tudo
o que eu quero é a verdade agora/ Apenas me deem um pouco de
verdade agora” (“I’ve had enough of reading things/ by
neurotic, psychotic, pig-headed politicians/ All I want is the
truth now/ Just gimme some truth now”). A gravação tem George
Harrison na guitarra slide e um vocal com técnica de execução
próxima ao staccato, com notas de curta duração. A frase do
título é interpretada de forma enérgica, caracterizando uma
exigência (e não um pedido) pela verdade.
O referido álbum, gravado em junho de 1971 e lançado nos
Estados Unidos três meses depois, reservou outros momentos
memoráveis de crítica política. “I don’t wanna be a soldier
mama i just don’t wanna die” (“Não quero ser um soldado,
mamãe, eu não quero morrer”) deixa evidente em seu título a
temática antibelicista. Mas o destaque foi mesmo o
megassucesso que batizou o disco. “Imagine” é geralmente
tratada como um hino à paz mundial e à harmonia,
principalmente, em virtude de seu verso “Nada em nome do qual
matar ou morrer” (“Nothing to kill or die for”) – que,
isoladamente, pode contradizer “Power to the people”. No
entanto, essa é uma letra antinacionalista – “Imagine que não
existam países” (“Imagine there’s no countries”) –,
antirreligiosa – “E também nenhuma religião” (“And no religion
too”) –, anticonvencional – “Imagine todas as pessoas vivendo
para o dia de hoje” (“Imagine all the people living for
today”) –, e anticapitalista – “Imagine que não existam
posses” (“Imagine no possessions”). Não seria exagero enxergar
no refrão uma utopia socialista: “Você pode dizer que sou um
sonhador/ mas não sou o único/ espero que um dia você se junte
a nós/ e o mundo será como um só” (“You may say i’m a dreamer/
But I’m not the only one/ I hope some day you’ll join us/ And
the world will be as one”).
De forma significativa, Lennon pediu para os trotskistas Ali e
Robin Blackburn participarem do vídeo de “Imagine” – um
indício de que o artista não via nessa canção um retorno ao
pacifismo hippie dos anos 1960. Os dois ativistas não só
aceitaram prontamente o convite, como levaram o recémlibertado Régis Debray – o mais conhecido cronista europeu da
Revolução Cubana, que fora preso e torturado na Bolívia – para
acompanhá-los na visita ao astro. Ali (2008, p. 350),
particularmente, recebeu o mencionado álbum como uma grata
surpresa: “a qualidade artística era altíssima e, felizmente,
a política não havia sufocado a arte […] A política e a música
[…] se uniam com a argamassa da necessidade política”.
A questão é que Lennon experimentara em “Imagine” uma
estratégia, no seu entender, vitoriosa: colocar um “pouco de
mel” nas mensagens políticas (GILMORE, 2005, p. 62). Trata-se
de uma balada conduzida pelo piano, adornada por um arranjo de
cordas delicado, com baixo e bateria executados de forma
contida. A interpretação do vocal é serena. Esse método foi
aplicado novamente com sucesso em “Happy Xmas (war is over)” –
“Feliz Natal (a guerra acabou)”, ainda em 1971. Em uma canção
natalina melodiosa, com direito a coro infantil, o compositor
protesta contra a Guerra do Vietnã e afirma que “o mundo está
tão errado” (“the world is so wrong”).
Tendo radicalizado a sua palavra cantada no início da década
de 1970, Lennon não deixava por menos nas entrevistas
concedidas no período. Na terceira e última parte deste texto,
analisaremos a chamada “entrevista perdida”, publicada pelo
jornal trotskista Red Mole, em 1971.
Referências bibliográficas
ALI, Tariq. O poder das barricadas. Uma autobiografia dos anos
60. São Paulo: Boitempo, 2008.
GILMORE, Mikal. Lennon Lives Forever. Rolling Stone, 15 de
Dezembro de 2005.
LEAF, David, SHEINFELD, John. The U.S. vs. John Lennon. 2006.
MERHEB, Rodrigo. O som da revolução: uma História Cultural do
Rock (1965 – 1969). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2012.
ROGGAN, Johnny. Lennon: The Albuns. London: Rogan House, 2010.
ROLLASON, Christopher. Bob Dylan: do radicalismo à reacção.
Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 13, 1984.
VEJA. Paz, amor e IRA. 1/3/2000.
WENNER, Jann S. Lennon Remembers. London/ New York: Verso,
2000.
John Lennon: a trajetória
política de um beatle de
esquerda (Parte 1)
Romulo Mattos
No início dos anos 1970, John Lennon acentuou a sua atuação
política e impressionou integrantes da Nova Esquerda inglesa,
até então reticentes em relação ao artista, que vacilara
diante do panorama revolucionário de 1968. Chama atenção uma
foto em que o compositor aparece lendo o jornal trotskista Red
Mole, para o qual os historiadores e ativistas políticos Tariq
Ali e Robin Blackburn
o entrevistaram, em 1971. Antes de
abordarmos essa entrevista, analisaremos a trajetória política
de Lennon, que, longe de demonstrar linearidade, foi marcada
por conflitos, inclusive, com partidários da renovada esquerda
britânica.
De início, cabe lembrar que Lennon sempre se apresentou como o
beatle mais intelectualizado e disposto a falar sobre política
e comportamento, sendo o dono dos “insights mais aprofundados”
da banda (MERHEB, 2012, p. 71). Em 1963, quando os Beatles se
apresentaram no Royal Variety Show, diante da Rainha da
Inglaterra, o cantor declarou: “O pessoal da geral pode bater
palmas. O resto, por favor, chacoalhe as joias” (SARMENTO,
2006, p. 60). Em 1965, quando a beatlemania se espalhara pelo
planeta, o músico suscitou uma “guerra santa” contra o seu
grupo ao afirmar:
“O cristianismo vai acabar. Vai se dissipar, depois sucumbir.
Nem preciso discutir isso. Estou certo e o tempo vai provar.
Hoje somos mais populares do que Jesus Cristo. Não sei o que
vem primeiro, o rock’n’roll ou o cristianismo. Jesus era
legal, mas seus discípulos eram estúpidos e ordinários”
(MERHEB, 2012, p. 71).
A repercussão negativa desse episódio levou Lennon a se
desculpar perante um batalhão de jornalistas. Em sua fase mais
politizada, ele manifestaria o seu arrependimento por ter
voltado atrás. O ícone pop também teve de se explicar em 1968,
dessa vez para a esquerda, que viu na canção Revolution um
retrocesso político, quando o mundo estava em ebulição.
Movimentos de protesto e mobilização política pulularam
naquele ano, que ficou marcado pelas manifestações nos Estados
Unidos contra a Guerra do Vietnã; pela Primavera de Praga;
pelo maio libertário dos estudantes e trabalhadores franceses;
pelo massacre de estudantes no México; pela alternativa
pacifista dos hippies; pela contracultura; e pelos grupos de
luta armada espalhados mundo afora (RIDENTI, 2008, p. 136).
Revolution foi a primeira de uma série de canções em que
Lennon trouxe o tema da política para o centro de sua
produção. O artista iniciava essa letra com o verso “Você diz
que quer uma revolução” (“You say you want a revolution”) e
completava com uma recusa a participar: “Você já sabe que não
pode contar comigo” (“Don’t you know you can count me out”).
Luciana Sarmento (2006, p. 114), autora de uma dissertação de
mestrado que enfoca o conflito entre consumo e contracultura
nas letras dos Beatles, procurou situar Lennon no campo
político do período: “Essa música […] fala da contracultura
dividida: havia aqueles que partiam para a luta armada,
matando e/ou machucando pessoas para abolir o establishment e
aqueles que se colocavam ao lado dos movimentos pacifistas”
(grifo nosso). Vemos também neste trecho que a pesquisadora
parece concordar com o posicionamento adotado pelo beatle, ao
deslegitimar implicitamente a opção pela luta armada, que foi
uma realidade histórica da época.
Ouça aqui a canção Revolution
Lennon foi admoestado por John Hoyland, crítico musical da
Black Dwarf, jornal da Nova Esquerda britânica. O intelectual
escreveu uma “CARTA ABERTA A JOHN LENNON”, em 1969,
procurando, entre outros assuntos, relativizar o ideário
hippie, que girava em torno da paz e do amor, principalmente:
“Essa música [Revolution] é tão revolucionária quanto uma
novela de rádio. Para mudar o mundo, precisamos entender o
que está errado nele. E, aí, destruir isso. Sem piedade. Isso
não é crueldade nem loucura. É uma das formas mais
apaixonadas de amor. Por que o que estamos combatendo é o
sofrimento, a opressão, a humilhação, o custo imenso da
infelicidade cobrado pelo capitalismo. E todo “amor” que não
se posiciona contra essas coisas é piegas e irrelevante”
(ALI, 2008, pp. 371-2).
Essas palavras tinham endereço certo, uma vez que Lennon
costumava dizer para os ativistas sociais Jerry Rubin e Abbie
Hoffman: “Estou fora se for pela violência. Não me esperem nas
barricadas, a menos que seja com flores” (ROYLANCE, 2001, p.
299). Mais uma frase de efeito da coleção do músico. Hoyland
continuou a desconstruir o pacifismo hippie promulgado por
Lennon, tentando lhe mostrar, didaticamente, a inviabilidade
concreta de tal proposta, no que diz respeito às
transformações mais amplas na sociedade:
“Revolução bem-educada não existe. Isso não significa que a
violência seja sempre o caminho certo, nem que você tenha
necessariamente de comparecer à próxima manifestação. Há
outras maneiras de desafiar o sistema. Mas elas exigem que
se entenda que os privilegiados farão praticamente tudo –
matarão, torturarão, destruirão, promoverão ignorância,
apatia e egoísmo aqui e queimarão crianças lá fora – para
não entregar o poder” (ALI, 2008, p. 372).
O artista não perdeu tempo e elaborou uma “CARTA MUITO ABERTA
DE JOHN LENNON A JOHN HOYLAND”. Reafirmando os seus princípios
pacifistas, retrucou: “Obviamente você está numa viagem de
destruição” (Ibid, p. 373). O beatle se mostrava
particularmente preocupado com os rumos que a revolução
poderia tomar, ou seja, com o tipo de sociedade que dela
poderia se originar: “Que tipo de sistema você propõe e quem
ficaria no controle?” (Idem). Esse tipo de apreensão aparecia
em outro trecho, de forma mais veemente: “Me fale de uma de
uma só revolução bem-sucedida. Quem fodeu o comunismo, o
cristianismo, o capitalismo, o budismo etc.? Cabeças doentes e
só” (Idem). Ao completar o seu pensamento, que resvalava em um
ceticismo de cariz conservador, Lennon mostrava quão longe
podia estar da Nova Esquerda. Isso porque o conceito de luta
de classes era praticamente menosprezado em seu discurso:
“Acha que todo inimigo usa insígnias capitalistas para você
atirar nele? Isso é meio ingênuo, John. Parece que você acha
que tudo não passa de uma guerra de classes” (Idem). Apesar
dessa frase, o abastado astro do rock não negava inteiramente
a divisão do mundo em classes sociais. Tanto que lembrou a
época em que engrossava a fileira dos “estudantes humilhados
da classe operária [que compravam] um casaco ou qualquer coisa
assim razoavelmente barato e durável” (Idem). Mas a sua
preocupação com a melhoria das condições de vida dos
trabalhadores passava ao largo do conflito social, como
reforça a última linha de sua carta: “PS.: Você estraçalha e
eu construo em volta”.
Este tipo de pregação, transformada em canção no caso de
Revolution, contribuía para colocar os Beatles atrás dos
Rolling Stones no julgamento dos partidários da esquerda
britânica. Ali preferia a banda de Mick Jagger e Keith
Richards por acreditar que ela transmitia melhor o espírito de
1968 (2008, p. 347). Hoyland tocou nesse assunto em sua carta
endereçada a Lennon: “ultimamente a sua música vem perdendo
força, numa época em que a música dos Stones só vem ganhando
força” (Ibid, p. 372). Mas o beatle percebeu que o comentário
político do jornalista podia estar contaminado por uma
abordagem midiática vulgar, que tendia a alimentar a suposta
disputa entre as bandas: “em vez de procurar pelo em ovo nessa
história de Beatles e Stones, pense um pouco mais alto […]”
(Ibid. 374).
Recuando um pouco, em outubro de 1968, a já mencionada Black
Dwarf tinha considerado Satisfaction e Play with fire, ambas
escritas pela dupla Jagger e Richards, “clássicos do nosso
tempo” e ainda “sementes da nova revolução cultural” (WIENER,
1984, p. 81). Além disso, afirmara que “Revolution” mostrava
que os “Beatles foram deliberadamente salvaguardar o
investimento capitalista” (Idem). Na edição subsequente, o
jornal dera aos Stones status de radicais. Publicado pouco
antes de uma nova marcha contra a embaixada americana, o
editor fizera publicar a manchete “Marx, Engels, Mick Jagger“.
Ao lado de um ensaio de Engels, sob o título “On Street
Fighting“, aparecia a letra da canção “Street Fighting Man“,
escrita de próprio punho por Jagger, que a enviara à redação
para mostrar seu apoio à marcha (Ibid, p. 82).
Em 1969, ao mesmo tempo que Lennon ratificava em carta aberta
o pacifismo hippie presente em “Revolution”, as suas ações
políticas se aguçavam. Quando o psiquiatra americano e papa do
LSD, Timothy Leary, resolveu se candidatar ao governo da
Califórnia (tendo como adversário Ronald Reagan!), o artista
compôs Come Together, inspirado no slogan da campanha do
Partido Psicodélico da Califórnia: “Chegue junto, junte-se à
festa” (“Come Together, join the party”) – é interessante
notar o trocadilho (em inglês) feito com a palavra party, que
pode significar tanto “festa” quanto “partido” (LEARY, 1999,
p. 366). Portanto, Come Together foi originalmente escrita
como música de campanha de Leary, tendo sido mais tarde
aperfeiçoada pelo beatle.
O psiquiatra americano chegou a protestar em carta ao
compositor por não ter sido incluído na autoria da música.
Esse último se livrou de um possível embaraço jurídico de
forma espirituosa – embora pouco coletivista. Disse que era um
alfaiate e o candidato um cliente que havia encomendado um
terno e nunca mais retornara. Então, ele o vendera para outra
pessoa. Mesmo tratando de política, Lennon não perdia de vista
a dimensão do mercado. Mas a colaboração entre os dois teve
outros episódios interessantes. Leary, autor de artigos a
favor da não-violência, participara da gravação de “Give peace
a chance”, durante o famoso bed-in promovido por Lennon e Yoko
Ono no hotel Queen Elizabeth, em Montreal, em março de 1969. O
casal enviara sementes de carvalho para todos os presidentes e
ditadores do mundo como um símbolo do movimento pela paz.
Durante a estada no referido hotel, os recém-casados se
mantiveram esparramados numa cama king-size. Eles também
destinaram cerca de U$5000 ao entusiasta do LSD, quando esse
esteve no exílio (iniciado em 1970), por meio dos advogados
dos Weathermen – grupo de esquerda norte-americano, praticante
da luta armada (Ibid, pp. 365-7, 372-3).
Ainda em 1969, no mês de setembro, Lennon organizou o festival
Sweet Toronto, para promover “a paz no mundo”. No fim do ano,
devolveu ao Palácio de Buckingham a sua insígnia de Membro da
Ordem do Império Britânico, em protesto contra o envolvimento
da Grã-Bretanha na guerra Nigéria-Biafra, contra o apoio
britânico à guerra do Vietnã e contra a queda nas paradas de
sucesso da canção Cold Turkey (NOYER, 2010, p. 28). Vemos que,
mais uma vez, o artista misturou protesto político e razões
mercadológicas, ao tentar também promover um single
malsucedido para os padrões de um integrante dos Beatles –
grupo que, aliás, passara um período significativo sem dar
declarações sobre a Guerra do Vietnã, para não atrapalhar a
carreira e os negócios.
Por essa época, Lennon começou a se aproximar de Ali – então
editor da mesma Black Dwarf que criticara Revolution –, para o
qual telefonava uma ou duas vezes por mês, com o objetivo de
conversar sobre a situação do mundo. O início da nova década
marcou a fase mais radical de sua carreira, registrada em
canções como Working Class Hero, Power to the people e I Found
Out. Além disso, o artista concordou em colaborar com o jornal
trotskista Red Mole, surgido após uma cisão na esquerda
inglesa, que levou Ali a abandonar aquela outra publicação.
Assim, Lennon concedeu a esse último e a Blackburn uma
entrevista em que o tema da política vinha em primeiro lugar.
Referências
bibliográficas
ALI, Tariq. O poder das barricadas. Uma autobiografia dos anos
60. São Paulo: Boitempo, 2008.
LEARY, Timothy. Flashbacks “surfando no caos”:
autobiografia. São Paulo: Beca Produções Culturais, 1999.
uma
MERHEB, Rodrigo. O som da revolução: uma história cultural do
rock (1965 – 1969). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2012.
NOYER, Paul Du. John Lennon: The Stories Behind Every Song
1970-1980. London: Carlton Books Ltd., 2010.
RIDENTI, Marcelo. “1968: rebeliões e utopias”. In: REIS FILHO,
Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge & ZENHA, Celeste (orgs.). O
século XX. V. 3. O tempo das dúvidas: do declínio das utopias
às globalizações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2000.
ROYLANCE, Brian. Beatles – Antologia. São Paulo: Cosac & Naif,
2001.
SARMENTO,
Luciana Villela de Moraes. Ticket to ride. As
tensões entre consumo e contracultura nas letras de música dos
Beatles. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) –
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
WIENER, Jon. Come Together: John Lennon in his time. Illini
books ed. Urbana: University of Illinois Press, 1991.
Notas sobre The Times They
Are a-Changin’, de Bob Dylan
Romulo Costa Mattos
Em outubro de 1963, Bob Dylan gravou The Times They Are aChangin’, faixa título do disco lançado em janeiro de 1964,
nos EUA. A intenção do compositor era fazer um hino para as
transformações históricas quem vinham ocorrendo no mundo e,
particularmente, nos EUA. Nesse país, o movimento pelos
direitos civis dos negros ganhava intensidade até então
inédita, ao qual aderiram os músicos ligados ao estilo folk,
principalmente. Ao lado do referido cantor, artistas como
Peter Seeger, Phil Ochs e Joan Baez eram bastante estimados
pelo público jovem e marcadamente de esquerda. Mas,
inegavelmente, a palavra cantada de Dylan tinha uma força
maior do que a de seus colegas.
No ano em que Dylan compôs The Times They Are a-Changin’, a
sua carreira vinha em um crescendo. Em 13 de julho de 1963,
Blowing’ in the Wind, gravada pelo trio Peter, Paul and Mary,
alcançara o segundo lugar nas paradas da Billboard, com vendas
que passaram de 1 milhão de cópias. Ainda nesse mês, no
prestigiado Newport Folk Festival, o bardo tinha sido
apresentado ao público como o artista folk mais importante dos
EUA. No dia 26 de outubro, o cantor fez um show-solo com
lotação esgotada no Carnegie Hall, confirmando o seu novo
status de astro. A edição de 4 de novembro da Newsweek trazia
um artigo sobre o artista, embora em termos pejorativos,
tratando-o como um jovem vaidoso, que manipulava a verdade
para se promover (SOUNES, 2002: 128, 134-5).
Não é propriamente a ascendente carreira de Dylan que explica
a gestação de uma canção como The Times They Are a-Changin’ e
sim a sua capacidade para realizar as conexões existentes num
contexto histórico raro – em que a crença no futuro se
transformava em experiência coletiva. Nos anos imediatamente
anteriores à referida gravação, foram vitoriosas ou estavam
ocorrendo diversas revoluções de libertação nacional, como a
revolução cubana de 1959, a independência da Argélia em 1962 e
a Guerra do Vietnã. Essas guerras mostravam ao planeta a
rebeldia de povos coloniais e semi-coloniais contra grande
potências, em um possível prenúncio dos novos tempos. Essa
noção é essencial para a compreensão das lutas e do ideal
contestador da década de 1960, que atingiriam o seu auge no
ano de 1968 (RIDENTI, 2008: 135).
Nos EUA, boa parte dos ativistas da Nova Esquerda cresceu no
já mencionado movimento pelos direitos civis e se misturou ao
movimento estudantil nas universidades. Em 1962, criou-se no
Michigan a SDS – Studantes for a Democratic Society –, que
pregava uma nova política e manifestava a desilusão com a
sociedade vigente. Em 1964, a insatisfação explodiu na
Universidade da Califórnia, em Berkeley, tendo nascido dessa
experiência o Movimento pela Livre Expressão, que denunciava o
caráter impessoal da universidade e de suas políticas
educacionais, tidas como corruptas e segracionistas. Em
relação à luta pelos direitos civis, especificamente,
organizações a princípio interraciais como a SNCC – Student
Nonviolent Coordination Committee (1960) – e o CORE – Congress
of Racial Equality (1961) – desenvolviam programas de educação
ao cidadão e encorajavam a resistência e a afirmação dos
direitos do negro. A SCLC – Southern Christian Leadership
Conference (1957) – era liderada pelo pastor Martin Luther
King, que organizou uma manifestação em Alabama, em abril de
1963, cujas cenas de violência contra os negros impactaram os
lares americanos. Pouco depois, Medgar Evans, presidente da
NAACP – National Association for the Advancement of Colored
People (1909) –, foi assassinado no Mississipi e o governo
federal foi obrigado a interferir. Em junho, John Kennedy
enviou um conjunto de propostas legislativas que combatiam a
segregação e a discriminação raciais, além de ter discursado
sobre o assunto – embora a Lei dos Direitos Civis tenha virado
realidade somente em 1965, durante o governo de Lyndon
Johnson. Em agosto de 1963, ocorreu a famosa passeata em
Washington, no Lincoln Memorial, quando 250 mil pessoas
fizeram a maior demonstração pelos direitos civis até então
(PAMPLONA, 1995: 83-6). Dylan estava a poucos metros de Luther
King quando esse fez o seu discurso mais conhecido: “I have a
dream…”. O artista cantou para a multidão, ao lado de Baez.
Três meses depois, Kennedy seria assassinado. A morte do
presidente dos EUA deprimiu Dylan, mas logo ele descobriu que
podia ter empatia pelo suposto autor do crime, Lee Oswald. Em
dezembro de 1963, o compositor foi homenageado pelo ECLC –
Emergency Civil Liberties Comittee – com o conceituado prêmio
Tom Paine, destinado a personalidades que lutassem em prol da
justiça social. No jantar de arrecadação de fundos para a
entidade, o cantor recebeu vaias e assobios após afirmar: “eu
me vi um pouco nele [Oswald]”. Em entrevista subsequente,
Dylan repetiu essa ideia e tentou se explicar melhor: “vi nele
boa parte da época em que estamos vivendo” (SOUNES, 2002:
135-5). O ano de 1964 foi marcado pelo Freedom Summer, quando
os militantes pelos direitos civis aumentaram as manifestações
no Mississipi. Em reação ao assassinato de três líderes do
movimento pela polícia, foi criado o MFDP – Mississipi Freedom
Democratic Party –, saído das fileiras do Partido Democrata.
(PAMPLONA, 1995: 86).
The Times They Are a-Changin’ era um brado à juventude no
momento em que os EUA passavam por mudanças cruciais.
Influenciado por baladas escocesas e irlandesas, como Come All
Ye Bold Highway Men e Come All Ye Tender Hearted Maidens
(CROWE, 1985), Dylan convidava os pais a saírem do caminho se
não fossem capazes de ajudar (“Your old road is/ Rapidly
agin(g)’/ Please get out of the new one/ If you can’t lend
your hand”), enquanto convocava senadores e congressistas para
atender ao chamado (“Come senators, congressmen/ Please heed
the call”). Virando a linguagem bíblica contra as classe
dominantes, numa adaptação de uma frase do Sermão da Montanha
(“And the first one now will later be last”), lembrou os
jovens ouvintes de que eles seriam os herdeiros da terra. Em
resumo, a transformação revolucionária é vista como
inevitável. Vale mencionar que o álbum homônimo (que também
foi sucesso comercial) é o trabalho político de Dylan, por
excelência. As suas letras produzem uma análise penetrante da
sociedade dos EUA, sendo capazes de comunicar política
progressista através de um meio popular (ROLLASON, 1984: 48,
51).
Dylan produziu outras canções duras de protesto no início dos
anos 1960, como Masters of War, The Lonesome Death of Hattie
Carroll e A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Depois do disco The
Times They Are a-Changin’, é possível notar o seu afastamento
do movimento de protesto, tendo passado a rejeitar uma postura
coletiva a favor de um posicionamento anarco-individualista e
antissistema. Porta-voz da nova (e subversiva) cultura
underground, para muitos, o compositor continuava a fazer
política, na prática. Mas o fim da década de 1960 revelou uma
viragem gradual de posições radicais para uma postura
reacionária, que seria completada com a sua conversão, em
1978, à ideologia do movimento cristão “born-again”, afinado
com o reaganismo e a direita-radical. No ano seguinte, o seu
álbum Slow Train Coming apresentava uma ideologia raivosamente
antimulher, pró-família, pró-censura e anticomunista. O
cristianismo sob a forma autoritária substituía o conceito de
classe em sua obra: o motor da história seria a luta entre
crentes e não crentes. Até para cristãos esse dogmatismo
fundamentalista pareceu indigesto (Cf. ROLLASON, 1984).
Ao longo das décadas de 1990 e 2000, a canção The Times They
Are A-Changin foi licenciada para uso publicitário em
campanhas publicitárias de empresas de auditoria e
contabilidade, de companhias de seguros e até de bancos
canadenses (GRAY, 2006: 152), além de ter integrado a trilha
sonora de superproduções hollywoodianas. Mas pode ser, nos
dias de hoje, novamente apropriada segundo o seu sentido
político original, tendo em vista os grandes protestos que
unificam cada vez mais a luta dos trabalhadores europeus
contra o capitalismo ortodoxo da Troika. Milhões de pessoas
que insistem em negar, nas ruas, as verdades inexoráveis do
neoliberalismo, segundo as quais mudar é sempre muito difícil,
quando não impossível.
Os tempos estão mudando.
Referências bibliográficas
DYLAN, Bob. Biograph. Columbia Records, 1985. Notas e textos
por Cameron Crowe.
GRAY, Michael. The Bob Dylan Encyclopedia. New York, London:
Continuum International, 2006.
PAMPLONA, Marco A. Revendo o sonho americano: 1890-1972. São
Paulo: Atual, 1995.
RIDENTI, Marcelo. “1968: rebeliões e utopias”. In: FILHO,
Daniel Aarão Reis Filho, FERREIRA, Jorge, ZENHA, Celeste. O
Século XX. O Tempo das Dúvidas. Do declínio das utopias às
globalizações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
ROLLASON, Christopher. Bob Dylan: do radicalismo à reacção.
Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 13, 1984.
SOUNES, Howard. Bob Dylan: a biografia. São Paulo: Conrad
Editora do Brasil, 2002.