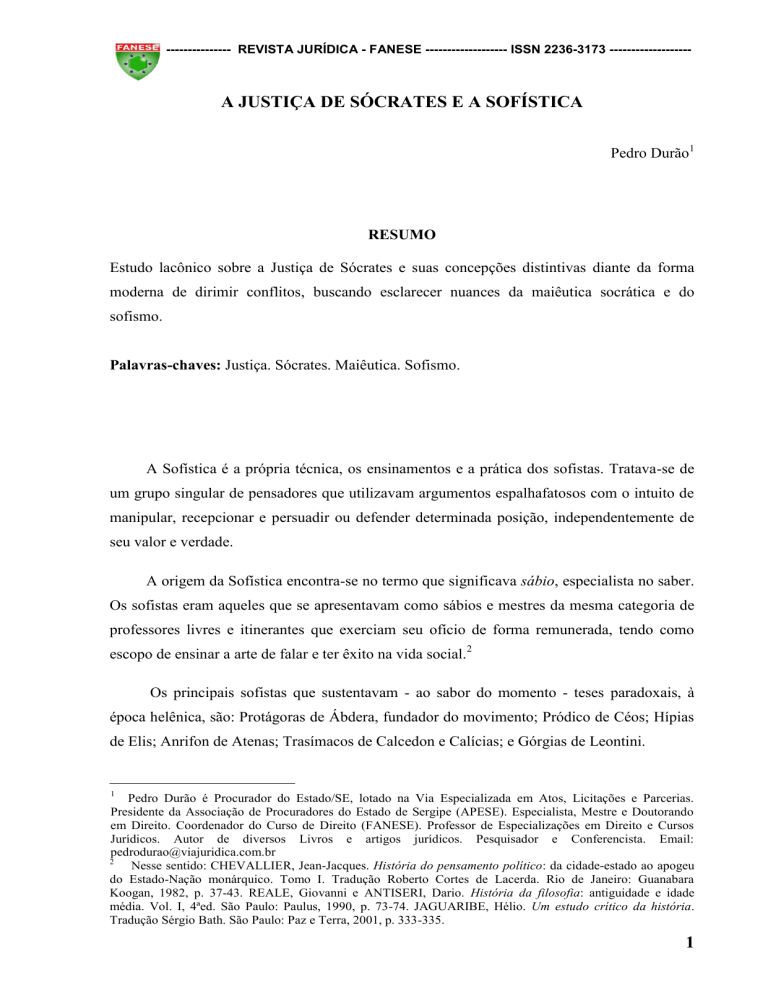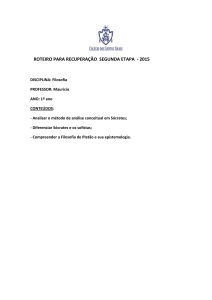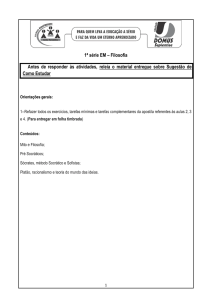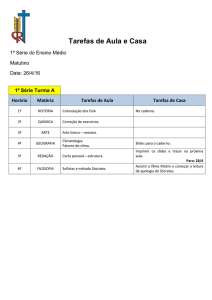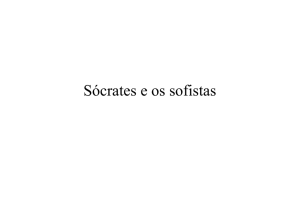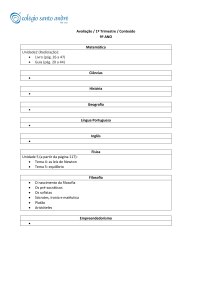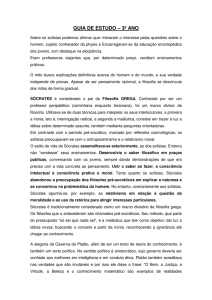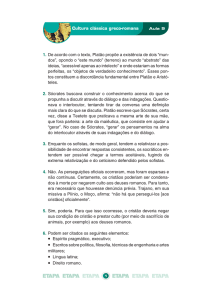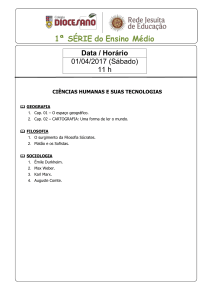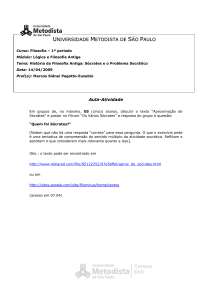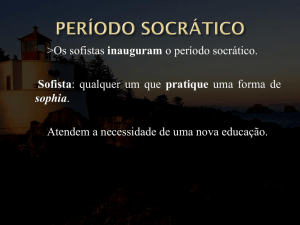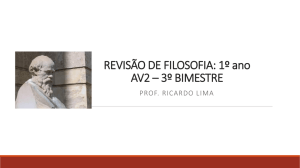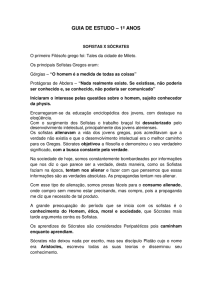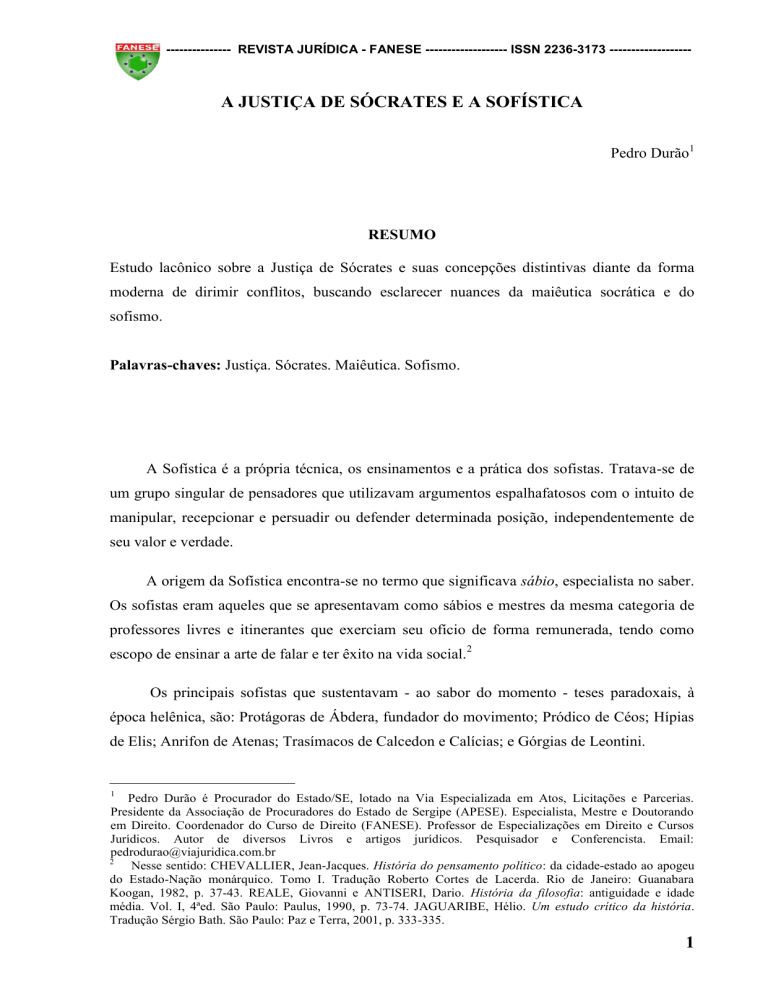
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
A JUSTIÇA DE SÓCRATES E A SOFÍSTICA
Pedro Durão1
RESUMO
Estudo lacônico sobre a Justiça de Sócrates e suas concepções distintivas diante da forma
moderna de dirimir conflitos, buscando esclarecer nuances da maiêutica socrática e do
sofismo.
Palavras-chaves: Justiça. Sócrates. Maiêutica. Sofismo.
A Sofística é a própria técnica, os ensinamentos e a prática dos sofistas. Tratava-se de
um grupo singular de pensadores que utilizavam argumentos espalhafatosos com o intuito de
manipular, recepcionar e persuadir ou defender determinada posição, independentemente de
seu valor e verdade.
A origem da Sofística encontra-se no termo que significava sábio, especialista no saber.
Os sofistas eram aqueles que se apresentavam como sábios e mestres da mesma categoria de
professores livres e itinerantes que exerciam seu ofício de forma remunerada, tendo como
escopo de ensinar a arte de falar e ter êxito na vida social.2
Os principais sofistas que sustentavam - ao sabor do momento - teses paradoxais, à
época helênica, são: Protágoras de Ábdera, fundador do movimento; Pródico de Céos; Hípias
de Elis; Anrifon de Atenas; Trasímacos de Calcedon e Calícias; e Górgias de Leontini.
1
Pedro Durão é Procurador do Estado/SE, lotado na Via Especializada em Atos, Licitações e Parcerias.
Presidente da Associação de Procuradores do Estado de Sergipe (APESE). Especialista, Mestre e Doutorando
em Direito. Coordenador do Curso de Direito (FANESE). Professor de Especializações em Direito e Cursos
Jurídicos. Autor de diversos Livros e artigos jurídicos. Pesquisador e Conferencista. Email:
[email protected]
2
Nesse sentido: CHEVALLIER, Jean-Jacques. História do pensamento político: da cidade-estado ao apogeu
do Estado-Nação monárquico. Tomo I. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1982, p. 37-43. REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da filosofia: antiguidade e idade
média. Vol. I, 4ªed. São Paulo: Paulus, 1990, p. 73-74. JAGUARIBE, Hélio. Um estudo crítico da história.
Tradução Sérgio Bath. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 333-335.
1
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
Em verdade, os sofistas influenciaram o curso da investigação filosófica e foram os
primeiros a reconhecer o valor formativo do saber. Outrossim, elaboraram o conceito de
cultura (Paidéia) como formação do homem e como membro de um povo ou do ambiente
social.3
Visualiza-se, de logo, que a natureza relativista de suas teses teóricas não é mais que a
expressão de uma condição fundamental do ensino e, em qualquer dos casos de interesse dos
sofistas limitavam-se a esfera das ocupações humanas e da própria filosofia como instrumento
que possibilitava sua hábil movimentação em busca dos seus interesses.
O caráter da Sofística se expressa como a profissão da sabedoria, daqueles que
ensinavam mediante remuneração, limitando-se ao ensino das disciplinas formais e outras
noções desprovidas de solidez científica.
A criação fundamental dos sofistas foi a retórica como arte de declamar ou argumentar
com o fim de impressionar ou persuadir independente da validade das razões adaptadas.
Segundo Chevallier4, Protágoras, príncipe dos sofistas e perito em manipular a dialética,
atribuiu subjetivismo total no terreno político como no ético, afirmando: “o homem é medida
de todas as coisas”. Já Hípias teceu opiniões originais sobre a relatividade das leis no espaço,
segundo os povos e as cidades, bem como as suas relações com a justiça, afirmando: “nós
todos aqui presentes para mim sois todos parentes, próximos, concidadãos pela natureza,
talvez pela lei. Pela natureza o semelhante é parente do semelhante, mas a lei, que tiraniza os
homens, impõe restrições a natureza.”
Assim, podemos perceber alguns aspectos da Sofística: a) os sofistas exigiam
compensação pecuniária por seus ensinamentos, visando objetivos práticos e a busca de
alunos; b) os sofistas eram nômades, respeitando o apego à cidade em contraposição ao
dogma ético grego; c) os sofistas manifestavam a notável liberdade de espírito em relação à
tradição, às normas e aos comportamentos codificados, mostrando uma confiança ilimitada
nas possibilidades da razão; d) os sofistas compreendiam um complexo de esforços
independentes para satisfazer a necessidade idêntica.
3
ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia. Vol. I, 5ªed. Lisboa: Editorial Presença, 1991, p. 84.
CHEVALLIER, Jean-Jacques. História do pensamento político: da cidade-estado ao apogeu do EstadoNação monárquico. Tomo I. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982, p.
39.
4
2
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
Finalmente, podemos afirmar que a Sofística destruiu a velha imagem de homem, da
poesia e da tradição pré-filosófica, e não soube reconstruir uma nova estampa, tendo sido
rechaçada, sobretudo, por Sócrates, um dos pensadores mais importantes da Grécia Clássica, e
Platão .
Sócrates, filho de escultor e uma parteira, nasceu numa época em que Atenas se tornava
potência política, econômica e militar (470-399 AC). Nada deixou por escrito, todavia suas
ideias foram divulgadas por seus principais discípulos: Xenofonte e Platão. A expressão
Socrática foi eternizada em Platão que se perfaz como um porta-voz de sua doutrina, e ainda,
Xenofonte5 que apresenta Sócrates em dimensões reduzidas.
Desde a juventude, Sócrates tinha o hábito de debater e dialogar com as pessoas de sua
cidade. Ao contrário de seus predecessores, não fundou uma escola, preferindo realizar seu
trabalho em locais públicos, de forma descompromissada, dialogando com todas as pessoas, o
que fascinava jovens, mulheres e políticos de sua época.
As questões que Sócrates privilegiava eram as referentes à moral, daí perguntar em que
consiste a coragem, a covardia, a piedade, a justiça e assim por diante. Em verdade, por meio
de questionamentos, ele destrói o saber constituído para reconstruí-lo na procura da definição
de conceito.
No ensinamento Socrático, para que haja uma definição de essência universal do
homem, é preciso que exista algo além dos homens particulares e diferentes entre si que nós
conhecemos e a existência de um outro mundo onde exista a justiça em si. É no mundo
invisível que a justiça triunfa.
O autoconhecimento é parte estrutural da razão Socrática desenvolvida através de
diálogos, estes divididos em ironia e maiêutica com estilo de vida aparentemente sofista.
Sócrates jamais vendeu ensinamentos. Interrogava as pessoas pelas ruas querendo delas uma
posição a propósito de justiça, bem, mal, de direito, como bem reporta Oliveira em sua obra
Filosofia do Direito Ocidental.6
Há, portanto, uma coincidência entre Sócrates e os Sofistas no que concerne ao
entendimento sobre a necessidade de o direito trazer a sua origem vinculada à natureza
5
Em Apologia de Sócrates, Xenofonte relata, através de testemunho interessante, o processo Socrático
descrevendo que Sócrates, altivo, digno e sereno, prefere morrer a dever a vida a juízes desprezíveis.
3
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
humana. A diferença entre um e outros está quando os sofistas consideram os aspectos
relativos ao homem, enquanto Sócrates vai até a essência humana, levando em conta o
espírito ético, apesar de existir uma tradição advinda de Aristóteles ao afirmar que os sofistas
nada disseram.
Registre-se, ainda, que
[...] los sofistas sostenían el relativismo en el conocimiento y en la moral. Sócrates
discrepaba radicalmente en este punto de ellos. Recordamos que para los sofistas no
había un criterio universal o patrón con el medir las actitudes morales por lo cual no
era posible hallar definiciones precisas de ellas y, en consecuencia, hacer ciencia
rigurosa (“episteme”). Sócrates, por el contrario, pensaba que sí era posible
encontrar este patrón utilizando con rigor el razonamiento que nos diera las
definiciones precisas de las cada concepto. Através del diálogo, el razonamiento y,
por tanto, la comunicación, es posible lograr las definiciones precisas. Sócrates sí
cree en un conocimiento “epistémico” sobre los conceptos morales. En este empeño
por un saber “científico” sobre cuestiones morales tiene bastante que ver el modelo
de saber utilizado, el saber técnico,[...]” e finalmente, “[...] para Sócrates sólo el que
saberlo que es la justicia puede ser justo. El que sabe lo que es justo con precisión y
rigor hará lo justo; el que sabe lo que es el bien, hará el bien. Es preciso saber para
hacer lo correcto. A esta vinculación entre saber y hacer, pensar y obrar, se la
conoce como intelectualismo moral. 7
Frise-se que ele viveu e morreu ensinando o respeito às leis, ao contrário de seus
adversários sofistas que se insurgiram contra textos legais, afirmando que a alma e o eu
consciente, ou seja, a consciência é a personalidade intelectual e moral, de modo a concluir,
inevitavelmente “a alma nos ordena a conhecer aquele que nos adverte, conhece-te a ti
mesmo.” 8
"Conhece-te a ti mesmo" - o lema em que Sócrates cifra toda a sua vida de sábio. O
perfeito conhecimento do homem é o objetivo de todas as suas especulações, e a moral, o
centro para o qual convergem todas as partes da filosofia. A psicologia serve-lhe de
preâmbulo, enquanto a teodicéia9 de estímulo à virtude e de natural complemento da ética.
6
OLIVEIRA. Frederico Abrahão de. Filosofia do direito ocidental: momentos decisivos. Porto Alegre: Sagra,
1996, p. 102.
7
Revista filosofia de bachillerato. Los Sofistas y Socrates. Espanha, 2001. Disponível em:
<http://perso.wanadoo.es/jupin/filosofia/sofistas_socrates.html>. Acesso em 25 jun. 2001.
8
Nesse sentido: CHEVALLIER, Jean-Jacques. História do pensamento político: da cidade-estado ao apogeu
do Estado-Nação monárquico. Tomo I. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1982, p. 44. REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da filosofia: antiguidade e idade média.
Vol. I, 4ªed. São Paulo: Paulus, 1990, p. 88. CRETELLA, José Júnior. Filosofia do direito. Rio de Janeiro:
Forense, 1977, p. 106.
9
Trata-se teodicéia de disciplina filosófica que procuram justificar a bondade divina, contra os argumentos
tirados da existência do mal no mundo, refutando as doutrinas dualistas que se apoiam nesse tema procurando
reivindicar a bondade e a justiça de Deus, apesar de existirem o mal natural e sofrimento humano.
4
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
A maneira como Sócrates fazia as pessoas conhecerem-se a si mesmas também estava
ligada a sua descoberta de que o homem, em sua essência, é a sua psyché. Em seu método,
chamado de maiêutica, ele tendia a despojar a pessoa da sua falsa ilusão do saber,
fragilizando a sua vaidade e permitindo que a pessoa estivesse mais livre de falsas crenças e
mais susceptível a extrair a verdade lógica que estava no seu interior.
Ele nada ensinava, apenas ajudava as pessoas a tirarem de si mesmas opiniões próprias
e limpas de falsos valores, pois entendia que o verdadeiro conhecimento tem de vir de dentro,
de acordo com a consciência.
Indubitavelmente, o objetivo do diálogo socrático, “[...] era matar o mestre no
discípulo, inocular-lhe o germe da dúvida metódica, do questionamento purgativo, e
preparar-lhe o espírito para uma autêntica aprendizagem [...]”, afirma Eduardo Navarro ao
comentar o perfil biográfico de Sócrates, Mestre da Grécia e do Mundo, no capítulo
introdutório ao clássico Banquete de Platão.10
Entendia o sábio grego que o processo de aprender é um processo interno, e tanto mais
eficaz quanto maior for o interesse de aprender. Só o conhecimento que vem de dentro é
capaz de revelar o verdadeiro discernimento, tomando, concomitantemente, consciência do
seu próprio pensamento.
Nessa linha, se opera uma revolução no tradicional quadro do ensino e de valores. Os
verdadeiros valores não são aqueles ligados às coisas exteriores como a riqueza, o poder, a
vida, mas somente aos valores da alma que resumem todos no conhecimento.
É, por outro lado, na ordem cívica, que o sábio Sócrates impulsionava sua vida e
dificilmente poderia imaginar um sacrifício maior. Assim, ele morreu pregando respeito às
leis, mas tal postura não significa que houvesse apregoado o respeito às leis injustas. Aliás,
Sócrates quando condenado à morte e visitado por amigos, os quais lhe propuseram a fuga da
prisão, evitando a execução da pena imposta injustamente, ele não aceita, dizendo: “se me
pertence o direito de sair desta prisão sem a permissão dos atenienses ou se pelo contrário,
careço desse direito é o que devemos analisar. O Estado nos cometeu injustiça decidindo
erradamente a controvérsia jurídica? É o que devemos decidir.”11
10
11
PLATÃO. Banquete. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 24.
Ibidem, p. 54.
5
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
Argumenta Sócrates que a ordem jurídica reinante na cidade de Atenas é a propiciadora
das condições de vida de seus cidadãos que estão sobre guarida da ordem estabelecida. Assim,
na relação existente entre o Estado e os cidadãos não há igualdade, posto que estes devam à
pátria, a vida e o conhecimento que possuem, tornando-se, portanto, servos do sistema.
Vale lembrar que entre os povos organizados, a justiça é o próprio poder fundamental
dos poderes públicos que se instituem por delegação da soberania popular. A justiça é o
próprio direito realizado.
Hans Kelsen, na obra A Ilusão da justiça, esclarece, em capítulo próprio, a harmonia
entre a justiça e o direito positivo na época de Sócrates, afirmando: “Sócrates nos remete à
parte do direito da moral positiva diretamente aos deuses declarando: „até mesmos os
deuses, portanto, tem o justo e o legal por uma única e mesma coisa.”12
Nelson Saldanha, enfrentando o problema, afirma que o direito ocorre nas sociedades
com uma estruturação ético-política, destinada a resolver problemas que podem ser ou não
“conflitos: uma estruturação que tende a estabilizar-se e a vigorar como forma, mas que ao
mesmo tempo muda, altera-se, troca de conteúdo.”13, e continua descrevendo a justiça como
valor: “a justiça é sempre um „ideal‟, embora tenda ou deva tender a uma realização através
de instituições, normas e critérios.”14
É importante assinalar que Rawls, em sua obra “Uma Teoria da Justiça”, conceitua
justiça como “um significado um equilíbrio adequado entre reivindicações concorrentes e
uma concepção da justiça com um conjunto de princípios correlacionados com a
identificação das causas principais que determina esse equilíbrio.”15
Para Sócrates, finalmente, que finge tudo ignorar, não há um conceito geral de coisa
alguma. O conceito é, pois, o fruto, o término, o desfecho de um processo que dialeticamente
leva da multiplicidade à unidade, do erro à opinião verdadeira.
Dessa forma, não há um conceito único de justiça. Esta se encontra nas ideias, no
conhecimento verdadeiro e relativamente aceitável que se adquire mediante indagações e
12
KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 504-506.
SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 4.
14
SALDANHA, Nelson. Pequeno dicionário da teoria do direito e filosofia política. Porto Alegre: Fabris,
1987, p. 156.
15
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Almiro Pesetta e Lenita M. R. Estaves. São Paulo: Matins
Fontes, 1997, p. 11.
13
6
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
questionamentos.
Por
suas
perguntas,
Sócrates,
muitas
vezes,
obrigou
homens
experimentados a elucidarem tudo que sabiam sobre a justiça. Estes homens perceberam que,
no máximo, só podiam citar exemplos de justiça e que eram incapazes de descobrirem o
conceito geral que definiria a justiça como tal. Segundo Sócrates existe “uma” justiça e não
“a” justiça.
Certamente, é doloroso descobrir que “conceito” designa uma justiça que tem existência
no mundo invisível, conforme Sócrates. Vemos de maneira clara, em suma, o exercício da
ironia e da maiêutica socráticas.
Assim, a justiça Socrática e a contemporânea divergem em sua forma representativa no
sentido de que, aquela, embasada nos valores introspectivos de cada homem, buscava o
sentido retilíneo de pensar a solução das contendas, enquanto que a moderna, renovada pelas
exigências do direito positivo, muitas vezes influenciada por conchavos diversos, patrocina a
lenta e virtual solução das lides, afastando o verdadeiro escopo da justiça real desejada por
todos.
7
--------------- REVISTA JURÍDICA - FANESE ------------------- ISSN 2236-3173 -------------------
BIBLIOGRAFIA
ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia. V. I, Lisboa: Editorial Presença, 1991.
ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva,1996.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo:
Moderna, 1997.
BITTAR, Eduardo. A justiça em aristóteles. Rio de janeiro: Forense Universitária, 1999.
________. Curso de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2001.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997.
CHEVALLIER, Jean-Jacques. História do pensamento político: da cidade-estado ao apogeu do Estado-Nação monárquico.
Tomo I. Tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982.
DEL VECCHIO, Giorgio, Lições de Filosofia do Direito. Tradução Antônio José Brandão. V. 1, São Paulo: Saraiva, 1948.
DURANT, Will. A história da filosofia. Tradução Luiz Carlos do Nascimento Silva. Rio de Janeiro: Nova Cultural, 2000.
FILHO, Adonias. Sócrates: os grandes personagens e a história. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1996.
GARCIA MORENTE, Manuel. Fundamentos de filosofia: lições preliminares. Tradução Guilhermo de la Cruz Coronado. 8º
ed. São Paulo :Editora Mestre Jou, 1980.
GILES, Thomas Ransom. Dicionário de filosofia: termos e filósofos. São Paulo: EPU, 1993.
GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito.Tradução A. M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros, 2ª ed.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkain, 1995.
JAGUARIBE, Hélio. Um estudo crítico da história. Tradução Sérgio Bath. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
JÚNIOR, José Cretella. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
HUISMAN, Denis. Dicionário de obras filosóficas. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. Tradução Sérgio Tellaroli. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
________. O problema da justiça. Tradução João Batista Machado. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na história: lições introdutórias. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 29-35.
MAGEE, Bryan. História da Filosofia. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1997.
NADER, Paulo. Filosofia do direito. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
OLIVEIRA, Frederico Abrahão de. Filosofia do direito ocidental: momentos decisivos. Porto Alegre: Sagra, 1996.
PADOVANI, Humberto; GASTANGNOLA, Luís. História da filosofia. 7ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1967.
PITRENTO, Oliveira Lessa. Curso de filosofia do direito. Rio de janeiro: Editora Rio, 1980.
PLATÃO. Apologia de sócrates: Banquete – texto integral. Tradução Pietro Nassentti. São Paulo: Martin Claret, 2001.
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Almiro Pesetta e Lenita M. R. Estaves. São Paulo: Matins Fontes, 1997.
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: antigüidade e idade média. V. I, 4ª ed. São Paulo: Paulus, 1990.
REVISTA FILOSOFIA DE BACHILLERATO. Los Sofistas y Socrates. Espanha.
<http://perso.wanadoo.es/jupin/filosofia/sofistas_socrates.html>. Acesso em 25 jun. 2001 .
Disponível
em:
RUSSELL, Bertrand. História do pensamento ocidental: a aventura dos pré-socráticos a Wittgebstein. Tradução Laura Alves
e Aurélio Rebellho. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
SABINE, George H. História das teorias políticas. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, [s.d].
SALDANHA, Nelson. Pequeno dicionário da teoria do direito e filosofia política. Porto Alegre: Fabris, 1987.
________. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
8