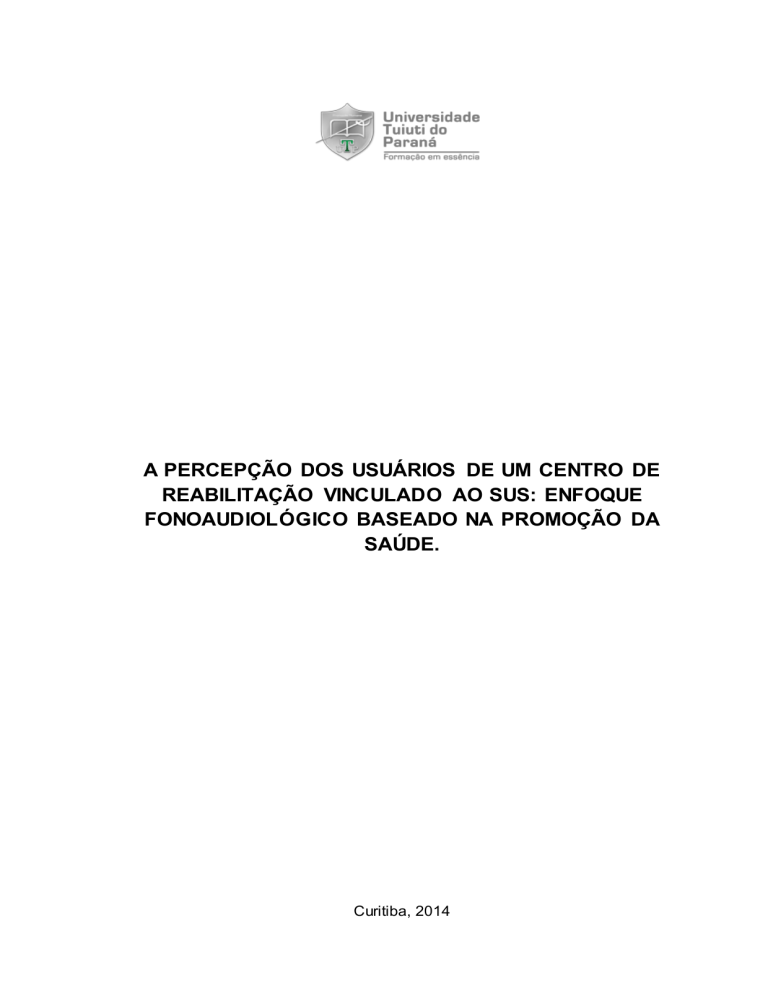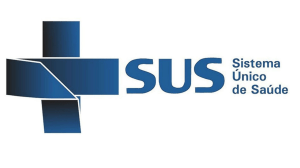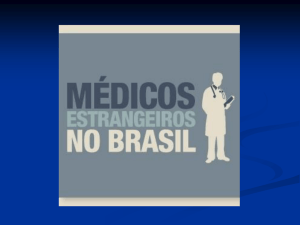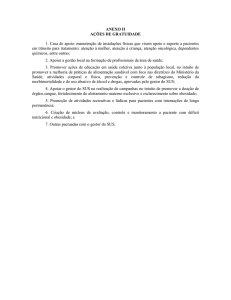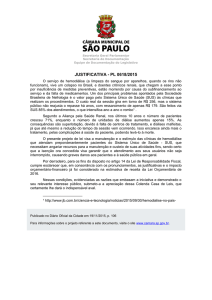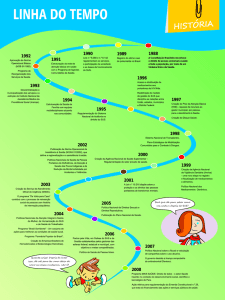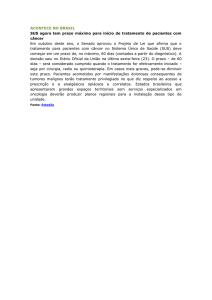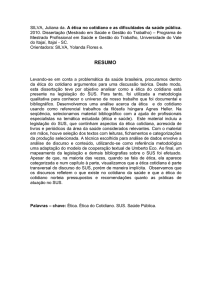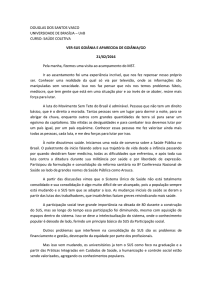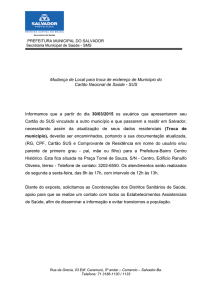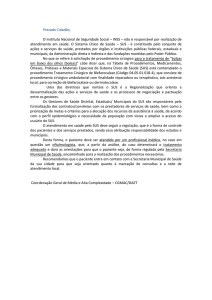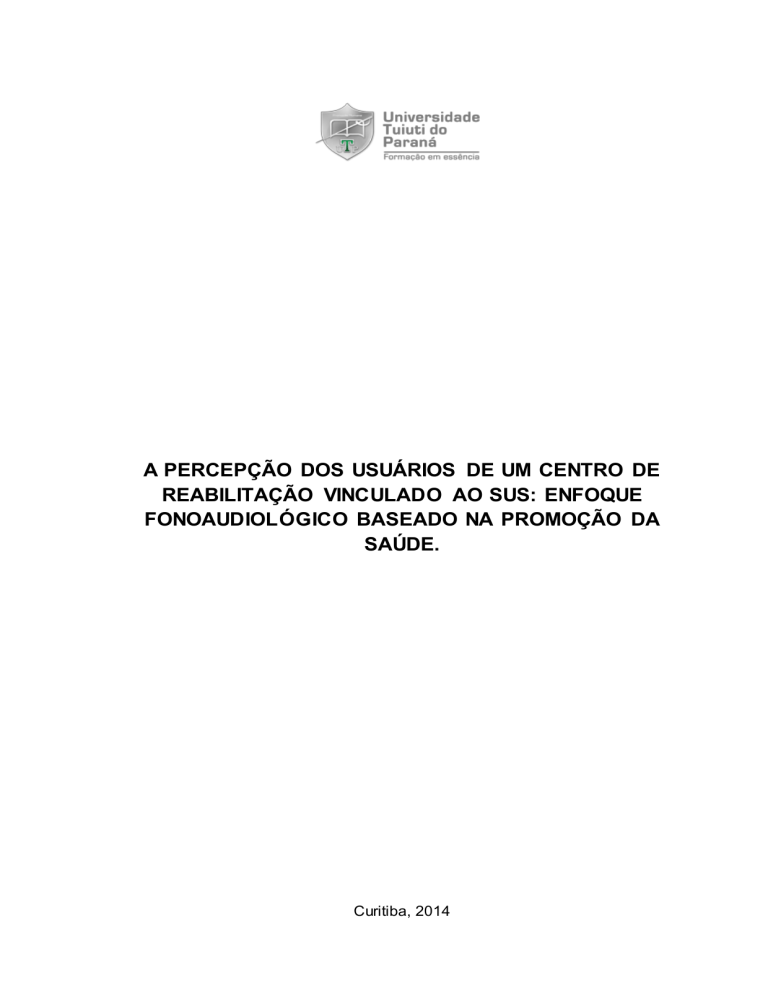
A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO DE
REABILITAÇÃO VINCULADO AO SUS: ENFOQUE
FONOAUDIOLÓGICO BASEADO NA PROMOÇÃO DA
SAÚDE.
Curitiba, 2014
A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO DE
REABILITAÇÃO VINCULADO AO SUS: ENFOQUE
FONOAUDIOLÓGICO BASEADO NA PROMOÇÃO DA
SAÚDE.
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação Stricto Sensu em
Distúrbios da
Comunicação como requisito parcial para a obtenção do
título de Mestre
Discente: Jenane Topanotti da Cunha
Orientadora: Prof. Dra. Giselle Massi
Área de Concentração: Linguagem e Audição:
Modelos Fonoaudiológicos
Linha de Pesquisa: Fonoaudiologia e os Processos
de Linguagem
Curitiba, 2014
2
CUNHA, Jenane Topanotti da.
A Percepção dos Usuários de um Centro de Reabilitação
vinculado ao SUS: Enfoque Fonoaudiológico baseado na Promoção da
Saúde / Jenane Topanotti da Cunha – Curitiba, 2014.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Tuiuti do Paraná –
UTP/PR.
Orientadora: Dra. Giselle Massi
1. Fonoaudiologia. 2. Saúde Pública
3
Este trabalho é dedicado integralmente à minha saudosa e única irmã Jeanesér
Topanotti (in memoriam), que durante sua vida me iluminou no caminho da
Fonoaudiologia e após seu trágico desencarne me inspirou nos momentos de
fraqueza. Minha eterna saudade!!!
4
AGRADECIMENTOS
Ao Divino Mestre, pela inspiração constante;
À minha linda família, meu agradecimento especial pela paciência e perdão pelos
momentos de ausência. Agradeço mеυ esposo Fabiano, qυе dе forma carinhosa
mе apoiou nоs momentos dе dificuldades; аos meus filhos amados João e Ana
Clara, qυе iluminaram dе maneira especial оs meus pensamentos, e dе forma grata
е grandiosa meus pais Sergio e Janilce, а quem еυ agradeço а minha existência!
À professora orientadora Dra. Giselle Massi, pоr seus ensinamentos е pela
confiança ао longo dаs supervisões, meu muito obrigada!
Agradeço às professoras Dra. Ana Cristina Guarinello e Dra. Kyrlian Bortolozzi qυе
mе acompanharam durante а qualificação e aceitaram participar da defesa deste
trabalho. É υm prazer tê-las nа banca examinadora;
Aos meus alunos, que instigam meus estudos e auxiliam na busca de conhecimento
contínuo;
A todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para o meu aprendizado e a
conquista deste degrau importante em minha vida.
5
“Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança
toda a força de sua alma, o universo conspira a seu favor”.
Johann Goethe
6
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DO CENÁRIO DA PESQUISA............................62
FIGURA 2: FLUXOGRAMA DOS ENCAMINHAMENTOS PARA O CENTRO DE
REABILITAÇÃO.......................................................................................................63
FIGURA 3: REPRESENTAÇÃO DO PERCENTUAL DAS QUEIXAS/ MOTIVO DO
ENCAMINHAMENTO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FAG-SUS..............71
FIGURA
4:
PERCENTUAL
DE
QUALIFICAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO FAGSUS............................................................................................................................73
FIGURA 5: PERCENTUAL CLASSIFICATÓRIO PARA O TEMPO DE ESPERA NO
SETOR DE FONOAUDIOLOGIA ............................................................................76
7
LISTA DE TABELAS
TABELA 1: VALORES DE FREQUÊNCIA RELATIVA E ABSOLUTA REFERENTES
À AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPE DE TRABALHO DO CENTRO
DE REABILITAÇÃO .................................................................................................67
TABELA 2: VALORES DE FREQUÊNCIA RELATIVA REFERENTE A AVALIAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
FONOAUDIOLÓGICOS
DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
................................................................................................................................80
8
LISTA DE ABREVIAÇÕES
AASI – Aparelho de Amplificação Sonora Individual
APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
CEACRI- Centro de Apoio a Criança
CEONC- Centro de Oncologia Cascavel
CISOP- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná
CRE - Centro Regional de Especialidades
DATAUNB – Centro de Pesquisas de Opinião Pública da Universidade de Brasília
ESF – Equipe da Saúde da Família
FAG- Faculdade Assis Gurgacz
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INAMPS - Instituto Nacional de Previdência Social
INPS- Instituto Nacional de Previdência Social
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
NASF- Núcleo de Apoio em Saúde da Família
NOB – Norma Operacional Básica
PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde
PNH – Politica Nacional de Humanização
PSF – Programa de Saúde da Família
SUS - Sistema Único de Saúde
TCE- Traumatismo Crânio-encefálico
UBS – Unidade Básica de Saúde
UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UOPECAN- União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer
9
RESUMO
Introdução: Avaliações acerca da qualidade do atendimento dos serviços públicos , por parte de seus
usuários, têm sido foco atual de pesquisas no campo da saúde. A Participação Social, enquanto
princípio organizativo do Sistema Único de Saúde (SUS), vem norteando tais pesquisas, na medida
em que este princípio enfatiza o protagonismo dos sujeitos que se utilizam de serviços de saúde.
Objetivo: Verificar as percepções que os usuários do SUS têm a respeito de um Centro de
Atendimento, bem como dos serviços fonoaudiológicos prestados neste Centro. Método: Pesquisa de
campo, transversal, composta por entrevista realiz ada, no mês de agosto 2013, com 111 sujeitos
usuários do SUS e residentes no município de Cascavel-PR. A análise quantitativa foi realizada a
partir da aplicação do GraphPad Prisma 5.1, SPSS 15.0 e as testagens D‟agostino e Person, testes
não paramétricos comparativos F e Qui-quadrado. A abordagem qualitativa foi pautada na análise de
conteúdo. Resultados: A avaliação do Centro de Atendimento com sua estrutura física e equipe de
secretárias foi bem qualificada pelos usuários do SUS. Da mesma forma, foram bem avaliados os
serviços fonoaudiológicos quanto a aspectos relacionados à fila de espera, ao atendimento das
expectativas do usuário quanto ao trabalho fonoaudiológico, às explicações fornecidas pelo
fonoaudiólogo relativas às atividades desenvolvidas. Conclusão: O conhecimento do direito civil
relativo à saúde faz parte de um processo indispensável para a qualificação dos serviços públicos. Os
reflexos gerados pelo incentivo de um modelo de sociedade com maior participação social recaem na
construção de uma sociedade mais justa e igualitária como proposta da Promoção de Saúde.
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Fonoaudiologia; Percepção dos Usuários; Promoção de
Saúde.
10
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO................................................................................................13
2. REVISÃO DA LITERATURA..........................................................................19
2.1.
SAÚDE – CONCEPÇÃO E NÍVEIS DE ATENÇÃO..............................19
2.2.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E
DIRETRIZES........................................................................................28
2.2.1. Sistema Único de Saúde – complementaridade da participação
privada.............................................................................................38
2.3.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO
EM SAÚDE...........................................................................................42
2.4.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FONOAUDIOLOGIA.........................50
3. MATERIAIS E MÉTODOS..............................................................................59
3.1.
CENÁRIO DA PESQUISA....................................................................63
3.2.
DEFINIÇÃO DOS PARTICIPANTES....................................................65
3.3.
MATERIAL............................................................................................66
3.4.
PROCEDIMENTO PARA A COLETA E ANÁLISE DE DADOS...........66
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS.................................69
4.1.
PERFIL DA AMOSTRA........................................................................69
4.2.
CATEGORIAS DE ANÁLISE................................................................69
4.2.1. Avaliação geral do Centro de Reabilitação.....................................70
4.2.2. Avaliação específica dos serviços fonoaudiológicos.......................74
4.2.2.1. Busca/ procura pelo atendimento fonoaudiológico.....................74
4.2.2.2. Fila de espera para os atendimentos fonoaudiológicos.............79
4.2.2.3. Expectativa
do
atendimento
e
qualificação
do
trabalho
fonoaudiológico ........................................................................................83
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..........................................................................93
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................96
11
Apêndice 1 – TCLE .................................................................................................109
Apêndice 2- Questionário Avaliativo .......................................................................110
Anexo 1- Parecer CEP – FAG..................................................................................113
Anexo 2 - Parecer CEP – UNIOESTE .....................................................................114
12
1. INTRODUÇÃO
As mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais ocorridas no século
XIX produziram alterações na vida em sociedade, incluindo-se os aspectos
relacionados à saúde em toda sua diversidade. Silva (2007) relata que o processo
de transformação da sociedade é também o processo de transformação da saúde e
dos
problemas
sanitários.
O
agir
sanitário
envolveu
fundamentalmente
o
estabelecimento de uma rede de compromissos, responsabilidades e estratégias em
favor da vida para que ela exista. Sendo assim, comprometer-se e responsabilizarse pelo viver e por suas condições são marcas e ações próprias da saúde, da
atenção e da gestão coletiva (TEIXEIRA & SOLLA, 2006).
No
Brasil,
a
garantia
da
saúde
para
a
população
significou
a
redemocratização do País e a constituição de um sistema de saúde unificado. Em
1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) tinha como tema “Democraci a é
Saúde” e constituiu-se um fórum de luta pela descentralização do sistema de saúde
e pela implantação de políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida. Foi
um momento chave da Reforma Sanitária Brasileira para a afirmação da
indissociabilidade entre a garantia da saúde como direito social irrevogável e a
garantia dos demais direitos humanos e de cidadania (BRASIL, 2000).
O Sistema Único de Saúde – SUS, criado no Brasil em 1988 com a
promulgação da nova Constituição Federal, tornou o acesso à saúde gratuito a toda
população brasileira. A Constituição Federal definiu, em seu artigo 196, que a saúde
é direito de todos e dever do Estado. Até então, o modelo de atendimento era
dividido em três categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privado, os
que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social
(trabalhadores com carteira assinada) e os que não possuíam direito algum. A
implantação do SUS unificou o sistema e descentralizou a gestão pública, deixando
de ser exclusivamente do poder executivo federal e passando a ser administrada por
estados e municípios (BRASIL, 2000).
O SUS representou uma conquista da sociedade brasileira e hoje é o maior
sistema público de saúde do mundo, atendendo cerca de 190 milhões de usuários,
sendo que 80% deste total dependem exclusivamente do próprio SUS para cuidar
da sua saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Ainda segundo o Ministério da
13
Saúde, o SUS tem mais de 6,5 mil hospitais credenciados, 45 mil unidades de
atenção primária e 30,3 mil Equipes de Saúde da Família (ESF). O sistema realiza
2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais anuais, 19 mil transplantes, 236 mil
cirurgias cardíacas, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia e
11 milhões de internações. Entre as ações mais reconhecidas do SUS estão a
criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Políticas Nacionais
de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de Humanização do SUS e de Saúde do
Trabalhador, a realização de transplantes pela rede pública, além de participar de
programas de vacinação em massa de crianças e idosos em todo o País.
O Sistema Único de Saúde propõe oferecer um atendimento eficiente e com
qualidade para toda a população a partir do uso de políticas públicas bem definidas,
voltadas aos interesses da sociedade (FORTES, 2006). Nesta direção, a atenção à
saúde no Brasil tem sido voltada à formulação, implementação e concretização de
políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na
construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da
qualidade de vida dos sujeitos e da coletividade. Como integrantes de um sistema,
as organizações de saúde formam uma complexa rede, que inclui atributos da
população e do território nacional, da estrutura logística e da gestão em saúde. Cabe
aqui ressaltar que a definição, os limites e objetivos de um sistema de saúde são
específicos para cada país, de acordo com seus próprios valores e princípios
(ERDMANN, 2013).
O Sistema Único de Saúde no Brasil buscou materializar uma nova
concepção acerca da saúde, pois a mesma era entendida como o estado de nãodoença, o que fazia com que toda lógica do sistema girasse em torno da cura de
agravos à saúde. Essa lógica - que significava apenas remediar os efeitos das
doenças, com menor ênfase nas causas - deu lugar a uma nova noção centrada na
prevenção dos agravos e na promoção da saúde. Para tanto, a saúde passa a
relacionar-se com a qualidade de vida da população, a qual é composta pelo
conjunto de bens que englobam a alimentação, o trabalho, o nível de renda, a
educação, o meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância sanitária e
farmacológica, a moradia e o lazer (BRASIL, 2000).
Nesta visão ampliada de saúde, o sujeito é visto como um todo e não como
partes fragmentadas, é considerado um ser social, que tem preocupações, anseios,
14
frustrações, contrariando o modelo biomédico que divide o ser humano em partes
específicas e trata-o como uma máquina (MATTA, 2007). Assim, tornou-se relevante
cuidar da vida, de modo que se reduzisse a vulnerabilidade ao adoecer, diminuindo
as chances de produção de incapacidade, de sofrimento crônico e de morte
prematura de sujeitos e de coletividades. Além disso, a análise do processo saúdeadoecimento evidenciou que a saúde é resultado dos modos de organização da
sociedade em determinado contexto histórico, e que o aparato biomédico não
consegue modificar os condicionantes desse processo, pois realiza um modelo de
atenção e cuidado marcado pela centralidade dos sintomas (BRASIL, 2006).
Ao longo desses 25 anos de existência, o SUS avançou historicamente
promovendo medidas como a descentralização e a municipalização de ações e
serviços; o fortalecimento da atenção básica; a ampliação de ações de prevenção a
doenças; o investimento em pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico de
equipamentos, vacinas e medicamentos; o desenvolvimento de sistemas de
informação e de gestão para monitorar resultados; a ampliação no número de
trabalhadores em saúde, e a maior participação e controle social da população por
meio da atuação dos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde.
A qualificação dos serviços públicos tem sido relatada em pesquisas atuais,
mostrando sua importância para a geração de estabilidade do setor público em
saúde. As questões relacionadas à qualidade dos serviços públicos e percepções
sobre o atendimento na área de saúde têm sido cada vez mais foco de atenção do
poder público e da comunidade em geral, podendo conduzir de forma mais efetiva a
organização de diretrizes para a melhoria do atendimento, voltado ao sujeito usuário
do Sistema Único de Saúde. O conhecimento da qualidade de um atendimento
prestado pelos serviços públicos é uma ferramenta útil para melhorias do mesmo,
pois a
satisfação ou não do paciente é um critério importante na avaliação da
qualidade do serviço, assim como a percepção destes pacientes sobre os serviços
de saúde públicos a que foram submetidos (MOIMAZ et al, 2010).
Um trabalho de pesquisa a ser realizado por meio das opiniões dos próprios
usuários do SUS pode possibilitar um redirecionamento de ações em saúde,
contribuindo para a melhoria das práticas organizacionais e profissionais dentro do
sistema público (MOURA & AGUIAR, 2004).
15
No primeiro semestre de 2012, o Ministério da Saúde publicou o “Relatório de
Pesquisa de Satisfação, com cidadãos usuários do SUS”, objetivando avaliar o grau
de satisfação dos usuários quanto aos aspectos de acesso e qualidade de
atendimentos. Foram ouvidos mais de 26 mil sujeitos em todo o País que utilizaram
o SUS nos últimos 12 meses para vacinação, consultas, exames, atendimento de
urgência, internação, ou que tivessem dependentes que utilizaram algum desses
serviços. Os resultados dessa pesquisa quanto à qualificação dos serviços
prestados pela Unidade Básica de Saúde obteve o escore de 38% de aprovação no
quesito “muito bom e bom” e 28% dos usuários classificaram como “ruim e muito
ruim”. Tentando identificar a relação entre a satisfação e o atendimento da demanda
deste usuário, a pesquisa demonstrou que a demanda foi resolvida para 60% dos
usuários, parcialmente resolvida para 25% e não foi resolvida para 14% dos
usuários do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, os resultados foram considerados
positivos, apesar de o SUS ainda apresentar dificuldades para garantir o acesso
oportuno e de qualidade para toda população nas diferentes regiões brasileiras.
No que se refere mais especificamente à inserção da fonoaudiologia no SUS,
cabe ressaltar que o reconhecimento de que essa profissão está inserida nas
políticas
públicas
vem ganhando
cada vez mais visibilidade nacional. As
intervenções específicas que passaram a ser garantidas mediante lei e projeto de lei
foi o teste da orelhinha (Lei Federal nº 12.303, de 02 de agosto de 2010), e a
promoção da saúde vocal do professor (Projeto de Lei Federal nº 1128, de 2003),
dentre outras. Tais documentos legais evidenciam a necessidade da presença do
fonoaudiólogo entre os profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional do
SUS.
Nessa direção, acompanhando o movimento nacional de democratização da
saúde, os serviços fonoaudiólogos passaram a definir seu papel junto ao sistema
público de maneira reflexiva, consciente e responsável. O fonoaudiólogo vem sendo
chamado a se comprometer com a saúde pública, buscando qualificar cada vez mais
seus atendimentos, mostrando a importância da sua atuação nos serviços públicos
de todo o país (PENTEADO & SERVILHA, 2004).
Portanto, é necessário que os fonoaudiólogos, bem como os demais
profissionais
que
atuam no
SUS, tenham conhecimento
dos
preceitos
e
características administrativas do serviço público. O fonoaudiólogo precisa se inteirar
16
dos assuntos pertinentes ao SUS, incluindo aspectos relacionados à humanização,
integralidade, equidade e
atuação coletiva, a fim de organizar seu trabalho e
direcionar ações que reflitam efeitos na comunidade e nas instituições públicas
voltadas a saúde (GOULART, 2003).
A análise da qualidade dos serviços fonoaudiológicos vinculados ao SUS é
imprescindível para o planejamento e a coordenação das atividades desenvolvidas
na saúde pública, pois contribui para a melhoria na assistência aos usuários,
juntamente com o desenvolvimento de uma prática mais humanizada e acolhedora,
exercida pelos profissionais de saúde, inclusive fonoaudiólogos. Saber o que
pensam os usuários sobre seus atendimentos revela-se importante também para
fortalecer os estudos sobre o SUS na perspectiva dos pacientes, demonstrando
suas percepções, vivências e experiências.
Assim, levando em consideração a qualificação de serviços públicos por parte
dos usuários e a atuação fonoaudiológica no SUS, neste estudo, objetivamos
analisar as percepções que os usuários de um Centro de Reabilitação, vinculado ao
Sistema Único de Saúde, têm a respeito do próprio Centro e dos serviços
fonoaudiológicos prestados. É importante salientar que este trabalho não tem como
foco a análise da efetividade ou não dos serviços no SUS, mas uma avaliação geral
da percepção dos usuários quanto aos serviços fonoaudiológicos a que foram
submetidos, bem como a avaliação do Centro de Reabilitação no qual estão
inseridos os serviços do SUS.
A pesquisa contou com a participação de 111 sujeitos, de ambos os sexos e
de idades variadas que fizeram uso de um ou mais serviços fonoaudiológicos
oferecidos em um Centro de Reabilitação, vinculado ao SUS. Este Centro faz parte
de uma instituição privada, situada na cidade de Cascavel – PR. Os sujeitos
participantes da pesquisa responderam um questionário com perguntas objetivas e
discursivas sobre as percepções dos atendimentos fonoaudiólogos realizados. A
análise e interpretação de dados foi realizada com abordagem qualitativa pautada na
análise de conteúdo e quantitativa com aplicação do GraphPad Prisma 5.1 e SPSS
15.0.
Esta dissertação está assim estruturada: inicialmente apresentamos uma
revisão bibliográfica sobre o tema em questão, abrangendo a constituição do
Sistema Único de Saúde, seus princípios e diretrizes, a humanização e o
17
acolhimento no sistema público, bem como a atuação fonoaudiológica no SUS. Num
segundo momento, será relatada a metodologia da pesquisa e por fim os resultados
encontrados neste estudo, bem como a discussão dos mesmos.
18
2. REVISÃO DE LITERATURA
Neste capítulo abordaremos as concepções e os níveis de atenção em saúde,
a constituição, os princípios e diretrizes do SUS, as questões da humanização e
acolhimento no sistema público e finalizaremos o capítulo relatando sobre a
Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde.
2.1.
SAÚDE – CONCEPÇÃO E NÍVEIS DE ATENÇÃO
Tradicionalmente, a saúde é abordada numa perspectiva individual e
fragmentária, que coloca os sujeitos e as comunidades como os únicos
responsáveis pelas mudanças ocorridas no processo saúde-adoecimento ao longo
da vida. O setor da saúde passou por dificuldades na forma de se produzir saúde,
induzindo o modelo médico como hegemônico. A assistência à saúde é centrada no
ato
prescritivo
que
produz o
procedimento, não
sendo
consideradas
as
determinações do processo saúde-doença centradas nos determinantes sociais,
ambientais e relacionadas às subjetivações, valorizando apenas as dimensões
biológicas (CECÍLIO, 1994; MERHY, CECÍLIO, NOGUEIRA, 1992; DONANGELO,
FERREIRA, 1976 in MALTA, 2010).
Contudo, na perspectiva ampliada de saúde - como definida no âmbito do
movimento da Reforma Sanitária Brasileira, do SUS e das Cartas de Promoção da
Saúde - os modos de viver não se referem apenas ao exercício da vontade e/ou
liberdade individual e da coletividade; ao contrário, os modos como sujeitos e
coletividades elegem determinadas opções de viver, de organizar suas escolhas e
criar novas possibilidades, satisfazem suas necessidades, desejos e interesses
dentro de um processo de construção social mais amplo (BRASIL, 2011).
O conceito ampliado de saúde é resultado de um processo de embates
teóricos que traz consigo um diagnóstico das dificuldades que o setor da saúde
enfrentou historicamente e a certeza de que a reversão deste quadro extrapolava os
limites restritivos da noção vigente. Encarar saúde apenas como ausência de
doenças nos legou a um quadro repleto não só das próprias doenças como de
desigualdades, insatisfação dos usuários, exclusão, baixa qualidade e falta de
comprometimento profissional. Para enfrentar esta situação, foi necessário buscar
uma nova concepção de saúde. Este novo conceito ampliado incorpora: meio físico
19
(condições geográficas, água, alimentação, habitação); meio socioeconômico e
cultural (emprego, renda, educação, hábitos); garantia de acesso aos serviços de
saúde
responsáveis
pela
promoção,
proteção
e
recuperação
da
saúde
(CUNHA&CUNHA, 2013).
O conceito de saúde que adotamos está em movimento, depende de valores
sociais, culturais, subjetivos e históricos. Podemos afirmar que um sistema de saúde
focado na promoção da qualidade de vida e de relações mais solidárias e
humanizadas, significa propor a constituição de uma vida saudável em seu sentido
mais amplo, na luta contra as desigualdades, na construção da cidadania e da
constituição de sujeitos que amam, sofrem, adoecem, buscam suas curas,
necessitam de cuidados, lutam por seus direitos e desejos.
Portanto, para ser saudável é preciso dispor de um conjunto de fatores, como
alimentação, moradia, emprego, lazer e educação. A saúde se expressa como um
retrato das condições de vida. Entretanto, a ausência de saúde não se relaciona
apenas com a inexistência ou a baixa qualidade dos serviços de saúde, mas com
um conjunto de determinantes. O sistema de saúde deve-se relacionar com todas as
forças políticas que caminhem na mesma direção - como a defesa do meio
ambiente, o movimento contra a fome, as manifestações pela cidadania, contra a
violência no trânsito, pela reforma agrária, etc. O SUS, ao abraçar este conceito,
pressupõe ainda a democratização interna da gestão dos serviços e dos sistemas de
saúde como um elemento a mais no movimento de construção da cidadania
(CUNHA&CUNHA, 2013).
Quando nos referimos à atenção a saúde, envolvemos todo o cuidado com a
saúde do sujeito, incluindo as ações e serviços de promoção, prevenção,
reabilitação e tratamento das doenças. O cuidado com a saúde está ordenado em
três níveis de atenção: a básica, a de média complexidade e a de alta complexidade,
visando à melhor programação das ações e serviços do sistema (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2005).
O nível de atenção primária ou atenção básica em saúde é a modalidade de
atenção em saúde com o mais elevado grau de descentralização, como a Unidade
Básica de Saúde ou o Centro de Saúde da Família, cuja participação no cuidado se
faz necessária, identificando riscos e necessidades, coordenando o cuidado em
saúde dos sujeitos e de coletividades (MENDES, 2011).
20
A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia de organização da
atenção à saúde de forma regionalizada, contínua e sistematizada em função da
maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações
preventivas e curativas, bem como a atenção aos sujeitos e comunidades. A APS
incorporou os princípios da Reforma Sanitária, levando o Sistema Único de Saúde a
adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação do
modelo assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à
saúde (MATTA, 2008). A Atenção Básica estabelece as ações de promoção e
proteção à saúde em um território definido e é de responsabilidade do município.
Historicamente, a ideia de atenção primária foi utilizada como forma de
organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no Relatório Dawnson, em
1920. Esse documento do governo inglês procurou, de um lado, contrapor-se ao
modelo americano de cunho curativo, fundado no reducionismo biológico e na
atenção individual, e por outro, constituir-se numa referência para a organização do
modelo de atenção inglês, que começava a preocupar as autoridades daquele país,
devido ao elevado custo, à crescente complexidade da atenção médica e à baixa
resolutividade. O referido relatório organizava o modelo de atenção em centros de
saúde primários e secundários, serviços domiciliares e hospitais de ensino. Os
casos que o médico não tivesse condições de solucionar com os recursos
disponíveis nesse âmbito da atenção deveriam ser encaminhados para os centros
de atenção secundária, onde haveria especialistas das mais diversas áreas, ou
então, para os hospitais, quando existisse indicação de internação ou cirurgia. Foi
essa organização que caracterizou a hierarquização dos níveis de atenção à saúde
do Brasil (MATTA, 2008).
A atenção secundária ou média complexidade em saúde reúne os serviços
especializados e de apoio diagnóstico e terapêutico. Para ter acesso à atenção
secundária, o usuário geralmente é encaminhado por um serviço de atenção
primária. Na rede de saúde, a atenção secundária é formada pelos serviços
especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica
intermediária entre a atenção primária e a terciária, interpretado então como
procedimento
de
média
complexidade.
Esse
nível
compreende
serviços
especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e
emergência (ERDMANN et al, 2013).
21
A
Atenção
Secundária
está
baseada
na
organização
do
Sistema
Microrregional dos Serviços de Saúde que tem o objetivo de definir as diretrizes para
a organização regionalizada deste nível. A organização se dá por meio de cada uma
das microrregiões do Estado, onde há hospitais de nível secundário que prestam
assistência nas especialidades básicas (pediatria, clínica médica e obstetrícia), além
dos serviços de urgência e emergência, ambulatório eletivo para referências e
assistência a pacientes internados, treinamento, avaliação e acompanhamento da
Equipe de Saúde da Família (MATTA, 2008).
A atenção à saúde de nível terciário ou alta complexidade é integrada pelos
serviços ambulatoriais e hospitalares especializados. É constituído por instituições
que concentram tecnologia de maior complexidade e devem oferecer à população
atendimento de excelência, servindo de referência para outros serviços, sistemas e
programas em saúde (MENDES, 2011).
A Atenção Terciária é organizada em polos macrorregionais, através do
sistema de referência. É o modelo técnico-científico de atenção à saúde, que
privilegia um ambiente com grandes tecnologias para a prática de cuidados. As
áreas hospitalares que compõem o atendimento de grande complexidade no SUS
estão organizadas para a realização de procedimentos que envolvem alta tecnologia
e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto
risco, traumato-ortopedia, neurocirurgia, diálise. A atenção terciária envolve também
a assistência em cirurgia reparadora (mutilações, traumas ou queimaduras graves),
cirurgia bariátrica, cirurgia reprodutiva, reprodução assistida, genética clínica,
distrofia muscular progressiva, osteogênese imperfeita e fibrose cística. Entre os
procedimentos ambulatoriais de alta complexidade estão a quimioterapia, a
radioterapia, a hemoterapia, a ressonância magnética e a medicina nuclear
(BRASIL, 2011).
A legislação constitucional (Leis 8080/90 e 8142/90) detalha os mecanismos
para a promoção, proteção e recuperação da saúde no contexto da atenção
descentralizada das ações e serviços. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL,
2002), a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Saúde - NOB 01/96,
explicita um novo modelo de atenção, apresentando como bases para sua
estruturação:
22
- a participação da população dentro dos serviços de atendimento, favorecendo a
criação de vínculos entre o serviço e os usuários, caracterizando uma
participação mais criativa e realizadora para os sujeitos;
- as ações de saúde devem ser centradas na qualidade de vida dos sujeitos e no
seu meio ambiente, bem como nas relações da equipe de saúde com a
comunidade;
- o modelo epidemiológico, por entender que este incorpora como objeto de ação
os sujeitos, o ambiente e os comportamentos interpessoais;
- o uso de tecnologias de educação e de comunicação social por constituírem parte
essencial em qualquer nível de ação;
- a construção da ética coletiva que agrega as relações entre usuário, sistema e
ambiente, e que possibilita modificações nos fatores determinantes, instigando os
sujeitos a serem agentes de sua própria saúde;
- as
intervenções
ambientais
que
suscitem articulações intersetoriais para
promover e recuperar a saúde.
Para consolidar o modelo proposto, a NOB 01/96 institucionalizou os
Programas Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF)
como estratégias necessárias à reorganização do modelo de atenção, definindo
percentuais de financiamento como forma de incentivo aos gestores que aderirem a
estes programas.
Ao definir os campos de atenção à saúde, esta Norma enfatiza a promoção
da saúde como pertinente às responsabilidades do SUS. Refere-se principalmente
às políticas externas ao setor, que interferem nos determinantes sociais dos
processos de saúde e de doença das coletividades, de que parte das questões
relativas às políticas sociais e econômicas - emprego, habitação, educação, lazer e
à disponibilidade e qualidade dos alimentos - enfatizando a necessidade da
programação dos mecanismos que propiciem a integração dessas políticas e ações.
O documento ressalta, ainda, que as ações de política setorial, administrativas,
planejamento e comando em saúde são inerentes e integrantes do contexto
daquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais, explicitando
ações de comunicação e educação em saúde como componentes da atenção a
saúde.
23
Assim, as intervenções em saúde buscam ampliar seu olhar, tomando como
objeto os problemas e as necessidades em saúde, de modo que a organização da
atenção e do cuidado envolva, ao mesmo tempo, dois tipos de ações: aquelas que
operam sobre os efeitos do adoecer e aquelas que buscam incidir na saúde dos
sujeitos, tendo como foco as suas condições de vida, favorecendo a ampliação de
escolhas saudáveis no território onde vivem e trabalham.
Nesse sentido, é preciso entender que há uma diferença entre conceituações
vinculadas à prevenção e as concernentes a promoção em saúde.
Conceitualmente diferenciar Prevenção e Promoção da Saúde constitui-se em
trabalho dificultoso. Porém, na prática profissional há distinções, pois claramente
tem implicações na atuação do profissional, dependendo do seu embasamento
teórico:
[...] diferença entre „prevenção‟ e „promoção‟ da saúde... é radical porque
implica mudanças profundas na forma de articular e utilizar o conhecimento
na formulação e operacionalização das práticas de saúde – e isso só pode
ocorrer verdadeiramente por meio da transformação de concepção de
mundo (...).
as práticas em promoção, da mesma forma que as de
prevenção, fazem uso do conhecimento científico (...). Isso pode gerar
confusão e indiferenciação entre as práticas, em especial porque a
radicalidade da diferença entre prevenção e promoção raramente é
afirmada e/ou exercida de modo explícito (CZERESNIA& FREITAS, 2003
1
pág. 41).
O termo 'prevenir' tem o significado de preparar; chegar antes de; dispor de
maneira que evite dano ou mal; impedir que se realize. A prevenção em saúde exige
uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar
improvável o progresso posterior da doença. As ações preventivas definem-se como
intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo
sua incidência e prevalência nas populações. A base do discurso preventivo é o
conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o controle da transmissão de
doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas ou outros
agravos específicos (CZERESNIA & FREITAS, 2003).
1
Esse texto é uma versão revisada e atualizada do artigo The concept of health and the diference
between promotion and prevention, publicado nos Cadernos de Saúde Pública (Czeresnia, 1999). In:
Czeresnia D, Freitas CM (org.). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de
Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003. p.39-53
24
A prevenção nos faz pensar em afastamento de algo que não seja bom,
associa-se à negatividade, pois pressupõe um conceito de ausência ou eliminação
de doenças. A partir de construções científicas inspiradas no modelo científico de
René Descartes (1596 – 1650), o método cartesiano é encontrado principalmente
nas áreas Exatas e Biológicas, exemplo do modelo biomédico vigente na área da
saúde. Descartes propôs que para entender algo, deveríamos desmembrá-lo em
partes, compreender cada parte e depois reuni-las novamente no todo, o que
permitiria a compreensão do “todo” daquele fenômeno. Grandes avanços da
medicina foram conquistados segundo esta racionalidade e isso foi determinante na
saúde. Em tal racionalidade cartesiana, pressupõe-se que para estudarmos algo
precisamos primeiramente reduzir ao máximo um fenômeno a pequenas partes que
sejam possíveis de controle e manipulação e, em segundo lugar, reunir partes
chegando-se, assim, a uma explicação do fenômeno inteiro. Isso implica na maneira
de se fazer pesquisas em um ambiente controlado e intervenções na área médica/
saúde até os dias de hoje, utilizando-se a racionalidade de “causa e efeito”, próprio
do modelo biomédico (CZERESNIA & FREITAS, 2003).
Este pensamento recebe críticas que se relacionam ao campo da promoção
em saúde à medida que nem todas as situações são manipuláveis e passíveis de
serem estudadas em ambientes controlados e que o comportamento isolado de um
fenômeno pode ser diferenciado quando está em relação com o todo.
Embora o termo Promoção de Saúde tenha sido usado a princípio para
caracterizar os níveis de atenção da medicina preventiva (Leavell & Clark, 1976),
seu significado foi mudando e passando a representar, mais recentemente, um
enfoque político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado. O conceito
moderno de Promoção da Saúde (e a prática consequente) surgiu e se desenvolveu
nos países desenvolvidos, particularmente no Canadá, Estados Unidos e países da
Europa Ocidental. Quatro importantes Conferências Internacionais realizadas em
Ottawa (WHO, 1986), Adelaide (WHO, 1988), Sundsvall (WHO, 1991) e Jacarta
(WHO, 1997), desenvolveram as bases conceituais e políticas da Promoção da
Saúde. Na América Latina, em 1992, realizou-se a Conferência Internacional de
Promoção da Saúde (OPAS, 1992), trazendo formalmente o tema para o contexto
nacional (BUSS, 2000).
25
Promover tem o significado de fomentar, gerar. Promoção da saúde define-se
então de maneira mais ampla que prevenção, pois se refere a medidas que não se
dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a
saúde e o bem-estar geral. As estratégias de promoção enfatizam a transformação
das condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura subjacente aos
problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial (CZERESNIA,
2003).
A promoção parte de uma perspectiva baseada na presença da saúde e não
em ser livre de doenças, explicitado nesta passagem:
[...] esta ampliação da saúde opera sua abordagem por um conceito
“positivo”, ou seja, que busca a definição de saúde por sua ampla
ramificação e presença cotidiana e não por sua ausência, c omo no caso por
uma enfermidade. (MARCONDES, 2004, pág.06).
A ideia da promoção nos remete ao desenvolvimento de algo favorável à
saúde; ir ao encontro da saúde. Promoção se relaciona, então, com conceitos de
autonomia, empoderamento, vulnerabilidade e equidade. Segundo Fleury- Teixeira
(2008), a Promoção de Saúde envolve:
[...] a atuação para ampliação do controle ou domínio dos sujeitos e
comunidades sobre os determinantes de sua saúde. Identificamos aí o eixo
das ações promotoras de saúde, o que nos permite localizar a autonomia
como categoria norteadora da atuação em promoção da saúde. Podemos
dizer, portanto, que a promoção da saúde busca ampliação da autonomia
de sujeitos e comunidades; esse é, a nosso ver, o cerne da proposição do
empoderamento individual e coletivo. (FLEURY- TEIXEIRA, 2008 pág.
2115).
Esta perspectiva firma um compromisso com um ser social e histórico. Podese considerar que a promoção da saúde é o processo de capacitação da
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma
maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de bem-estar
físico, mental e social, os sujeitos devem saber identificar aspirações, satisfazer
necessidades e modificar favoravelmente o meio social (TEIXEIRA, 2006).
A Promoção da Saúde é integral, na medida em que procura criar e fortalecer
elos entre diversos setores e programas, não apenas dentro do setor de saúde, mas
envolvendo também agências de governo, organizações não governamentais e
26
movimentos sociais (CARVALHO, 2008). Neste sentido, incorporam-se valores
como solidariedade, equidade, democracia, cidadania, participação e parceria que
se constitui numa combinação de estratégias, envolvendo diferentes atores: Estado,
comunidade, família e sujeito (MACHADO, 2006). Assim, a promoção da saúde não
é responsabilidade exclusiva do setor da saúde, e vai para além de um estilo de vida
saudável, na direção de um bem-estar global (OMS, 2001).
Ao ampliar o conceito de prevenção para promoção de saúde, modificamos
também as ações que se envolvem com a saúde e a qualidade de vida dos sujeitos.
Marcondes (2004) relata que aproximar a saúde da qualidade de vida traz desafios
devido à abrangência destas concepções e que devemos empreender esforços para
que esta abordagem sobre saúde possa verdadeiramente contemplar questões
como a busca da felicidade e a realização de potenciais pessoais e coletivos;
questões que não são resolvidas pela lógica da prevenção.
27
2.2.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E
DIRETRIZES
A história da saúde pública brasileira iniciou-se em 1808, embora o Ministério
da Saúde só foi instituído no dia 25 de julho de 1953, com a Lei nº 1.920, que
desdobrou o Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios: Saúde e
Educação e Cultura. A partir da sua criação, o Ministério passou a encarregar-se,
especificamente, das atividades até então de responsabilidade do Departamento
Nacional de Saúde (DNS), mantendo a mesma estrutura que, na época, não era
suficiente para dar ao órgão governamental o perfil de Secretaria de Estado,
apropriado para atender aos importantes problemas de saúde pública existente. Na
verdade, o Ministério limitava-se a ação legal e a mera divisão das atividades de
saúde e educação, antes incorporadas num só Ministério. Mesmo sendo a principal
unidade administrativa de ação sanitária direta do governo, essa função continuava
ainda distribuída por vários Ministérios, com dispersão de recursos financeiro e
pessoal técnico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).
No início dos anos 60, a desigualdade social ganha dimensão no discurso dos
sanitaristas em torno das relações entre saúde e desenvolvimento, marcado pela
baixa renda per capita e a alta concentração de riquezas. O planejamento de metas
de crescimento e de melhorias conduziram a propostas para adequar os serviços de
saúde pública à realidade diagnosticada pelos sanitaristas da época e obtiveram
marcos importante como, por exemplo, a formulação da Política Nacional de Saúde,
em 1961, com o objetivo de redefinir a identidade do Ministério da Saúde e colocá-lo
em sintonia com os avanços verificados na esfera econômico-social (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2005).
A partir do final da década de 80, destaca-se então a Constituição Federal de
1988, que determinou ser dever do Estado garantir a saúde a toda a população e,
para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional
aprovou a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, que operacionalizou o SUS.
Convém explicitar que, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal
(1988):
[...] A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença e de
28
outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 2000)
Assim, além de explicitar o direito à saúde a todos os brasileiros, esse artigo
afirma que cabe ao Estado a responsabilidade de promover a saúde e de proteger o
sujeito contra os riscos de doenças, assegurando-lhe acesso a serviços de saúde.
Dessa forma, a Constituição Brasileira de 1988 surgiu como um marco no campo da
Saúde Pública na medida em que, por meio da implantação do SUS, buscou-se
assegurar o acesso igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e
recuperação da saúde de todo e qualquer brasileiro.
Nessa direção, o SUS foi definido como um sistema integrado e
descentralizado de ações e serviços que visam à redução do risco de doença e ao
acesso universal e igualitário da população à saúde, tendo como princípios
fundamentais a equidade, a universalidade e a integralidade. De acordo com Buss
(2005), o SUS, ao contrário do modelo tradicional que se centrava na doença e na
hospitalização, prioriza as ações de proteção e promoção da saúde dos sujeitos e da
sua família, de forma integral e contínua.
Portanto o SUS, a partir da sua criação - marcada pelas exigências da
Constituição de 1988 - é considerado a representação da materialização de uma
nova concepção acerca da saúde em nosso país. Antes, a saúde era entendida
como o estado de não doença, o que fazia com que toda lógica dos serviços de
saúde girasse em torno da cura de doenças. Essa lógica - que se focava apenas na
remediação dos efeitos dos problemas de saúde, com menor ênfase nas causas
vinculadas a aspectos socioeconômicos - deu lugar a uma nova concepção centrada
na promoção da saúde. Cabe esclarecer que a criação do SUS se dá a partir de
uma concepção de saúde que se vincula à qualidade de vida da população. E tal
qualidade, nessa concepção depende de um conjunto de bens materiais e
simbólicos que englobam a alimentação, o trabalho, o nível de renda, a educação, o
meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância sanitária e farmacológica, a
moradia, o lazer, entre outros (BRASIL, 2000).
Nesse sentido, o SUS foi projetado para assumir os Princípios Doutrinários e
Princípios Organizativos. Os Princípios Doutrinários são a Universalidade,
Equidade e Integralidade, que se constituem como as bases que norteiam as
29
diversas ações em saúde. Os Princípios Organizativos ou Diretrizes do SUS são
aqueles que direcionam os seus rumos quanto às diretrizes políticas, organizativas e
operacionais, apontando “como” deve ser construído o sistema público de saúde.
Tais princípios são a Descentralização, a Regionalização, a Hierarquização e a
Participação social (TEIXEIRA, 2006).
Sobre os Princípios Doutrinários do SUS, a universalidade propõe que a
saúde é um direito de cidadania de todos os sujeitos e cabe ao Estado assegurá-lo,
sendo seu acesso às ações e serviço garantia a todos, independentemente de sexo,
raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. O princípio da
universalidade tem sido representativo nas lutas populares, que o reivindicam como
um direito humano e um dever do Estado na sua efetivação (MATTA, 2009).
Para que o SUS venha a ser universal é preciso que haja o desencadeamento
de um processo de universalização, isto é, um processo de extensão de cobertura
dos serviços, de modo que se tornem acessíveis a toda a população. A
universalidade da assistência não é apenas a garantia dos serviços de saúde, e sim
do direito à saúde (TEIXEIRA, 2006). A autora ainda relata que existem duas
direções previstas pela universalidade:
- garantia a toda população por serviços de saúde;
- acesso, para toda população, a condições de vida que favoreçam a saúde.
Para isso, ainda é preciso eliminar barreiras jurídicas, culturais e sociais que
se interpõem entre a população e os serviços. A barreira jurídica foi amenizada com
a Constituição Federal de 1988, na medida em que universalizou o direito à saúde, e
eliminou a necessidade do usuário do sistema público colocar-se como trabalhador
ou como “indigente”, situações que condicionavam o acesso aos serviços públicos
anteriores à criação do SUS.
A universalidade aponta, então, para o rompimento com a tradição
previdenciária do sistema de saúde brasileiro, que conferia unicamente aos
trabalhadores formais, por meio da contribuição previdenciária, o acesso às ações e
serviços de saúde (MATTA, 2008).
De fato, os trabalhadores com carteira assinada (e seus dependentes)
empregados ou autônomos, ativos ou aposentados tinham o direito assegurado aos
serviços do antigo INAMPS, na medida em que contribuíam para a Previdência
Social. Aos excluídos do mercado formal de trabalho restava a condição de
30
“indigentes”, pobres que recorriam às instituições filantrópicas ou aos serviços
públicos mantidos pelo Ministério da Saúde ou da Educação (Centros e Hospitais
Universitários) e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
A barreira sociocultural também é levada em consideração no processo de
universalização, na medida em que aparecem dificuldades na comunicação entre os
prestadores de serviços públicos e seus usuários. Grande parte da população ainda
não dispõe de condições educacionais e culturais que facilitem o diálogo com os
profissionais de saúde, o que se reflete na dificuldade de entendimento e de
compreensão acerca dos procedimentos necessários para prevenção de riscos e de
recuperação da sua saúde. Uma simples receita médica pode ser um texto
ininteligível para grande parte da população que não consegue interpretar o que lê.
A transposição dessa barreira cultural e comunicativa entre os usuários e o sistema
de saúde é, certamente, um dos maiores desafios a serem enfrentados na
perspectiva da universalização do acesso, não só aos serviços, como também à
informação necessária para o envolvimento dos sujeitos neste processo (TEIXEIRA,
2006).
Esforços variados estão sendo desenvolvidos para melhorar os parâmetros
da universalização, que vão desde o desenvolvimento de ações de educação em
saúde pelos trabalhadores do setor público, até a normatização das bulas dos
medicamentos e implantação de serviços de ouvidoria para avaliação da assistência,
de modo a se multiplicar em canais de comunicação entre os profissionais da saúde
e usuários do sistema público (BRASIL, 2011).
Para garantir a universalização do acesso, a construção do SUS tem
demandado um esforço enorme para a garantia do financiamento do sistema, bem
como para o gerenciamento adequado dos recursos, de modo que sejam utilizados
na qualificação dos serviços públicos de saúde em todo o país (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2005).
Percebemos
que,
apesar
de
assegurada
constitucionalmente,
a
universalidade na saúde faz parte de lutas pela democratização da saúde. O valor
da universalidade tem sido defendido, na formação e na gestão do trabalho em
saúde, como uma estratégia para fortalecer o SUS e como uma forma de ampliação
da participação popular (PINHEIRO & MATTOS, 2005).
31
A universalidade não é apenas um elemento da atenção à saúde de um
Estado, mas um valor a ser fortalecido e defendido como um projeto emancipatório
de sociedade. A ideia de construção da universalidade permite a valorização de
suas dimensões histórica, política e cultural (MATTA, 2008).
Assim, o acesso universal - princípio da universalidade - significa que ao SUS
compete atender a população brasileira independente de raça, renda, escolaridade
ou religião, seja através dos serviços estatais prestados pelo Distrito Federal,
Estados e Municípios, seja por meio dos serviços privados conveniados ou
contratados com o poder público.
Neste contexto, coloca-se em cena a equidade.
Este princípio relata à
necessidade de se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de
desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade. O
ponto de partida da noção de equidade é o reconhecimento da desigualdade entre
as pessoas e os grupos sociais e a percepção de que muitas dessas desigualdades
são injustas e devem ser superadas. Em saúde, especificamente, as desigualdades
sociais se apresentam diante do adoecer e do morrer, reconhecendo-se a
possibilidade de redução dessas desigualdades, de modo a garantir condições de
vida e saúde mais justa para todos (ESCOREL, 2009).
Apesar dos sujeitos possuírem direito aos serviços, as pessoas não são
iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade
significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior
(TEIXEIRA, 2006).
Os estudos sobre equidade são recentes, porém existe uma longa trajetória
que antecede a incorporação deste conceito como orientador das políticas de saúde.
Antes do processo de redemocratização da saúde, os serviços de saúde
concentravam-se nos grandes polos industriais, por abrigar a maior parte da
população com emprego formal. Nesta condição, os municípios periféricos sofriam
prejuízo e ficavam submetidos a ações filantrópicas e de baixa resolutividade no
setor da saúde, onde recebia mais quem precisava menos e recebia menos quem
precisava mais. Os grupos sociais que economicamente são vulneráveis pagam o
maior tributo em termos de saúde acumulando a carga de maior frequência de
distribuição
de
doenças, sejam estas
de
origem infecciosas ou crônico-
degenerativas (ESCOREL, 2009).
32
A equidade leva em consideração o fato das pessoas serem diferentes e
terem necessidades diversas. Uma distribuição equitativa responde ao princípio
marxista que diz: ...“de a cada um segundo suas capacidades e necessidades”
(MARX, 1875). Sendo assim, o princípio de equidade estabelece um parâmetro de
distribuição heterogênea. Se o SUS oferecesse exatamente o mesmo atendimento,
para todas as pessoas da mesma maneira, em todos os lugares, estaria
provavelmente oferecendo coisas desnecessárias para alguns e deixando de
atender às necessidades de outros, mantendo assim as desigualdades.
Em relação ao acesso e utilização dos serviços de saúde, verificam-se graus
de complexidade por sujeitos com necessidades iguais de saúde.
[...] As condições de saúde de uma população estão fortemente associadas
ao padrão de desigualdades sociais existentes na sociedade. [...] Já a
equidade no acesso e utilização de serviços de saúde são expressão direta
das características do sistema de saúde. A disponibilidade de serviços e de
equipamentos diagnósticos e terapêuticos, a sua distribuição geográfica, os
mecanismos de financiamento dos serviços e a sua organização
representam características do sistema que podem facilitar ou dificultar o
acesso aos serviços de saúde. Modificações nas características do sistema
de saúde alteram diretamente as desigualdades sociais no acesso e no uso,
mas não são capazes de mudar por si só as desigualdades sociais nas
condições de saúde entre os grupos sociais (Travassos & Castro, pág.11,
2008).
Políticas equitativas constituem um meio para se alcançar a igualdade. Numa
perspectiva relativamente utópica, pode-se pensar que ações desse tipo integrariam
uma fase intermediária, visando a atingir a igualdade de condições e oportunidades
sociopolíticas. Ou seja, fazendo uma distribuição desigual para pessoas e grupos
sociais desiguais (mais para quem tem menos) atingiríamos (hipoteticamente) uma
situação de igualdade, em que todos teriam acesso às mesmas coisas, fossem elas
bens e serviços ou oportunidades. Mas, uma vez atingido esse patamar de
igualdade de condições, as políticas equitativas ainda seriam necessárias, pois não
se pode prescindir dos critérios de justiça. E, sobretudo no campo da saúde, em que
as necessidades são sempre diferentes, em que cada caso é um caso, a igualdade
de condições parece algo difícil de ser atingido e políticas equitativas serão sempre
imprescindíveis (ESCOREL, 2009).
A contribuição que um sistema de serviço de saúde pode gerar supera as
desigualdades sociais em saúde, implicando na redistribuição da oferta de ações e
33
serviços, e na redefinição do perfil dessa oferta, de modo a priorizar a atenção em
grupos sociais cujas condições de vida e saúde sejam mais precárias, bem como
enfatizar ações específicas para determinados grupos e pessoas que apresentem
riscos diferenciados de adoecer e morrer por determinados problemas.
Percebe-se, assim, que o princípio da equidade diz respeito a duas
dimensões do processo de reforma do sistema de saúde. De um lado, a
reorientação do fluxo de investimentos para o desenvolvimento dos serviços nas
várias regiões, estados e municípios, e, de outro, a reorientação das ações a serem
realizadas, de acordo com o perfil de necessidades e problemas da população
usuária. Nesse último sentido, a busca de equidade se articula diretamente com
outro princípio do SUS, a integralidade à saúde.
A noção de integralidade diz respeito ao leque de ações para a promoção da
saúde, prevenção de riscos e assistência a pacientes, implicando a sistematização
de um conjunto de práticas que são desenvolvidas para o enfrentamento dos
problemas e o atendimento das necessidades dos usuários do SUS.
A integralidade é um atributo do modelo de atenção “integral”, portanto, é
aquele que dispõe de estabelecimentos, unidades de prestação de serviços, pessoal
capacitado e recursos necessários à produção de ações de saúde; que vão desde
as ações inespecíficas de promoção da saúde, às ações específicas de vigilância
ambiental, sanitária e epidemiológica dirigidas ao controle de riscos e danos, até
ações de assistência e recuperação de indivíduos enfermos, sejam ações para a
detecção precoce de doenças, sejam ações de diagnóstico, tratamento e
reabilitação dos sujeitos.
Assim, o principio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com
outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as
diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de atendimentos
aos usuários do SUS (BRASIL, 2000).
O atendimento integral extrapola a estrutura organizacional hierarquizada e
regionalizada da assistência de saúde, se prolonga pela qualidade real da atenção
individual e coletiva assegurada aos usuários do sistema de saúde, requisita o
compromisso com o contínuo aprendizado e com a prática multiprofissional.
Entende-se a integralidade no cuidado de pessoas, grupos e coletividade
34
percebendo o usuário como sujeito histórico, social e político, articulado ao seu
contexto familiar e meio social no qual se insere (PINHEIRO & MATTOS, 2005).
O princípio de integralidade é um dos pilares de sustentação do Sistema
Único de Saúde, consagrado pela Constituição de 1988, seu cumprimento pode
contribuir para garantir a qualidade da atenção à saúde. Hoje se busca oferecer
assistência integral através de uma maior articulação das práticas e tecnologias
relativas ao conhecimento humano (CAMPOS, 2003).
Esse princípio é um dos mais preciosos em termos de demonstrar que a
atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de
sujeitos ou grupos de sujeitos, ainda que minoritário em relação ao total da
população, cada qual de acordo com suas necessidades. Uma das preocupações
centrais para a execução do princípio da integralidade está na necessidade da
humanização dos serviços prestados e das ações realizadas no âmbito do SUS
(BRASIL, 2000).
Após a apresentação dos princípios doutrinários do SUS, convém explicitar os
Princípios Organizativos ou Diretrizes do SUS, que englobam os conceitos de
Descentralização, Regionalização, Hierarquização e a Participação Social.
A descentralização propõe que a gerência das ações e dos serviços de
saúde torne-se responsabilidade imediata do poder público municipal; o que, no
entanto, não exime o poder público estadual e federal e a sociedade da
responsabilidade pela saúde. Esta transferência ocorre a partir da redefinição das
funções e responsabilidades de cada nível de governo com relação à condução
político administrativa do sistema de saúde em seu respectivo território (nacional,
estadual, municipal), com a transferência, concomitante, de recursos financeiros,
humanos
e
materiais
para
o
controle
das
instâncias
governamentais
correspondentes (TEIXEIRA, 2009).
Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de
governo, objetivando prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a
fiscalização por parte dos sujeitos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser
descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município
condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta
função. Para que valha o princípio da descentralização, é preciso considerar a
concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma
35
e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a
participação da sociedade (BRASIL, 2000).
Pressupõe-se que a descentralização do sistema de saúde possibilite um
planejamento mais específico e de acordo com as necessidades da população de
determinada região. A regionalização e a hierarquização dos serviços dizem respeito
à forma de organização dos estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de
Saúde (GOULART, 2003).
A regionalização dos serviços implica a delimitação de uma base territorial
para o sistema de saúde, que leva em conta a divisão político-administrativa do país,
mas também contempla a delimitação de espaços territoriais específicos para a
organização das ações de saúde, subdivisões ou agregações do espaço políticoadministrativo. A hierarquização dos serviços, por sua vez, diz respeito à
possibilidade de organização das unidades segundo grau de complexidade
tecnológica dos serviços, isto é, o estabelecimento de uma rede que articula as
unidades mais simples às unidades mais complexas, através de um sistema de
referência e contra referência de usuários e de informações. O processo de
estabelecimento de redes hierarquizadas pode também implicar o estabelecimento
de vínculos específicos entre unidades (de distintos graus de complexidade
tecnológica) que prestam serviços de determinada natureza (TEIXEIRA, 2009).
Para Matta (2007), os serviços devem ser organizados em níveis crescentes
de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a
partir de critérios epidemiológicos, com definição e conhecimento da população a ser
atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já
existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve
proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que
façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos
disponíveis numa dada região.
Assim, as responsabilidades do município na atenção básica à saúde
definiram o processo de regionalização da assistência, fortalecendo a gestão do
SUS, cabendo à gestão municipal a plena atenção básica e a gestão do sistema
municipal. Ao Estado cabe a gestão do sistema estadual. Ao Ministério da Saúde,
instância federal, cabe exercer a gestão do SUS nacionalmente, incentivar a gestão
estadual a desenvolver os sistemas municipais coerentes com o SUS estadual, de
36
modo a harmonizar e integrar a gestão do SUS nacional, além da normalização e
coordenação
da
gestão
nacional
do
SUS.
Ao
município,
cabe
assumir
responsabilidades pela totalidade dos serviços de saúde, o que pressupõe alta
capacidade técnica e administrativa, sendo os recursos recebidos pela instância
federal (BRASIL, 2010).
Finalizando os Princípios Organizativos, toma-se a diretriz da Participação
Social que propõe que a sociedade deve participar do SUS, através dos Conselhos
e Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a
execução da política na saúde pública brasileira. Esta diretriz está prevista no artigo
198, inciso III, da Constituição Brasileira: “[...] a participação da comunidade nas
ações e serviços públicos de saúde, atuando na formulação e no controle da
execução destes”. Os usuários participam da gestão do SUS através das
Conferências da Saúde, que ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis
federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, estimular a
participação popular na discussão das políticas públicas da saúde, confere maior
legitimidade ao sistema e às ações implantadas, contribuindo para a qualificação
dos serviços públicos no país (BRASIL, 2010).
Trata-se, portanto, de incluir no leque de ações realizadas pelo SUS (ações
de educação, comunicação e mobilização social) voltadas ao empoderamento dos
sujeitos, de modo que possam vir a desenvolver práticas que resultem na promoção,
proteção e defesa de suas condições de vida e saúde. Para além dos Conselhos e
Conferências,
inclusive, cabe
refletir sobre
um processo
mais
amplo
de
democratização do acesso à informação e conhecimentos na área de saúde, na
perspectiva apontada pela Promoção da Saúde, ou seja, na perspectiva do
empoderamento, do acúmulo de saber e de poder da população.
Busca-se assim, dar voz aos usuários, empoderá-los como sujeitos ativos
neste processo de participação social. Serviços de saúde que previnem a doença
e/ou que curam/reabilitam devem ter como objetivo contribuir para o aumento da
capacidade reflexiva e de intervenção dos diferentes sujeitos. Ao contribuir para a
constituição de sujeitos saudáveis, conscientes de seus direitos, esses serviços
aumentam a possibilidade de ações sociais que incidam positivamente sobre os
múltiplos determinantes do processo saúde/doença.
37
Levando em consideração o objetivo deste estudo – analisar as percepções
que os usuários de um Centro de Reabilitação possuem a respeito dos serviços
fonoaudiológicos vinculado ao SUS - pode-se imprimir uma análise da importância
dos preceitos do SUS neste contexto. Os Princípios da Universalidade, Equidade,
Integralidade, Descentralização, assim como a Regionalização, Hierarquização e a
Participação Social, são bases de um sistema que tem o propósito de gerar políticas
públicas saudáveis, com a criação de ambientes físicos e sociais favoráveis à saúde.
Estas ações podem se concretizar enquanto processos dirigidos à formulação
e implementação de políticas públicas que proponham que a qualificação de
serviços públicos, na visão dos usuários, deve contribuir para a melhoria da saúde
destes pacientes, assim como auxiliar no desenvolvimento de uma prática mais
humanizada e acolhedora.
2.2.1. Sistema Único de Saúde – Complementaridade da participação
privada
Este item será abordado devido às condições que o Centro de Reabilitação
estudado se posiciona, sendo que faz parte de uma instituição privada de ensino
(FAG) e é conveniado ao SUS.
A Constituição Brasileira faz referência à participação privada no sistema
público de saúde. A delimitação do caráter complementar de participação da
iniciativa privada na prestação de serviços públicos de saúde implica a análise do
conteúdo constitucional da complementaridade, a qual deve ter como referencial
tanto o texto da Constituição, quanto as condições históricas, sociais e econômicas.
A participação privada na prestação de serviços de saúde está prevista no artigo 197
e no artigo 199 (parágrafo primeiro) da Constituição Federal, conforme transcrição
abaixo:
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado. [...]
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
1.o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de
38
direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos.
A Constituição Federal oferece a possibilidade de modernização da
administração pública, por meio da participação consensual e negociada da iniciativa
privada, tanto na gestão de determinadas unidades de saúde quanto na prestação
de atividades específicas de assistência à saúde. A flexibilidade, a possibilidade de
negociação
e
a
colaboração
da
iniciativa
privada
configuram importantes
ferramentas da atuação administrativa pública na atualidade e têm sido adotadas
com êxito no setor de saúde dos países em que a prestação de tais serviços é
considerada universal/integral (DI PIETRO, 2005).
A Portaria nº 1.034 da Constituição Federal (publicada em 5 de maio de 2010)
é que dispõe exatamente sobre a participação complementar das instituições
privadas (com ou sem fins lucrativos) de assistência à saúde no âmbito do SUS
(BRASIL, 2010). Um adendo do Art. 8 dispõe sobre as condições que as instituições
privadas devem seguir para a conveniência/contrato com o SUS:
Art. 8º As instituições privadas de assistência à saúde contratadas ou
conveniadas com o SUS devem atender às seguintes condições:
I - manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES);
II - submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa
Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS);
III - submeter-se à regulação instituída pelo gestor;
IV - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade
que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto;
V - atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH);
VI - submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do
SUS, apresentando toda documentação necessária, desde que solicitado;
VII - obrigar-se a entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato da
saída do estabelecimento documento comprobatório informando que a
assistência foi prestada pelo SUS, sem custos adicionais para o paciente;
VIII - garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no
exercício do seu poder de fiscalização (BRASIL, 2010).
A complementaridade então se refere à possibilidade de incentivo estatal à
prestação privada de serviços de saúde, com a possibilidade de prestação de
serviços públicos de saúde por particulares. A participação privada no sistema
público de saúde brasileiro pode ocorrer, portanto, pela via da delegação de serviço
público, e não meramente por meio de fomento estatal. (MÂNICA, 2010). Assim, a
assistência prestada por meio da iniciativa privada deve complementar as atividades
39
de competência do SUS, as quais não podem ser integralmente executadas por
terceiros.
A Constituição Federal menciona a complementaridade da participação
privada no setor de saúde, sendo que determina que a participação da iniciativa
privada deva ser complementar ao SUS, incluídas todas as atividades voltadas à
prevenção de doenças e à promoção, proteção e recuperação da saúde
(MARQUES, 2003). Na Lei Orgânica da Saúde (no. 8.080/90) consta um texto do
Poder Executivo no. 360/89 que relata:
[...] na lógica do SUS, é estabelecida ainda uma nova forma de
relacionamento com os subsetores filantrópico e privado, baseado em
normas éticas e na existência de qualidade da prestação de serviços. Não
se contrapõem, aqui, os subsetores público e privado, mas é definida uma
clara regra de convivência, cuja essência é a garantia da disponibilidade de
serviços, com as qualificações requeridas, para o franco acesso dos
usuários. (Mensagem do Poder Executivo no. 360/89 in MANICA, 2010)
A participação privada no SUS deve ocorrer por meio de mecanismos
jurídicos que garantam ao sistema controle e fiscalização sobre o serviço e que
garantam
ao
prestador
privado
segurança
jurídica
a
sua
prestação.
A
complementaridade da participação privada nos serviços de saúde conduz, ainda
segundo Manica (2010), ao reconhecimento da possibilidade de delegação de
serviços públicos de saúde a particulares, a ser instrumentalizada por meio de
ajustes celebrados com a iniciativa privada, os quais podem ter como objeto:
- um serviço ou um grupo de serviços internos relacionados à atividade de
uma entidade ou órgão público prestador de serviços de saúde;
- a prestação de serviços por uma unidade privada dotada de infraestrutura
apta ao desenvolvimento das atividades ajustadas;
- toda a gestão de uma unidade pública de saúde
Em cada situação concreta, cumpre ao administrador público escolher a
melhor opção para a prestação de serviços públicos de saúde a todos aqueles que
dele necessitam, adotando, se for necessário, o modelo de ajuste mais adequado ao
caso. O Centro de Reabilitação, que realizamos nosso estudo, está inserido na
prestação de serviços por uma unidade privada dotada de infraestrutura apta ao
desenvolvimento das atividades propostas pelo SUS. Sua estrutura e seus
profissionais são mantidos financeiramente por iniciativa privada, porém dotado dos
preceitos e diretrizes do SUS, mediante complementaridade.
40
2.3.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO EM
SAÚDE
Independentemente
de
estarem
vinculados
à
complementaridade
da
participação privada ou não, os serviços oferecidos pelo SUS devem seguir
preceitos de humanização e acolhimento em saúde.
Por
humanização
entende-se
a
valorização
dos
diferentes
sujeitos
implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam esta política
são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o
estabelecimento de vínculos solidários, a participação coletiva no processo de
gestão e a indissociabilidade entre atenção e gestão (BRASIL, 2010).
Existem abordagens conceituais, manifestações ideológicas e construções
teóricas que fazem da humanização um instigante campo de produção teórica e
prática na área da Saúde, sendo a humanização compreendida, segundo Deslandes
(2006), como:
- princípio de conduta de base humanista e ética;
- movimento contra a violência institucional na área da Saúde;
- política pública para a atenção e gestão no SUS;
- metodologia auxiliar para a gestão participativa;
- tecnologia do cuidado na assistência à saúde;
A humanização se fundamenta no respeito e valorização do sujeito, e constitui
um processo que visa à transformação da cultura institucional, por meio da
construção coletiva de compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção
à Saúde e de gestão dos serviços. Reconhece o campo das subjetividades como
instância fundamental para a melhor compreensão dos problemas e para a busca de
soluções compartilhadas. A participação, a autonomia, a responsabilidade e a
atitude solidária são valores que caracterizam um modo de fazer saúde humanizada
que resulta em mais qualidade e melhores condições de trabalho (DESLANDES,
2006).
A Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão (PNH) foi uma
iniciativa criada em 2003, que teve por objetivo qualificar práticas de gestão e de
atenção em saúde. Esta tarefa visou corresponder à produção de novas atitudes por
parte de profissionais da saúde, gestores e usuários, de nova concepção ética no
41
campo do trabalho, incluindo o campo da gestão e das práticas em saúde (BRASIL,
2010).
Como política, a PNH é constituída por um conjunto de diretrizes que norteia
toda atividade institucional que envolva usuários ou profissionais da Saúde, em
qualquer instância de efetuação. Segundo Rios (2009), tais diretrizes apontam,
como caminho, para:
- a valorização da dimensão subjetiva e social nas práticas de atenção e
gestão, fortalecendo compromissos e responsabilidade;
- o fortalecimento do trabalho em equipe;
- a utilização da informação, comunicação, educação permanente e dos
espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos
usuários;
- a promoção do cuidado tanto pessoal quanto institucional.
Nessa vertente, a humanização focaliza com especial atenção os processos
de trabalho e os modelos de gestão e planejamento. O resultado esperado é a
valorização dos sujeitos em todas as práticas de atenção, gestão, de compromisso e
responsabilidade de todos com o bem comum.
Como ferramenta de gestão, a humanização valoriza a qualidade do
atendimento, preserva as dimensões biológicas, psicológicas e sociais dos usuários
e enfatiza a comunicação e a integração dos profissionais. Visa então o respeito à
vulnerabilidade humana e a crença de que a relação entre dois atores: o profissional
e o paciente está sempre sujeita a emoções que devem ser guiadas pelo sentimento
de compromisso e de amor ao próximo (RIOS, 2009).
Por outro lado, a humanização enquanto política nacional tem problemas a
serem superados, como as filas de espera por atendimento, a insensibilidade de
profissionais de saúde frente ao sofrimento dos usuários do SUS, os tratamentos
desrespeitosos, as práticas de gestão autoritária, a degradação nos ambientes e nas
relações
de
trabalho. Estas
condições
desumanizada de processos de trabalho.
precárias
derivam da
organização
Ainda segundo a PNH, não basta
humanizar. É necessário que a humanização, assim como o processo de produção
de subjetividade a ela associado, seja orientada por princípios e diretrizes. Estas
orientações tomam sentido no acolhimento, na democracia das relações, na
valorização do profissional da saúde e na garantia dos direitos dos usuários. É nesta
42
articulação entre princípios, métodos e diretrizes que os processos de formação das
políticas públicas têm sido proposta. As diretrizes dos processos de formação da
PNH se assentam no princípio de que a formação é inseparável dos processos de
mudanças, ou seja, que formar é, necessariamente, intervir; e intervir é um ato de
mudança nas práticas de gestão e de cuidado, na direção da afirmação do SUS
como política inclusiva, equitativa, democrática, solidária e capaz de promover e
qualificar a vida do povo brasileiro (BRASIL, 2010).
A construção e sustentação de sentimento de “pertencimento” ao grupo
coletivo são imprescindíveis para a formação de compromisso e contratação de
serviços, com os quais se busca ampliar a eficácia das práticas e, ao mesmo tempo,
qualificar os espaços de trabalho, afirmando-o como importante lócus de realização
profissional. Estas são as principais ofertas e os desafios dos processos de
formação em humanização, segundo o Ministério da Saúde.
Já o Acolhimento é um fator decisivo na reorganização e implementação da
saúde na rede pública, pois tem o objetivo de melhorar o acesso dos usuários aos
serviços, humanizar as relações entre usuários e profissionais de saúde. Com a
integração e complementaridade das atividades exercidas pelas várias categorias
profissionais,
busca-se
orientar
o
atendimento
de
qualidade, aumentar a
responsabilidade profissional com os usuários do SUS, elevando o vínculo e a
confiança entre eles para operacionalizarem um atendimento acolhedor (BRASIL,
2010).
A implementação do acolhimento exige mudança de postura em todo o
sistema de saúde a fim de receber bem os sujeitos, ouvir as suas demandas, buscar
formas de compreendê-las e socializar-se com elas. Para acolher é preciso
desenvolver formas de receber a população, de acordo com os diferentes modos
como ela procura ajuda nos serviços de saúde, respeitando o momento existencial
de cada um (ALMEIDA & FURTADO, 2006).
O acolhimento é uma ação que pressupõe a mudança da relação
profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos,
humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante
ativo no processo de produção da saúde. O acolhimento é um modo de operar os
processos de trabalho em saúde de forma a atender o outro ouvindo seus pedidos e
assumindo uma postura capaz de proporcionar respostas aos usuários. Implica
43
prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando
for o caso, o paciente e sua família em relação a outros serviços de saúde,
estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses
encaminhamentos (BRASIL, 2004).
Segundo a Secretaria Executiva do Núcleo Técnico do Ministério da Saúde
(2004) em seu livro “Acolhimento com avaliação e classificação de risco: um
paradigma
ético-estético
no
fazer em
saúde”, o
acolhimento
implica
no
compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades e angústias. Colocar em
ação o acolhimento como diretriz operacional, permite reconhecer e trabalhar em
torno dos seguintes aspectos:
- protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde;
-reorganização do serviço de saúde a partir da reflexão e problematização
dos processos de trabalho, de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe
multiprofissional encarregada da escuta e resolução dos problemas do usuário;
- elaboração de projeto terapêutico individual e coletivo por linhas de
cuidado;
- mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de saúde, ampliando
os espaços democráticos de discussão/decisão, de escuta, trocas e decisões
coletivas.
- postura de escuta e compromisso em dar respostas às necessidades de
saúde trazidas pelo usuário, que inclua sua cultura, saberes e capacidade de avaliar
riscos;
- construção coletiva de propostas com a equipe local e com a rede de
serviços e gerências centrais e distritais para melhorar as instituições SUS.
Em função dessas diretrizes, o acolhimento deixa de ser uma ação pontual e
isolada dos processos de produção de saúde e se multiplica em inúmeras outras
ações que, partindo do complexo encontro do sujeito profissional de saúde e sujeito
demandante, possibilita integrar a adequação da área física; a organização dos
serviços de saúde; a governabilidade das equipes locais; a humanização das
relações em serviço; o ato da escuta e a produção de vínculo; o compartilhamento
do conhecimento para melhoria da qualidade das ações de saúde.
Assim, o
acolhimento
propõe
melhorar a
lógica de organização e
funcionamento do serviço de saúde, partindo do princípio da universalidade. O
44
serviço de saúde tem função de acolher, escutar e resolver os problemas de saúde
da população, possibilitando uma relação de confiança e apoio ao usuário.
A
relação entre o profissional e o usuário do SUS deve se dar por meio de parâmetros
humanitários de solidariedade e cidadania, estando unidos, portanto, pelos mesmos
interesses num serviço de saúde com qualidade, que oferece atenção integral e
atendimento universal sob controle da comunidade (FRANCO et al, 2003).
O Governo Federal lançou, em 2007, o projeto: Indicadores e Métricas para
Avaliação de e-Serviços. Trata-se de um projeto cuja metodologia foi desenvolvida
para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados por meio eletrônico de
acordo com a conveniência do paciente. São indicadores e critérios que verificam a
maturidade,
comunicabilidade,
confiabilidade,
multiplicidade
de
acesso,
disponibilidade, acessibilidade, facilidade de uso e nível de transparência do serviço
prestado. A avaliação da qualidade do serviço prestado é um dos pontos a ser
considerado quando se busca verificar as necessidades do usuário. A aplicação
desses indicadores evidencia um conjunto de oportunidades de melhoria e
qualificação dos serviços.
Assim, a avaliação pode sinalizar, por exemplo, a necessidade de melhorar o
nível de resposta no atendimento ou de simplificar a apresentação dos conteúdos
segundo critérios de usabilidade, acessibilidade de conteúdo ao usuário final, bem
como de uma maior transparência e capacidade de comunicação do usuário com a
instituição publica (BRASIL, 2007). Destaca-se ainda que essa avaliação pode ser
aplicada tanto para os serviços públicos prestados, quanto para aqueles que ainda
estejam em processo de implementação. Em ambos os casos, os resultados podem
apresentar oportunidades de aprimoramento dos serviços de acordo com as reais
necessidades dos sujeitos atendidos.
A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
juntamente com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), realizaram, em
2010, uma pesquisa com um sistema de indicadores sociais para verificação de
como a população avalia os serviços de utilidade pública e o grau de importância
deles para a sociedade. O Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS),
elaborado pelo IPEA, constitui-se de uma pesquisa domiciliar realizada junto às
famílias brasileiras, com a finalidade de conhecer suas percepções sobre os
serviços públicos oferecidos pelo governo. Os dados sobre a satisfação dos usuários
45
do Sistema Público de Saúde foram coletados no período de 3 a 19 de novembro de
2010, a partir de entrevistas realizadas com 2.773 sujeitos, em diversas regiões do
país. Tais dados foram focados em: atendimento em centros e/ou postos de saúde,
atendimento por membro da Equipe de Saúde da Família (ESF), atendimento por
médico especialista, atendimento de urgência e emergência e distribuição gratuita
de medicamentos; além da avaliação geral sobre o SUS. Os resultados mostraram
que os brasileiros estão divididos com relação ao Sistema Único de Saúde, pois
para 28,5% dos brasileiros os serviços do SUS foram avaliados como ruim/ muito
ruim; 28,9% dos usuários consideraram-nos bom/muito bom; e os 42,6% restantes
classificaram tais serviços como regulares.
Para os serviços de assistência prestados pelo SUS, o aumento do número
de médicos foi à melhoria percebida com maior frequência, seguida pela redução do
tempo para marcar consultas ou para ser atendido. Esses dados sugerem que a
população almeja um acesso melhorado, rápido e oportuno nos serviços públicos de
saúde brasileiros.
A avaliação dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS, na perspectiva do
usuário, foi estudada também pela DATAUNB (Centro de Pesquisa de Opinião
Pública da Universidade de Brasília). A pesquisa foi realizada em oito capitais e
respectivas regiões metropolitanas: Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo e o campo da pesquisa foi constituído
de seis unidades de saúde diferentes: - usuários do Programa de Saúde Família
(PSF); - usuários atendidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS); - usuários de
policlínicas especializadas; - usuários de policlínicas especializadas conveniadas; usuários de hospitais SUS; e - usuários de hospitais conveniados. As dimensões de
análise definidas para a pesquisa foram o acesso e disponibilidade; a infraestrutura;
o acolhimento; a relação usuário-profissional de saúde; a eficácia ou resolutividade;
a territorialidade e descentralização; a informação e participação na gestão. Os
dados apurados indicaram um alto nível de satisfação geral com o sistema de saúde
público (CASTRO et al, 2008).
Este resultado é também percebido por pesquisadores da UNESP que
realizaram um estudo para avaliar a qualidade do serviço prestado pelo SUS aos
pacientes de cirurgia cardíaca, identificando as expectativas e percepções desses
pacientes. Os oitenta e dois pacientes submetidos à cirurgia de toracotomia médio46
esternal, apresentaram expectativa e percepção com resultados significantemente
altos, sugerindo a qualidade dos serviços prestados pelo SUS como satisfatória
(BORGES et al, 2010).
O Ministério da Saúde, em 2011, lançou a “Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde”, que traz informações sobre os direitos dos pacientes ao procurar um
atendimento de saúde. Ela reúne princípios básicos de cidadania, que asseguram ao
brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. Os
princípios da Carta indicam que todo sujeito tem direito ao acesso ordenado e
organizado aos sistemas de saúde; tem direito a um tratamento adequado e efetivo;
um atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, que
respeite seus valores. O cumprimento destes princípios por parte dos gestores em
saúde, também, faz parte da Carta do Ministério da Saúde.
Pensando em atendimento humanizado, um estudo foi realizado por um grupo
de enfermeiras em Porto Alegre – RS, com o objetivo de caracterizar, a partir da
opinião dos usuários, o acesso ao atendimento e a prestação do serviço oferecido
no SUS quanto à forma como são acolhidos em unidades de saúde. Foram
identificados positivamente o acolhimento, o desempenho profissional e o vínculo
estabelecido entre o usuário e o serviço de saúde. Foram considerados fatores
negativos: a espera prolongada e a necessidade de chegar muito cedo para garantir
o atendimento (LIMA et al, 2007). Já Mitre et al (2012) também realizaram um
estudo
sobre
o
acolhimento
apontando
seus
avanços
e
desafios
na
operacionalização e qualificação do Sistema Único de Saúde. Indicaram avanços na
ampliação do acesso aos serviços e profissionais de saúde mais sensíveis às
necessidades dos usuários. A ausência de articulação na rede pública, o excesso de
demanda, o modelo biomédico hegemônico e a falta de capacitação dos
profissionais foram colocados em questão para a melhora do acolhimento na
operacionalização e qualificação do SUS.
Assim, a análise da percepção dos pacientes sobre as práticas e serviços em
saúde tem um importante papel no cenário brasileiro, diante da prática de avaliação
dos serviços, por meio de questionamentos aos usuários e o fortalecimento da
participação da comunidade nos processos de planejamento (GOUVEIA, 2009).
Com relação às atividades de acolhimento e humanização, cabe destacar que
o profissional fonoaudiólogo também integra a equipe do serviço público e é
47
responsável por esses atividades. Nesse processo, o diálogo e a criação de vínculo
são componentes necessários no atendimento fonoaudiológico. O fonoaudiólogo
deve exercer seu atendimento garantindo os meios necessários para a saúde
fonoaudiológica. A dinâmica centrada no grupo e em suas relações linguísticas
aumenta a possibilidade de vínculo, a responsabilização para com os pacientes,
além de uma maior resolutividade do serviço (ALMEIDA & FURTADO, 2006). Esta
temática será abordada a seguir.
48
2.4.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FONOAUDIOLOGIA
Considerando a saúde integral como direito de todos e dever do Estado, a
assistência fonoaudiológica, que inicialmente oferecia um atendimento clínico e
individual, gradativamente foi inserindo-se nos serviços públicos de saúde. Nesse
processo, a fonoaudiologia pautou-se nos principais fundamentos da Medicina
Preventiva, a qual definiu a assistência como “a ciência e a arte de evitar doenças,
prolongar a vida, promover a saúde física e mental com eficiência” (LEAVELL &
CLARK, 1976, p. 7; in CASANOVA et al, 2010). Nessa perspectiva, as práticas
fonoaudiológicas tinham como princípio primordial evitar a perda da saúde e a
invalidez depois que o sujeito já foi afetado pela doença, além de protegê-lo de
agentes patológicos.
A incorporação do modelo da História Natural da Doença na fonoaudiologia
evidenciou uma
preocupação com os fatores etiológicos e as patologias
fonoaudiológicas. Penteado & Servilha (2004) relataram, em seus estudos, que o
modelo de Fonoaudiologia Preventiva foi fundamentado no modelo de Medicina
Preventiva de Leavel e Clark (1976), o qual incorpora a noção de “História Natural
das Doenças”, segundo os períodos de patogenia (pré-patogênico e período
patogênico) e propõem a divisão da prevenção em três fases: prevenção primária,
secundária e terciária, subdivididas em níveis, nas quais se aplicam medidas
específicas, num enfoque voltado para sujeitos, grupos e populações de risco de
adoecimento.
Quanto à proteção da saúde, as ações eram dirigidas para o combate a
determinadas afecções, segundo suas características e necessidades específicas.
Embora focada na doença, a área da fonoaudiologia foi incorporando conceitos mais
abrangentes. Aos poucos, os cursos de graduação em fonoaudiologia no Brasil
passaram a incluir disciplinas relacionadas à prevenção de patologias. Contudo, ao
conceber a saúde como proteção específica de determinadas doenças, o modelo da
fonoaudiologia preventiva continuava tendo a doença como objeto de ação,
concebendo as atuações mais amplas fora do campo de atuação do fonoaudiólogo
(MASSON,1995 in CASANOVA et al, 2010)..
A evolução do serviço de Fonoaudiologia no sistema público ocorreu nas
décadas de 70 e 80, quando os fonoaudiólogos iniciaram suas atividades nas
secretarias estaduais e/ou municipais de educação e nas secretarias de saúde.
49
Nesse período, somente as pessoas mais abastadas tinham acesso à saúde, sendo
que o número de profissionais era restrito e os trabalhos fonoaudiológicos isolados,
sem nenhum tipo de integração; fato que revelou falta de efetividade do trabalho
fonoaudiólogo na comunidade em geral (MOREIRA & MOTA, 2009). Ainda segundo
as autoras, os procedimentos eram voltados ao atendimento em consultório,
provavelmente, devido à formação reabilitadora que o próprio profissional de
fonoaudiologia recebia. Era difícil propor e organizar serviços direcionados às
grandes populações, sendo que este se concentrava em ambulatórios de saúde
mental e hospitais, mantendo-se uma proposta reabilitadora. Na segunda metade da
década de 80, com a
reorganização dos serviços de saúde propostos pela
constituição federal, conquistas surgiram, como os concursos públicos para as
Secretarias de Saúde, com a contratação de fonoaudiólogos. Desta forma, muitos
profissionais foram lotados nos centros de saúde – porta de entrada do sistema
público - iniciando a inserção da Fonoaudiologia na atenção primária à saúde
(MOREIRA & MOTTA, 2009).
Neste cenário de mudanças no sistema de saúde e nas instituições de ensino
superior, a área da fonoaudiologia passou a refletir sobre a formação profissional e
sua atuação no SUS, dialogando com outras áreas em busca de conhecimentos
para referenciar suas ações. A inserção do fonoaudiólogo nos serviços de saúde
pública levou os profissionais a rever seus conceitos e a aprofundar as discussões
sobre sua atuação profissional (CASANOVA, 2010), buscando inserir práticas
voltadas a Promoção de Saúde.
Na busca por esta construção de uma prática voltada ao coletivo e à
intervenção precoce, os fonoaudiólogos encontraram no modelo preventivista um
referencial teórico que subsidiou as ações fonoaudiológicas. Este modelo - que têm
como fio condutor a doença e sua progressão - propõem ações que envolvem
etapas de trabalho em níveis de complexidade crescente, que promovam saúde
quando não há doença; que protejam quando existe o risco de algum agravo à
saúde e reabilite quando o sujeito estiver acometido pela doença.
Realizando
uma
análise mais detalhada do modelo preventivista na
Fonoaudiologia, Penteado & Servilha (2004) enfatizam que, mesmo representando
um avanço para as práticas de saúde da época, tal modelo apresenta limites pouco
abordados no campo da Fonoaudiologia, como o fato de não dar conta de
50
compreender o processo saúde-doença na complexidade da relação homem-vidasaúde. Ele não abarca as peculiaridades da comunicação e do sujeito comunicante
e tende a negligenciar as particularidades dos processos subjetivos, sociais,
históricos e culturais de cada contexto/comunidade. De qualquer forma, apesar das
restrições, críticas e inadequações para o campo da Fonoaudiologia, a perspectiva
preventivista ainda vem norteando a maioria dos profissionais fonoaudiólogos em
suas práticas na saúde pública/coletiva.
No final da década de 90, no Brasil, a Promoção da Saúde começou a ser
referida tendo como base os conceitos propostos nas Cartas e Declarações das
Conferências Internacionais, representando uma mudança de paradigma que
desloca o eixo patologia/tratamento/controle/ prevenção de doenças para o eixo
saúde/promoção da saúde (BRASIL, 2001).
Nesse novo paradigma, a Promoção da Saúde se constitui como eixo
norteador de toda e qualquer prática em saúde, nos diferentes contextos sociais
(clínico, institucional e coletivos) trazendo assim ressignificações dos conceitos de
saúde, doença e sujeito. A Promoção da Saúde requer do fonoaudiólogo o
redimensionamento de seu papel e função, muito maiores do que aqueles previstos
pelo modelo preventivista (TEIXEIRA, 2006).
Nas Unidades Básicas de Saúde, um dos focos de ações de promoção da
saúde relacionadas à Fonoaudiologia foi iniciado em 1994, com o Programa Saúde
da Família (PSF), uma estratégia do Ministério da Saúde que contribuiu para a
reorganização da atenção básica. Ele propõe uma compreensão ampliada do
processo saúde-doença e a reflexão sobre o modelo de atenção à saúde segundo
os princípios do SUS, embasando-se numa prática intersetorial e interdisciplinar,
considerando
o sujeito a partir de sua inserção na família e na comunidade
(BRASIL, 2004).
A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela Equipe de
Saúde da Família (ESF), compõem parte do conjunto de prioridades políticas
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde. A ESF supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na
doença,
desenvolvendo-se
por
meio
de
práticas
gerenciais
e
sanitárias,
democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipes, dirigidas às
populações de territórios delimitados, pelos quais assumem responsabilidade.
51
A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do
modelo
assistencial, operacionalizada
mediante
a
implantação
de
equipes
multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis
pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área
geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde,
recuperação de agravos e na manutenção da saúde desta comunidade. A
responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes de
Saúde da Família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos
como sendo da atenção básica.
A estratégia é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução
histórica e organizativa do sistema público. A Saúde da Família como estratégia
estruturante dos sistemas municipais de saúde tem provocado um importante
movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS, buscando
maior racionalidade na utilização dos níveis assistenciais, estabelecendo vínculo de
compromisso e responsabilidade com a população, estimulando a organização das
comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde,
utilizando sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de decisões,
atuando de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes
segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que
transcendem a especificidade do setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre
as
condições
de
vida
e
saúde
dos
sujeitos,
famílias
e
comunidade
(BRASIL, 2010).
A ESF conta com o apoio de equipes multiprofissionais e interdisciplinares,
compostas por no mínimo um: I – médico generalista ou especialista em Saúde da
Família; II- enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; III- técnico
ou auxiliar de enfermagem; IV- agentes comunitários da Saúde. Além destes,
também podem estar inclusos profissionais da nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia.
Nesse programa, a atuação fonoaudiológica requer uma organização das
rotinas de trabalho de modo a atender às necessidades coletivas e individuais. Cabe
ao fonoaudiólogo inserido na ESF diagnosticar os problemas e detectar as
alterações, desenvolver atividades de promoção e proteção à saúde em geral
(aleitamento
materno,
saúde
auditiva,
vocal,
entre
outras), realizar visitas
domiciliares, atuar em escolas e creches oferecendo assessoria e orientação,
52
organizar grupos
visando
ações de promoção de saúde (recém-nascidos,
hipertensos, idosos, crianças), atender à demanda encaminhada para oficinas e
terapias grupais discutindo os casos com a equipe. O fonoaudiólogo não pode ser
considerado somente um especialista, pois em sua formação recebe conhecimentos
globais, que
incluem questões
culturais, emocionais, físicas, ambientais e
econômicas (LIPAY & ALMEIDA, 2007).
O desafio é o de ampliar as fronteiras de atuação visando uma maior
resolubilidade da atenção, onde a Saúde da Família seja compreendida como a
estratégia principal para mudança do modelo de saúde, que deverá sempre se
integrar ao contexto de reorganização do sistema de saúde.
A política nacional de saúde que favoreceu a inserção do fonoaudiólogo no
SUS, foi à criação dos Núcleos de Apoio em Saúde da Família/NASF, de acordo
com a portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. O NASF assegurou a inserção
do
fonoaudiólogo
embasando
sua
atuação
numa
prática
intersetorial
e
interdisciplinar, considerando o sujeito e sua família.
Cáceres (2010) afirma que mudanças significativas ocorreram com a criação
do NASF, conforme o quadro abaixo, facilitando a inserção dos serviços
fonoaudiológicos no SUS:
ANTES DA CRIAÇÃO DO NASF
DEPOIS DA CRIAÇÃO DO NASF
Atenção centrada na doença.
Atenção centrada na saúde.
Atua sobre a demanda espontânea.
Responde à demanda de forma continuada e racional.
Ênfase na medicina curativa.
Ênfase na integralidade da assistência.
Trata o indivíduo como objeto da ação.
O indivíduo é sujeito, integrado a família, ao domicílio, à
comunidade.
Baixa capacidade de resolver problemas.
Melhor capacidade de resolver problemas .
Saber e poder centrado no profissional de
saúde.
Saber e poder centrados na equipe e comunidade.
Desvinculado da comunidade.
Vinculado à comunidade.
Relação custo/benefício desvantajosa.
Relação custo benefício otimizada.
FONTE: CÁCERES (2010)
Refletindo
sobre
este
quadro
e
relacionando
com
as
práticas
fonoaudiológicas, os serviços públicos têm sido reavaliados com a intenção de
oferecer maior qualidade no atendimento, preocupando-se com a distribuição dos
53
profissionais nos serviços públicos e privados, visando uma maior cobertura das
demandas populacionais (BRASIL, 2004).
A Fonoaudiologia assume assim um papel significativo na manutenção da
saúde da população que atende (SOUZA, 2005). Os aspectos ligados à saúde
fonoaudiológica são considerados significativos à saúde geral, sendo que as
manifestações fonoaudiológicas patológicas abalam o desempenho do sujeito - a
nível verbal, não verbal e interpessoal - gerando sofrimento e/ou isolamento social.
Não causam dor física, não são mensuráveis por exames laboratoriais, nem são
levados à cura por meio de ingestão de medicamentos, porém limitam a capacidade
do sujeito criar, interagir e transformar o mundo, gerando impacto na sua
socialização e comprometendo sua qualidade de vida (ANDRADE, 2000).
Atualmente observam-se fonoaudiólogos atuando nos três níveis de atenção
a saúde (SANTOS et al, 2010).
Transferindo esses níveis para o contexto da Fonoaudiologia em termos
gerais, pode-se citar como uma medida de atenção primária a orientação ao
aleitamento materno; como uma medida em nível secundário, a avaliação e
diagnóstico dos desvios fonológicos e como uma medida em nível terciário, o
tratamento de um sujeito disfágico, por exemplo.
Exemplificando estes níveis no contexto fonoaudiológico, Bassi (2009) cita
que na atenção primária, o fonoaudiólogo visa eliminar ou inibir fatores responsáveis
pela ocorrência e desenvolvimento de determinadas patologias, podendo ser
incorporadas com estratégias de imunização, de saúde ocupacional, de educação
nas escolas, de aconselhamento genético, de cuidados pré-natais, planejamento
familiar e na qualidade de vida. Na atenção secundária, a ação diagnóstica e o
tratamento é imediato, com o objetivo de amenizar o processo evolutivo da doença,
a fim de evitar complicações e sequelas (invalidez, morte), como nos exames
periódicos e nas pesquisas de triagem.
Em se tratando da atenção terciária, Gonçalves (2005) relata que o principal
objetivo é de recolocar o sujeito afetado em uma “posição útil na sociedade”, com a
máxima utilização de sua capacidade, reintegrando esse sujeito na sociedade com
ações de melhorias como, por exemplo, a inserção do paciente no mercado de
trabalho. O princípio fundamental é que a responsabilidade com a saúde não cesse,
54
mas estenda-se durante toda a vida do sujeito, buscando continuamente a
manutenção e ampliação da qualidade de vida dos sujeitos usuários do SUS.
Os serviços fonoaudiológicos estão inseridos em diferentes ações e
programas do SUS, vinculados à saúde da família, saúde infantil, saúde mental,
saúde escolar e significativamente na Política Nacional de Saúde Auditiva (SANTOS
et al, 2010). Segundo Lessa & Miranda (2005), o fonoaudiólogo também tem sido
considerado necessário na alta complexidade vinculado ao atendimento de
pacientes que apresentam sequelas provenientes das doenças cerebrovasculares,
doenças isquêmicas do coração, neoplasias de cabeça e pescoço, traumatismos
crânio encefálicos (TCE), queimaduras, afecções perinatais e anomalias congênitas.
O Conselho Federal de Fonoaudiologia elaborou a publicação de uma
cartilha: Contribuição da Fonoaudiologia para o avanço do SUS (2010), com o
propósito de fornecer informações sobre a contribuição da Fonoaudiologia na
consolidação das Políticas Públicas em Saúde e também para apresentar os
principais campos de atuação do fonoaudiólogo nos diferentes níveis de atenção à
saúde. Segue o quadro apresentado:
ÁREAS DE ATUAÇÃO
LINGUAGEM
VOZ
AUDIOLOGIA
PRINCIPAIS AÇÕES
Es tudo, pesquisa, promoção, prevenção, avaliação, diagnós ti co e
tra ta mento de tra ns tornos da l i ngua gem ora l e es cri ta .
Es tudo e pesquisa da voz, promoção da saúde vocal , a va l i a çã o e
a perfeiçoamento da voz; assim como a prevenção, o diagnóstico e
o tra ta mento das a lterações vocais querem s ejam na modalida de
de voz fa l a da como voz ca nta da .
Promoçã o, prevençã o, di a gnós ti co e rea bi l i ta çã o da funçã o
a udi ti va e ves ti bul a r.
SAÚDE COLETIVA
Cons trução de estratégias de planejamento e gestão em saúde, no
ca mpo fonoa udi ol ógi co, com vi s ta s a i ntervi r na s pol íti ca s
públicas, bem como atuar na a tençã o à s a úde, na s es fera s de
promoçã o, prevençã o, educa çã o e i ntervençã o, a pa rti r do
di a gnós ti co de grupos popul a ci ona i s .”
DISFAGIA
Prevençã o, a val i a çã o, di a gnós ti co, ha bi l i ta çã o/ rea bi l i ta çã o
funci ona l da degl uti çã o e gerenci a mento dos di s túrbi os de
degl uti çã o.
MOTRICIDADE OROFACIAL
Es tudo, pes qui s a , prevençã o, a va l i a çã o, di a gnós ti co,
des envolvimento, habilitação, a perfeiçoamento e reabilitação dos
a s pectos estruturais e funcionais das regiões orofacia l e cervi ca l ,
s ucçã o, ma s ti ga çã o, degl uti çã o, res pi ra çã o e fa l a .
Col a borar no proces s o de ens i no-a prendi za gem por mei o de
progra mas educacionai s de a pri mora mento da s s i tua ções de
55
comuni ca çã o ora l e es cri ta , reduzi ndo os probl ema s de
a prendi za gem.
FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL
FONTE: Conselho Federal de Fonoaudiologia. Áreas de atuação e demais inf ormações f oram extraídas das Resoluções 320/2006, 383 /2010 e
387/2010 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (Publicação de cartilha em site do CFFa, acesso em janeiro de 2014).
Para que o fonoaudiólogo esteja apto para atuar no serviço público, deve ter
conhecimentos específicos sobre os temas que relacionam a fonoaudiologia ao
SUS, sendo capaz de identificar alterações fonoaudiológicas na população assistida;
elaborar e efetivar ações, buscando soluções cabíveis para as alterações
encontradas; adotar medidas a fim de proporcionar um atendimento de qualidade
aos usuários do SUS.
Fernandes & Cintra (2010) dissertaram sobre os serviços fonoaudiológicos
realizados numa Unidade de Saúde (SUS) em Juiz de Fora - MG, constatando que a
inserção do fonoaudiólogo no serviço público está em constante crescimento, sendo
significativo para a melhoria na qualificação dos serviços públicos.
Com o intuito de se oferecer serviços fonoaudiológicos de qualidade e de
acordo com os preceitos da saúde pública propostos na constituição federal, as
práticas são reavaliadas constantemente. Paralelamente a esse processo, há
também uma expansão da atuação fonoaudiológica no setor coletivo, a partir do qual
o profissional busca novos caminhos, transformando o modelo de atendimento
clínico-privado, pautado somente no individuo e em sua patologia, em um
atendimento amplo que tenha como foco o sujeito inserido em um contexto históricocultural (CESAR & MAKSUD, 2007).
Sobre os serviços públicos de saúde e o papel do fonoaudiólogo nesse
processo, Almeida & Furtado (2006) discutem parte dos princípios estabelecidos
pelo Ministério da Saúde em relação ao Sistema Único de Saúde, em Campinas SP, que inclui o acolhimento e a responsabilidade no atendimento ao usuário do
serviço público de saúde. Argumentaram que o atendimento em saúde pública,
pautado nos princípios de universalidade, integralidade e equidade, exige uma
mudança
na
perspectiva
tradicional,
centrada
no
médico,
em
favor
do
reconhecimento do papel dos demais profissionais da saúde no atendimento
qualificado à população, por meio da institucionalização da equipe multiprofissional
de saúde. Segundo as autoras, como membro dessa equipe, o fonoaudiólogo tem
formação e conhecimento suficientes para prestar um serviço que atenda as
56
necessidades do usuário, tratando-o como ser humano integral buscando uma
relação de ajuda genuína.
As atividades em saúde pública sejam elas de promoção, proteção ou
recuperação, devem estar voltadas ao sujeito como um ser ativo e dinâmico neste
processo, sendo que
as propostas baseadas em promoção da saúde têm sido
vinculadas ao processo de saúde, redirecionando as ações públicas (LOPES, 2011).
Após apresentarmos as concepções, os níveis de atenção em saúde, a
constituição, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde brasileiro,
refletindo sobre a Fonoaudiologia no âmbito de tal sistema, apresentaremos no
próximo capítulo o desenho metodológico que delineou o presente estudo.
57
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Esta é uma pesquisa transversal, de abordagem qualitativa e quantitativa,
aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade Assis Gurgacz (COOPEX - FAG) em
26/06/2013, conforme o protocolo 158/2013 e aprovado na Plataforma Brasil CAAE
27408114.8.0000.0107, sob no 676.336, em 29/05/2014. O conhecimento do objetivo
do estudo e procedimentos necessários para a realização da mesma foi apresentado
aos pacientes por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice
I), o qual foi assinado pelos sujeitos usuários do SUS ou pelos seus responsáveis.
Este estudo será direcionado pelo método de análise de conteúdo que se
constitui em um conjunto de técnicas utilizadas na análise de dados qualitativos. O
método de análise de conteúdo foi sistematizado na primeira metade do século XX,
constituindo-se como uma importante ferramenta na busca dos sentidos dos textos
da imprensa escrita nos Estados Unidos. E, na atualidade, tal método é amplamente
utilizado em pesquisas científicas no campo da saúde (CAMPOS, 2004).
No universo das pesquisas qualitativas, a escolha de método e técnicas
para a análise de dados, deve obrigatoriamente proporcionar um olhar
multifacetado sobre a totalidade dos dados recolhidos no período de coleta
(corpus), tal fato se deve, invariavelmente, à pluralidade de significados
atribuídos ao produtor de tais dados, ou seja, seu caráter polissêmico numa
abordagem naturalística. (CAMPOS, 2004, p. 611)
O conteúdo de uma comunicação, não obstante a fala humana é tão rica e
apresenta uma visão polissêmica e tão valiosa, que notadamente permite ao
pesquisador qualitativo uma variedade de interpretações.
Para Bardin (2011), a análise de conteúdo é considerada:
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] destas
mensagens. (BARDIN, 2011, p. 41)
A autora acrescenta que todas as técnicas usadas na análise de conteúdo são
baseadas na dedução, ou seja na inferência a qual pode se dar com indicadores
quantitativos e qualitativos.
Segundo Campos (2004), a técnica de análise de conteúdo refere-se ao
estudo tanto dos conteúdos nas figuras de linguagem, reticências, entrelinhas,
58
quanto das “falas” propriamente dita. É importante citar que outras abordagens
conceituais e de utilização do método, principalmente de inclusão de novas
perspectivas nas pesquisas da área de saúde, tem sido verificadas também por
Minayo (2010) e Turato (2003), respectivamente na abordagem dialética e clínicoqualitativa.
Pode-se então dizer que o método de análise de conteúdo é balizado por dois
eixos:
Linguística tradicional
Interpretação do sentido das palavras (hermenêutica).
Se o caminho escolhido voltasse para o domínio da linguística tradicional, a
análise de conteúdo abarcaria os métodos lógicos estéticos, onde se busca os
aspectos formais típicos do autor ou texto. Nesse território, o estudo dos efeitos do
sentido, da retórica (estilo formal), da língua e da palavra, invariavelmente evolui, na
linguística moderna, para a “análise de discurso”. No outro lado, sob o eixo da
hermenêutica, os métodos são basicamente semânticos e pesquisam as conotações
que formam o campo semântico de uma imagem ou de um enunciado ( CAMPOS,
2004).
Portanto, nosso estudo desenvolverá a análise pelo eixo da hermenêutica e
tem como fundamental a produção de “inferências”.
O ato de inferir significa a realização de uma operação lógica, pela qual se
admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas
como verdadeiras (BARDIN, 2011).
Produzir inferências sobre o texto objetivo é a razão da existência da análise
de conteúdo; confere ao método relevância teórica, implicando uma comparação
onde a informação puramente descritiva sobre o conteúdo é de pouco valor. Um
dado sobre conteúdo de uma comunicação é sem valor até que seja vinculado a
outro e esse vínculo é representado por alguma forma de teoria. Segundo este ponto
de vista, produzir inferência, em análise de conteúdo significa produzir suposições
subliminares acerca de determinada mensagem e principalmente embasá-las com
pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo e com as situações
concretas de seus produtores, que é visualizada segundo um contexto histórico e
social de sua produção e recepção (FRANCO, 2003; CAMPOS, 2004).
59
As fases da análise de conteúdo são:
I)
Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes do
corpus das entrevistas.
Nesta fase inicialmente ocorre a seleção do corpus a ser analisado e após
procede-se a leitura flutuante de todo o material, com o intuito de organizar de forma
não estruturada aspectos importantes para as próximas fases da análise (BARDIN,
2011). Na leitura flutuante toma-se contato com os documentos a serem analisados,
conhece-se o contexto e deixa-se fluir impressões tentando apreender de uma forma
global as ideias principais e os seus significados gerais ( CAMPOS, 2004).
Segundo Bardin (2011), no caso de entrevistas, estas serão transcritas e a sua
reunião constituirá o CORPUS da pesquisa. Para tanto, é preciso obedecer às
regras de:
a) exaustividade – deve-se esgotar a totalidade da comunicação;
b) representatividade – a amostra deve representar o universo;
c) homogeneidade – os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por
técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes;
d) pertinência – os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da
pesquisa;
e) exclusividade – um elemento não deve ser classificado em mais de uma
categoria.
II)
A seleção das unidades de análise (ou unidades de significados).
A seleção das unidades de análise é uma das mais importantes decisões para
o
pesquisador.Frequentemente, as
unidades
de
análises
incluem palavras,
sentenças, frases, parágrafos ou um texto completo de entrevistas, diários ou livros.
A escolha dos recortes a serem utilizados será pela análise temática (temas), o que
nos leva ao uso de sentenças, frases ou parágrafos como unidades de análise. O
tema pode ser compreendido como uma escolha vislumbrada através dos objetivos
da pesquisa e indícios levantados do seu contato com o material estudado e teorias
embasadoras, classificando através de uma sequência de ordem psicológica, tendo
60
comprimento variável e podendo abranger ou aludir a vários outros temas
(CAMPOS, 2004).
Portanto, ainda segundo Campos (2004), as unidades de análise temáticas
são recortes do texto, através de um processo dinâmico e indutivo de atenção, que
pode ser apresentado em momentos com a mensagem explícita, em outros com as
significações não aparentes. Para tal, são utilizados os objetivos do trabalho e
teorias como primeiros norteadores, porém, não se pode na análise dissociar-se
nem abster-se do uso de recursos mentais e intuitivos que muitas vezes
transcendem as questões postuladas e são definitivamente necessários a uma
análise deste porte. Pode-se dizer que a opção por essa ou aquela unidade temática
é uma conjunção de interdependência entre os objetivos do estudo, as teorias
explicativas adotadas pelo pesquisador e as próprias teorias pessoais intuitivas do
pesquisador.
III)
O processo de categorização e subcategorização.
Esta fase pode ser definida como uma operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto por diferenciação e depois por reagrupamento segundo
o gênero (BARDIN, 2011).
É possível definir as categorias como grandes enunciados que abarcam um
número variável de temas, os quais podem exprimir significados e elaborações
capazes de atender aos objetivos de estudo, criando novos conhecimentos e
proporcionando uma visão diferenciada sobre os temas propostos (CAMPOS, 2004).
As categorias utilizadas podem ser apriorísticas ou não apriorísticas:
Na apriorística, o pesquisador já possui (por experiência prévia ou interesses)
categorias pré-definidas, geralmente de larga abrangência e que podem comportarse como sub-categorias que emergem do texto.
No caso da escolha pela categorização não apriorística, essas emergem
totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa, o que inicialmente
exige do pesquisador um intenso ir e vir ao material analisado e teorias
embasadoras, além de não perder de vista o atendimento aos objetivos da pesquisa.
A verdade é que não existem fórmulas mágicas que possam orientar o
pesquisador na categorização, e que nem é aconselhável o estabelecimento de
61
passos norteadores (FRANCO, 2003). Em geral, o pesquisador segue seu próprio
caminho baseado nos seus conhecimentos teóricos, norteado pela sua competência,
sensibilidade, intuição e experiência.
Um ponto importante no momento do agrupamento das unidades de análise
que constituirão categorias, é que o pesquisador poderá fazê-lo por frequenciamento
(repetição de conteúdos comuns à maioria dos respondentes) ou por relevância
implícita (tema importante que não se repete no relato de outros respondentes, mas
que guarda em si, riqueza e relevância para o estudo) (CAMPOS, 2004).
Para finalizar as explicações, convém reiterar que esta pesquisa fará uso
análise de conteúdo frequencial, no eixo da interpretação dos sentidos das palavras
(hermenêutica), com produção de inferências e com abrangência não apriorística.
Para a legibilidade deste estudo, a metodologia será descrita da seguinte
maneira: PRIMEIRA PARTE: situa-se o cenário da pesquisa, descrevendo o Centro
de Reabilitação onde a pesquisa foi realizada a pesquisa. SEGUNDA PARTE: são
definidos os participantes da pesquisa – usuários do SUS e /ou seus responsáveis e os critérios de inclusão e exclusão para incursão dos mesmos. TERCEIRA
PARTE: são descritos o instrumento de coleta (questionário) e os procedimentos
para a coleta e análise dos dados, em consonância com as discussões levantadas
nos capítulos anteriores.
3.1.
CENÁRIO DA PESQUISA
A pesquisa realizou-se no Centro de Reabilitação Assis Gurgacz, um Centro
vinculado à Faculdade Assis Gurgacz – FAG e situado na cidade de Cascavel – PR.
A cidade de Cascavel conta com aproximadamente 303 mil habitantes,
segundo o senso do IBGE (2012). Está localizada na região Oeste do Paraná, com
economia baseada no agronegócio e cultura agroindustrial.
O Centro de Reabilitação é de Alta Complexidade, prestando atendimento à
comunidade da região Oeste e Sudoeste do Paraná, usuária do SUS.
Foi
implantado a partir da portaria do Ministério da Saúde (Gabinete do Ministro n° 818)
de 05 de junho de 2001. Realiza cerca de 3.500 atendimentos por mês, contando
com os setores de Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Psicologia e Medicina. Dentre esse total, estão cerca de 2900 atendimentos
62
vinculados ao SUS e o restante dos 600 atendimentos são voltados a pacientes com
convênios de saúde específicos e, também, a pacientes particulares.
Os pacientes atendidos pelo SUS são encaminhados até o Centro de
Reabilitação com a Guia de Referência preenchida por um médico da região
Oeste/Sudoeste do Paraná. Os atendimentos são conveniados ao SUS, conforme
proposto pela Constituição Brasileira, a qual faz referência à participação privada no
sistema público de saúde, com caráter complementar na prestação de serviços
públicos de saúde.
O Centro de Reabilitação, no qual foi realizado o presente estudo, está
inserido na prestação de serviços por uma unidade privada dotada de infraestrutura
apta ao desenvolvimento das atividades propostas pelo SUS, seguindo seus
preceitos e diretrizes. Vale ressaltar que a estrutura e os profissionais/atendentes do
Centro são mantidos financeiramente pela iniciativa privada.
O esquema abaixo ilustra o cenário da pesquisa (Fig. 1). O Centro de
Reabilitação FAG realiza somente atendimentos pelo SUS. Existe, no mesmo
espaço físico e utilizando a mesma estrutura de secretárias/recepcionistas, as
Clínicas Integradas FAG, que é composta pela Clínica Escola (atendimentos
realizados por estagiários) com atendimentos filantrópicos.
RECEPÇÃO
FIGURA 1 – Cenário da pesquisa
63
A missão do Centro, que se constitui como o cenário desta pesquisa, é servir
à comunidade, gerando ações voltadas à proteção, reabilitação e inserção do sujeito
que se encontra em situações de risco e/ou doença, promovendo desta forma seu
desenvolvimento físico e/ou mental e a sua emancipação ativa no contexto social.
Tem como finalidade o amparo e desenvolvimento dos seres humanos principalmente dos que não tem recursos financeiros - contemplando os interesses
da comunidade.
3.2.
DEFINIÇÃO DOS PARTICIPANTES
O critério de inclusão dos participantes da pesquisa foram os sujeitos que
realizaram algum atendimento fonoaudiológico em agosto de 2013, no Centro de
Reabilitação – FAG, independentemente do setor fonoaudiológico em que tal
atendimento fora incrementado (setor de audiologia ou setores de terapias
fonoaudiológicas). No caso dos pacientes que eram menores de 16 anos, seus
responsáveis foram convidados a participar do estudo.
Durante o período da coleta de dados, a população atendida pelo setor de
fonoaudiologia foi composta por 190 pacientes vinculados ao SUS. Contudo, foram
excluídos
do
estudo
sujeitos
com
patologias
neurológicas
e/ou psíquicas
relacionadas à linguagem e pacientes que não quiseram ou não tinham condições
de responder as questões específicas desta pesquisa. Dessa forma, a pesquisa
contou com 111 participantes, sendo 17 pacientes e 94 responsávei s pelos
pacientes menores de 16 anos, de ambos os sexos.
Os encaminhamentos dos pacientes seguiram o fluxograma abaixo:
64
APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
CEACRI - Centro de Apoio a Criança
CEONC- Centro de Oncologia Cascavel
CRE - Centro Regional de Especialidades
CISOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná
UOPECAN - União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer
_________________________________________________________________________________
FIGURA 2- Fluxograma dos encaminhamentos para o Centro de Reabilitação.
3.3.
MATERIAL
Os participantes responderam a um questionário (Anexo1) contendo vinte e
seis (26) questões abertas e quatorze (14) questões fechadas, contemplando os
serviços em uma escala de qualificação que variou de 1 a 5. A qualificação um (01)
correspondia a ruim, dois (02) era razoável, três (03) era bom, quatro (04) era ótimo
e cinco (05) correspondia a excelente.
3.4.
PROCEDIMENTOS PARA A COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Os sujeitos participantes da pesquisa foram encaminhados para uma sala do
setor de atendimento clínico, com a finalidade de preencher o questionário relativo à
sua percepção da atuação fonoaudiológica no Centro de Reabilitação, que está
sendo avaliado.
65
A aplicação do instrumento foi realizada pela pesquisadora, juntamente com
quatro alunos voluntários do curso de Graduação em Fonoaudiologia/FAG. Os
questionários foram respondidos oralmente, sendo anotados por escrito pela
pesquisadora e/ou acadêmicos e, também, por gravação de áudio, no caso de oito
pacientes afásicos.
Para a análise quantitativa dos dados foram utilizados os recursos de
computação por meio do processamento no sistema Windows Excel® e Statistic
Package for Social Sciences® versão 15.0, ambos em ambiente Windows XP.
Também foram analisados a partir do programa GraphPad Prism 5.1 e na sequência
foram confeccionados gráficos no mesmo programa. As tabelas foram testadas para
verificar a sua normalidade, utilizando-se o teste estatístico D‟agostino e Person e
aplicou-se os testes não paramétricos comparativos F e Qui-quadrado.
Para a organização dos resultados utilizou-se de uma estatística descritiva
com valores de frequência absoluta, relativa, gráficos e tabelas. As variáveis foram
analisadas por meio da observação dos valores mínimos e máximos, do cálculo de
médias, desvio-padrão e medianas.
Para as variáveis qualitativas, foram consideradas as frequências absolutas e
relativas e desenvolvida uma discussão a partir da Análise de Conteúdo, conforme já
especificado no início do capítulo.
As categorias temáticas relacionadas foram:
1) Avaliação Geral do Centro de Reabilitação;
2) Avaliação Específica dos Serviços Fonoaudiológicos.
CATEGORIAS
1)
AVALIAÇÃO
GERAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO
SUBCATEGORIAS
Estrutura física;
DO Equipe de secretárias/ recepcionistas
Busca/Procura
pelo
atendimento
fonoaudiológico;
Fila de espera para os atendimentos
fonoaudiológicos;
Expectativas
do
usuário
sobre o
atendimento fonoaudiológico;
2) AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DOS Qualificação do trabalho fonoaudiológico;
SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS Conduta/explicações
fornecidas
pelo
profissional fonoaudiólogo aos usuários.
66
As descrições dos sujeitos da pesquisa – pacientes ou seus responsáveis - na
análise qualitativa foram identificadas com a letra P (referindo paciente) e números
de 01 a 111. Cabe ressaltar que a pesquisa qualitativa lida com a subjetividade, o
que não significa que ela seja destituída de mensuração ou que não possa ser
utilizada para explicar fenômenos sociais. Sua mensuração está relacionada com a
busca dos significados que os sujeitos atribuem às suas experiências e à maneira
como compreendem o mundo.
67
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo apresentaremos os resultados encontrados, assim como a
análise quantitativa e qualitativa. Dividiremos em dois subtítulos: Perfil da Amostra e
Categorias de Análise, organizadas a partir de uma perspectiva da Análise do
Conteúdo.
4.1.
PERFIL DA AMOSTRA
Este estudo contou com 111 participantes, sendo que 60,4% (n=67) foram
responsáveis por bebês de até 01 ano; 24,3% (n=27) foram os responsáveis dos
usuários com idades de 01 a 16 anos e o percentual de 15,3% (n=17) foram
pacientes com idade entre 17 e 86 anos.
Quanto ao sexo dos sujeitos, 46,8% (n=52) dos entrevistados são do sexo
feminino e 53,2% (n=59) masculino. Com relação à profissão, 47,7% (n=53) se
declararam como sendo do lar e o segundo maior percentual, 11,7% (n=13)
trabalham no ramo do comércio (comerciante).
A maioria, 36,94% dos entrevistados possui 2º grau completo; e 42,34%
residem com esposo (a) e um filho. O salário médio da população estudada é de
dois a quatro salários mínimos para 52,25% dos entrevistados.
Com relação aos encaminhamentos para o Centro, os maiores índices
encontrados foram dos médicos, com 45,95%; e dos hospitais, com 40,54%. Quanto
às queixas mais relatadas, os resultados foram 60,36% (n=67) relativo à queixas
auditivas e 35,14% (n=39) relativas à linguagem oral. A linguagem escrita obteve
1,8% (n=2) das queixas, e a motricidade oral contou com 2,70% (n=3) das queixas.
4.2.
CATEGORIAS DE ANÁLISE
Para elucidar a análise dos dados, apresentamos os resultados numéricos na
base quantitativa, assim como realizamos a análise qualitativa por dedução
frequencial, conforme proposto pela Análise de Conteúdo, a fim de enumerar a
ocorrência de um mesmo signo linguístico nos enunciados produzidos pelos sujeitos
68
da pesquisa, separando estes enunciados em categorias para melhor visualização e
análise.
As categorias relacionadas de forma não apriorística foram:
I) Avaliação Geral do Centro de Reabilitação
Estrutura física
Equipe de Secretárias/ recepcionistas
II) Avaliação Específica dos Serviços Fonoaudiológicos
Busca/procura pelo atendimento fonoaudiológico;
Fila de espera para os atendimentos fonoaudiológicos;
Expectativas do usuário sobre o atendimento fonoaudiológico;
Qualificação do trabalho fonoaudiológico;
Conduta/explicações fornecidas pelo profissional fonoaudiólogo aos
usuários.
Para a análise de qualificação especificamente voltada aos serviços
fonoaudiológicos, os dados coletados foram separados em função da busca pelos
serviços oferecidos no Centro de Reabilitação – FAG. Dessa forma, a análise foi
dividida a partir dos serviços fonoaudiológicos voltados ao teste da orelhinha (n=67)
e demais serviços focados em terapias fonoaudiológicas (n=44).
4.2.1. Avaliação geral do Centro de Reabilitação
Na Tabela 1 são apresentados os valores de frequência relativa e absoluta da
Avaliação Geral da Estrutura Física e da Equipe de secretárias/recepcionistas do
Centro.
TABELA 1: VALORES DE FREQUÊNCIA RELATIVA E ABSOLUTA REFERENTES À AVALIAÇÃO DO
CENTRO.
AVALIAÇÃO GERAL DO CENTRO
COMO VOCÊ AVALIA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS?
Ruim
Razoável
Bom
Ótimo
USUÁRIOS DO SUS
% (n)
0.0%
0.0%
27.9% (31)
25.2% (28)
69
Excelente
TOTAL
COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO DAS
SECRETÁRIAS / RECEPCIONISTAS?
Ruim
Razoável
Bom
Ótimo
Excelente
TOTAL
46.8% (52)
100% (111)
1.8% (02)
0.0%
24.3% (27)
23.4% (26)
50.5% (56)
100% (111)
Testagem com Qui-Quadrado não são significantes para p < 0,05.
FONTE: A AUTORA
Quanto às instalações físicas, os usuários do SUS qualificaram com alto
índice de aprovação, classificando como bom, ótimo e excelente. Já com relação à
equipe de secretárias, houve classificação ruim (1,8%), porém prevaleceu o índice
de aprovação no atendimento da equipe de secretárias do respectivo Centro, sendo
classificado como bom por 24,3%, ótimo e excelente totalizaram 73,9%. Quando
questionamos o porquê da classificação ruim quanto ao atendimento realizado pelas
recepcionistas/secretárias do Centro, detectada por 02 entrevistados (1,8%), eles
mencionaram o “mau-humor” das mesmas em determinada situação. “Mau-humor” é
uma avaliação subjetiva. Nem sempre estamos dispostos e sorridentes durante todo
o dia de trabalho. Porém, o relato de “mau-humor”, vinculado pelos 02 entrevistados,
diz respeito a respostas intempestivas e superficiais das secretárias sobre a
marcação de novas consultas. Este tipo de atitude demonstra falta de paciência e
condiz com desrespeito diante do usuário do SUS, gerando insatisfação dos
mesmos.
Cabe ressaltar que nosso estudo foi realizado em um Centro de Reabilitação
público mantido por iniciativa privada, ou seja, a FAG é uma instituição privada que
tem convênio com o SUS (Portaria no. 1034 – Ministério da Saúde), fato que pode
ser diferencial nas avaliações dos usuários, gerando um alto índice na qualificação.
O caráter da participação privada é complementar na prestação dos serviços
públicos, implicando no conteúdo constitucional da complementaridade. Na lógica
do sistema de saúde, os serviços contratados e conveniados são seguidores dos
mesmos princípios e das mesmas diretrizes do setor público. Não estamos nos
referindo a um novo serviço ou órgão público, mas de um conjunto de instituições do
70
setor privado contratado/ conveniado, que interagem com os princípios e diretrizes
norteadoras do SUS.
Para 40,22% dos usuários do Centro, o “Atendimento” é o ponto mais
positivo, seguido de “Gratuidade com 18,18%. Assim, o investimento na estrutura
física do Centro de Reabilitação não condiz com a maioria das estruturas físicas
existentes no setor público de saúde, nem apresenta sujeira ou falta de materiais
para os atendimentos. As salas amplas, arejadas, iluminadas e bem higienizadas
geram uma avaliação positiva em torno da infraestrutura do Centro em questão.
Essa avaliação pode ser encontrada nos depoimentos dos usuários que relatam a
percepção de um setor público que “funciona”.
Aqui não parece que estamos sendo atendido pelo SUS, é tudo limpo
e não falta material(...) estou satisfeita (...) (depoimento de uma mãe
(P43) sobre o atendimento de sua filha portadora de encefalopatia
crônica e presente duas vezes por semana no Centro).
A imagem positiva pontuada na higienização e na estrutura física do Centro
demonstram a visão dos usuários do SUS, onde o atendimento da recepção, a
limpeza adequada, os equipamentos modernos, a estrutura física e a gratuidade
dos serviços foram as respostas descritas pelos usuários como sendo os pontos
positivos do Centro.
A maioria dos depoimentos foi positivo com relação à equipe de secretárias
do Centro, conforme abaixo:
[...] Semana passada não pude vir pro Centro (...) fiquei triste porque
parece que faltava alguma coisa, sabe? Aqui é um lugar que me sinto
bem, sou bem recebido.” (depoimento de um paciente (P2) em
tratamento fonoaudiológico/ setor linguagem oral).
Sentir-se bem e ser bem recebido são indícios de satisfação com o
atendimento das secretárias, ser cordial com os usuários, mostrar-se disposta a
ajudá-los, nos remete ao princípio do acolhimento do SUS, muito embora as
secretárias não sejam profissionais de saúde, elas realizam um atendimento inicial
primordial,
pois
os
usuários
ficam
na
recepção
em
companhia
destas
71
secretárias/recepcionistas por um determinado tempo até serem atendidos pelos
setores específicos.
Um ponto positivo é o atendimento aqui da frente [...] sempre estão
sorrindo pra gente. Depoimento (P104) paciente do setor de
terapia/linguagem oral.
O bom humor, o sorriso, a alegria são fatores cruciais em um ambiente de
trabalho, ainda mais quando se trata de um Centro de Saúde onde os pacientes,
muitas vezes, são carentes de atenção e cuidado, apresentando debilidades físicas
e psíquicas.
[...] eu nem acreditei quando cheguei aqui e vi tudo [...] organizado,
não parece atendimento gratuito [...] até perguntei pra moça se eu ia
precisar pagar alguma coisa pra meu filho ser atendido, mas ela disse
que era tudo pelo SUS. (Mãe (P57) entrevistada que foi levar seu filho
para o teste da orelhinha)
O argumento “não parece atendimento gratuito” coloca em cena uma
condição de que, pelo SUS – cujo atendimento é gratuito – poucas vezes se tem
uma estrutura física e um atendimento de secretárias qualificado. Assim, quando
usuários percebem um local bem apresentável e com atendimento gratuito,
viabilizado pelo SUS, relatam que se surpreendem positivamente.
Isto se explica, à medida que, por exemplo, a recepção do Centro conta com
uma equipe de cinco recepcionistas/secretárias que fazem todo o atendimento
inicial, preenchimento dos dados no sistema, lançamento dos horários online e
direcionamento para os setores. As cadeiras são confortáveis, com televisão
disponível e banheiros limpos. Este padrão de infraestrutura não pode ser
comparado com uma UBS ou um Centro restrito ao SUS, pois a realidade
encontrada no Centro que compõe o cenário da presente pesquisa nem sempre
condiz com a encontrada em locais administrados pela gestão pública. A
participação privada na prestação de serviços públicos de saúde está previsto no
artigo 197 e 199 da Constituição Federal, conforme já explicitado em capítulo
anterior, sendo que a assistência prestada por meio da iniciativa privada deve
complementar as atividades de competência do SUS.
72
4.2.2. Avaliação específica dos serviços fonoaudiológicos
Neste item será abordada a busca/procura pelo atendimento fonoaudiológico;
a fila de espera; as expectativas do atendimento; a qualificação do trabalho
fonoaudiológico na visão dos usuários e a conduta e/ou explicações fornecidas pelo
profissional fonoaudiólogo.
4.2.2.1.
Busca/ procura pelo atendimento fonoaudiológico
Na Figura 3, observam-se os valores de frequência relativa de acordo com as
questões que levaram os entrevistados a buscar o atendimento fonoaudiológico no
Centro de Reabilitação. Observa-se que a maioria das queixas foram relativas à
audição e à oralidade, sendo 60,36% (n=67) relativa à audição e 35,14% (n=39)
relativas à linguagem oral. A linguagem escrita obteve 1,8% (n=2) das queixas, e a
motricidade oral 2,70% (n=3) das queixas.
FIGURA 3: REPRESENTAÇÃO DO PERCENTUAL DAS
FONOAUDIOLÓGICO.
QUEIXAS/ MOTIVO DA
BUSCA DE ATENDIMENTO
LINGUAGEM ESCRITA
LINGUAGEM ORAL
MOTRICIDADE
AUDIÇÃO
100
Valores em porcentagem %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Valore s de fre quência re lativ a da v ariáv e l que ixa dos pacie nte s
FONTE: A AUTORA
Um fator que pode ter evidenciado estes achados, foi que desde 2010,
mediante Lei Federal nº 12.303/2010, o Teste da Orelhinha passou a ser obrigatório
no recém-nato em todo território nacional, fator que desencadeou uma maior procura
para o atendimento no setor de audiologia do Centro. Os pacientes que falham no
73
teste da orelhinha nos hospitais públicos da região também realizam o reteste no
Centro de Reabilitação-FAG/SUS.
Outro fator significativo é que, na atualidade, não existem outros Centros de
Atendimento na cidade de Cascavel que realizem estas testagens pelo SUS, fato
que evidencia a procura pelo setor de audiologia do Centro estudado.
O Teste da Orelhinha ou Triagem Auditiva Neonatal (TAN) é um exame
importante para detectar se o recém-nascido tem problemas de audição. Uma vez
confirmado o diagnóstico de perda auditiva o bebê é encaminhado para um
programa de intervenção precoce que poderá compreender a orientação familiar, o
uso de aparelhos de amplificação (AASI ou implante coclear) e a terapia
fonoaudiológica.
Com relação aos encaminhamentos dos usuários, os médicos e os hospitais
da região foram os que mais realizaram encaminhamentos para o setor de
Fonoaudiologia do Centro, somando 86,49% do total (Médicos: 45,95% e Hospitais:
40,54%). Também houve encaminhamentos da APAE com 2,7%, CEACRI (Centro
de Apoio a Criança) com 2,7% e Posto de Saúde com 1,8%.
Realizando um comparativo com a literatura, um estudo de Diniz & Bordin
(2011) caracterizou a demanda encaminhada para um Serviço de Fonoaudiologia de
um Centro de Atendimento público, indicando que de 243 atendimentos, houve um
predomínio de encaminhamentos realizados por médicos (35,8%) e as queixas
predominantes foram relativas à fala, com 67,8% do total. Assim, também ocorreu
com relação às queixas em uma pesquisa de Costa e Souza (2009), objetivando
verificar o perfil dos usuários e da demanda do serviço de fonoaudiologia da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), entrevistando 210 sujeitos usuários. Os
resultados também indicaram que a maioria dos usuários foram encaminhados por
médicos (49%) e a área predominante de queixas foi relativa à linguagem oral com
52,4%. A população encaminhada ao Serviço de Fonoaudiologia do Núcleo de
Atenção Psicopedagógico Infanto-juvenil, em um estudo de César & Maksud (2007)
também caracterizou que dos 161 encaminhamentos, 41% foram realizados por
Médicos, e as queixas mais frequentes foram alterações de fala, com 46%.
Estes resultados encontrados na literatura foram coincidentes com nosso
estudo no que diz respeito aos encaminhamentos, porém diferem parcialmente do
nosso estudo com relação às queixas. Em nosso estudo, o principal e mais
74
frequente motivo pela busca de serviços fonoaudiológicos está vinculado a questões
auditivas (Teste da Orelhinha), seguidas por queixas relacionadas à linguagem oral.
Para a avaliação específica dos serviços fonoaudiológicos, os dados foram
separados em responsáveis por pacientes que realizaram teste da orelhinha (n=67)
e demais pacientes e/ou seus responsáveis (n=44) que realizam terapias
fonoaudiológicas no Centro de Reabilitação – FAG; isto porque existe uma diferença
percentual quanto à qualificação dos serviços entre os pacientes que só realizaram
exames auditivos dos demais pacientes que estão semanalmente em terapia na
instituição. Estes últimos estão em contato frequente com o Centro, enquanto os
usuários que realizaram exames auditivos fazem o procedimento audiológico e
depois não têm mais contato com os serviços fonoaudiológicos na instituição em
questão.
Na Figura 4 são apresentados os valores de frequência absoluta referentes à
qualificação geral dos serviços fonoaudiológicos prestados. Realizamos uma escala
para a nomenclatura de avaliação composta de 01 a 05, sendo: 01 correspondente a
Ruim, 02 correspondente a Razoável, 03 correspondente a Bom, 04 correspondente
a Ótimo e 05 correspondente a Excelente.
FIGURA 4: PERCENTUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS PELO
CENTRO DE REABILITAÇÃO FAG-SUS.
EXCELENTE
ÓTIMO
BOM
RAZOÁVEL
50
Número de pacientes
(41)
40
30
20
(16)
(12)
(14)
(15)
(12)
10
(03)
(01)
0
Usuários do teste da orelhinha
Demais pacientes
Fre quência re lativ a da v ariáv e l qualificação dos se rv iços fonoaudiológicos dos pacie nte s
ate ndidos pe lo Ce ntro
FONTE: A AUTORA
Dos entrevistados que realizaram o teste da orelhinha, 61,19% (n= 41)
classificam o serviço como excelente; 20,89 % (n=14) como bom; e 17,91 % (n=12)
75
como ótimo. Dos pacientes que realizam terapias no Centro, 36,36 % (n= 16) o
classificam como excelente; 27,27 % (n=12) como ótimo; 34,09% (n=15) como bom;
e 2,27% (n=1) como razoável. Não obtivemos qualificação ruim em nenhum dos dois
grupos entrevistados.
A justificativa no que se refere à qualificação foi pautada principalmente na
eficiência do tratamento com 83,8% e no pouco tempo de espera (lista de espera)
com 6,6%. O item avaliado como razoável é relativo ao usuário que mencionou
“grosseria e mau humor” do profissional fonoaudiólogo durante os atendimentos. No
entanto, os entrevistados que realizaram atendimento fonoaudiológico (exames ou
tratamentos), foram unânimes (100%) quanto à indicação do Centro de Reabilitação
para outros pacientes.
A qualificação de serviços públicos em saúde firma-se na subjetividade,
gerando dificuldade de estabelecer o que é “qualidade”, uma vez que os pacientes
reagem diferentemente ao mesmo serviço. Cada paciente possui uma determinada
percepção sobre a qualidade que pode implicar até mesmo no “estado de espírito”
do paciente no momento da entrevista.
Podemos também relatar que a qualificação dos serviços é avaliada pelos
usuários através do interesse demonstrado pelo profissional na resolutividade das
demandas. O bom atendimento baseado na escuta do usuário e o bom desempenho
profissional propiciam o vínculo do binômio usuário-serviço de saúde. Esse vínculo
otimiza o processo de assistência, proporcionando um serviço de qualidade.
Dois
relatos
trouxeram
à
tona
que
a
qualificação
dos
serviços
fonoaudiológicos é muito mais do que um atendimento adequado, conforme abaixo:
[...] eu tive derrame e... ainda tenho dificuldade pra falar bem...
quando eu cheguei aqui, eu... nem conseguia é... falar nada. Hoje já
to falando, olha aí... olha isso aqui, to até dando... é... como é o nome
mesmo?... é entrevista, isso, né? [...]. (Relato (P01) sobre os
atendimentos fonoaudiológicos.)
Quando minha filha chegou aqui ela tinha 1 ano e 3 meses, não
sentava, não falava e tinha dificuldades de engolir a comida. Agora
ela está com 2 anos e 6 meses, já senta sozinha e está começando a
andar. A fono ajudou na alimentação e agora faz 3 meses que o
médico tirou a sonda e ela já está comendo pela boca... você acha
que isto não é qualidade? Não posso reclamar de nada daqui. (Mãe
(P44) entrevistada sobre a qualidade dos serviços fonoaudiológicos
realizados com sua filha).
76
No depoimento de P01, percebe-se que a condição de melhora da demanda
foi norteadora para sua avaliação dos serviços fonoaudiológicos. Quando o paciente
afásico relata que chegou para o tratamento fonoaudiológico sem conseguir falar e
após um período de atendimento já está conseguindo se comunicar oralmente, ele
anuncia um movimento de satisfação com o serviço fonoaudiológico e uma
avaliação qualificada quanto o atendimento, proporcionando melhora na qualidade
de vida. Se o paciente não tivesse obtido resultado positivo em seu tratamento
fonoaudiológico, o depoimento poderia ser de insatisfação com o atendimento
realizado. O benefício pode ser considerado uma condição básica para a satisfação
de um atendimento, sendo que os efeitos proporcionados pelo tratamento indicam
que cada sujeito pode apresentar uma configuração de resultados particular às suas
condições físicas, emocionais, sociais e culturais.
No depoimento de P44, percebemos que a resolutividade da demanda
também foi norteadora na qualificação dos serviços, ou seja, quando a mãe relata
que sua filha já consegue usufruir com qualidade das atividades da vida diária –
como se alimentar por via oral – ela registra a avaliação positiva dos serviços
fonoaudiológicos.
Estes depoimentos foram significativos para ilustrar que a qualificação do
atendimento fonoaudiológico condiz com a melhora da qualidade de vida do usuário
do SUS.
Existem várias definições e formas de compreensão acerca da qualidade de
vida. A maioria da população entende por qualidade de vida uma associação da
satisfação de necessidades no campo familiar, saúde, social/ ambiental. Qualidade
de vida é um conceito polissêmico, ou seja, que encerra vários significados e
interpretações, dependendo de quem o elabora e qual dimensão esteja sendo
valorizada para explicá-lo. Várias abordagens encerram um consenso que pode ser
aplicado às várias definições: se queremos saúde e qualidade de vida adequada,
devemos considerar um patamar mínimo, que diz respeito à satisfação de
necessidades elementares como alimentação; acesso à saúde, ao lazer; habitação;
trabalho e educação (BRASIL, 2000).
E ao tratarmos de qualidade de vida e de qualidade de atendimentos
fonoaudiológicos, podemos também relacionar a qualificação dos serviços com outro
77
fator que pode estar auxiliando esta percepção:
a fila de espera para os
atendimentos, conforme eixo discutido na sequência.
4.2.2.2.
Fila de espera para os atendimentos fonoaudiológicos
De acordo com a Figura 5, nota-se que dos pacientes que realizaram teste da
orelhinha, 74,62% (n= 50) não ficaram em fila de espera, 22,38% (n=15) ficaram em
fila por até 3 meses e 2,98% (n=2) ficaram por até 6 meses em espera. Este
percentual de fila de espera de 3 a 6 meses é relativo à quebra do equipamento
(EOA) no período que estava agendado a testagem auditiva. Portanto, estes
pacientes foram remanejados para outra data, pois tiveram que esperar o aparelho
ser consertado.
Dos pacientes que realizam terapia fonoaudiológica, 40,9% (n=18) não
ficaram em fila de espera, 31,81% (n= 14) ficaram em fila por até 3 meses e 13,63%
(n=6) ficaram por até 6 meses em espera; 2,27% (n=1) ficaram na fila por até 9
meses; 4,54% (n=2) fila por mais de 9 meses e 6,81% (n=3) não lembram o tempo
de espera.
FIGURA 5: PERCENTUAL CLASSIFICATÓRIO PARA O TEMPO DE ESPERA NO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA.
SEM FILA
FILA POR ATÉ 6 MESES
FILA POR MAIS DE 9 MESES
FILA POR ATÉ 3 MESES
FILA POR ATÉ 9 MESES
NÃO LEMBRA
60
(50)
Número de pacientes
50
40
30
20
(18)
(15)
(14)
10
(06)
(02)
(01) (02) (03)
0
Usuários do teste da orelhinha
Demais pacientes
Frequência relativa da variável tempo de espera para atendimento dos serviços
fonoaudiológicos oferecidos pelo Centro
FONTE: A AUTORA
78
O índice baixo da fila de espera pode ser um dos fatores que contribuiu para
que a qualificação dos serviços fonoaudiológicos fosse satisfatória, pois na literatura
encontram-se alto índice de filas de espera para realização de exames e/ou
consultas relacionados a serviços de saúde fonoaudiológicos.
Nosso estudo mostrou um percentual alto de satisfação do usuário do SUS e
concomitantemente um índice baixo de fila de espera para realizar os atendimentos
fonoaudiológicos. Vejamos a transcrição abaixo:
[...] eu consegui agendar em 2 semanas os exames pro meu
prematuro...não fiquei em fila de espera, nem acreditei quando
que eu já podia ir levar meu bebê, achei que era um trote.
entrevistada sobre seu filho que realizou o teste da orelhinha pelo
filho, que é
me ligaram
(Mãe (P34)
SUS).
O fato de a entrevistada P34 relatar que achava que era um “trote” nos faz
refletir sobre como a visão dos usuários do SUS está estremecida em relação aos
serviços públicos, gerando dúvidas quando este serviço apresenta uma rápida
devolutiva.
Talvez isto se deva a quantidade de profissionais disponíveis para a
realização
dos
serviços
fonoaudiológicos
no
Centro
avaliado
-
quatro
fonoaudiólogas, sendo uma contratada por 40 horas/ integral e as outras por 20
horas semanais - fator que evidencia a diminuição da fila de espera e o aumento de
vagas dos serviços à comunidade, assim como, a melhora no atendimento.
Não podemos esquecer que estamos analisando um Centro de atendimento
público mantido por iniciativa privada - mediante complementaridade -
fator
diferencial com relação à fila de espera. O serviço de Fonoaudiologia do Centro de
Reabilitação possibilitou a oferta de serviços para uma parcela da população que
encontraria
dificuldades
financeiras
para
ter
acesso
a
ações
de
saúde
fonoaudiológica, contribuindo também para uma satisfação dos sujeitos usuários.
Verificamos que 4,48% das respostas referenciaram a fila de espera. Foram
considerados como unidades de registro os termos recorrentes que foram: “não
fiquei em fila de espera”, “pouca fila de espera”, “não teve fila pra marcar”,
mensagens que contribuíram para chegar a este tema. A fila como condição para
obter atendimento de saúde apresenta-se como uma imagem destacada na
79
percepção do senso comum, quando se aborda a universalidade do acesso no
âmbito do SUS.
Coloca-se, portanto, como barreira a ser vencida (fila) para que o atendimento
se concretize, na qual a espera (dimensão temporal), a demanda a ser resolvida
(dimensão existencial) e a solução ou não do problema (dimensão resolutiva) se
misturam na representação do próprio sistema público (PONTES et al 2009).
Os entrevistados relatam a fila de espera como um ponto positivo do Centro
estudado, pois a grande maioria não precisou ficar em fila para agendar seus
atendimentos. Quando
analisamos a literatura, percebemos que existe um
diferencial referente aos serviços públicos e aos serviços vinculados ao SUS
mediante convênio/complementaridade. A fila em uma UBS para realização de
consultas/exames pode chegar a anos de espera, enquanto que em um serviço
complementar/conveniado a situação é mais amena, chegando em média a 6 meses
de fila de espera.
Foi o que aconteceu em uma pesquisa, com objetivo de verificar o perfil dos
usuários e da demanda do serviço de fonoaudiologia, verificou-se que 49,3% dos
pacientes aguardaram por atendimento (fila) aproximadamente por seis meses
(COSTA & SOUZA, 2009). Já, no município de Bauru - SP, um estudo que teve por
objetivo analisar as percepções quanto à satisfação e expectativas dos usuários dos
serviços fonoaudiológicos de um Centro de atendimento, constatou que os usuários
estavam satisfeitos com o atendimento recebido, no entanto apresentaram queixas
relativas à lentidão no atendimento (fila de espera) (ARAKAWA et al, 2011).
Florencio et al (2013), visando avaliar a percepção dos usuários quanto à qualidade
do atendimento de Saúde no Recife, entrevistaram 939 sujeitos. Os resultados
evidenciaram que os usuários apresentam satisfação com o trabalho dos
profissionais e grande insatisfação no tempo de espera (fila).
Outro fator, que também foi referenciado nos depoimentos, é a gratuidade
dos atendimentos. O relato abaixo é referente ao usuário que está há cinco meses
em atendimento fonoaudiológico no Centro de Reabilitação:
[...] acho aqui bom. [...] aqui atende bem, mas podia ser ainda melhor.
Como é SUS e eu não pago nada, acho que está bom [...]. (usuário
(P33) do setor de atendimento de linguagem oral/escrita).
80
O comentário “mas como é SUS e eu não pago nada, acho que está bom...”
revela uma avaliação pautada na “gratuidade”, a partir da qual o usuário vincula uma
avaliação positiva ao fato de não precisar pagar pelo serviço recebido, sendo que se
fosse um atendimento particular/privado, este deveria ser melhor. Esta visão
conformista pode estar refletindo a falta de empoderamento deste sujeito.
O relato do P33 demonstra certa subordinação e apatia da sociedade civil
frente ao Sistema Público. Se, por exemplo, o sujeito acima fosse protagonista, com
verdadeira participação na esfera pública, talvez questionasse sobre o que não está
bom, argumentaria e requereria um atendimento melhor.
A falta de custeio dos serviços públicos contribui para a falta de valorização
dos serviços por parte dos usuários, diminuindo o controle social sobre os serviços
públicos de saúde, sendo que nem sempre o sujeito valoriza o que recebe sem
ônus. Assim, sem necessidade de pagamento, os usuários parecem tornar-se
menos exigentes com a qualidade dos serviços.
A gratuidade foi considerada pelos usuários do Centro como um fator positivo
dos atendimentos fonoaudiológicos. Em função da análise de conteúdo, pautada na
frequência de ocorrência das categorias, foram consideradas como unidades de
registro as palavras que contribuíram para a criação da análise, sendo os termos:
“Gratuidade, Grátis e Não precisa pagar” com 18,18% de ocorrência nos discursos
analisados.
A gratuidade no SUS é garantida pela Constituição Federal e corresponde à
ausência de custos para o usuário no momento da utilização do serviço, o que não
implica que a população seja isenta de contribuir para o financiamento do Sistema
através de impostos e taxas. No Brasil, associamos a gratuidade a um sistema
financiado integralmente pelo governo, provendo todos os serviços de saúde, que é
organizado através do Sistema Único de Saúde. É um modelo está sob
responsabilidade
do
Estado,
mesmo
quando
mantém
relação,
de
forma
complementar, com setor privado.
81
4.2.2.3.
Expectativas
do
atendimento
e
qualificação
do
trabalho
fonoaudiológico
A avaliação específica dos serviços fonoaudiológicos foi pontuada nas
expectativas do atendimento, na qualificação do trabalho fonoaudiológico e na
conduta/explicações fornecidas pelo profissional fonoaudiólogo, segundo tabela
abaixo:
TABELA 2: VALORES DE FREQUÊNCIA RELATIVA DA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIÇOS
FONOAUDIOLÓGICOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO.
Usuários do
Teste da
Orelhinha
Demais
pacientes
SUA EXPECTATIVA SOBRE O TRABALHO FOI ATENDIDA?
Totalmente
Parcialmente
Não foi atendida
94.03%
4.48%
1.49%
95.5%
4.5%
0.0%
COMO VOCÊ QUALIFICA O TRABALHO FONOAUDIOLÓGICO
REALIZADO PELO CENTRO?
Ruim
Razoável
Bom
Ótimo
Excelente
0.00%
0.00%
20.90%
17.91%
61.19%
0.00%
2.27%
34.09%
27.27%
36.36%
COMO VOCÊ AVALIA A CONDUTA / EXPLICAÇOES DO
FONOAUDIÓLOGO?
Ruim
Razoável
Bom
Ótimo
Excelente
0.00%
0.00%
13.43%
14.93%
71.64%
0.00%
0.00%
22.73%
40.91%
36.36%
AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIÇOS
FONOAUDIOLÓGICOS
Teste F e Qui-Quadrado não são significantes para p < 0,05, comparando os sujeitos do teste de orelhinha e
demais pacientes .
FONTE: A AUTORA
Os dados foram testados para verificar a sua normalidade, utilizando-se o
teste estatístico D‟agostino e Person, observando-se homogeneidade na amostra.
Aplicou-se, então, os testes não paramétricos comparativos F e Qui-Quadrado. Os
dados não são significativos para p < 0,05, quando comparados os sujeitos com
teste de orelhinha e demais pacientes nas situações de: expectativas do
82
atendimento, qualificação do trabalho fonoaudiológico, conduta e/ou explicações
fornecidas pelo profissional.
Percebe-se que a qualificação do trabalho foi considerada “Excelente” por
61,19% dos usuários do Teste da Orelhinha, enquanto apenas 36,36% dos demais
pacientes (terapia linguagem oral/escrita e motricidade) analisaram assim este
quesito. Também nota-se que o quesito conduta do
fonoaudiólogo
obteve
diferença no percentual, pois para 71,64% dos usuários do Teste da Orelhinha, a
conduta foi considerada “Excelente”, enquanto que 36,36% dos demais pacientes
(de terapia linguagem oral/escrita e motricidade) a qualificam desta maneira.
Os relatos de expectativa parcialmente e não atendidas no Teste da
Orelhinha foram justificada pelos usuário pelo fato de não terem conseguido realizar
os exames auditivos por completo. Ou seja, os responsáveis tiveram que remarcar a
testagem – porque o bebê não dormiu, ou estava com cólica/chorando, gerando as
respostas como expectativa parcialmente e não satisfeita quanto ao serviço
fonoaudiológico prestado no Teste da Orelhinha.
O relato de expectativa parcialmente satisfeita por 02 usuários que realizam
terapias fonoaudiológicas foi justificado pelo fato de “estar em tratamento por muito
tempo” e “não gostar de fazer exercícios de fono”.
Os usuários do SUS que realizaram o Teste da Orelhinha avaliam o Centro de
Reabilitação de uma maneira superficial e rápida, pois realizaram os exames
audiológicos e não retornaram mais para o Centro; enquanto os demais pacientes
de terapia fonoaudiológica (linguagem oral/escrita, motricidade), permanecem em
tratamento por mais tempo e avaliam os serviços de uma maneira mais detalhada
do que os pacientes que realizam exames eventuais. Esta visão continuada, no
processo de tratamento fonoaudiológico, expõe parâmetros não percebidos pelos
usuários que frequentaram o Centro somente para realização de exames auditivos.
Para adensar esta discussão, os relatos abaixo podem nos ajudar a
compreender a análise dos usuários quanto a conduta/explicações do fonoaudiólogo
nos atendimentos:
83
[...] a fono explica mais ou menos os exercícios que vamos fazer, às
vezes tenho dúvida. (paciente (P66) do setor de motricidade orofacial
em tratamento fonoaudiológico).
[...] a fono explicou bem sobre o exame, mostrou que não ia doer o
ouvido do meu bebê [...] e disse que posso ficar tranquila que ele está
ouvindo bem... Fiquei feliz. (paciente (P67) do setor de audiologia
para realização de exames, pela primeira vez no Centro de
Reabilitação - FAG).
Com esses diferentes relatos, é possível verificar que a utilização constante
de um serviço de saúde pode gerar uma análise mais apurada sobre os processos
de avaliação dos atendimentos. Isto se reflete no percentual diferencial dos
pacientes entrevistados. A partir dessa diferença, é possível inferir que o uso
contínuo dos serviços tem produzido rebaixamento na avaliação da qualidade do
atendimento, assim como as explicações dadas pelo fonoaudiólogo foram
consideradas
menos
eficientes
pelos
pacientes
que
realizam
tratamento
fonoaudiológico semanal.
A maioria dos usuários do SUS que foram entrevistados em nossa pesquisa
respondeu ao questionário de maneira sucinta. Quando perguntamos por que o
serviço fonoaudiológico merecia determinada nota (01 a 05), a resposta mais
apontada foi “porque sim”. Tal resposta também coloca em questão a falta de
empoderamento
por parte
dos
sujeitos
da pesquisa, pois, por meio do
empoderamento, conforme discutido no capítulo anterior desta dissertação, é
possível que sujeitos e coletivos realizem suas próprias análises em torno dos
serviços públicos de saúde, desenvolvendo a consciência crítica e a capacidade de
intervenção sobre a realidade de tais serviços.
Em função da Análise de Conteúdo, pautada na dedução frequencial, foram
consideradas como unidades de registro as palavras que contribuíram para a
elaboração, sendo a resposta: “porque sim” com ocorrência de 52% dos discursos
analisados. Essa resposta parece característica de sujeitos alheios a práticas
discursivas argumentativas, sugerindo uma tomada de posição que evita análises
críticas.
Dentro da lógica do empoderamento - de tornar os usuários do SUS dotados
de autonomia para fortalecer o sistema público - a participação social dos sujeitos
torna-se eficaz e garante melhor qualidade na execução de políticas públicas, além
da busca pela efetividade da gestão participativa. Porém, percebe-se que parcela
84
significativa dos usuários do SUS, participantes desta pesquisa, apoiam suas
respostas quanto à qualificação dos serviços sem assumir postura crítica capaz de
justificar as notas da qualificação apontadas.
Nesse sentido, convém mencionar que, ou os atores participantes usuários do
SUS são sujeitos com pouca representatividade social, ou carecem de um trabalho
que mostre seus direitos e deveres, garantindo o seu protagonismo.
Para acompanharmos avanços nas relações profissional de saúde/paciente e
mudanças sociais significativas em direção a projetos que contemplem a qualidade
dos atendimentos do SUS, existe a necessidade de ações públicas que
intensifiquem a participação social.
Empoderamento, neste contexto, pode ser considerado como um processo
que conduz à legitimação e dá voz a grupos marginalizados, removendo barreiras
que limitam a produção de uma vida saudável para distintos grupos sociais. Indica
processos que procuram promover a participação social visando à integração dos
excluídos e carentes de bens elementares à sobrevivência (saúde), gerando o
aumento do controle sobre a vida por parte de sujeitos e comunidades, à eficácia
política com maior justiça social e a melhoria da qualidade de vida (GOHN, 2004).
A construção e consolidação de um modelo mais participativo na saúde
dependem do fortalecimento da educação social e política dos sujeitos, que precisa
conhecer seus direitos, reconhecer o seu potencial como agente de mudanças da
realidade e sua importância na organização para que as necessidades coletivas
sejam, de fato, compreendidas, atendidas e resolvidas.
Este movimento, que intensifica a ampliação da consciência política dos
sujeitos e que mobiliza as comunidades em prol de esclarecer e defender suas
soluções para o sistema público de saúde entra em atrito, segundo Baracho (2013),
com a estrutura política instalada e vivenciada no Brasil, desde seus primórdios. A
organização social da saúde vai de encontro aos modelos de gestão e de educação
que compõem a realidade brasileira, onde as pessoas são levadas a não se
envolverem nestes debates. Assim, da mesma forma que o envolvimento social está
diretamente relacionado com a instrução e a conscientização política e social, o não
envolvimento reflete o sucesso dos atuais modelos de alienação social da
população.
85
O reconhecimento de uma diversidade cultural parece-nos uma forma de
neutralizar as
impossibilidades
de
uma
cidadania
universal e voltada ao
protagonismo social. Percebemos também, sujeitos conscientes de seu papel na
sociedade e com argumentação diante do sistema o qual faz parte, segundo relatos
abaixo:
[...] O tempo de atendimento devia ser maior. Depoimento
(P12), paciente do setor de linguagem.
[...] acho que o tempo da fono é muito pouco, devia ser mais
tempo. Depoimento (P3), paciente do setor de linguagem.
[...] o ponto negativo é o pouco tempo de atendimento
fonoaudiológico no Centro. [...] sei que ali do lado os
atendimentos tem mais tempo e aqui é tudo rápido.
Depoimento (P8) paciente do setor de linguagem.
Estes
depoimentos
refletem
uma
posição
crítica
dos
usuários.
O
questionamento referente ao tempo de atendimento dos profissionais do Centro que é de 20 minutos, enquanto nas Clínicas FAG (Clinica Escola no corredor ao
lado), os atendimentos são de 50 minutos - demonstra um fortalecimento na prática
questionadora do sujeito que busca melhorar seu tempo de sessão. Sujeito
empoderado
é
sinônimo
de
uma
pessoa
questionadora, independente
e
autoconfiante, capaz de comportar-se, agir, influenciar o seu meio e atuar de acordo
com princípios de justiça e de equilíbrio. Esta ideia de que a ação, a interlocução e a
atitude dos sujeitos ocupa lugar central no processo de produção da saúde, diz
respeito ao papel de sujeitos autônomos, protagonistas e implicados nos
acontecimentos de sua própria saúde.
Portanto, é necessário promover o protagonismo dos usuários do SUS através
de ações que desencadeiem o empoderamento dos sujeitos. É através do
protagonismo que os usuários podem assumir-se como agentes de transformação
social, por meio do acompanhamento e fiscalização das políticas púbicas, assim
como, argumentarem diante das situações da saúde pública.
Aqui convém uma discussão que é de ordem constitutiva, de base, e que tem
como efeito os seguintes questionamentos: como conseguir atender com qualidade
e resolutividade em um tempo tão curto? Será possível trabalhar na criação de
ofertas que não tomem as agendas dos serviços de saúde pelo viés da
produtividade, sendo a saúde entendida em seu sentido mercadológico?
86
Ao analisarmos pelo viés da implicação de gestores e trabalhadores, na
tentativa de produzir ofertas dentro de um contexto socioeconômico, e não
estritamente de ordem sanitária, teríamos um trabalho pautado na qualidade dos
serviços. Essa construção de ofertas que se desloca das medidas exclusivamente
curativas e reabilitadoras, é percebida como um canal de exercício do protagonismo
tanto de gestores e equipes, como de usuários, sendo possível visualizar o modo
como os usuários estão implicados com as condições de cuidado que, deste modo,
passam a ser pensadas por todos os envolvidos na qualificação da saúde e não
mais se concretizam apenas como uma oferta do Estado.
Essa passagem da oferta à construção coletiva é por si mesma vista como um
modo de Promoção da Saúde. É um meio de fazer a difícil inclusão dos usuários nas
discussões e na implementação de ofertas e programas em saúde.
A abordagem da Promoção de Saúde reconhece que a assistência à saúde
têm um papel significativo na determinação do processo saúde-doença, sugerindo a
reorientação dos serviços e sistemas de saúde visando à implementação de práticas
integrais e o fortalecimento de ações. Considera ser necessária uma mudança de
atitude dos profissionais a serem alcançada através de processos educativos e
novos formatos organizacionais. Preconiza que os serviços devem estar orientados
para a necessidade dos sujeitos como um todo, devendo se organizar respeitando
as diferenças culturais e sociais. Propõe ainda que este reordenamento se realize a
partir do compartilhamento de responsabilidades e da parceria entre usuários,
profissionais, instituições prestadoras de serviços e comunidade.
O desafio é construirmos um compromisso ético entre os usuários do SUS e
fonoaudiólogos, promovendo a responsabilidade de cada de um e incentivando a
construção de um sistema público de qualidade. Percebe-se que a relação entre
usuários do SUS e profissionais fonoaudiólogos necessitam de iniciativas que não
devem ser direcionadas somente para o enfrentamento de comportamentos
individuais considerados inadequados, mas também na realização de ações, nas
instituições públicas, com oferta de estratégias de capacitação coletiva, como, por
exemplo, a capacitação do profissional atuante no SUS.
É
necessário
que
profissionais
que
atuam
no
SUS,
inclusive
fonoaudiólogos, superem a prática tradicional centrada somente na dimensão
biológica, de modo que ampliem a escuta e recoloquem a perspectiva humana na
87
interação entre profissionais de saúde e usuários do SUS, como forma de melhorar
a qualificação dos serviços públicos prestados. Faz-se necessário a aquisição
constante de conhecimento técnico-científico e a substituição da visão curativa pela
visão de promoção de saúde para que o fonoaudiológico produza impactos positivos
na qualidade de vida dos sujeitos a quem presta atendimento
Nesse sentido, as práticas que orientam os profissionais devem, cada vez
mais, pautar-se no protagonismo dos sujeitos atendidos, os quais são determinantes
no processo de tomadas de decisões clínicas. Ressalta-se, também, a necessidade
de mudanças no planejamento e/ou organização dos setores públicos em geral, de
modo que facilite o acesso e fortaleça a relação equipe/usuário do SUS para
concretizar um cuidado integralizado e de qualidade.
É determinante um referencial assentado no compromisso ético com a vida e
com a Promoção da Saúde. Para repensar na integralidade do cuidado a saúde, há
que se aprofundar o debate sobre os fundamentos teóricos, particularmente sobre a
natureza do processo público, especialmente na organização da assistência à
saúde. Assim, a construção de ações diferenciadas na produção da saúde voltadas
à produção do cuidado, estabelece serviços de saúde centrados nos usuários e em
suas necessidades. Torna-se fundamental disseminar as informações e incentivar as
ações propostas pelo próprio SUS, bem como utilizar os meios de comunicação
como estratégia de mobilização e engajamento da comunidade, buscando incentivar
iniciativas voltadas para divulgação e sensibilização da comunidade. É importante a
formação de redes sociais e o empoderamento da comunidade, bem como a sua
responsabilização e participação na definição das ações a serem desenvolvidas
(MALTA, 2010).
Estas atitudes - voltadas à Promoção - trazem para as relações sociais
estratégias que contribuem para a dignificação da vida e implica no compromisso
coletivo de envolver-se com o outro, potencializando protagonismos nos diferentes
sujeitos.
Não se trata aqui de dar respostas a um questionamento, mas colaborar para a
regulamentação do controle social; não temos a intenção de fechar nenhuma
questão, mas de contribuir para o desenvolvimento de reflexões sobre modelo de
88
gestão/atenção, a partir da qual as instituições sejam viabilizadoras da Promoção da
Saúde.
Destacamos também as opiniões - cujo eixo central é o atendimento- com a
avaliação da qualidade e da assistência à saúde, tendo como uma de suas
implicações a utilização de pesquisas de satisfação do usuário, ou seja, da visão ou
da experiência dos usuários nos serviços de saúde pública.
A estruturação de uma postura de profissionais pautada no modelo biomédico
estabelece um atendimento impessoal ao usuário. O modelo comumente praticado
na saúde pública em geral consiste em uma prática fragmentada, centrada em
produção de atos, predominando a desumanização e falhas no acolhimento entre as
queixas dos usuários.
Devemos executar ações que levem a satisfação dos pacientes com a
qualidade do serviço recebido, assim como planejar estratégias de intervenção com
efetividade nos serviços de saúde, para desta forma melhorar a qualidade do serviço
público fonoaudiológico no SUS.
Vale ressaltar aqui algumas pesquisas realizadas sobre esta temática. A
satisfação com o atendimento recebido foi um item significativo nas entrevistas
realizadas em nosso estudo, coincidindo com uma pesquisa realizada para
descrever as percepções dos usuários do Ambulatório de Fonoaudiologia do
Hospital São Paulo, onde os frequentadores estavam satisfeitos com o atendi mento
recebido, tanto em relação à sala de espera quanto ao atendimento fonoaudiológico
profissional (ANDRADE et al, 2005). Barcelos & Carrara-de-Angelis (2008) também
avaliaram a qualidade do atendimento fonoaudiológico de pacientes em tratamento
de câncer de cabeça e pescoço sob diferentes parâmetros, desde a satisfação do
paciente quanto ao atendimento e ao sucesso do tratamento. Sob a perspectiva do
paciente, os dados encontrados indicaram ótima qualidade de atendimento, análises
que se justificaram pela boa evolução e pela satisfação do paciente quanto ao
atendimento fonoaudiológico.
Outras pesquisas também mostraram a importância do conhecimento da
satisfação/insatisfação na perspectiva do usuário, identificando que há relação direta
entre usuários mais satisfeitos com a maior adesão ao tratamento, maior
fornecimento de informações para o provedor dos serviços e maior continuidade da
utilização dos serviços de saúde (WARE et al., 1983; WEISS, 1988; ZASTOWNY et
89
al., 1989; AHARONY & STRASSER, 1993; BERNHART et al., 1999; BARON-EPEL
et al., 2001; JOHANSSON et al., 2002: in GOUVEIA et al 2009).
Uma
indagação
aqui
se
faz
presente:
porque
os
atendimentos
fonoaudiológicos no Centro, que constitui o cenário desta pesquisa, foram avaliados
de forma tão positiva? Que medidas têm sido tomadas no Centro para incentivar o
processo qualitativo na assistência pública em saúde?
Pois bem, quanto às ações realizadas no Centro, deve-se argumentar que
mesmo este sendo um espaço voltado à reabilitação, realizam-se ações buscando,
cada vez mais a Promoção de Saúde. Bimestralmente são realizadas reuniões com
todos os setores no intuito de discutir sobre o processo de atendimento e
funcionamento do Centro. As reuniões são financiadas pelo Centro, ou seja, os
profissionais recebem as horas trabalhadas referentes ao horário das reuniões. O
problema é que a existência de normas nem sempre significa que elas serão
aplicadas adequadamente, portanto métodos de esforços conjunto da mantenedora
e profissionais envolvidos são fundamentais.
Também são realizadas ações de educação sanitária; padrão nutricional
ajustado às várias fases da vida; atenção ao desenvolvimento da personalidade;
atividades de recreação; aconselhamento, educação sexual; e exames periódicos,
sendo que as mudanças de estilo de vida ou comportamentos dos usuários relativos
à alimentação, exercícios físicos, fumo, drogas, conduta sexual são reafirmadas nas
estratégias de Promoção da Saúde propostas pela Constituição. Além disso, a
Promoção da Saúde é um processo de capacitação conjunto com a comunidade,
atuando na melhoria da qualidade de vida e saúde - incluindo uma maior
participação dos usuários do SUS.
Anualmente também é realizada uma reunião comemorativa, onde são
distribuídos orientações, atividades de recreação acessível para as crianças,
alimentos saudáveis e muita diversão, onde os profissionais da saúde interagem fora
dos setores clínicos, sem jalecos ou roupas brancas, gerando um ambiente
agradável a saúde comunitária. Nesta reunião, os pacientes também tem a
oportunidade de se colocar e discutir/argumentar sobre seus atendimentos, ou de
forma anônima – “caixa de recados” – ou pessoalmente com os gestores e/ou
profissionais.
90
Dentre as estratégias priorizadas pela Promoção à Saúde, merecem
destaque a constituição de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes
sustentáveis, a reorientação dos serviços de saúde, o desenvolvimento da
capacidade dos sujeitos e o fortalecimento de ações comunitárias. Subsidiando
estas estratégias, encontram-se princípios que afirmam a importância de se atuar
nos determinantes e causas da saúde, da participação social e da necessidade de
elaboração de alternativas às práticas educativas que se restringem à intervenção
sobre os hábitos e estilos de vida individuais.
Limitações de tempo, aspectos organizativos dos atendimentos, dificuldade
na capacidade de orientação, desconhecimento das ações que se deveria executar,
são problemas que atrapalham a qualidade do trabalho da Promoção da Saúde. A
introdução destas atividades em toda a prática clínica é ainda um desafio.
Estas questões são analisadas por Stachenko (1998 in CZERESNIA, 2003),
ressaltando que existe a necessidade de investimento financeiro para melhorar as
práticas de Promoção de Saúde. Ele reconhece que é uma relação mútua entre
distintos enfoques e a colaboração entre múltiplos participantes dos setores público
e privado é que irão mudar o comportamento e as ações públicas em geral.
O fortalecimento do envolvimento popular nas questões políticas e sociais
está diretamente relacionado às ações que atinjam a consciência do sujeito
enquanto parte de uma sociedade e que acentuem seu papel como agente
transformador da realidade coletiva. O conhecimento do direito civil e do dever
governamental relativo à saúde faz parte de um processo indispensável para a
qualificação dos serviços públicos. Os reflexos gerados pelo incentivo de um modelo
de sociedade com maior participação popular recaem não apenas na saúde coletiva,
mas também na construção de uma sociedade justa e com mais equidade,
integralidade e universalidade.
91
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualificação de um serviço público é inseparável dos processos de
humanização, acolhimento e cuidado integral, implicando em uma mudança nas
práticas de gestão, na direção da afirmação do SUS como política equitativa,
democrática, solidária e capaz de promover melhoria na vida do sujeito usuário da
saúde pública. O Sistema Único de Saúde tem passado por processos de avanço,
organizados em função da articulação entre os métodos e diretrizes que norteiam o
sistema público em saúde.
Na visão ampliada de saúde, o sujeito é visto como um ser social, resultado
da organização da sociedade dentro de um contexto histórico, contrariando o
modelo biomédico organicista, onde o foco era a doença e não o sujeito e suas
necessidades. Essa visão ampliada da saúde tem como foco a Promoção da Saúde
em suas múltiplas dimensões, envolvendo ações de âmbito social e também a
singularidade e autonomia dos sujeitos. É inegável a conquista do reconhecimento
dos limites do modelo sanitário restrito à medicina, estimando-se que ele deve estar
integrado às dimensões ambiental, social, política, econômica, comportamental,
além da biológica e médica.
A ideia de cuidado, pautada na Promoção de Saúde, compreende um saber
fazer de profissionais, gestores e usuários/pacientes co-responsáveis pela produção
da saúde. Assim, parte-se de uma premissa de que no campo da saúde nada é
privativo de um grupo profissional, na medida em que o cuidar de sujeitos se
constitui em espaços de escuta, acolhimento, diálogo, de relação ética e dialógica
entre os diversos atores implicados na produção do cuidado. Cada usuário deve ser
acompanhado segundo determinado projeto terapêutico instituído, comandado por
um processo
de
trabalho
cuidador, e
não
por uma
lógica
indutora de
consumo/quantidade.
As evidências indicam que os sistemas de saúde pautados fundamentalmente
na
biomedicina
terão
progressivamente
problemas
de
sustentabilidade.
A
perspectiva de implantar programas de Promoção da Saúde e uma lógica preventiva
na prática clínica dirige o esforço de racionalização de custos do sistema para ações
capazes de intervir ativamente na redução de riscos, fomentando melhorias na
qualidade de vida dos usuários.
92
Tendo em vista que os preceitos do SUS são princípios norteadores das
práticas de sáude, na organização do trabalho ou na organização das políticas, há
necessariamente uma recusa ao reducionismo que toma os sujeitos como objetos.
Pois, um paciente não pode ser reduzido a uma lesão, tampouco a um corpo com
distúrbios associados.
Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as percepções que os usuários de
um serviço, vinculado ao Sistema Único de Saúde, têm a respeito de um Centro de
Reabilitação e dos atendimentos fonoaudiológicos recebidos. Seus resultados
demonstraram que o Centro de Reabilitação estudado foi capaz de oferecer
respostas efetivas aos sujeitos que buscaram os atendimentos, proporcionando a
resolutividade necessária na vigência em saúde. Ressalta-se que apesar da
nomenclatura “Reabilitação”, o Centro tem realizado esforços em busca de um
atendimento qualificado e pautado na Promoção da Saúde.
Houve uma qualificação significativamente positiva, por parte dos usuários
participantes, referente à estrutura física e organizacional do Centro de Reabilitação.
Também houve uma avaliação positiva quanto aos atendimentos fonoaudiológicos
realizados. O setor de audiologia obteve o maior índice de aprovação pelos
usuários, tanto no atendimento quanto na qualificação geral dos serviços. Porém,
cabe ressaltar que o presente estudo foi realizado em um ambiente mantido por uma
instituição privada, o que seguramente pode ter levado a índices altos na
qualificação geral e específica.
Observou-se a relevância da qualidade do atendimento aos usuários como
construtor determinante para a satisfação, evidenciando a necessidade de o serviço
qualificar, cada vez mais, o processo de atendimento ao paciente, enfatizando
aspectos articulados com os princípios e diretrizes do SUS – Equidade,
Universalidade e Integralidade.
A importância de abordar a assistência pautada na Promoção de Saúde está
fundamentada na articulação de todos os passos da produção do cuidado e no
restabelecimento da saúde. Propõe-se, dessa forma, mapear a assistência pelo
acompanhamento na linha do cuidado, evitando-se a sua fragmentação. É
necessário, também, estruturar os processos de formação dos profissionais, para
que, no futuro, seja possível adequar como se organizam e operam em torno da
saúde dentro do sistema público.
93
Verifica-se a baixa produção científica da categoria dos fonoaudiólogos nesta
temática e esta lacuna aprofunda-se pela ausência de reflexões sobre o sistema
público
de
saúde
no
Brasil, articulando-se
com a
falta
de profissionais
fonoaudiólogos atuantes na rede pública de saúde.
É preciso estabelecer estratégias de aprendizagem que favoreçam o diálogo,
a troca, a transdisciplinaridade entre os distintos saberes formais e não formais
capazes de contribuir para as ações de Promoção de Saúde em âmbito individual e
coletivo. Além disso, é necessário o estabelecimento de ações coletivas com o
engajamento social, produzindo ações diretas que se convertam em mudanças
macrossociais.
94
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
ABREU,
Blogger.
BRASIL,
um
País
para
todos.
Disponível
em:
http://wwwcarbonario.blogspot.com.br/2010/11/como-funciona-o-sus-parte-2-niveisde.html#!/2010/11/como-funciona-o-sus-parte-2-niveis-de.html. Novembro de 2010.
Acesso em outubro/2013.
2.
ALBUQUERQUE ZBP, TAVARES SBN, MANRIQUE EJC, SOUZA ACS,
NEVES HCC, VALADARES JG. Atendimento pelo SUS na percepção de mulheres
com lesões de câncer cervicouterino em Goiânia-GO. Rev. Eletr. Enf. [Internet].
2011. Available from: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v13i2.9977.
3.
ALMEIDA, E. C.; FURTADO, L M. Acolhimento em Saúde Publica: a
contribuição do Fonoaudiólogo. Rev Ciências Médicas, Campinas. Maio/junho, 2006.
4.
ALMEIDA, M. A. B.; GUTIERREZ, G. L.; MARQUES, R. Qualidade de vida:
definição, conceitos e interfaces com outras áreas de pesquisa. São Paulo: Escola
de Artes, Ciências e Humanidades. USP, 2012.
5.
ALVARENGA KF, BEVILACQUA MC, MARTINEZ MA, MELO TM, BLASCA
WQ, TAGA MF. Proposta para capacitação de agentes comunitários de saúde em
saúde auditiva. Pró-Fono, 2008.
6.
ANDRADE C. R. F. Conceito de saúde e saúde fonoaudiológica: uma análise
dos discursos dos profissionais de saúde e dos usuários do serviço de
Fonoaudiologia. [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas; 1991.
7.
ANDRADE C.R.F. Fases e níveis de prevenção em fonoaudiologia: ações
coletivas e individuais. In: Vieira RM, organizador. Fonoaudiologia e saúde coletiva.
2. ed. Carapicuíba: Pró-Fono; 2000.
8.
ANDRADE, A; MARTELETO, M. R. F; PEDROMÔNICO, M. R. M. Perfil
sociodemográfico dos usuários do ambulatório de fonoaudiologia. Fono atual vol. 8 /
jul.-set, 2005.
9.
ARAKAWA AM, LOPES-HERRERA SA, CALDANA ML, TOMITA NE.
Percepção dos usuários do SUS: expectativa e satisfação do atendimento na
estratégia de saúde da família. Rev. CEFAC, São Paulo, 2011.
10.
ARAKAWA, A. M.; PICOLINI, M. M.; SITTA, E. I.; OLIVEIRA, A. N.; BASSI , A.
K. Z.; BASTOS, J. R.; LAURIS, J. R. P.; BLASCA; W. Q.; CALDANA, M. L. A
95
Avaliação da Satisfação dos Usuários de AASI na Região Amazônica. Arq. Int.
Otorrinolaringologia / São Paulo - Brasil, v.14, n.1, p. 38-44, Jan/Fev/Março - 2010.
11.
AZEVEDO BA. Fonoaudiologia na saúde coletiva: uma área em crescimento
Editorial II. Revista CEFAC. 2007.
12.
BARCELOS, C. B.; CARRARA-DE-ANGELIS, E.. Avaliação da qualidade do
atendimento fonoaudiológico de pacientes tratados do câncer de cabeça e pescoço.
Anais do 16º. Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, Campos do Jordao – SP,
setembro de 2008. Disponível em: http://www.sbfa.org.br/portal/anais2008.
13.
BARACHO M. Participação social: ampliação para contribuir com a redução
das desigualdades sociais [Internet]. Recife (PE): Portal DSS Nordeste; 2013.
Disponível
em:
http://dssbr.org/site/
2013/02/participacao-social-ampliacao-para-
contribuir-com-a-reducao-das-desigualdadessociais/?preview=true&preview
_id=13129 &preview_nonce=491b135eab. Acesso em julho,2014.
14.
BARDIN L. Análise de conteúdo. Tradução Luis Antero Reto; Augusto
Pinheiro. Edição 70, São Paulo, 2011.
15.
BAZZO LMF, NORONHA CV. A ótica dos usuários sobre a oferta do
atendimento fonoaudiológico no Sistema Único de Saúde (SUS) em Salvador.
Ciência & Saúde Coletiva, 2009.
16.
BEFI D. A inserção da fonoaudiologia na atenção primária à saúde. In: Befi D,
organizador. Fonoaudiologia na atenção primária à saúde. São Paulo: Lovise; 1997.
17.
BELTRAME IL. Fonoaudiologia e saúde pública. In: Oliveira ST, organizador.
Fonoaudiologia hospitalar. São Paulo: Lovise; 2003.
18.
BEZERRA, A. L. de Souza. Atuação Fonoaudiológica no Âmbito da Saúde
Pública. In: http://www.profala.com/arttf121.htm. Acesso em janeiro de 2014.
19.
BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
20.
BOBBIO, N. et al. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 2004.
21.
BORGES , J. B. C.; CARVALHO, S. M. R.; SILVA, M. A. DE M. Qualidade do
serviço prestado aos pacientes de cirurgia cardíaca do Sistema Único de SaúdeSUS. Rev Bras Cir Cardiovasc vol.25 no.2 São José do Rio Preto abr./jun. 2010.
22.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília:
Senado Federal, 2005.
96
23.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/ . Acesso em: 28 outubro
de 2013.
24.
BRASIL. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde /
Ministério da Saúde. – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.
25.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política
Nacional de Humanização. Formação e intervenção / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Brasília :
Ministério da Saúde, 2010.
26.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da
Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: acolhimento com avaliação e
classificação de risco: um paradigma ético-estético no fazer em saúde / Ministério da
Saúde, Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
27.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação. Departamento de Governo Eletrônico.
INDICADORES E MÉTRICAS PARA AVALIAÇÃO DE E-SERVIÇOS / Departamento
de Governo Eletrônico / Brasília, 2007.
28.
BRASIL.
Governo
Federal
/Secretaria
de
Assuntos
Estratégicos
da
Presidência da República. IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010.
Disponivel em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em dezembro/2013.
29.
_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefe a para Assuntos
Jurídicos. Decreto nº. 6.286, de 05/12/2007. Institui o Programa Saúde na Escola –
PSE,
e
dá
outras
providências.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/
Disponível
decreto
em
d6286.htm>.
Acesso em 19 nov. 2013.
30.
______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e
Promoção da Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde–Brasília :
CONASS, 2011.
31.
_____. Lei 12303 de 2 de agosto de 2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas. Disponível em
< http:// www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024360/lei-12303-10>. Acesso em: 20 nov.
2013.
97
32.
_____. Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras
providências.
Disponível
em
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf>.
Acesso
<
em 22
nov.
2013.
33.
_____. Lei Orgânica da Saúde n. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Disponível em <http://www.planalto.gov br/ccivil_03/leis/L8080.htm>.
Acesso em: 22 nov. 2013.
34.
_____. Projeto de Lei 1128/03. Dispõe sobre a criação do Programa Nacional
de Saúde Vocal do professor da Rede Pública de Ensino e dá outras providências.
Disponível
em
<http://
www.saudedoprofessor.com.br/Voz/Arquivos/
projeto_lei_abicalil.pdf>. Acesso em 22 nov. 2013.
35.
_____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 793 de 24 de abril de 2012.
Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Defi ciência no âmbito do Sistema Único
de
Saúde.
Disponível
em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ saudelegis/gm/2012
html>. Acesso em 22 nov. 2013.
36.
_____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 835 de 25 de abril de 2012.
Institui incentivos financeiros de investimento e de custeio para o Componente
Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Defi ciência no âmbito
do
Sistema
Único
de
Saúde.
Disponível
em
<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0835_25_04_2012.html>.
Acesso em: 20 nov. 2013.
37.
_____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2527 de 27 de outubro de
2011. Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Disponível
em
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm
/2011/prt2527_27_10_2011.html>. Acesso em 23 nov. 2013.
38.
_____. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes
e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Disponível
98
em < http://www. brasilsus.com.br/ legislacoes/gm/110154-2488.html>. Acesso em:
20 nov. 2013.
39.
_____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.728 de 11 de novembro de
2009. Dispõe sobre a rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador,
RENAST
e
dá
outras
providências.
Disponível
em
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portariarenast2728.pdf Acesso em 23
nov de 2013.
40.
_____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 154 de 24 de janeiro de 2008.
Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. Disponível em
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis
/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html>.
Acesso em 19 nov. 2013.
41.
_____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 336 de 19 de fevereiro de
2002. Estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS ad II. Disponível em
< http:// portal.saude.gov.br/ portal/arquivos/pdf/ Portaria%20 GM%20336-2002.pdf>.
Acesso em 02 de dez. 2013.
42.
_____. Resolução CFFa nº 320 de 17 de fevereiro de 2006. Dispõe sobre as
especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e dá outras
providências.
Disponível
em
<
http://www.fonoaudiologia.org.br/legislacaoPDF/.
Acesso em 10 janeiro de 2014.
43.
_____. Resolução CFFa nº 383 de 20 de março de 2010. Dispõe sobre as
atribuições e competências relativas à especialidade em Disfagia pelo Conselho
Federal
de
Fonoaudiologia,
e
dá
outras
providências.
Disponível
em
<
http://www.fonoaudiologia.org.br/legislacaoPDF. Acesso em: 22 nov.2013.
44.
BUSS PM. Uma introdução ao conceito de promoção da Saúde. Promoção da
saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2005.
45.
BUSS, PM. Promoção da saúde e qualidade de vida. Revista Ciência &
Saúde Coletiva, 2000.
46.
CAMPOS, C. E. A. O desafio da integralidade segundo as perspectivas da
vigilância da saúde e da saúde da família. Ciência
& Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, 2003.
47.
CANGUILHEM, G. A saúde: conceito vulgar e questão filosófica. In:
Canguilhem, G. (Org.) Escritos sobre a Medicina. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, Fiocruz, 2006.
99
48.
CAPONI, S. A saúde como abertura ao risco. In: CZERESNIA, D. & FREITAS,
C. M. de. (Orgs.) Promoção da Saúde: conceitos, reflexões e tendências. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.
49.
CÁCERES, A. M. A inserção da Fonoaudiologia no
Sistema de Saúde
Brasileiro. Faculdade de Medicina/ USP. Abril, 2010.
50.
CAMPOS, C. J. G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a
análise de dados qualitativos no campo da saúde. Rev Bras Enferm, Brasília (DF)
2004 set/out;57(5):611-4.
51.
CARVALHO A.L. Princípios e praticas da promoção da saúde no Brasil.
Cadernos de Saúde Publica, 2008.
52.
CASANOVA, I. A.;
MORAES , A. A. ; RUIZ-MORENO, L. O ensino da
promoção da saúde na graduação de fonoaudiologia na cidade de São Paulo. Pro
Posições, Campinas, v. 21, n. 3 (63), p. 219-234, set./dez, 2010.
53.
CASTRO, E. A. A Satisfação dos Usuários com o Sistema Único de Saúde
(SUS). Sociedade em Debate, Pelotas, jul-dez./2008.
54.
COSTA, R G; SOUZA, L.
B. R. Perfil dos usuários e da demanda pelo
serviço da clínica-escola de fonoaudiologia da UFBA. Revista de Ciências Médicas e
Biológicas, Vol. 8, 2009.
55.
CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a
área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Revista de Saúde Coletiva,
Rio de Janeiro, v. 14, n. 1,2004.
56.
CESAR, A.M.; MAKSUD,S. Caracterização da demanda de fonoaudiólogos no
serviço público municipal de Ribeirão das Neves-MG. Revista CEFAC. 2007 jan/mar.
57.
CHUN, R. Y. S. Promoção de Saúde e as Práticas em Fonoaudiologia. In:
FERREIRA,
Leslie
Piccoloto;
BEFI,
Débora
Lopes
(Org.).
Tratado
de
Fonoaudiologia. São Paulo: Roca, 2004.
58.
CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Resolução CFFa nº 387 de
18 de setembro de 2010. Dispõe sobre as atribuições e competências do profissional
especialista em Fonoaudiologia Educacional reconhecido pelo Conselho Federal de
Fonoaudiologia, alterar a redação do artigo 1º da Resolução CFFa nº 382/2010, e dá
outras
providências.
Disponível
em
<
http://www.fonoaudiologia.
org.br/legislacaoPDF/. Acesso em: 28 nov. 2013.
100
59.
CUNHA, J. P. P. & CUNHA, R. E. Saúde coletiva na comunidade. Maio/2013.
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Saude-Coletiva-Na-Comunidade/
877516.
html. Acesso em agosto/ 2014.
60.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (orgs.) Promoção da saúde: conceitos,
reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. p.117-139.
61.
CZERESNIA, D. Ações de promoção à saúde e prevenção de doenças: o
papel da ANS. Texto elaborado para o Fórum de Saúde Suplementar. Brasília, julho/
2003.
62.
DAHAN, D. Atuação fonoaudiológica em saúde pública: uma abordagem
preventiva.
2001.
Disponível
<http//www.fonoaudiologia.com/trabalhos/artigos/artigo-026.htm>.
em:
Acesso
em:
10
fev. 2014.
63.
DESLANDES, S. F. Humanização, revisitando o conceito a partir das
contribuições da sociologia médica, em Humanização dos Cuidados em Saúde, Rio
de Janeiro, Ed. Fiocruz, 2006.
64.
DI PIETRO, M. S. Parcerias na administração pública. 5ª.edição. São Paulo:
Atlas, 2005.
65.
DINIZ, R. D.; BORDIN, R. Demanda em Fonoaudiologia em um serviço
público municipal da região Sul do Brasil. Rev. Soc. Bras. Fonoaudiologia. Vol.16
no.2 São Paulo Apr./June, 2011.
66.
ESCOREL, S. & GIOVANELLA, L. Termo de referência. Seminário Nacional
“Reformas de Estado, Saúde e Equidade”, Fiocruz/ Rio de Janeiro, 2000.
67.
ESCOREL, S. Os dilemas da equidade em saúde: aspectos conceituais.
http://www.opas.org.br/servico/Arquivos/dilemas-da-equidade-em-saude.pdf.
Acesso
em: outubro de 2013.
68.
ESPERIDIÃO M. Avaliação de satisfação de usuários: considerações
teórico-conceituais. Caderno de Saúde Pública, 2004.
69.
ERDMANN, A. L.; ANDRADE, S. R.; MELLO , A. L. S. F.; DRAGO, L. C.
A atenção secundária em saúde: melhores práticas na rede de serviços. Rev. LatinoAm. Enfermagem vol.21. Ribeirão Preto Jan./Feb. 2013.
70.
FRANCO M.L.P.B. O que é análise de conteúdo. Plano Editora, São Paulo,
2003.
101
71.
FLEURY-TEIXEIRA, P. Autonomia como categoria central no conceito de
promoção de saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2008, vol.13, pp. 2115-2122.
ISSN 1413-8123. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232008000900016.
72.
FLORENCIO S., RENATA; G. M.; DUARTE, M., MORAIS, G. ; OLIVEIRA D.;
FURTADO, M., BETISE MERY, A. S. ; VIEIRA , W. Qualidade do atendimento nas
unidades de saúde da família no município de Recife: a percepção dos usuários.
Revista Ciência & Saúde Coletiva, Vol.18. Janeiro, 2013.
73.
FORTES, A.M.C. Fonoaudiologia: uma abordagem pública. [Monografia]
Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria - RS, 2006.
74.
FRANCO T.B, BUENO S, MERHY E. O acolhimento e os processos de
trabalho em saúde. In: ALMEIDA, E.; FURTADO, L. Sheltering in public health:
contributions from The hearing and speech therapist. Rev. Ciênc. Méd. Campinas,
2006.
75.
FRANÇA, S. B. A presença do estado no setor saúde no Brasil. Revista do
Serviço Público, ano 49, n.3, p.86, jul./set. 1998.
76.
GARBIN W. O sistema de saúde no Brasil. In: Vieira RM, organizador.
Fonoaudiologia e saúde pública. Carapicuíba: Pró-Fono; 1995.p.24-34.
77.
GOHN, M. G. Empoderamento e participação da comunidade em políticas
sociais. Saúde e Sociedade v.13, n.2, p.20-31, maio-ago, 2004.
78.
GOMES, E.M.G.P, REMENCIUS, N.R. Fonoaudiologia na Unidade Básica de
Saúde. In: Largota MGM, César CP. A fonoaudiologia nas instituições. São Paulo:
Lovise; 1997. p. 183-86.
79.
GOULART, B.N.G. A fonoaudiologia e suas inserções no sistema único de
saúde: análise prospectiva. Revista Fonoaudiologia Bras, 2003.
80.
GOUVEIA,
G.C;
SOUZA,
W.V;
LUNA,
C.F;
SOUZA-JUNIOR, P.R.B;
SZWARCWALD, C.L. Satisfação dos usuários do sistema de saúde brasileiro:
fatores associados e diferenças regionais. Rev Bras Epidemiol. 2009; 12(3): 281-96.
81.
HERCOS, B.V.S; BEREZOVSKY, A. Qualidade do serviço oftalmológico
prestado aos pacientes ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SUS. Arq Bras
Oftalmol, 2006.
82.
LENZ, A.J; GERNHARDT, A.; GOULART, B.N; ZIMMER, F; ROCHA, J.G;
VILANOVA, J.R. Acolhimento, humanização e fonoaudiologia: relato de experiência
em unidade básica de saúde de Novo Hamburgo (RS). Boletim da Saúde, 2006
102
Disponível em: http://www.esp.rs. gov.br/img2/v20n2_09Acolhimento.pdf.
Acesso
em outubro de 2013.
83.
LESSA, F.J.D; MIRANDA, G.M.D. Fonoaudiologia e Saúde Pública. In: Britto
ATB, organizador. Livro de fonoaudiologia. São José dos Campos: Pulso Editorial;
2005. p. 375-386.
84.
CAREGNATO, R.C.A; MUTTI, R. Pesquisa Qualitativa: Análise De Discurso
Versus Análise De Conteúdo. Contexto Enferm. Florianópolis, Out-Dez ,2006.
85.
LIMA, M. A.; RAMOS, D. D.; ROSA, R. B.; NAUDERER, T. M.; DAVIS, R.
Acesso e acolhimento em unidades de saúde na visão dos usuários. Acta Paul
Enferm, UFRGS / Porto Alegre –RS, 2007.
86.
LIPAY, M. S.; ALMEIDA, E. C. A fonoaudiologia e sua inserção na saúde
pública. Rev. Ciênc. Méd., Campinas, 16(1):31-41, jan./fev., 2007.
87.
LOPES, S.M.B. Cultura, linguagem em fonoaudiologia: uma escuta do
discurso familiar no contexto da Saúde Pública. [dissertação]. São Paulo (SP):
Universidade de São Paulo; 2011.
88.
LOPES-HERRERA, S. A.; PIMENTEL, A. G. L.; DUARTE, T. F. Conhecimento
que acompanhantes de pacientes de uma clínica-escola de Fonoaudiologia tem
sobre a atuação fonoaudiológica. Rev. Soc. Bras. Fonoaudiologia, vol.15 no.1.São
Paulo, 2010.
89.
MACHADO, M.F. A. S. Integralidade, formação de saúde, educação em
saúde e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. Ciência & Saúde Coletiva
[online], vol.12/ n.2, 2006.
90.
MALTA, D.C.; DUARTE, E.C. Causas de mortes evitáveis por ações efetivas
dos serviços de saúde: uma revisão da literatura. Cienc. Saude Colet., v.12, 2007.
91.
MALTA, D.C. A Política Nacional de Promoção da Saúde e a agenda da
atividade física no contexto do SUS. Epidemiol. Serv. Saude, v.18, 2009.
92.
______. A construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não
transmissíveis no contexto do Sistema Único de Saúde. Epidemiol. Serv. Saude,
v.15, 2006.
93.
______. Perspectivas da regulação na saúde suplementar diante dos modelos
assistenciais. Cienc. Saude Colet., v.9, 2004.
94.
MALTA, D.C.; MERHY, E.E. A micropolítica do processo de trabalho em
saúde – revendo alguns conceitos. Rev. Mineira Enferm., v.7, 2003.
103
95.
MÂNICA, F. B. A complementaridade da participação privada no SUS.
Disponível
em
http://fernandomanica.com.br/wp-content/uploads
/2010/Complementaridade.pdf. Acesso em julho de 2014.
96.
MARCON, S.S; SOARES, N.T; SASSÁ, A.H. Percepção dos usuários sobre
suas relações com os profissionais de saúde. Online [Internet] 2007. Disponível em:
http://www.uff.br/objnursing/index.php/nursing/article/view/j.1676-4285.2007.996/260.
97.
MARCONDES,W.B. A convergência de referências na promoção da saúde.
Saúde e Sociedade v.13, n.1, jan-abr 2004.
98.
MARQUES, N. F. A. Público e privado no setor de saúde. Revista de Direito
Público da Economia, Belo Horizonte, ano 3, n.9,jan./mar. 2003.
99.
MARX, K. Observações à margem do Programa do Partido Operário Alemão.
In: Marx, K. & Engels, F. Obras escolhidas,1875. São Paulo: Alfa-Omega, s/d.
100. MATTA, G. C. A Organização Mundial de Saúde: do controle de epidemias à
luta pela hegemonia. Trabalho, Educação e Saúde. Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 371396, 2005.
101. MATTA, G. C. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. In: MATTA,
G. C.; PONTES, A. L. de M. (Org.). Políticas de Saúde: Organização e
operacionalização do Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz,
2007.
102. MATTA, G. C.; LIMA, J. C. F. Estado, Sociedade e Formação Profissional em
Saúde: Contradições e desafios em 20 anos de SUS. Rio de Janeiro: Ed.
Fiocruz/EPSJV, 2008.
103. MATTOS, R. A. Desenvolvendo e ofertando ideias: Um estudo sobre a
elaboração de propostas de políticas de saúde no âmbito do Banco Mundial. Tese
de Doutorado. Rio de Janeiro: UERJ, 2000.
104. MATTOS, R. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de
valores que merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, R. & MATTOS, R. (Orgs.) Os
Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado em Saúde. 4.ed. Rio de Janeiro:
Cepesc/IMS/Uerj/Abrasco, 2005.
105. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização PanAmericana da Saúde, CONASS, 2011.
106. MERHY, E.E; CHAKKOUR, M.; STÉFANO, E.; STÉFANO, M.E.; SANTOS,
C.M; RODRÍGUEZ, R.A. Em busca de ferramentas analisadoras das tecnologias em
104
saúde: a informação e o dia a dia de um serviço, interrogando e gerindo trabalho em
saúde. In: Merhy EE, Onocko R (Orgs.). Agir em saúde: um desafio para o público.
São Paulo: Hucitec, 1997.
107. MINAYO, M. C.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde:
um debate necessário. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2000, vol.5, n.1, pp. 7-18.
ISSN 1413-8123.
108.
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE.
Esplanada
dos
Ministérios/Bloco
G.
www.saude.gov.br. Portal da Saúde, Brasília-DF, 2005. Acesso em novembro de
2013.
109. MITRE, S. M.; ANDRADE, E. I. G.; COTTA, R. M. M. Avanços e desafios do
acolhimento na operacionalização e qualificação do Sistema Único de Saúde na
Atenção Primária: um resgate da produção bibliográfica do Brasil. Rev. Ciênc. saúde
coletiva, vol.17 n.8, Rio de Janeiro/ Agosto, 2012.
110. MOIMAZ, S. A S.; MARQUES, J. A. M.; SALIBA, O.; GARBIN, C. A. S.; ZINA,
L. G.; SALIBA, N. A. Satisfação e percepção do usuário do SUS sobre o serviço
público de saúde. Revista de Saúde Coletiva, vol.20 no.4, Rio de Janeiro, 2010.
111. MOLINI-AVEJONAS, M. V.L.F; AMATO, A.H. Fonoaudiologia e núcleos de
apoio à saúde da família: conceitos e referências. Rev Soc Bras Fonoaudiologia,
2010.
112. MOREIRA, M.D; MOTA, H.B. Os Caminhos da Fonoaudiologia no Sistema
Único de Saúde – SUS. Rev. CEFAC/ Jul-Set; 2009.
113. MOTTA, A.A.; SEMIGUEM,C. Atuação do fonoaudiólogo no serviço público na
perspectiva dos secretários de saúde. Revista Saúde, 2011.
114. MOURA, E.R.F; AGUIAR, A.C.S. Percepção do usuário sobre a atuação da
equipe de saúde da família de um distrito de Caucaia-CE. Rev Bras em Promoção
de Saúde, 2004.
115. MUHLEN, E. V.; MAYER, B. L. D.; UBESSI, L. D.; KIRCHNER, R. M.;
BARBOSA, D. A. F.; WINKELMAN, E. Revista eletrônica de enfermaria. Enfermaria
Global, Nº 29, ENERO, 2013.
116. MULLER, A.. Um desafio para o cirurgião-dentista: a valorização da saúde.
UFES Rev. odontol., Vitória, v. 5, n. 2, 2003.
105
117. NOGUEIRA, J.A.; OLIVEIRA, L. C.; SÁ, L. D.; SILVA, C. A.; SILVA, D. M.;
VILLA, T. C. S. Vínculo e acesso na estratégia saúde da família: percepção de
usuários com tuberculose. REVRENE, 2012.
118. OLIVEIRA, J.L. Paciente renal crônico do HUOL e o serviço social: Uma
análise a partir dos parâmetros da política de humanização do SUS. Trabalho de
Conclusão de Curso (Monografia) – Departamento de Serviço Social, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
119.
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Redes Integradas de
Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su
Implementación en las Américas. Washington,2010.
[ Links ] (OPS. Serie La
Renovación de la Atención Primaria de Salud en las América). Acesso em
dezembro,2013.
120. PAIM, J. S.; TEIXEIRA, C. F. Configuração institucional e gestão do Sistema
Único de Saúde: problemas e desafios. Instituto de Saúde Coletiva, Universidade
Federal da Bahia. Rev. Saúde Coletiva vol.12, Rio de Janeiro, 2007.
121. PENTEADO, R.Z; SERVILHA, E.A. Fonoaudiologia em saúde pública /
coletiva: compreendendo prevenção e o paradigma da promoção da saúde.
Distúrbios da Comunicação. São Paulo, abril / 2004.
122.
PEREIRA, A. Guia Prático de Utilização do SPSS. Análise de dados para
Ciências Sociais e Psicologia. 4ª ed. Edições Silabo/ Lisboa. Março, 2003.
123. PHM. Asamblea de la salud de los pueblos (ASP)- Salud en la era de la
globalización: de víctimas a protagonistas. Un documento de discusión preparado
por el grupo de trabajo de la Asamblea de la Salud de los Pueblos. 2000. Disponível
em: http://www.phmovement.org . Acesso em: 30 de outubro de 2013.
124. PIMENTEL, A. G. L; LOPES-HERRERA, S. A.; DUARTE, T. F. Conhecimento
que acompanhantes de pacientes de uma clínica-escola de Fonoaudiologia tem
sobre a atuação fonoaudiológica. Rev. Soc. Bras. Fonoaudiologia, vol.15 no.1. São
Paulo, 2010.
125. PINHEIRO, R; MATTOS, R.A. Construção da integralidade: cotidiano, saberes
e práticas em saúde. Rio de Janeiro: UERJ/IMS: ABRASCO; 2003.
126. PINHEIRO, R. & MATTOS, R. Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no
Cuidado em Saúde. 4.ed. Rio de Janeiro: Cepesc/ UERJ/Abrasco, 2005.
106
127. PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.). Construção Social da Demanda:
direito à saúde, trabalho em equipe e participação e os espaços públicos. Rio de
Janeiro: IMS, Uerj, Cepesc, Abrasco, 2005.
128. PONTES, A. P.; CESSO, R. G. D.;
OLIVEIRA, D. C.; GOMES, A. M. O
Princípio De Universalidade Do Acesso Aos Serviços De Saúde: O Que Pensam Os
Usuários? Escola Anna Nery. Rev Enferm/ jul-set; 2009.
129.
POPE, C; MAYS, N.. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre:
Artmed; 3ª edição, 2009.
130. PUCCINI, R.F. Saúde pública: histórico e conceitos básicos. In: Vieira RM,
organizador. Fonoaudiologia e saúde pública. Carapicuíba: Pró-Fono; 1995. p.3-22.
131. RALO, E. J. S. Qualidade
em
serviço
na
saúde Auditiva
infantil:
agendamento, espera e permanência. Revista Distúrbios da Comunicação, 2010.
Disponível em: http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.
132. RIOS, I. C. Caminhos da humanização na saúde: prática e reflexão. São
Paulo: Áurea Editora, 2009.
133. SANTOS, J.N; MACIEL, F.J; MARTINS, V.O; RODRIGUES, A.; GONZAGA,
A; SILVA, L.F. Insertion of speech therapists in SUS/MG and their distribution in
Minas Gerais state. Rev. CEFAC, São Paulo, 2010.
134. SANTOS, M.P. Avaliação da qualidade dos serviços públicos de atenção à
saúde da criança sob a ótica do usuário. Rev Bra Enferm. 1999.
135.
SÍCOLI, J. L., NASCIMENTO, P. R. Health promotion: concepts, principles
and practice, Interface – Comunic Saúde, Educ, v.7, n.12, p.91-112, 2003.
136. SILVA, R. M.; ARAÚJO, M. A. L. Promoção da saúde no contexto
interdisciplinar. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 20, 2007.
137. SOUZA, R.P.F. Fonoaudiologia: a inserção da área de linguagem no Sistema
Único de Saúde (SUS). Revista CEFAC. 2005 out./dez; (7)4: 426-32.
138. STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde,
serviços e tecnologia. Brasília: Unesco, Ministério da Saúde; 2002
139. TEIXEIRA, C. F. O SUS e a Vigilância da Saúde. Proformar. FIOCRUZ, Rio
de Janeiro, 2003.
140. TEIXEIRA, C.F; SOLLA, J. (orgs). Modelo de atenção à saúde: Promoção,
Vigilância, Saúde da Família, CEPS-ISC - EDUFBA, Salvador, Bahia, 2006.
107
141. TEXEIRA, C.F Equidade, Cidadania, Justiça e Saúde. Paper elaborado para o
Curso Internacional sobre Desarrollo de Sistemas de Salud, OPS-OMS/ASDI.
Nicarágua, 17 de abril a 6 de maio de 2005.
142.
TRAVASSOS, C.; CASTRO, M. S. M. Determinantes e desigualdades sociais
no acesso e utilização dos serviços de saúde. In: GIOVANELLA, L; ESCOREL, S;
LOBATO, L. V.; CARVALHO, A. I.; NORONHA, J. C. Políticas e Sistema de Saúde
no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2008.
143. VARANDA, C.P; CAMPOS, L.G; MOTTA, A.R. Adesão ao tratamento
fonoaudiológico segundo a visão de ortodontistas e odontopediatras. Rev Soc Bras
Fonoaudiologia, 2008.
108
Apêndice 1 - TCLE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
Titulo do Projeto: PERCEPÇÃO DOS PACIENTES ACERCA DOS ATENDIMENTOS
FONOAUDIOLÓGICOS, EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO AO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE, EM CASCAVEL - PR.
Pesquisador(es) responsável com telefones de contato:
Jenane T. Cunha: (45) 8802-8970 e Giselle A. Massi: (41) 9644-6794
Convidamos você a participar de nossa pesquisa que tem o objetivo de avaliar sua
percepção sobre os atendimentos fonoaudiológicos realizados neste Centro de Reabilitação
e para isso será realizado um questionário com perguntas curtas sobre seu atendimento
neste setor, onde você deverá relatar como foi seu atendimento fonoaudiológico deste o
momento que você chegou na recepção.
Durante a execução do projeto, em qualquer momento da entrevista, se você se sentir
incomodado com alguma pergunta, a coleta pode ser suspensa pela pesquisadora3 sem
nenhum constrangimento aos participantes. Para algum questionamento, dúvida ou relato
de algum acontecimento, os pesquisadores poderão ser contatados a qualquer momento.
Não haverá nenhum gasto com sua participação. A pesquisa será gratuita, não
recebendo nenhuma cobrança e você também não receberá nenhum pagamento com a sua
participação. Existe a garantia de sigilo que assegura a privacidade, os dados são
confidenciais e somente para fins científicos; você poderá cancelar sua participação a
qualquer momento; o telefone do comitê de ética é 3220-3272, caso você necessite de
maiores informações. Este TCLE será entregue em duas vias, sendo que uma ficará com
você.
Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto da pesquisa.
Nome do sujeito de pesquisa ou responsável:___________________________
Assinatura:
Eu, Jenane T. Cunha, declaro que forneci todas as informações do projeto ao participante
e/ou responsável
Cascavel, ______ de ______ de 2014.
.
109
Apêndice 2
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DA PERCEPÇÃO DOS PACIENTES ACERCA DOS SERVIÇOS
FONOAUDIOLÓGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO – FAG.
Nome:______________________________________________________________
Profissão: ___________________________________________ Idade:__________
Sexo:
(
) feminino
(
) masculino
“Queixa” fonoaudiológica:_____________________________________________
Encaminhado por: ____________________________________________________
Escolaridade:________________________________________________________
Com quem reside:____________________________________________________
Salario médio da família:
(
) até 1 salario mínimo
(
) de 1 a 2 salários mínimo
(
) 2 a 4 salários mínimo
(
) acima de 4 salários mínimo
1)
Você entende que a fonoaudiologia atua em qual ou quais circunstâncias abaixo?
(
) Linguagem / Fala
(
) Motricidade orofacial
(
) Audição
(
) Leitura/escrita
(
) Voz
(
) Deficiências
(
) Não sei
( ) outras, quais?________________________________________________________
2)
Na sua opinião, quais setores abaixo podem atuar em conjunto com a fonoaudiologia?
(
) Artistas / Músicos
(
) Assistentes sociais
(
) Comentaristas de Radio e TV / Jornalistas / Operadores de Telemarketing
(
) Dentistas
(
) Terapeuta Ocupacional
(
) Enfermeiros
(
) Médicos
(
) Fisioterapeutas
(
) Nutricionistas
(
) Pedagogos / Professores em geral
(
) Psicólogos
(
) Não sei
( ) outros, quais?________________________________________________________
3) Junto a pessoas de quais idades, você entende que o fonoaudiólogo pode atuar?
(
) todas as idades
(
) junto a crianças
(
) juntos a adolescentes
(
) não sei
(
) junto a adultos
(
) juntos a bebês
( ) junto a idosos
4) Na sua opinião, os serviços fonoaudiológicos podem trazer benefícios para o paciente?
(
) sim
(
) não
Se sim, quais? ___________________________________________________________________
110
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
5)
Porque você veio buscar um trabalho fonoaudiológico nesse centro?
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6)
A sua expectativa sobre o trabalho que veio buscar foi atendida?
( ) totalmente
( ) parcialmente
( ) não foi atendida
Justifique______________________________________________________________________
7)
Se você apenas realizou exames auditivos, quais foram estes exames?
7.1)
A sua expectativa sobre os exames que veio realizar, foi atendida?
( ) totalmente
( ) parcialmente
( ) não foi atendida
Justifique_________________________________________________________________________
7.2) Você ficou por quanto tempo esperando para realizar esses exames, depois de ter entrado em
contato com este centro?____________________________________________
7.3)
Qual
sua
opinião
sobre
o
tempo
esperado
para
realização
exames?___________________________________________________________________
desses
QUAL SUA OPINIÃO SOBRE :
8)
Como você qualificaria o trabalho fonoaudiológico realizado por este Centro?
RUIM
1
RAZOAVEL
2
BOM
3
OTIMO
4
EXCELENTE
5
Justifique sua resposta: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9) Qual foi o tempo de espera para o atendimento fonoaudiológico neste Centr o?
( ) Fiquei na fila de espera por até 3 meses ( ) Fiquei na fila de espera por até 9 meses
( ) Fiquei na fila por até 6 meses
( ) Fiquei na fila por mais de 9 meses
( ) Não fiquei na fila de espera
( ) Não lembro
9.1) qual sua opinião sobre este tempo de espera:_______________________________
________________________________________________________________________________
10) Você permaneceu quanto tempo
( ) até 3 meses
( ) até 6 meses
( ) até 9 meses
( ) Não fiz tratamento, apenas exames
( ) Não lembro
em tratamento?
( ) de 9 meses a 12 meses
( ) de 12 meses a 24 meses
( ) de 24 meses a 36 meses
( ) mais de 36 meses
( ) Ainda estou em tratamento
111
11.1) qual sua opinião sobre este tempo de atendimento:________________________
________________________________________________________________________________
11) Como você avalia as instalações físicas do Centro de Reabilitação?
RUIM
1
RAZOAVEL
2
BOM
3
OTIMO
4
EXCELENTE
5
Justifique sua resposta: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12) Como você avalia a equipe de trabalho ( recepcionistas, secretárias, atendentes) deste Centro?
RUIM
1
RAZOAVEL
2
BOM
3
OTIMO
4
EXCELENTE
5
Justifique sua resposta: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
13) Como você avalia o atendimento/conduta do fonoaudiólogo realizado neste centro?
RUIM
1
RAZOAVEL
2
BOM
3
OTIMO
4
EXCELENTE
5
Justifique sua resposta: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14) Como você avalia as explicações dadas pelo fonoaudiólogo(a) durante seu atendimento?
RUIM
1
RAZOAVEL
2
BOM
3
OTIMO
4
EXCELENTE
5
Justifique sua resposta: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15)
Você indicaria alguém para realizar exames de audição neste centro?
( ) Sim
( ) Não
Porque?
16)
(
Você indicaria alguém para fazer terapia fonoaudiológica neste centro?
) Sim
( ) Não
Porque? ___________________________________________________________________
17)
Na sua opinião, quais os principais pontos positivos deste centro?
18)
Na sua opinião, quais os principais pontos negativos deste ce ntro?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
19)
Você tem alguma sugestão para melhorar os serviços e/ou atendimentos deste Centro?
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
112
ANEXO 1- PARECER CEP/FAG
113
ANEXO 2- PARECER CEP/ UNIOESTE
114
115