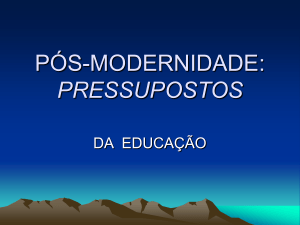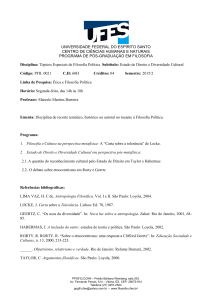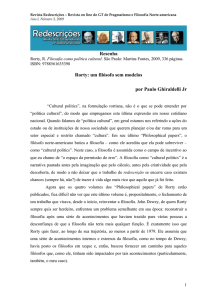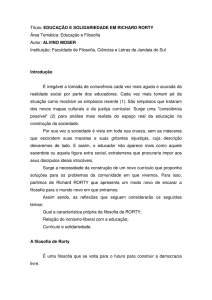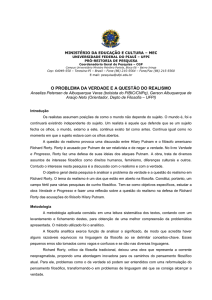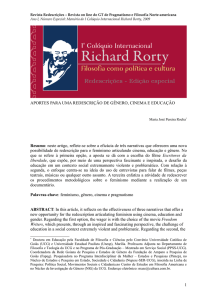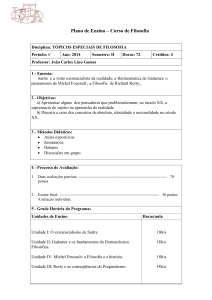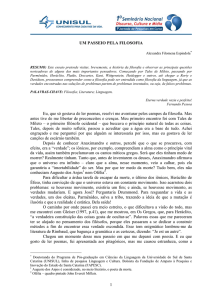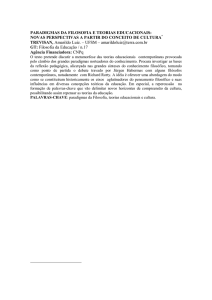51
FAZ QUÁ-QUÁ MAS NÃO É PATO:
UM OLHAR RORTYANO SOBRE A VIDA É BELA
“E MI CHIEDI DOVE SONO, TI RISPONDO “QUA, QUA, QUA”: A
RORTYAN VIEW ON LA VITA È BELLA
Patrícia Fernandes1
RESUMO
O objetivo deste artigo é o de aproveitar as reflexões realizadas por Richard Rorty a
propósito de uma passagem de Lolita, de Nabokov, para olhar com outros olhos uma cena
do filme de 1997, A vida é bela. Para tal, tomaremos em linha de conta a proposta rortyana
de abandono do paradigma representacionista, significando com isso abandonar a busca
infrutífera pela Verdade e por uma Teoria abrangente que permita conciliar os nossos
deveres públicos com os nossos prazeres privados. Esse abandono reservará um novo
lugar à filosofia, mas também um novo lugar a outros géneros literários ou formas de arte
que poderão cumprir uma função de educação sentimental no processo de redescrição
pessoal para a criação de uma sociedade mais liberal e solidária.
Palavras-chave: Richard Rorty, Solidariedade, A vida é bela
ABSTRACT
In this paper my intention is to take Richard Rorty’s considerations on Nabokov’s book,
Lolita, to analyze a specific scene of the movie Life is Beautiful (1997). With that purpose
in mind I consider the rortyan proposal of a new paradigm, a non-representationalist one,
which means to give up the unsuccessful quest for truth and for an overall theory capable
of conciliate our public duties with our private pleasures, or in Rorty’s words, capable of
“holding reality and justice in a single vision”. This new paradigm would put philosophy
in a new place in the organization of knowledge areas and, simultaneously, give other
literary genres the special role of fulfilling the function of sentimental education in the
process of personal redescription – a crucial function for the creation of a more liberal
and solidary society.
Keywords: Richard Rorty, Solidarity, Life is beautiful
1. Introdução
1
A autora deste texto encontra-se na fase final de redação da sua tese de doutoramento na
Universidade do Minho (Portugal). A tese, intitulada «A parole violenta e a política: estudo sobre o poder
revolucionário da linguagem», debruça-se sobre a relação entre linguagem e política e incide sobre a obra
de Wilhelm von Humboldt, Martin Heidegger, Roland Barthes e, em especial, Richard Rorty. O seu
trabalho tem-se desenvolvido sobretudo no domínio da teoria política. Contacto:
[email protected].
52
O objetivo do nosso texto passa por, traçando algumas das principais ideias de
Richard Rorty, olhar rortyanamente para uma cena do filme A vida é bela, realizado e
protagonizado por Roberto Benigni em 1997. Para o fazer, tomaremos em especial
atenção as primeiras três obras de Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature,
Consequences of Pragmatism e Contingency, Irony and Solidarity.2* Ao contrário do que
acontece com outros autores, pensamos que no caso de Rorty não se verificam grandes
mudanças ou transformações no seu pensamento: todas as ideias parecem estar já
presentes em PMN, o livro inaugural que contém todas as sementes que irão germinar nas
obras posteriores. Porém, a implicação mais imediata deste aspeto é a de que será
necessário procurar nesses escritos posteriores o desenvolvimento e compreensão dessas
ideias iniciais.
Assim, se a proposta anti-representacionista de Rorty está já em PMN, é apenas
com a publicação posterior dos textos reunidos em CP e no primeiro volume dos seus
Philosophical Papers3 que esse novo paradigma se torna mais claro. Por outro lado, o
abandono do paradigma representacionista e epistemológico traçado em PMN assenta
num pressuposto essencial – que defenderemos infra tratar-se de um pressuposto
linguístico – que só é explicitamente abordado em alguns dos artigos de CP e, em especial,
no capítulo de CIS dedicado à contingência da linguagem.
É, de facto, essa específica consideração da linguagem que torna possível delinear
um novo paradigma filosófico, um paradigma que nos permite abandonar a influência
platónica nos nossos modos de pensar – como, por exemplo, a ideia de que devemos
encontrar uma forma de conciliar as nossas obrigações públicas com os nossos prazeres
privados. Em CIS, Rorty vem defender que não estamos obrigados a essa conciliação e
que, portanto, poderíamos manter os nossos deveres públicos de trabalhar pela construção
de uma sociedade mais justa e ao mesmo tempo os nossos prazeres privados, como
procurar orquídeas selvagens, no seu caso, ou apreciar um bom jogo de futebol, no nosso
caso. Em linguagem rortyana, diríamos que podemos continuar a ler todo o tipo de livros:
2
Daqui em diante: PMN, CP e CIS, respetivamente. Excluímos desta consideração o livro
publicado por Richard Rorty ainda antes de PMN, The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method,
de 1967, por se tratar de uma coletânea de textos de outros autores e não de uma obra original.
3
Publicado em 1991: Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers, volume I,
Cambridge, CUP.
53
quer os autores nos quais predomina o desejo de autonomia privada, quer os autores nos
quais domina o desejo de uma comunidade mais justa.
Naturalmente, isso significa abandonar a busca por uma teoria filosófica abrangente
que nos permitisse abarcar as esferas pública e privada e fazer conciliar os nossos
interesses. Mas ainda assim, defende Rorty, será possível construir uma sociedade mais
liberal e solidária – simplesmente, essa tarefa já não caberá à Teoria, mas sim a “géneros
tais como a etnografia, o texto jornalístico, a banda desenhada, o docudrama e,
especialmente, o romance” (Rorty, 1994: 19).
É por esta razão que o nosso filósofo, tornando claro o vício rortyano de esbater as
fronteiras entre literatura e filosofia, se debruça sobre os romances que poderão cumprir
melhor aquela missão de educação sentimental – no processo de se “conseguir ver outros
seres humanos como sendo ‘um de nós’ e não como ‘eles’” (Rorty, 1994: 19). É essa
incrível capacidade de nos aproximar do Outro que a literatura partilha com outras formas
de arte, como a sétima arte. Depois de Rorty, torna-se impossível não ver A vida é bela
com outros olhos.
2. O paradigma anti-representacionista
A proposta revolucionária que Rorty nos propõe em PMN é herdeira, como o
próprio filósofo reconhece, de três linhas de pensamento. Por um lado, Rorty reivindica
a herança de Martin Heidegger, na linha da crítica à metafísica de Nietzsche e cujos
desenvolvimentos mais recentes se encontram, por exemplo, em Deleuze ou Foucault;
por outro lado, reclama a influência de Ludwig Wittgenstein, nomeadamente com os
trabalhos de W. Sellars, V. O. Quine e D. Davidson na academia norte-americana; e
finalmente, chama à colação John Dewey. Estes três autores não foram escolhidos por
acaso: representam três escolas da filosofia, vistas geralmente como oponentes mas que
Rorty pretende conciliar na grande conversação que é a filosofia ocidental. Mais do que
isso, Rorty considera que as três tradições estão a caminhar por forma a cruzarem-se no
caminho do pensamento. É assim que afirma em CP:
Do meu ponto de vista, James e Dewey não estavam apenas no final do
caminho dialético que a filosofia analítica percorreu, mas estão também
54
à espera no final do caminho que, por exemplo Foucault e Deleuze,
estão a percorrer atualmente (Rorty, 1982: xviii).4
Que local é esse?
Esse local é marcado por uma mudança de paradigma: Rorty aprecia os mais
recentes desenvolvimentos da filosofia analítica e da filosofia continental e considera que
todos esses desenvolvimentos nos encaminham para uma mudança de paradigma
filosófico. E essa mudança passaria por substituirmos o atual paradigma
representacionista
por
um
paradigma
não-representacionista,
designadamente
pragmatista. Vejamos os termos dessa substituição, centrando a nossa atenção no papel
desempenhado pela linguagem.
O paradigma representacionista é aquele que marca a filosofia desde Platão mas
que foi sobretudo consolidado com a matriz cartesiana-lockiana-kantiana que imprimiu à
filosofia um forte cariz epistemológico. Para a filosofia tradicional,
Conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior à mente;
portanto, compreender a possibilidade e natureza do conhecimento é
compreender o modo pelo qual a mente se torna apta a construir tais
representações. A preocupação central da filosofia é ser uma teoria
geral da representação, uma teoria que dividirá a cultura nas áreas que
representam bem a realidade, que a representam menos bem e que não
a representam de todo (a despeito da sua pretensão nesse sentido)
(Rorty, 2004: 15).
Foi aqui que os filósofos basearam a pretensão da filosofia em ser uma área
fundamental do saber:
A filosofia enquanto disciplina vê-se então a si mesma como a tentativa
para subscrever ou derrubar as pretensões ao conhecimento elaboradas
pela ciência, a moralidade, a arte, ou a religião. Propõe-se fazer tal na
base do seu entendimento especial da natureza do conhecimento e da
mente. A filosofia pode ser fundamental relativamente ao resto da
cultura, porque a cultura é a montagem das pretensões ao conhecimento
e a filosofia adjudica tais pretensões (Rorty, 2004: 15).
Assim, de acordo com este paradigma tradicional, para que possamos falar em
conhecimento é necessário que o pensamento represente adequadamente a realidade e
essa relação de adequação caberia à linguagem, que cumpriria a função de mediação entre
pensamento e realidade. É este raciocínio que está subjacente aos trabalhos da filosofia
analítica: a linguagem deve ser analisada e considerada cuidadosamente porque é a ela
que cabe conseguirmos uma representação verdadeira do mundo.
4
Tradução nossa.
55
Simplesmente, para Rorty, a linguagem surge com outros contornos. Em PMN, o
filósofo norte-americano chama à colação os contributos de Quine e Davidson, mas é,
sobretudo, com Sellars e o ataque ao mito do dado, que Rorty desconstrói esse
fundamento da filosofia analítica. Rorty recorre a Sellars na afirmação de que “toda a
consciência de géneros, semelhanças, factos, etc., (…) é um assunto linguístico” (apud
Rorty, 2004: 167), não existindo, portanto, pensamento anterior à linguagem. Neste
sentido, a linguagem não serviria para traduzir um pensamento pré-linguístico mas
condicionaria já o próprio pensamento.
Apesar de, em CP, Rorty creditar as suas ideias relativas à linguagem ao
pensamento de Hegel, pensamos que ele poderia reivindicar a herança da linguistic turn
realizada por três filósofos alemães na transição do século XVIII para o século XIX.
Referimo-nos a Hamann, Herder e Humboldt – que Charles Taylor designa por tradição
H-H-H.5 O que estes filósofos fazem é uma crítica à conceção tradicional da linguagem,
de acordo com a qual ela cumpriria aquela função de mediação entre pensamento prélinguístico e realidade. Em sentido contrário, estes autores destacam a dimensão
constitutiva de sentido da própria linguagem. Como diz Hamann, “sem palavra, nem
razão nem mundo”,6
efetuando com isto, como destaca Cristina Lafont, uma
destranscendentalização da Razão:7 deixamos de poder reivindicar uma razão universal
e incondicionada, pois ela é determinada por cada língua particular. É neste sentido que
Humboldt, anos mais tarde, faz destacar a ideia, tão cara ao romantismo, da
Weltanschauung: cada língua particular apresenta-nos uma visão do mundo,
condicionada pelas suas estruturas gramaticais, pelo sentido do vocabulário, pelo peso
das próprias palavras.8
Ora, parece-nos que Rorty pode ser visto como herdeiro desta linguistic turn
continental na medida em que destaca a dimensão constitutiva da linguagem e o modo
como ela contém todas as possibilidades de compreensão e relação com o mundo. Em
CIS, Rorty fala em contingência da linguagem: “o mundo não fala; só nós é que falamos”
(Rorty, 1994: 26). Usamos estas palavras mas poderíamos usar outras – a questão é que
5
Em Taylor, Charles (1985), «Theories of Meaning», in TAYLOR, Charles, Human Agency and
Language. Philosophical Papers I, Cambridge, Cambridge University Press, p. 256.
6
Cf. Hamann, «Metakritik über den Purismus der Vernunft (1784).
7
Cf. Lafont, Cristina (1993), La Razón como Lenguaje, Madrid, Visor Dis.
8
O modo como Richard Rorty pode ser visto como herdeiro desta tradição linguística está a ser
trabalhado por nós em tese de doutoramento. Aqui, por razões de espaço, não desenvolvemos este aspeto
de modo aprofundado.
56
não nos é possível não usar palavras, não conseguimos ter uma relação com o mundo e
a realidade que dispense a linguagem. E porque não podemos aceder direta e
imediatamente ao mundo, porque não conseguimos ir ao mundo ver como o mundo é sem
linguagem, então nunca poderemos saber se a nossa linguagem representa
adequadamente a realidade.
A partir daqui, o paradigma representacionista surge como meramente opcional –
nada nos obriga a ele. E se não estamos obrigados a ele, talvez seja possível encontrar um
outro paradigma que se revele mais útil. Se o paradigma representacionista cumpriu um
importante papel na construção do pensamento moderno, agora poderia ser finalmente
abandonado. Rorty reconhece o desconsolo, destacado por Nietzsche, de se perder o
conforto metafísico – mas isso seria compensado pela adoção de um novo paradigma mais
útil e vantajoso para atingirmos os objetivos imaginados pelo nosso projeto coletivo.9
É esta então a proposta de Rorty: que abandonemos um pensamento
representacionista, que deixemos de lado a busca incessante e infrutífera pela Verdadecom-letra-maiúscula, pela Realidade-com-letra-maiúscula, e passemos a concentrar os
nossos esforços na construção da sociedade com que sonhamos desde o projeto das Luzes:
uma sociedade mais liberal e mais solidária.
3. Contingência, Ironia e Solidariedade
É o amadurecimento destas ideias anti-representacionistas, ao longo da década
seguinte, que vai permitir a Rorty resolver o dilema que o tinha levado a estudar filosofia
na adolescência. Esse dilema pessoal é descrito por Rorty na sua popular autobiografia,
«Trotsky and the Wild Orchids», e resulta de duas experiências pessoais conflituantes:
por um lado, um ambiente familiar altamente politizado, de influência trotskista, que lhe
havia ensinado que o sentido de uma vida boa é a luta contra as injustiças sociais; e, por
outro, um prazer intenso que Rorty retirava da procura por orquídeas selvagens em redor
da sua casa, prazer que se revelava perfeitamente inútil face aos deveres públicos que
devia prosseguir. E foi este o dilema que, como diz Rorty, o levou a estudar filosofia:
9
In Rorty, Richard (1982), Consequences of Pragmatism, Minneapolis, University of Minnesota
Press, p. 166.
57
Eu desejava um modo de ser tanto esnobe intelectual e moral quanto
amigo da humanidade – um recluso fora de moda e um combatente da
justiça. Estava bastante confuso, mas razoavelmente certo de que, em
Chicago, eu descobriria como os adultos conseguiram resolver o
estratagema que eu tinha em mente (Rorty, 2005: 35).10
Na verdade, “eu imaginava que, se me tornasse um filósofo, poderia alcançar o
cume da ‘linha divisória’ de Platão – o local ‘para além das hipóteses’ em que o brilho
total da Verdade irradia a alma purificada do sábio e bom: um campo elísio dotado de
orquídeas imateriais” (Rorty, 1999: 9).
Ora, a publicação de CIS, em 1989, é a resposta de Rorty a este dilema – mas tratase de uma resposta particular e por isso referimos um processo de amadurecimento. É
que esta obra significou para Rorty a perceção de que permanecer agarrado àquele dilema
é continuar a jogar o jogo platónico que nos impele a pensar que tem de existir um lugar
onde as hipóteses desaparecem e a sabedoria se encontra com a vontade. Nesse sentido,
CIS pode ser visto como a libertação dessa armadura – libertação que é feita desafiando
os limites convencionados para o papel desempenhado pela teoria filosófica e por outros
gêneros literários. É igualmente um livro paradoxal na medida em que contesta o papel
desempenhado pela teoria…a partir de uma construção teórica.
Esse trabalho teórico que se pretende anti-teórico começa, desde logo, com a
desconstrução da possibilidade de acesso à verdade: na medida em que a nossa linguagem
é meramente contingente, não temos como oferecer fundamentos filosóficos absolutos
(tarefa a que se dedicam os filósofos dentro do paradigma representacionista). E, por isso,
seremos ironistas, conscientes da contingência da nossa linguagem. Para Rorty,
trabalhamos já e sempre a partir do quadro liberal herdado do iluminismo, a partir de um
etnocentrismo a que não podemos escapar, mas que podemos melhorar.
E é esse o contributo que Rorty pretende dar: mostrar como, a partir do
enquadramento liberal que nos antecede, podemos pensar a mudança e o melhoramento
tendo em vista a construção de uma utopia liberal. Esse caminho passa, como vimos, pelo
abandono do paradigma representacionista e da obsessão platónica pela Verdade – e
dispensa-nos de ter que lidar com o dilema do Rorty adolescente: é possível, como o
filósofo norte-americano gosta de dizer, ler os dois tipos de livros, tanto aqueles que
10
Usamos aqui (como na seguinte) a tradução portuguesa de Paulo Ghiraldelli Jr. na edição de
Pragmatismo e Política no Brasil, em 2005. O texto original foi publicado em 1999: Philosophy and Social
Hope, London, Penguin Books, pp. 3-20.
58
servem o nosso processo de autoaperfeiçoamento, busca e visita interior e pessoal, como
aqueles que promovem um comportamento mais solidário na esfera pública.
Com isto, a filosofia perde o protagonismo que reivindicava tradicionalmente e
abre-se o horizonte para a entender como apenas mais um género literário.
Simultaneamente, os restantes géneros literários passam a poder assumir um papel de
destaque na promoção do tipo de sociedade com que sonhamos. É isso que Rorty destaca
quando se refere a certos livros que importam “para as nossas relações com os outros,
para nos ajudar a notar os efeitos das nossas ações sobre as outras pessoas. São esses os
livros que são relevantes para a esperança liberal e para a questão de como conciliar a
ironia privada com essa esperança” (Rorty, 1994: 179).
São livros que ajudam a tornarmo-nos menos cruéis e que podem “ser divididos em
1) livros que nos ajudam a ver os efeitos de práticas e instituições sociais sobre os outros
e 2) livros que nos ajudam a ver os efeitos das nossas própria idiossincrasias privadas
sobre os outros.” Como exemplos do primeiro tipo temos os livros sobre escravatura,
pobreza ou preconceitos: “Tais livros ajudam-nos a ver de que modo práticas sociais que
aceitámos sem questionar nos tornaram cruéis” (Rorty, 1994: 179). Já
[o] segundo tipo de livro é acerca dos modos como certos tipos
específicos de pessoas são cruéis para outros tipos específicos de
pessoas. Por vezes, as obras de psicologia servem esta função, mas os
livros mais úteis deste tipo são obras de ficção que mostram a cegueira
de um determinado tipo de pessoa relativamente à dor de outro tipo de
pessoa. (…) Em especial, tais livros mostram de que modo as nossas
tentativas no sentido da autonomia, as nossas obsessões privadas pela
realização de um determinado tipo de perfeição nos podem tornar cegos
relativamente à dor e à humilhação que causamos. São esses os livros
que dramatizam o conflito entre deveres para com o eu e deveres para
com os outros. (Rorty, 1994: 180)
1984 de George Orwell é o principal exemplo de Rorty para o primeiro tipo de
livros; alguns livros de Nabokov, em especial Lolita, são exemplo do segundo tipo – e é,
por essa razão que, de seguida, o filósofo norte-americano se dedica a uma análise
literário-filosófica de Orwell e Nabokov.
A principal semelhança em que insistirei neste capítulo e no próximo é
a de que os livros, tanto de Nabokov como de Orwell, diferem dos dos
escritores de que falei na segunda parte – Proust, Nietzsche, Heidegger
e Derrida – na medida em que é a crueldade, e não a autocriação que é
o seu assunto fulcral. (…) Nabokov escreveu acerca da crueldade a
partir de dentro, ajudando-nos a ver o modo como a busca privada da
bem-aventurança estética produz crueldade. Orwell, na maior parte da
sua obra, escreveu sobre a crueldade a partir do exterior, do ponto de
vista das vítimas. (Rorty, 1994: 185)
59
Para o nosso objetivo interessa-nos a análise realizada por Rorty ao trabalho de
Nabokov e por isso centraremos nela a nossa atenção.
4. Faz quá-quá mas não é um pato
A reflexão levada a cabo no sétimo capítulo de CIS pretende redescrever o
esteticismo de Nabokov.11 Se Nabokov encoraja, como diz Rorty, uma visão puramente
estética da sua obra e apartada da dimensão moral,12 “essa leitura ignora a questão que
considero ser ilustrada pelo que de melhor oferece a prática de Nabokov: só o que é
relevante para o nosso sentido do que deveríamos fazer connosco ou pelos outros é que é
esteticamente útil.” (Rorty, 1994: 210) E Rorty expõe de forma particularmente acutilante
as relações entre a dimensão estética e a dimensão moral na obra do escritor russo.
O principal aspeto destacado pelo filósofo norte-americano na prática de Nabokov
é o trabalho desenvolvido por este em torno da incuriosidade:
Quer Kinbote, quer Humbert são delicadamente sensíveis a tudo quanto
afete ou dê expressão à sua própria obsessão e inteiramente
desinteressados sobre tudo quanto afete os outros. Tais personagens
dramatizam, como nunca antes tinha sido dramatizada, a forma
particular de crueldade com que Nabokov mais se preocupava – a
incuriosidade (Rorty, 1994: 199).
Um dos momentos que melhor demonstra essa incuriosidade é apontado pelo
próprio Nabokov no posfácio de Lolita quando, ao enumerar “os pontos secretos” da obra,
se refere à passagem do barbeiro de Kasbeam, “que me custou um mês de trabalho”
(Nabokov, 2013: 334). A passagem é a seguinte:
Em Kasbeam, um barbeiro muito velho fez-me um medíocre corte de
cabelo muito: fez conversa fiada sobre o filho que jogava basebol e, a
cada interlocução, cuspia-me no pescoço e de vez em quando limpava
os óculos no meu babete, ou interrompia a tesoura que manejava
estremecidamente para mostrar recortes desbotados de jornal, e eu
estava de tal maneira distraído que fiquei chocado quando percebi,
apontando ele para uma fotografia emoldurada por entre os obsoletos
11
O esteticismo de Nabokov fica bem patente nesta afirmação do posfácio a Lolita: “Para mim,
uma obra de ficção só existe na medida em que me proporcione o que me permito chamar sem rodeios “um
estado de graça estético”, isto é, a sensação de estar não sei como e não sei onde em ligação com outros
modos da existência onde a arte (curiosidade, ternura, simpatia, êxtase) é a norma. Não há muitos livros
assim. Todo o resto, ou é lixo localizado ou aquilo a que alguns chamam Literatura das Ideias, que amiúde
é lixo localizado a chocar em grandes blocos de gelo, cuidadosamente transmitidos de geração em geração,
até que vem alguém com um martelo e dá uma bela machadada no Balzac, no Gorki ou no Mann” (Nabokov,
2013: 333).
12
Nas linhas que precedem a passagem da nota de rodapé anterior, Nabokov diz: “Há piedosas
almas que sem dúvida acusariam Lolita de falta de sentido por não lhes ensinar nada. Eu não leio nem
escrevo ficção didática e, malgrado a asserção de John Ray, Lolita não tem qualquer moral debaixo da
manga” (Nabokov, 2013: 333).
60
champôs pardos, que o jovem atleta de bigode morrera há trinta anos.
(Nabokov, 2013: 227-8)
Rorty nota que “[e]sta frase exemplifica a falta de curiosidade de Humbert – a sua
falta de atenção para tudo quanto seja irrelevante para a sua própria obsessão” (Rorty,
1994: 205). Mas trata-se de uma passagem que pode facilmente escapar ao leitor – e, por
isso, Nabokov chama a nossa atenção para ela no posfácio, considerando que, apesar de
ser um dos “nervos do romance”, “estas e outras cenas serão lidas bastante por alto, sem
especial reparo” (Nabokov, 2013: 335). Assim, o escritor, diz-nos Rorty, “consciente,
com pena e desprezo, de que a maior parte dos seus leitores não chegará lá, diz-nos no
posfácio aquilo que perdemos” (Rorty, 1994: 206). Nesse momento,
[v]em à ideia do leitor que ele próprio foi tão desatento a essa frase que
custou um mês e a esse filho de bigode morto como Nabokov suspeitou
que iria ser. O leitor, que assim se revela a si próprio subitamente como,
se não hipócrita, pelo menos cruelmente incurioso, reconhece o seu
semelhante, o seu irmão em Humbert e em Kinbote. Subitamente, Lolita
tem uma “moral” (Rorty, 1994: 206).
E é aqui que Rorty, magnificentemente, relaciona o prazer estético com a dimensão
moral – no sentido de que, como vimos, “só o que é relevante para o nosso sentido do que
deveríamos fazer connosco ou pelos outros é que é esteticamente útil”:
Mas a moral não é manter-se afastado de rapariguinhas mas reparar no
que se está a fazer e em particular reparar no que as pessoas estão a
dizer. É que pode acabar por se verificar, e muitas vezes verifica-se, que
as pessoas estão a tentar dizer que sofrem. É precisamente na medida
em que se está preocupado em agir para chegar ao tipo de bemaventurança sexual privada de cada um, tal como Humbert, ou à bemaventurança sexual estética privada de cada um, tal como leitor de
Lolita que não apanhou a frase sobre o barbeiro a primeira vez, que é
provável que as pessoas sofram ainda mais (Rorty, 1994: 206).
É este incrível truque realizado por Rorty que expõe o seu próprio paradoxo, quando
tendo afirmado que não cabia à teoria diminuir a crueldade, acaba por construir uma
divagação teórica que permite uma autorreflexão propiciadora de nos tornarmos mais
sensíveis ao sofrimento daqueles com quem lidamos. E é este incrível exercício rortyano
que nos parece particularmente útil para repensarmos de que modo uma qualquer forma
de arte nos pode fazer questionar a nossa própria incuriosidade – e que queremos aplicar
ao filme A vida é bela.
Na medida em que o enredo do filme é bem conhecido, ficaremos por uma breve
apresentação. A história centra-se em Guido Orefice, personagem protagonizada pelo
próprio Roberto Benigni, um judeu italiano que trabalha como servente num hotel e que
61
trava relações com Dr. Lessing, um médico apreciador de adivinhas que encontra em
Guido um excelente parceiro de resolução. A partir de um ponto de vista sempre cómico,
a personagem cativa os espectadores, rendidos ao seu modo alegre de viver e, sobretudo,
à relação que tem com o filho e à forma envolvente e criativa como vai tentando proteger
a criança do deserto do real. Ora, quando Guido é levado para um campo de concentração
reencontra aquele médico, responsável pela avaliação física dos prisioneiros. O Dr.
Lessing consegue que Guido vá servir o jantar dos oficiais e num momento a sós diz-lhe,
Grasso,grasso
brutto,brutto
tutto giallo in verità,
se mi chiedi dove sono
ti rispondo qua qua qua
Camminando faccio poppò
chi sono dimmelo un pò.13
Ao que se segue, “Ajuda-me, Guido.”
Em entrevista a Carlo Celli, Benigni diz-nos que não há solução para o enigma, que
o objetivo passava por destacar a falta de sentido da situação.14 Mas qualquer pesquisa
na internet revelará um elevado grau de interesse nas possibilidades de resposta. Mas o
que dirá esta procura de resposta sobre os espectadores do filme?
Pensamos poder aplicar aqui uma reflexão paralela àquela que Rorty realizou a
propósito do barbeiro de Kasbeam. Quando questionado pela adivinha, Benigni afirma
que apenas pretendia chamar a atenção para a irracionalidade da situação, o absurdo do
real – em certo sentido, podemos especular, para a própria irracionalidade e
incuriosidade do Dr. Lessing. De facto, a cena torna evidente a incuriosidade do médico,
que, envolvido na sua obsessão privada e no seu próprio sofrimento, se tornou incapaz de
tomar em atenção o que o rodeava. Simultaneamente, a situação cria um estímulo
intelectual que interpela o espectador mas que, na mesma medida, revela a sua própria
incuriosidade – a incuriosidade daquele que se sentiu intelectualmente provocado pelo
enigma apesar do absurdo e irracionalidade da situação. Subitamente o filme tem uma
moral: quando estamos demasiado envolvidos na prossecução dos nossos prazeres
13
Uma tradução aproximada será: “Gordo, gordo, feio, feio. Todo amarelo, na verdade. Se me
perguntares onde estou, eu respondo quá-quá-quá. Quando caminho faço pó-pó. Quem sou eu? Diz-me.”
14
In Carlo Celli (2001), The Divine Comic: The Cinema of Roberto Benigni,
Lanham/Maryland/London, The Scarecrow Press, Inc., p. 108
62
intelectuais tornamo-nos menos atentos ao sofrimento daqueles que nos rodeiam e menos
capazes de cumprir os nossos deveres para com os outros.
São, então, obras de ficção como esta – que nos oferecem “pormenores sobre os
tipos de crueldade de que nós próprios somos capazes” – que permitem “redescrever-nos
a nós próprios.” E “[f]oi por esta razão que o romance, o filme e o programa de televisão
vieram a substituir, de forma gradual mas constante, o sermão e o tratado, enquanto
veículos principais de mudança e progresso no plano da moral” (Rorty, 1994: 19). Ainda
que isso não dispense o papel de uma certa teoria, de uma certa filosofia que, liberta da
obsessão pela Verdade, nos permite novos olhares sobre o mundo.
Referências bibliográficas
RORTY, Richard. Pragmatismo e Política, trad. port. Paulo Ghiraldelli Jr., São Paulo,
Livraria Martins Fontes Editora, 2005.
______ . A Filosofia e o Espelho da Natureza, trad. port. Jorge Pires, Lisboa. Dom
Quixote (ed. or. Philosophy and the Mirror of Nature, 1979), 2004.
______ . Contingência, Ironia e Solidariedade, trad. port. Nuno Ferreira da Fonseca,
Lisboa, Editorial Presença (ed. or. Contingency, Irony, and Solidarity, 1989), 1994.
______ . Consequences of Pragmatism, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1982.
NABOKOV, Vladimir. Lolita, trad. port. Margarida Vale de Gato, Lisboa, Relógio
D’Água (ed. or. Lolita, 1955), 2013.