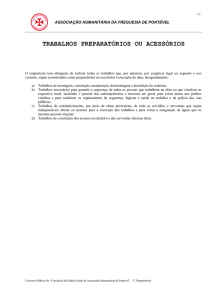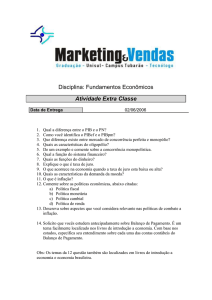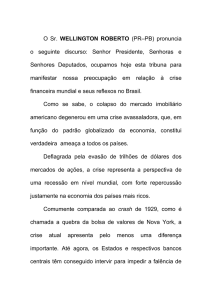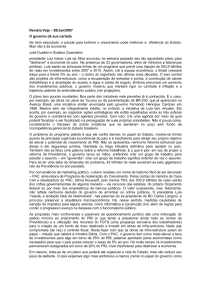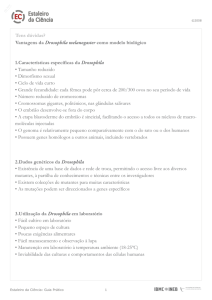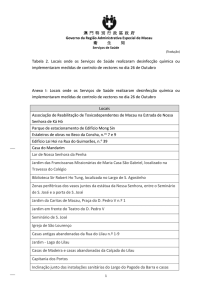Pensamento do Dia
Economistas analisam a Economia, o Brasil
e o mundo na mídia diária
07/
07/08 03 2009
Domingo, 08 de Março de 2009 |O Estado de S.paulo Versão Impressa
Respostas à crise: usos do PAC
Pedro S. Malan
"Há coisas que nós sabemos que sabemos, há coisas que sabemos que não
sabemos, há coisas que não sabemos que sabemos e há coisas que não sabemos
que não sabemos." A tirada foi utilizada por um aprendiz de filósofo da era Bush,
Donald Rumsfeld, que não conseguiu se manter como ministro da Defesa de seu
país. Talvez porque houvesse coisas em demasia que ele não sabia que não sabia,
combinadas com outras que ele sabia que sabia, mas não lhe era possível
reconhecer de público.
Na grave crise que ora vive a economia mundial - a mais globalmente sincronizada
retração econômica desde os anos 30 do século passado - também é possível
identificar esses quatro tipos de "coisas", e muitos "Rumsfeld-types" nos mundos
das finanças, da economia e da política. Afinal, a dúvida é da natureza humana e o
futuro, sempre incerto. E como escreveu Fernando Pessoa, "todas as frases do livro
da vida, se lidas até o final, terminam numa interrogação". Em espanhol, dizem
com orgulho alguns amigos "castellanos", também começam, com o sinal de
interrogação invertido. Lembrança, talvez, de que perguntas devem ser feitas
antes, e não depois da ocorrência de eventos desastrosos.
Muitas perguntas sobre as quatro possibilidades "rumsfeldianas" no que diz respeito
a riscos não foram feitas de forma clara por mercados financeiros, governos (e suas
agências), enquanto o mundo vivia o auge (2003-2007) do mais intenso e amplo
ciclo de expansão da história moderna. Agora, em plena crise, as perguntas mais
relevantes são menos relacionadas às causas da crise, importantes como sejam, e
mais ligadas à natureza e à qualidade das respostas - nacionais, regionais e
globais, que governos (e mercados) podem e devem dar à crise com vista à sua
superação e à retomada gradual do crescimento.
O restante deste artigo se restringe a um tema especifico: os possíveis usos do PAC
(o plural é deliberado) como um dos elementos do conjunto de respostas do Brasil
não só para enfrentar a crise atual como para nos reposicionar mais
favoravelmente na região e no mundo à medida que a crise global vá sendo
enfrentada e eventualmente superada ao longo dos próximos trimestres ou anos.
Escrevo no mês seguinte à apresentação dos "novos números" do PAC,
originalmente apresentado dois anos atrás, no início de 2007, como um apanhado
de tudo o que já vinha sendo realizado ou planejado não só no orçamento de
investimentos do governo federal (vale lembrar, algo em torno de apenas 1% do
PIB), nos planos das empresas estatais, bem como nos investimentos privados
então planejados para 2007-2010. Este somatório incluía, conforme a apresentação
de 2007, nada mais, nada menos que 1.646 "ações de governo a serem
monitoradas" de forma centralizada na Casa Civil, das quais 912 seriam "obras" e
734 "estudos e projetos em andamento". Seu valor era estimado em R$ 504
bilhões, a esmagadora maioria investimentos que empresas estatais estavam, em
fins de 2006, contando realizar no triênio 2007-2010.
No início de 2008, a apresentação da avaliação do PAC havia aumentado para mais
de 2 mil as ações do governo sendo monitoradas no âmbito do PAC (mais de mil
obras e outros tantos estudos e projetos em andamento). Agora, início de 2009, o
País toma conhecimento de que o governo decidiu adicionar R$ 132 bilhões para o
triênio 2007-2010, levando o total de R$ 504 bilhões para R$ 646 bilhões, além de
elevar a estimativa de gastos do programa após 2010 de R$ 189 bilhões para R$
502 bilhões, apresentando o PAC como um programa de R$ 1,148 trilhão em seu
conjunto, para 2007-2013. Para muitos, puro keynesianismo contracíclico.
Mas é difícil evitar a percepção de que o PAC vai aumentando em número de obras,
projetos e estudos em andamento e, especialmente, no seu valor total estimado
para os sete anos que vão de 2007 a 2013 (!), porque, pelos critérios adotados
pelo governo, são considerados novos investimentos todas as obras que, mesmo já
previstas ou conhecidas ou planejadas e executadas por Estados, ainda não haviam
sido incorporadas ao PAC. Como escrevi neste espaço há cerca de um ano, "o PAC é
tudo, no PAC tudo cabe". Poderia adicionar: "É como um generoso, compreensivo e
abrangente coração de mãe." Conforme bem ilustra texto recente da portaria de
órgão da Presidência da República que define o PAC como "um instrumento de
universalização dos benefícios econômicos e sociais para todas as regiões do
Brasil".
Ora, é sabido que quando tudo é prioritário nada é prioritário. Desde pelo menos os
anos 1950 (primórdios do BNDES e da Petrobrás, governo JK) se sabe da
importância da seletividade e do critério na escolha dos projetos. E mais
importante: capacidade de execução, eficiência no gerenciamento e cobrança de
resultados. O papel do investimento público pode ser fundamental para romper
certos pontos de estrangulamento em infraestrutura, para sinalizar novas
oportunidades de investimento ao setor privado, para sugerir áreas em que ambos,
público e privado, podem atuar conjunta ou complementarmente. Os programas
Brasil em Ação/Avança Brasil, do governo FHC, definiram, após cuidadosos estudos,
entre 40 e 50 projetos prioritários. O modelo de gerenciamento dos projetos,
conduzidos pela equipe chefiada com competência e profissionalismo por José Paulo
Silveira, com sua longa experiência na Petrobrás, é hoje utilizado com sucesso por
vários Estados brasileiros que também definiram relativamente poucos projetos
prioritários, compatíveis com a capacidade de execução do Estado e suas
empresas.
A contribuição do PAC para o Brasil depende, a meu ver, não de seu uso como
instrumento de retórica política associada à campanha eleitoral que se avizinha,
mas de maior seletividade, efetiva gestão e resultados operacionais concretos sobre
os níveis e a eficácia do investimento público e privado - um dos maiores desafios
de médio prazo a enfrentar na área econômica.
Pedro S. Malan, economista, foi ministro da Fazenda no governo FHC
E-mail: [email protected]
Maílson da Nóbrega
Economista, foi Ministro da Fazenda Gov. Sarney Veja 2103/11-03 2009
Crise: como chegamos
a este ponto?
"O detonador da crise nasceu de intervenção do
estado: a norma pela qual se financiou a casa própria
para milhões de americanos sem condições de pagar"
Essa pergunta não cala. O desastre aconteceu nas barbas de multidões de analistas
financeiros, economistas, comentaristas, banqueiros, reguladores. Pouquíssimos
previram a crise. Sofisticados modelos de avaliação de riscos falharam. Como
entender?
Uma saída tola é culpar o neoliberalismo. A crise teria sido efeito da crença cega no
mercado. Ocorre que não existe livre mercado no sistema financeiro. Na verdade, o
detonador da crise nasceu de intervenção do Estado, qual seja a norma pela qual
se financiou a casa própria para milhões de americanos sem condições de pagar.
Analistas de esquerda adoram apontar a desregulação. A culpa seria da revogação
do Glass-Steagall Act, no governo de Bill Clinton. Essa lei, dos anos 30, separava as
atividades de banco comercial das de investimento, mas ficou gagá com a
sofisticação e a globalização dos mercados. Penalizava os bancos americanos.
Crises existem desde que o atual sistema financeiro nasceu, por volta do século
XVII. Foram mais de 300, em média uma por década.
O sistema opera alavancado: empresta mais do que seu capital. Atua descasado: o
prazo dos empréstimos é maior que o dos recursos captados. Ao calcular riscos e
selecionar clientes, contribui para o melhor uso dos recursos e, assim, para
aumentar a produtividade.
Tudo isso turbina a economia, mas sujeita o sistema a crises periódicas. Surgem
bolhas financeiras. Como sempre, as lições costumam ser ignoradas. A regulação
não consegue antecipar os riscos das inovações.
Felizmente, entre as crises o mundo progride. Até porque elas são prova da
inventividade, da curiosidade e do gosto pelo desafio que marcam a experiência
humana. Depois das crises, a regulação se renova. Até a próxima crise.
O mau diagnóstico pode resultar em má regulação e inibir as inovações. Assim, o
correto é buscar explicações como a do longo período de alta liquidez e juros baixos
(o mesmo de outras crises). A liquidez aumentou com o excesso de poupança da
China, da Rússia, do Brasil e de outros países. Os juros baixos vieram da reação do
Federal Reserve ao estouro da bolha das empresas de tecnologia e aos ataques
terroristas em 2001.
Tal qual em outras ocasiões, a prudência foi relaxada e surgiram incentivos
perversos causadores de comportamentos irresponsáveis. Crises seriam coisa do
passado. Os modelos de avaliação apontariam os riscos com precisão. Enquanto
isso, o sistema de remuneração premiava o risco excessivo. Polpudos salários e
bônus eram pagos, mesmo se as operações se tornassem ruinosas.
Os bancos erraram. Os reguladores falharam. Foi o caso da resistência de Alan
Greenspan a regular os derivativos. Mas houve outras falhas, especialmente porque
os reguladores dificilmente chegam à frente dos problemas. São menos talentosos
(e menos remunerados) que os que promovem inovações e aprendem a contornar
as limitações das normas.
Não foi apenas uma questão de ganância, como se diz. Valeu mais a defeituosa
calibragem dos riscos. Os bancos foram influenciados por uma década de bons
resultados (a Era de Ouro). O exagero na assunção de riscos, que quebrou muitos,
originou-se de falhas nos testes realizados com base em premissas e modelos de
avaliação insuficientes.
Em estudo recente, Andrew Haldane, diretor do Banco da Inglaterra, deu
interessantes razões para tais falhas. Uma delas é a miopia em face do desastre.
Significa a propensão a subestimar a probabilidade de eventos adversos,
especialmente dos tipos ocorridos em passado distante. Motoristas reduzem a
velocidade quando presenciam um acidente, mas tendem a acelerar quando o
desastre fica mais distante na sua memória.
Haldane afirma que a excessiva confiança deu lugar à arrogância e à cegueira
coletiva quanto aos riscos, que afetou reguladores, banqueiros e analistas. O
estudo está disponível em
www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2009/speech374.pdf.
O papel desses estudos não é buscar culpados, mas mapear a dinâmica da
gestação da crise, como ocorre em desastres aéreos, os quais não acontecem por
uma única causa. Medidas para evitar a repetição dos erros não podem basear-se
em visões moldadas por preguiça mental ou por ideologia.
Maílson da Nóbrega é economista
-x-x-x-
LUIZ GONZAGA BELLUZZO
Irrealismo da economia real
As flutuações da economia são
fenômenos compatíveis com o
progresso tecnológico e o
aumento do bem-estar
INSTIGADO pelo quadro sombrio da crise financeira, o economista Willem Buiter,
em seu blog no "Financial Times", desferiu petardos de grosso calibre contra as
cidadelas, já em ruínas, do pensamento econômico dominante. O alvo principal são
as teorias monetárias ditas novo-clássicas. Para Buiter, a revolução novo-clássica
das expectativas racionais -associada aos nomes de Robert Lucas e Thomas
Sargent, entre outros- "tornou-se autorreferencial (...) impulsionada por uma lógica
interna e por quebra-cabeças estéticos, em vez de motivada pelo desejo de
compreender como a economia funciona (...). Assim, os economistas profissionais
estavam despreparados quando a crise eclodiu".
Lucas e outros não circunscreveram suas aventuras científicas ao campo da teoria
monetária. Invadiram a área da teoria dos ciclos econômicos com a elegante teoria
dos ciclos reais. Essa inovação teórica dos estetas novo-clássicos é descendente da
dicotomia entre economia real e economia monetária, que concede privilégios às
forças reais em contraposição aos motivos monetários. Os ciclos econômicos são
produzidos por choques desferidos no sistema por alterações nas preferências de
agentes -empresários ou consumidores- que, na busca de maximizar a sua funçãoutilidade, suscitam alterações na matriz tecnológica e na estrutura do consumo. Os
choques são absorvidos, mesmo diante de informações incompletas, pela percepção
dos agentes racionais a respeito da trajetória provável da economia. Isso impede
que os protagonistas cometam erros sistemáticos. Assim, a ação racional dos
indivíduos reconduz a economia a uma nova situação de equilíbrio.
As flutuações da economia são fenômenos compatíveis com o progresso
tecnológico, o aumento do bem-estar e o equilíbrio a longo prazo. A condição para
que isso aconteça é deixar aos mercados competitivos a incumbência de produzir os
incentivos para a alocação mais eficiente da riqueza ao longo do tempo. Aos
governos nada resta senão cruzar os braços para não turbar os sinais que o
mercado emite e não produzir "ruído" nas informações.
Posso estar exagerando, mas a prosopopeia da Nova Economia, espalhada como
dogma na segunda metade dos anos 90 e início do terceiro milênio, era uma versão
popularesca das teorias novo-clássicas do ciclo real, cujo patriarca é o economista
Robert Lucas. As justificativas para a prosperidade americana nos anos 90 e no
início do terceiro milênio apoiavam-se em grande medida nessas fantasias. Estava
ocorrendo, diziam, um choque de produtividade na economia dos EUA, que, entre
curtas flutuações, garantiria crescimento duradouro. Teria havido um deslocamento
forte das condições da oferta. Não foi por acaso que Greesnpan, apesar de ter
denunciado, em meados da década, a "exuberância irracional", revelou, por vezes,
em seus pronunciamentos, simpatia pela tese dos formidáveis ganhos de
produtividade, o que, no final das contas, justificaria o avanço fantástico dos preços
das ações e dos imóveis.
A realidade do ciclo financeiro e monetário deixou na pior a teoria do ciclo real.
LUIZ GONZAGA BELLUZZO , 66, é professor titular de Economia da Unicamp. Foi chefe da
Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda (governo Sarney) e
secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (governo Quércia).Folha de
S.Paulo 08 03 2009
-x-x-x-x-x—x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Economista ARMÍNIO FRAGA Entrevista ao Jornal do
Brasil 08 03 2009
“Podemos ter um juro
mexicano”
Ex-presidente do BC vislumbra espaço para queda do juro real até 4% nos
próximos meses
Ricardo Rego Monteiro
O Banco Central deve reduzir a Selic novamente em 1 ponto percentual já na
próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nas próximas terça e
quarta-feira, em Brasília. Espaço, pelo menos, há. O diagnóstico é de alguém que
conhece – e muito bem – não só os segredos do BC, mas também as engrenagens
do mercado mundial de capitais: o ex-presidente da autoridade monetária, e atual
sócio da Gávea Investimentos, Arminio Fraga Neto. Em entrevista exclusiva ao
Jornal do Brasil, na sede da gestora de recursos, no Leblon, Fraga manifestou
preocupação não só com a ameaça do protecionismo, como também com os limites
de alcance do arsenal hoje disponível pelo governo na área fiscal.
Sem medo da inflação, mas preocupado com os gastos correntes, vê possibilidades
de sucesso em uma política que combine ousadia na área monetária e
conservadorismo no campo fiscal. Nada de mexer, segundo ele, no que tem dado
certo, com a revisão, por exemplo, da meta de superávit primário, hoje de 3,8%.
Até porque – justifica –, em tempos de crise, um ligeiro estouro da meta não seria
interpretado pelos agentes econômicos como insucesso do governo. O país,
lembrou, tem um histórico de cumprimento do indicador.
Hoje, afirma, há claras perspectivas de o Brasil alcançar, nos próximos meses, uma
taxa real de juros de 2% a 4%, no nível de países emergentes como México e
Chile. A seguir, a entrevista:
Parece que o governo está percebendo que o arsenal disponível não é tão vasto
quanto se pensava. O arsenal é realmente limitado?
Olha, eu diria que o arsenal fiscal é limitado. O governo introduziu em bora hora o
mecanismo de compensação, este fundo (soberano), que vai ser utilizado este ano.
Além disso, aquela conta dos 0,5%, do PPI (Programa Piloto de Investimentos) não
foi totalmente utilizada no ano passado e deve também ser utilizada. Esses dois
mecanismos devem ser usados este ano, o que representa algum espaço muito
bem-vindo, no momento.
Os gastos públicos, hoje, são sustentáveis?
Há uma preocupação com a composição do pacote de resposta à crise. A
expectativa é que seja dada mais ênfase nos investimentos, que são gastos nãopermanentes. A médio prazo, temos um problema sério de crescimento do gasto
público, que já beira os 40% do PIB. Isso, para um país de renda média, é um
percentual extremante elevado. É um fator limitador. Então, de fato, na área fiscal
existem limitações. Agora, do lado monetário, existe, sim, espaço para maior
distensão.
Há mais espaço para novas reduções dos juros, como a última, de 1 ponto
percentual?
O Banco Central iniciou um novo ciclo de reduções dos juros com um corte de 1
ponto e a expectativa do mercado é que continue neste ritmo. Eu acho que é por
aí. Devido ao meu dia-a-dia como gestor de investimentos, procuro não ser muito
específico neste tema. Aliás, é algo que eu fiz desde que saí do Banco Central.
O senhor se sente desconfortável?
Eu me sinto desconfortável como ex-presidente do BC e como gestor. Mas acredito
que há espaço para redução dos juros por duas razões. Uma é conjuntural: a
economia tem desacelerado em ritmo bastante forte. A outra é estrutural, pois
acredito que o Brasil construiu as bases para que os juros convirjam, aqui, para
padrões internacionais. Países parecidos como o Brasil têm um juro real que oscila
entre 2% e 4%. Se você olhar o México, o Chile ou alguns países asiáticos, o juro é
até mais baixo. E eu acredito que, se o Brasil preservar esta base macroeconômica
que até há pouco tempo chamávamos de tripé, podemos chegar a um juro
mexicano.
Não é mais um tripé?
O que era um tripé, que incluía metas de inflação, câmbio flutuante e
responsabilidade fiscal, hoje diria que é um quadripé, porque o Brasil também tem
tido, ao longo dos anos, a preocupação com a estabilidade financeira. Nunca o país
embarcou nessa canoa furada de hiper-liberalização. Ao contrário...
E sempre recebeu críticas do mercado por isso...
Certo, mas, em função do nosso histórico de crises, tomamos um certo cuidado ao
longo dos anos. Eu fui um dos que passaram pelo Banco Central com esta
preocupação – e acho que valeu a pena. Então, esse conjunto de fatores, tanto
conjunturais quanto estruturais, indica que há bastante espaço para o BC trabalhar.
Os dados que têm saído agora sobre a inflação apontam para queda, sim.
Mas a diretoria do BC manifestou preocupação, na semana passada, com uma
suposta lentidão na queda da inflação...
E a preocupação é legítima, pois o câmbio se depreciou bastante nos últimos
tempos. Isso certamente tem algum impacto na inflação mas, contrabalançando o
efeito do câmbio, temos a queda nos preços das mercadorias, que têm caído pelo
mundo afora. Temos redução no nível de atividade e um arrefecimento na
expansão do crédito. Por isso, é bem possível que a inflação caia ao longo dos
próximos meses. Se isso acontecer, não tenho dúvidas de que o BC vai utilizar a
taxa de juros. Faz todo sentido. Vejo hoje a possibilidade concreta de uma redução
responsável – e isso é bom sublinhar – das taxas de juros. E isso não deveria
assustar, dado o momento que vivemos.
Então nosso arsenal não está esgotado...
Acho que não é correto dizer que o Brasil está de mãos atadas – o Brasil não está.
Quer dizer, o juro brasileiro, no início desta crise, estava em patamar bastante
elevado. Em um determinado momento cheguei a achar que até havia certo
impasse entre a atitude das áreas fiscal e monetária.
O tradicional dilema entre Ministério da Fazenda e o BC?
Tradicional, na seguinte linha: o BC, observando a expansão dos gastos imaginava:
"Bom, não vou poder ser muito agressivo na política monetária porque já está
acontecendo uma expansão agressiva do lado fiscal". E o Ministério da Fazenda,
talvez olhando para o BC, antes do início do que sinalizou ser um processo de
redução, dizendo: "Bom, este BC é muito conservador. Vou ter que compensar do
lado de cá com uma política fiscal mais expansionista". Quando o ideal seria um
pouco mais de cautela do lado fiscal e o aproveitamento do espaço para redução
dos juros. E penso que hoje caminhamos para esta combinação que é muito
virtuosa, melhor do que o oposto.
Mesmo com a diminuição da arrecadação de impostos?
Acho que, na área fiscal, como a arrecadação tem caído com a redução do nível de
atividade, o Tesouro vai ter que tomar um certo cuidado. E, no entanto, na área
monetária, à medida que a economia se desacelere e a inflação caia – como há
sinais de que vem caindo –, a taxa de juros vai poder ser utilizada pelo BC com
mais tranquilidade. O destaque no ranking internacional dos juros tende a
desaparecer.
Domingo, 08 de Março de 2009 – Jornal do Brasil
Os efeitos da globalização na maior
economia
Ernesto Lozardo
ECONOMISTA
A crise financeira dos Estados Unidos transformou-se numa crise econômica global.
Há sérios riscos de que por conta das medidas e pacotes fiscais bilionários norteamericanos para salvar a nação de uma depressão, cresça a onda de protecionismo
comercial entre nações. Há o risco de haver um agravamento do desemprego no
mundo e da insolvência bancária nos países desenvolvidos. Há riscos de recessão
em todos os setores das economias desenvolvidas e certamente afetará o
crescimento e o emprego nas nações emergentes. Como pode a crise financeira de
um país, seja qual for seu peso na economia internacional, como foi à crise dos
países asiáticos (1997), da Rússia (1998) e a do Brasil (1999) e a dos Estados
Unidos (2007), afetar a economia de outros países? Será que a globalização da
produção, do capital e da informação pode ser responsabilizada pela crise
econômica e financeira atual?
A globalização é o processo de expansão do capitalismo. A globalização da
produção, dos padrões de consumo, dos investimentos e da tecnologia representa
uma grande oportunidade para a humanidade ter acesso a toda a oferta de bens,
serviços e capital existentes no mercado internacional. Os desequilíbrios monetários
entre a oferta dos países emergentes, com reservar crescentes, e países
desenvolvidos, déficits na conta corrente, possibilitaram o financiamento da
demanda desses últimos. O fim desse desajuste exigirá soluções específicas e
corajosas por parte dos países desenvolvidos.
A causa da crise financeira dos Estados Unidos não é a globalização, mas a
globalização agravou a fragilidade dessa economia. Desde o governo Reagan, é
crescente o déficit público, com um pequeno intervalo durante o governo Clinton.
Esse déficit tem sido atendido por meio de emissão de títulos públicos e dólares
absolvidos no mercado internacional. O presidente Obama alertou os norteamericanos: até quando os chineses continuarão financiando nosso déficit? Há
décadas que o nível de endividamento das famílias, governos e bancos cresce sem
que haja um aumento da poupança interna. O déficit público é crescente e será
ainda maior daqui para frente. O sistema de saúde está falido e não será
equacionado nas próximas duas décadas.
Os Estados Unidos cresceram com a poupança e reservas dos países emergentes.
Uma falsa acumulação de riqueza. A escassez de recursos desse país para atender
aos investimentos públicos e privados tem sido contornada por meio de
empréstimos internacionais. Isso se deve ao crescimento de mais de uma década
do comércio internacional e de a China ter colocado mais de 400 milhões de
chineses no mercado de trabalho, aumentando renda e poupança global. Esse fato
fez com que houvesse uma elevada oferta de dinheiro no mercado internacional. Os
juros caíram, as bolsas de valores multiplicaram seus volumes de negócios, o
comércio, a produção e o consumo mundial seguiram o mesmo caminho. Dessa
realidade pode-se concluir que, enquanto os países emergentes navegaram na
onda do crescimento econômico mundial com suas economias mais adequadas à
globalização, os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a União Européia,
acumularam riqueza sem uma estrutura fiscal e financeira que possibilitasse o
crescimento sustentável. O custo dessa fragilidade está na base da crise financeira
atual.
Os Estados Unidos são os causadores da crise global. A saída não será fácil e de
elevado custo para todas as nações. O programa de estimulo do governo Obama, o
qual traz uma combinação de estímulos fiscais, aumento do crédito e investimentos
públicos não trará resultados imediatos no crescimento e na redução do
desemprego. Como o estímulo ao crescimento será gradual, o crescimento da renda
será lento. Com baixo crescimento da renda, o crédito ficará empoçado. O foco da
urgência não está na expansão do crédito, mas na restauração da confiança no
sistema financeiro por meio de regulamentações mais austeras na gestão dos
ativos bancários. O pacote de resgate do sistema financeiro apresentado pelo
secretário do Tesouro, Timothy Geithner, não é uma solução, mas, por enquanto,
um remendo. Sejam quais forem os pacotes de estímulos e de resgate da
credibilidade no sistema financeiro dos Estados Unidos uma coisa é certa: nações
desenvolvidas e emergentes sofrerão as conseqüências de um país que não se
ajustou aos desafios da globalização.
Domingo, 08 de Março de 2009 – Jornal do Brasil
OUTRAS NOTÍCIAS:
ALBERT FISHLOW
Pagando o preço
Será que a população americana está preparada para pagar o preço de
permitir expansão global sustentável?
SEIS MESES atrás, quase todo mundo acreditava que a desaceleração nos EUA
viesse a afetar só os países desenvolvidos, e ainda assim só de modo marginal. Os
países conhecidos como Brics (Brasil, Rússia, Índia e China) não só escapariam
ilesos mas sua expansão continuada garantiria que qualquer recessão mundial
viesse a ser curta.
Uma vez mais, a opinião dominante estava errada. Os resultados que vêm se
acumulando quanto ao desempenho econômico de todos os países no trimestre
final de 2008 e no início de 2009 destruíram essa expectativa. O declínio que
vivemos é quase universal, e há revisões para menos praticamente todas as
semanas. Ainda na semana passada, a União Europeia se reuniu em sessão
especial em resposta aos súbitos problemas dos países do leste da Europa, alguns
dos quais já estão sendo auxiliados pelo FMI.
Agora nós compreendemos. A crise é necessariamente internacional, devido às suas
raízes financeiras. As finanças são a essência da globalização, quer se trate de
bancos, fundos de pensão, seguradoras ou Bolsas.
Os bancos são especiais, porque eles criam dinheiro. Com seus empréstimos
subitamente valendo cada vez menos, eles estão perdendo seu capital e se veem
forçados a reduzir o crédito por um fator múltiplo. Todos os novos arranjos dos
últimos anos, como obrigações caucionadas de dívida, veículos estruturados de
investimento, "credit default swaps" etc., com os quais os bancos "sofisticados"
obtinham lucros e pagavam imensas bonificações, complicaram imensamente o
problema. Eles representam exemplos cristalinos de obscurecimento, em lugar de
transparência. Os custos cada vez mais altos do resgate precisam ser pagos, agora.
As imensas intervenções dos BCs de muitos países ajudaram, mas não muito. As
exportações e importações -o lado real da globalização- também caíram
abruptamente. Um motivo para isso é a falta de financiamento suficiente, porque
os sistemas bancários se contraíram. Os recursos públicos terão de cobrir essa
disparidade, ou a queda continuará para além das atuais projeções.
O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, visitou os EUA em busca de apoio a
um New Deal internacional, que ele espera venha a emergir na conferência do G20,
em Londres, no mês que vem. Barack Obama, para surpresa de ninguém, tem o
compromisso de reforçar a regulamentação do setor financeiro e de promover a
coordenação internacional mais ampla que será necessária. Com sorte, isso
funcionará em curto prazo e bastará para evitar que o declínio mundial continue.
As reformas potenciais são substanciais. Entre elas, será necessário um FMI maior,
capaz de conceder empréstimos imediatos e sem precondições; uma câmara de
compensação centralizada para todos os "credit default swaps" e outros
derivativos; e um mecanismo para evitar as potenciais consequências adversas da
expansão fiscal e da expansão da dívida soberana simultâneas em muitos países
desenvolvidos.
Mas não existe solução mundial para promover um índice de poupança mais alto
nos EUA, no futuro, o que representa um fator igualmente necessário para prevenir
futuras recaídas. Essa necessidade surge ao mesmo tempo em que as projeções
indicam a necessidade de aumento substancial na arrecadação tributária federal, a
fim de cumprir obrigações de previdência e de serviços de saúde expandido em
uma sociedade que está envelhecendo. Esses requisitos nacionais são parte
igualmente importante de um New Deal internacional duradouro.
Será que a população americana está preparada para pagar o preço?
ALBERT FISHLOW , 73, é professor emérito da Universidade Columbia e da Universidade
Berkeley.
-x-x-x-
Domingo, 08 de Março de 2009 | Versão Impressa O Estado de S.Paulo
Risco de recessão pressiona BC a cortar
taxa de juro Leandro Modé e Sérgio Gobetti
Queda de 17,2% na produção industrial em janeiro faz analistas reverem projeções
de crescimento para 2009
Os dados mais recentes sobre o desempenho da economia brasileira
surpreenderam até o mais pessimista dos analistas. Agora, eles não só dizem que
aumentou a possibilidade de que o Brasil enfrente uma recessão técnica este ano convenção econômica caracterizada por dois trimestres seguidos de recuo do
Produto Interno Bruto (PIB), a soma das riquezas de um país. Mas também já
falam que 2009 pode ser um ano de estagnação ou até de retração na economia.
Por tabela, o péssimo resultado da produção industrial divulgado na sexta-feira
reforça as pressões para que o Banco Central (BC) seja mais agressivo nos cortes
da taxa básica de juros (Selic), a começar pela reunião desta semana. Um juro
menor estimula a atividade econômica, já que torna o crédito mais barato.
No BC, a visão predominante é que há oportunidade para cortar os juros. Mas como
a economia deve reagir no segundo semestre e pode pressionar os preços não seria
prudente um corte muito agressivo.
O risco de recessão cresceu porque uma queda do PIB no quarto trimestre de 2008
é dada como certa. A projeção mais frequente para o número, que será divulgado
terça-feira pelo IBGE é de queda de 2% ante o terceiro trimestre. Para que a
recessão se caracterize, portanto, basta novo recuo no 1º trimestre. Até sextafeira, era uma possibilidade prevista por poucos analistas. Agora, depois da
divulgação do pífio resultado da produção industrial, muitos admitem a hipótese.
"A chance (de recessão técnica) aumentou muitíssimo", diz o sócio da MCM
Consultores e ex-diretor do BC, José Julio Senna. "Diria mais: a chance de um PIB
negativo para 2009 é muito grande." A estimativa da MCM é de um crescimento do
PIB anual entre 1% e 1,5%. Senna avisa, porém, que o número será revisado para
baixo.
Por causa desse cenário, a provável queda de 1 ponto porcentual da Selic (para
11,75% ao ano) na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana
já é considerada por muitos especialistas modesta para o momento atual.
"Os indicadores recentes de preços e atividade sugerem fortemente que o Copom
não vai surpreender se votar, ainda que sem consenso, pela redução da Selic em
1,5 ponto porcentual", escreveu, em relatório, o economista do Banco Fator, José
Francisco Gonçalves.
O diagnóstico que o presidente Lula recebeu de conselheiros econômicos, como
Delfim Netto e Luiz Gonzaga Belluzzo, é de que a crise exige redução mais veloz da
taxa Selic. "A liberdade operacional do BC foi irrestritamente respeitada nos últimos
seis anos de gestão Meirelles, mas o debate é democrático", diz o senador Aloizio
Mercadante (PT-SP), que participou da reunião.
No BC, a avaliação é de que as empresas ainda estão se livrando dos estoques
acumulados no fim do ano. O processo de melhora, portanto, é lento e só deve
começar a ficar mais claro a partir de março. A visão predominante no BC é que o
País ainda pode fechar o ano com um crescimento, talvez em torno de 2%. Além
disso, o BC ainda teme os efeitos da alta do dólar na inflação. A palavra de ordem,
como tem sido desde o início da gestão de Henrique Meirelles, é cautela.
-x-x-x-
Folha de S. Paulo 08 03 2009
Americanos ficam US$ 16,5 tri mais
pobres
Montante corresponde a 13 PIBs do Brasil e foi perdido principalmente
com a queda das Bolsas e do valor dos imóveis
Com patrimônio reduzido, americanos compram cada vez menos e tentam
poupar, alimentando círculo vicioso que derruba a economia
FERNANDO CANZIAN
DE NOVA YORK para a Folha de S.Paulo 08 03 2009
Os norte-americanos estão enfrentando um súbito processo de empobrecimento
que já destruiu cerca de US$ 16,5 trilhões da riqueza disponível entre as famílias
nos últimos 15 meses. O valor equivale a mais do que tudo o que os EUA produzem
em um ano e a quase 13 PIBs do Brasil. Só de setembro para cá, as famílias
ficaram US$ 9,5 trilhões mais pobres.
Os números são do IIF (Instituto de Finanças Internacionais), que reúne 380
grandes bancos, e foram divulgados em antecipação a dados semelhantes a serem
publicados pelo Fed (o banco central dos EUA) nos próximos dias.
São duas, basicamente, as principais fontes de poupança dos norte-americanos:
seus imóveis e as aplicações que detêm, geralmente na Bolsa de Valores. Mesmo o
dinheiro para a educação dos filhos são normalmente investidos em fundos de
ações, que concentram mais da metade da riqueza das famílias, estimada hoje em
US$ 61,4 trilhões.
Há ainda uma parcela menor de aplicações em contas correntes remuneradas e em
outros tipos de investimentos.
Embora os preços dos imóveis continuem a cair sem parar nos EUA há quase três
anos, a velocidade da queda diminuiu nos últimos meses. O impacto maior e direto
da "destruição da riqueza" das famílias está concentrado na Bolsa, onde fica a
poupança líquida que pode ser sacada a qualquer hora.
De setembro de 2008 para cá, houve uma perda líquida entre as famílias de US$
7,8 trilhões nesses investimentos na Bolsa (de US$ 33,6 trilhões para 25,8
trilhões). Como comparação, a perda com imóveis é estimada em US$ 1,8 trilhão
no período.
Obviamente, a queda dos índices no mercado de ações é o termômetro dessa
perda. No ano, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York despencou cerca de 25%.
Isso não significa que não possa haver uma reação, e as famílias voltarem a ficar
um pouco mais ricas.
O problema, porém, é que ao terem sua poupança dizimada, as famílias estão
comprando cada vez menos e tentando poupar (o nível de poupança em janeiro
atingiu o maior patamar em 14 anos).
Essa combinação de fatores só reforça mais o já vicioso círculo em que a economia
norte-americana está metida: o crédito secou, os consumidores compram menos,
as empresas demitem e cada vez mais as famílias evitam gastar.
Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou que mais 651 mil
empregos foram cortados em fevereiro nos EUA, o que só reforça o ciclo descrito
acima.
"Não há nenhum sinal de fim desse processo no horizonte. Em março ainda
teremos o mesmo e não vejo nenhuma melhora para abril", afirma Tig Gilliam,
executivo da Adecco, empresa de recrutamento de mão-de-obra para grandes
companhias, como o Wal-Mart.
O fenômeno de "destruição da riqueza" não é só americano (o índice FTSEurofirst
300, referência para as principais ações na Europa, está no seu nível mais baixo em
12 anos), mas em nenhum outro país há tanto dinheiro de pessoas físicas investido
em ações.
Além da perda nos valores das ações, os dividendos pagos pelos papéis aos
investidores está hoje no nível mais baixo desde 1938, segundo cálculos da agência
Standard & Poor's.
Tamanha é a queda no mercado desde outubro de 2007 que cresceu dez vezes o
número de ações negociadas abaixo de US$ 1, levando a Bolsa de Nova York a
rever sua política de retirar de negociações papéis abaixo desse valor.
Fantasma da Depressão
O empobrecimento das famílias, seu endividamento recorde e a necessidade de
poupança são tão grandes que redes de varejo gigantes nos EUA, como Kmart e
Sears, já ressuscitam modalidades de vendas que ficaram populares na Grande
Depressão dos anos 1930.
A principal é conhecida como "layaway", uma espécie de consórcio que ajuda
consumidores indisciplinados a poupar antes de adquirir o produto. O cliente paga
aos poucos pelo artigo e só o leva para casa quando tiver pago 100% do valor.
Já o Wal-Mart, maior rede de varejo do mundo, iniciou estratégia agressiva para
distribuir cartões de débito entre os estimados 35 milhões de americanos sem
contas bancárias.
Os cartões podem ser "carregados" com dinheiro nas lojas, mas a empresa informa
que muitos consumidores que costumavam gastar cerca de US$ 1.500 ao mês
cortaram suas despesas para US$ 800, valor médio do seguro-desemprego nos
EUA.
Mesmo assim, o resultado do varejo em fevereiro nos EUA só não foi negativo
porque a venda cresceu 5,1% no Wal-Mart.
"Pouquíssimas redes têm boas estratégias de vendas voltadas exclusivamente para
as classes mais pobres, mas quem as serve direito é rei em um momento como o
atual", diz Bernard Sosnick, analista da Gilford Securities.
-x-x-x-x-
Há fim na crise sem fim?
Gilson Caroni Filho
SOCIÓLOGO
Alguns, esquecidos da História, batem às portas da tumba de Keynes e clamam por
um "novo New Deal" e um "novo Bretton Woods". Outros, sequiosos de História,
pretendem decretar "o fim do capitalismo" por um ato voluntarista. Outros ainda,
convictos de serem os senhores da História, procuram, apenas e como sempre,
preservar seus próprios privilégios. Mas há uma questão fundamental que, embora
inevitável, não vem sendo explicitada.
A "crise atual" não começou em setembro último, ou em 2007, ou há uns poucos
anos. Vem de muito mais longe, desde os anos 20, quando o dinamismo do
capitalismo industrial deu sinais de esgotamento. Essa não é uma exegese teórica,
e sim uma constatação factual, evidenciada pela Grande Depessão que se seguiu. E
que só teve fim com a Segunda Guerra Mundial.
Para sair de uma depressão, nada como uma economia de guerra, em que se
obtém o pleno desenvolvimento das forças produtivas e o pleno emprego da
capacidade produtiva. Com a vantagem adicional de que a maior parte do que é
produzido é logo destruído, e tem que ser reposto.
Da Segunda Guerra emergiram duas superpotências hegemônicas, ambas
capitalistas: os Estados Unidos (capitalismo de mercado) e a União Soviética
(capitalismo de Estado). Do lado das economias de mercado, orquestrou-se um
conjunto de mecanismos e instituições destinadas a reconstruir e regular as trocas
internacionais, imperfeito e que privilegiava a potência hegemônica: o sistema de
Bretton Woods. Para limitar em parte a hegemonia estadunidense e permitir um
mínimo de equilíbrio, estabeleceu-se a paridade entre o ouro e o dólar, que se
tornou a moeda internacional de referência e de reserva de valor.
Esse conjunto de fatores impulsionou as grandes expansão e prosperidade
capitalistas do pós-guerra nos países centrais, coadjuvado pelo petróleo abundante
e barato, crescentemente oriundo da periferia do sistema e que propiciou ainda a
industrialização da agricultura – a chamada Revolução Verde dos anos 50.
Durou 25 anos. Em 1971, com os Estados Unidos enfrentando desemprego, inflação
e "duplo défcit" crescente, e já a caminho da recessão, o governo Nixon decretou o
fim da paridade ouro-dólar (o que, na prática, os EUA já vinham fazendo,
despejando dólares sem lastro em outros países para financiar seu déficit comercial
e, com isso, exportando inflação) e, de uma penada, jogou Bretton Woods no lixo.
O resultado foi a total desorganização dos preços internacionais, a começar pelo
câmbio. Pois a partir daí os EUA podiam meter a mão na máquina e imprimir
quantos dólares quisessem. De quebra, o dólar – que continuou a ser a moeda de
referência – pôde se desvalorizar à vontade, tornando as exportações
estadunidenses mais competitivas. (Emblematicamente, 1971 marcou também o
surgimento dos microprocessadores, com o lançamento do chip Intel 4004, seguido
do aumento exponencial e vertiginoso da capacidade de processamento, regido
pela lei de Moore. Mais e mais, os ganhos de produtividade se deslocavam da
economia real para a economia "virtual".)
As consequências não tardaram. Primeiro, os "choques do petróleo" de 1973 e
1978, em que os países da Opep procuraram de um lado compensar o valor real
decrescente de suas exportações e, de outro, aproveitar a enxurrada de
petrodólares (as grandes corporações petrolíferas, claro, passaram a conta
adiante). Depois, a "crise da dívida" dos países subdesenvolvidos. Pois os EUA
também elevaram brutalmente suas taxas de juros. E empréstimos e
financiamentos – muitos estimulados ou concedidos diretamente por organismos
como o Banco Mundial – contraídos a juros correntes por taxas de 4% ou 5% ao
ano, passaram a ser amortizados a 10%, 15% ou 20 %. E a "crise da Rússia",
presa num torniquete econômico devido à não- conversibilidade de sua moeda. E a
"crise da Ásia"...
À medida que se esgotavam também os meios de externalizar a perda de
dinamismo, a crise refluiu para o centro: os EUA. Veio a quebradeira das empresas
de poupança e empréstimo, as savings & loans, socorridas com dinheiro público.
Veio o estouro das "ponto com", que em seu curto apogeu foram saudadas como
portento da "nova economia da informação". Vieram as seguidas falências
fraudulentas, das quais a mais bombástica foi a da Enron, pelo porte e pela
intangibilidade de seus supostos ativos.
Essas crises setoriais, embora com repercussões internacionais, ficaram ainda
restritas em alcance. O pior estava por vir.
Desde o final da década de 70, notada, mas não somente, na era Reagan, políticas
de desregulação, "liberalização", privatização e concentração de propriedade e
renda fortaleceram mais ainda o setor financeiro em detrimento das atividades
produtivas. Fusões e aquisições acirraram os processos de conglomeração e
oligolipolização, com as áreas-fim das empresas engolidas passando a se
subordinarem a direções que as viam apenas como ferramenta de especulação e
fonte de aportes financeiros, gerentes e executivos vindos do "chão da fábrica"
sendo deslocados pelos "rapazes de terno Armani". Não menos emblemática foi a
aquisição hostil do já estranho conglomerado RJR Nabisco (o que as linhas de
produção de cigarros e salgadinhos têm em comum?) por um grupo de
especuladores financeiros sem qualquer ligação com a indústria quer de produtos
de fumo, quer de alimentos.
Riqueza e capacidade de gerar dinheiro se transferiram do concreto para o
intangível. Dinheiro passou a gerar dinheiro como que por partenogênese, sem ter
que transitar pela produção de bens e serviços. Livre de freios, desenraizado de
ativos reais, circulando pelo mundo a um simples clique, o capital especulativo
teceu e estendeu internacionalmente uma teia de "produtos", na verdade esquemas
de pirâmide cujo único propósito era passar o mico adiante, empacotando-o e
embalando-o – por um prêmio – com "criatividade" e "inventividade".
Como toda pirâmide, esse magnífico edifício teria de desabar mais cedo ou mais
tarde. Calhou de ser nas hipotecas subprime, que eram particularmente perversas
porque, em tese, lastreadas em ativos reais, cujos valores na verdade eram uma
fração daqueles pelos quais eram repassados em derivativos de segundo, terceiro,
quinto, décimo, enésimo grau. E funcionais: era essa espiral especulativa que
sustentatava a economia dos EUA, via consumo das famílias, responsável por dois
terços do PIB estadunidense, e movido à dívida. As famílias se endividavam cada
vez mais para continuarem consumindo cada vez mais – cada vez mais
perdulariamente, e cada vez mais consumindo intangíveis. E a espiral especulativa
sustentava, via dívida, a economia dos países "emergentes".
A "crise" logo se espalhou, em ritmo acelerado, primeiro pelo "sistema financeiro
globalizado", rapidamente pela economia supostamente "real". Significativamente,
via crédito: o que é crédito senão a disposição de financiar e contrair dívidas, e a
aposta em que essas dívidas são pagáveis?
O que parecia terra era poeira, e o vento levou. Qualquer pseudo- solução que seja
apenas "mais do mesmo", despejar dinheiro no sorvedouro especulativo,
conseguirá no máximo produzir mais uma bolha, tão efêmera quanto as anteriores.
Obama conseguiu que o Senado aprovasse, por margem mínima, um pacote de
US$ 838 bi para serem gastos em 10 anos. Isso não basta.
A pergunta de 64 quintilhões de dólares, volumosa demais para ser ignorada, é: de
onde tirar um novo dinamismo para a economia capitalista? A resposta pode estar
no terceiro parágrafo desse artigo.
"Para sair de uma depressão, nada como uma economia de guerra, em que se
obtém o pleno desenvolvimento das forças produtivas...". Afegãos já foram
apresentados à ideia na primeira fatura apresentada por Obama. Mas o leque pode
incluir Irã, Paquistão e muitos mais. É a "lógica" do velho capitalismo. Sua
inelasticidade constitutiva.
Domingo, 08 de Março de 2009 – Jornal do Brasil
08 de março Dia Internacional da Mulher – A vitória e
o reconhecimento de uma economista
A diva (economista) que encantou a
indústria naval brasileira
Gisela Mac Laren encarou desafio de comandar 3 mil homens
Natalia Pacheco
Casos de mulheres no comando de empresas brasileiras ainda são raros e a
exceção é ainda maior no setor naval, segmento cuja cadeia industrial é
historicamente dominada pelos homens. Mas Gisela Mac Laren resolveu encarar o
desafio e comandar o estaleiro da família com pulsos fortes.
A bela, que comanda no mínimo 3 mil homens quando há encomendas no estaleiro,
deu uma guinada na Mac Laren Oil, que na década de 90 chegou a pedir
concordata. Gisela assumiu a presidência do negócio em 2000, quando seu pai se
aposentou. Mas não conseguiu o cargo de bandeja. Para comandar o estaleiro,
fundando em 1938 pelo avô, Arthur Frederico Mac Laren, a diva do setor naval
brasileiro teve que provar para seu pai que tinha competência para administrar
todas as feras que estavam por vir.
Gisela mostrou que não estava para brincadeira desde cedo. Aos 15 anos, começou
a trabalhar no estaleiro como escriturária, contra a vontade do pai, que não queria
ver a menina no meio de tantos homens. Bateu o pé e começou a escrever uma
trajetória audaciosa. Gisela até tentou ser cantora, se matriculou em uma escola de
música, mas largou e seguiu para os Estados Unidos. Foi estudar Economia na Nova
University, na Flórida. A decisão já tinha como objetivo ajudar o pai na
administração da empresa.
Após superar o primeiro desafio de encarar o pai, ao voltar ao Brasil, Gisela
encontrou muitos outros percalços, o mais comum foi a desconfiança. Ninguém do
setor acreditava que ela poderia recuperar o estaleiro, que não andava bem das
pernas havia anos, apesar de ter sido um dos maiores do Brasil na década de 70,
quando a indústria naval brasileira viveu seu auge.
– Eu nem era recebida na Petrobras – lembra.
Entretanto, a relação atual da estatal com o estaleiro vai de vento em polpa. Tanto
que o Mac Laren Oil está construindo um dos três primeiros diques secos do país,
obra orçada em US$ 70 milhões. O dique, que vai abrigar a construção e a reforma
de plataformas semi-submersíveis e embarcações offshore, será concluído até o fim
de 2010.
– Hoje, meu maior desafio é finalizar esse dique. Já superei as barreiras do
preconceito e da desconfiança – revela Gisela.
Nervos de aço
Gisela afirma que se virar em três – empresária, mãe e mulher – não é fácil, mas é
extremamente compensador. Mãe de dois filhos e divorciada, ela sua a camisa para
dar conta de tantas responsabilidades e revela que o segredo é não deixar que uma
tarefa interfira nas outras.
– Tem que ter equilíbrio. Quando estamos no trabalho temos que nos dedicar
inteiramente a ele e quando estamos com a família devemos curti-la – diz.
Mas as coisas nem sempre foram assim tão fáceis. Para enfrentar as feras, inclusive
os funcionários do estaleiro, a bela engrossava a voz e ficava firme. E funcionário
arredio não tem vez com Gisela.
– Eu só falo três vezes – conta.
Às vezes, a empresária tem que controlar o seu jeito duro e pragmático com os
filhos.
– Eu fico tanto no sim e no não, que esqueço o jeito terno de mãe. Mas procuro
ficar mais leve em casa, apesar de estar sempre com o telefone ligado para se algo
acontecer no trabalho – admite.
Gisela não tem hora para chegar no estaleiro, mas também entra madrugada
trabalhando, fora as constantes idas à Brasília, em busca de mais iniciativas a favor
do setor naval, que ganhou um programa de revitalização no primeiro governo
Lula, por meio das encomendas da Transpetro.
Mesmo com todas essas tarefas, a diva do estaleiro ainda arruma tempo para
cuidar de si. Aliás, a beleza de Gisela arranca suspiros de muitos.
Audácia
Os objetivos de Gisela assustam o empresariado brasileiro, mas a empresária
confirma que vai lutar pela construção de boa parte das 40 plataformas previstas
para o pré-sal. Por isso, o estaleiro passa por modernizações, além da construção
do dique seco. O Mac Laren Oil e a Petrobras já negociam a construção da
plataforma P-61, avaliada em US$ 1,6 bilhão. Mas as empresas estudam novos
valores para a unidade em função da crise financeira internacional. A plataforma
será construída em 34 meses, após a assinatura definitiva do contrato.
Fora isso, o estaleiro tem vários programas sociais voltados para a capacitação de
mão-de-obra, como o Futuro certo, que visa a contratar jovens de abrigos e
orfanatos, o Meu Potencial, que prevê a contratação de portadores de deficiência
física e Síndrome de Down e o Mulher Naval que visa a maior inserção de mulheres
no setor. Além desses projetos, o estaleiro e a Secretaria de Administração
Penitenciária do Rio de Janeiro firmaram convênio no ano passado para utilização
de mão-de-obra de mulheres sentenciadas em regime aberto e semi-aberto. Aliás,
um dos objetivos de Gisela é ampliar a capacitação de mulheres na indústria naval,
ainda dominada pelos homens.
– A mulher tem uma firmeza manual muito maior do que a do homem. Muitos
bebem e, por isso, têm dificuldade de concentração no trabalho – conta.
A história se repete
Assim como seguiu os passos do pai e do avô, os filhos de Gisela Mac Laren já
querem acompanhar a mãe no estaleiro, mas ela ainda segura um pouco a cria em
casa. Como toda mãe, quer que os filhos ainda aproveitem a juventude e estudem
mais. Entretanto, confessa que está cada vez mais difícil mantê-los fora do
estaleiro.
– Eles têm um interesse enorme, mas eu ainda estou segurando um pouco. Não
quero que tenham a mesma história que eu, que comecei muito nova – explica.
O estaleiro
A meta de Gisela é fechar 2009 com faturamento de US$ 150 milhões. Em 2008, o
estaleiro fez alguns reparos na P-17, em navios e módulos de apoio.
Mas a construção do dique seco vai muito além das plataformas do pré-sal. O
estaleiro pretende receber encomendas internacionais com a conclusão da obra.
Para tirar o dique do papel, o Mac Laren Oil e o estaleiro Jurong, de Cingapura,
firmaram uma parceria que envolve o aporte de tecnologias por parte do Jurong e a
cessão das instalações do Mac Laren. O estaleiro brasileiro tem duas unidades, uma
em Ponta da Areia e outra em Ilha da Conceição, ambas na cidade de Niterói, no
Rio de Janeiro. A primeira unidade tem uma área de 25 mil metros quadrados e a
segunda, 60 mil metros quadrados, com capacidade para construir embarcações de
até 90 metros de comprimento. O Mac Laren tem capacidade para processar 6 mil
toneladas de aço por ano.
Hoje, a história do estaleiro é bem diferente da de 15 anos atrás. Para não fechar
as portas em meados dos anos 90, a empresa teve de aceitar um contrato de
reforma de 25 mil orelhões para a Telemar. Apesar da dificuldade, Gisela não se
abateu e prometeu virar o jogo. E conseguiu. Qual foi a receita para superar tantos
desafios? Gisela, revela sem grandes mistérios:
– Encarar o rojão sem medo. Competência não é questão de gênero, mas de
determinação. Hoje, as mulheres estão tão profissionais quanto os homens –
garante.
Domingo, 08 de Março de 2009 – Jornal do Brasil