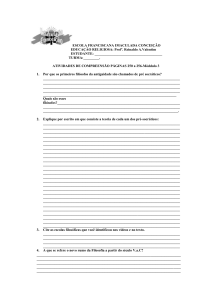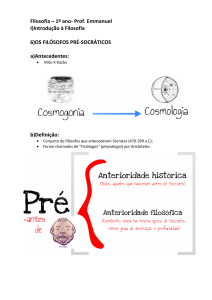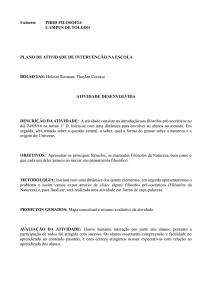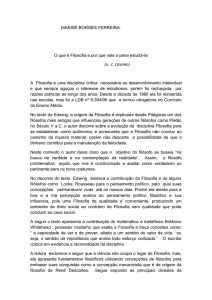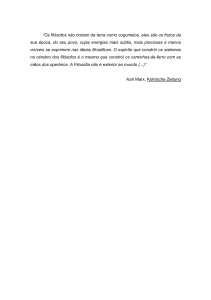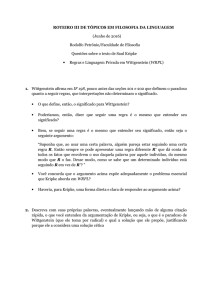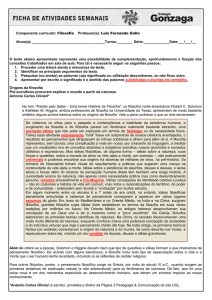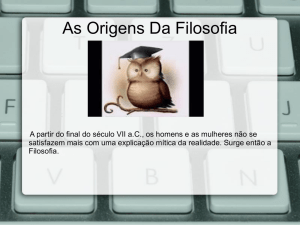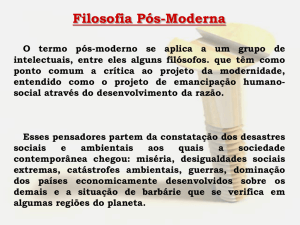O novo movimento da filosofia
Rachel Nigro1
K. Anthony Appiah inicia seu artigo "A Nova Nova Filosofia" publicado na Revista The
New York Times em dezembro de 20072, descrevendo uma pesquisa muito interessante. O caso é
o seguinte: imagine um diretor de empresa que deve decidir sobre a adoção de um novo
programa que trará lucro e também ajudará a preservar o meio ambiente. O diretor diz: "não me
importo com as consequências ambientais, o importante é o lucro". E autoriza a adoção do
programa. Agora, imagine a mesma situação, exceto que o programa a ser adotado irá destruir o
meio ambiente. O diretor responde do mesmo modo: "pouco me importa o meio ambiente, o
importante é o lucro". E, como previsto, o projeto aumenta a lucratividade da empresa e destrói a
natureza.
Uma pesquisa perguntou se, nos dois casos apresentados, o diretor teria agido
intencionalmente, ou seja, se, no primeiro caso, ele teve a intenção de proteger a natureza e se,
no segundo caso, ele teve a intenção de destruir o meio ambiente. E o resultado parece
surpreendente: apenas 23% disseram que houve intenção no primeiro caso (em que a natureza é
preservada), enquanto que 82% responderam que houve intenção no segundo caso, isto é, que o
diretor agiu intencionalmente ao autorizar o programa que destruiu o meio ambiente. Essa
assimetria pode sugerir diversas leituras, sobretudo quando tal pesquisa é feita por um filósofo
com vistas a produzir um texto de filosofia.
Como nos explica Appiah, este estudo é parte do recente movimento conhecido como
"filosofia experimental", que vem modificando drasticamente a maneira como os filósofos
pensam sobre si mesmos. Não apenas porque filósofos não são acostumados a recolher
1
Doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), professora do
departamento de Direito da Puc-Rio e bolsista doutor do projeto Ética e realidade atual: o que podemos saber, o
que devemos fazer (www.era.org.br).
2
Kwame Anthony Appiah, filósofo da Universidade de Princeton é autor, dentre outros, do livro Experiments in Ethics, publicado em 2008. O artigo aqui resenhado pode ser encontrado em: http://www.nytimes.com/2007/12/09/magazine/09wwln‐idealab‐t.html?_r=1&pagewanted=2. 16/03/2011 Acessado em informações, mas porque muitos se definem pela recusa em fazer esse tipo de pesquisa.
Tradicionalmente, os filósofos não observam, não experimentam, não mesuram, não calculam.
Os filósofos refletem. Valorizam, acima de tudo, os "experimentos de pensamento", mas a
palavra-chave ainda é "pensamento". Ou, como afirmou o presidente de uma ilustre associação
filosófica, a Aristotelian Society: "se alguma coisa pode ser perseguida numa poltrona, essa coisa
é a filosofia".
Mas um indócil grupo de filósofos está convencido de que pode esclarecer os tradicionais
problemas filosóficos através da busca de informações sobre o que as pessoas realmente sentem
e dizem sobre certos "experimentos de pensamento". Esse recém-nascido movimento (x-phy,
como o chamam seus novos adeptos) vem ganhando espaço na web através de blogs, sites,
jornais virtuais e participação nos encontros anuais da American Philosophycal Association. Na
Universidade da Califórnia de San Diego e na Universidade de Arizona, estudantes e professores
criaram "Laboratórios de Filosofia Experimental", enquanto a Universidade de Indiana oferece
especialização nos seus "Laboratórios de Epistemologia Experimental". A neurologia também
vem sendo explorada. Cada vez mais ouve-se falar em graduandos que estão aprendendo a ler os
exames de ressonância magnética funcional (MRI) na tentativa de descobrir o que acontece no
cérebro das pessoas quando elas refletem sobre dilemas morais (quais decisões decorrem do
cálculo frio? Quais decisões parecem envolver emoções associadas à amigdala?). A editora
Springer criou um novo periódico chamado Neuroethics, dedicado não apenas ao que a ética tem
a dizer à neurologia mas, sobretudo, ao que a neurologia tem a dizer sobre a ética. Nos grupos
virtuais de discussão, estudantes de graduação conferem se os programas das disciplinas são
receptivos aos experimentos (experimentally friendly), talvez do mesmo modo como nos anos
70, eles deveriam conferir quais programas eram receptivos aos homossexuais ou aos
heideggerianos. E, para completar, um video da Experimental Philosophy Anthem foi postado no
YouTube. Ele mostra uma poltrona sendo queimada3.
Mas pode-se fazer filosofia com pranchetas e questionários, pergunta Appiah? E sua
resposta tende para o sim ao nos apresentar Joshua Knobe, da Universidade da Carolina do
Norte, Chapel Hill, autor do experimento do diretor de empresa supra citado. Podemos supor
que, para julgarmos uma ação como condenável, isso depende de a considerarmos intencional e,
3
Video disponível em http://www.youtube.com/watch?v=tt5Kxv8eCTA. Acessado em 16/03/2010 sobre a natureza de uma ação intencional, os filósofos já escreveram muito a respeito. Mas, o
chamado "efeito Knobe" (Knobe effect) sugere que - de modo estranho - pode não ser tão claro
para nós decidir se uma ação é intencional antes de decidirmos se ela é boa ou ruim.
E sendo os filósofos um grupo belicoso, vários rivais vem oferecendo outras explicações
para a pesquisa e também conduzindo outros experimentos. Edouard Machery, um filósofo da
ciência da Universidade de Pittsburgh, vindo da Sorbonne, nos apresenta o seguinte caso: um
rapaz chamado Joe vai a uma sorveteria e pede a maior taça de sorvete disponível. Então, Joe é
informado que, na aquisição do maior sorvete da casa, ele ganhará uma taça comemorativa
especial. Mas Joe não se importa com a taça, apenas quer o maior sorvete possível, compra-o e
ganha a taça. A questão é: ele ganha a taça intencionalmente? A maioria dos entrevistados diz
não. Mas, e se ele é informado de que o maior sorvete aumentou de preço e ele terá que pagar um
dólar a mais por ele? E, novamente, Joe apenas quer a maior taça e não se importa em pagar a
mais. Nesse caso, ele paga o dólar a mais intencionalmente? A maioria das pessoas diz sim.
Machery então conclui que efeitos colaterais previsíveis de nossas ações são considerados
intencionais quando os entendemos como custos para a obtenção de um benefício. No caso do
diretor de empresa, a maior poluição foi entendida como um custo (danoso) assumido para
obtenção de maior lucro.
Mas enquanto os experimentalistas disputam qual seria a mais exata compreensão dos
resultados das suas pesquisas (afinal, a filosofia experimental ainda é filosofia), o trabalho que
realizam nos oferecem boas advertências. Wittgenstein declarou uma vez, "Nós de fato
chamamos 'Não está fazendo um lindo dia hoje?' uma questão, embora ela seja usada como uma
afirmação". Se você se propõe a fazer pesquisas para produzir certezas, ele diria que você é um
louco ou impertinente. Filósofos tem sido extremamente confiantes na sua habilidade de dizer
aquilo "que seria natural dizer". Essa confiança, os experimentos nos mostram, podem nos
conduzir muitas vezes ao caminho errado.
Em um dos mais famosos argumentos da recente filosofia da linguagem, Saul Kripke
retoma uma questão que preocupa os filósofos há muito tempo: como os nomes referem-se às
pessoas ou coisas? (a questão mais ampla aqui é: Como a linguagem se engata com a realidade?).
Na teoria que Bertrand Russell tornou canônica, um nome é apenas um atalho para uma
descrição que especifica a pessoa ou coisa em questão. Kripke era cético quanto a esta
explicação. Ele sugere que a forma como os nomes passaram a se referir a algo é análoga ao
batismo: certa vez, alguém ou algum grupo conferiu um nome a um objeto e, através da cadeia
causal histórica, nós emprestamos essa designação original.
Para suportar sua hipótese, Kripke ofereceu um experimento de pensamento: nos sugere
imaginar que o teorema de Gödel foi, de fato, produto do trabalho de um colega dele chamado
Schmidt; aconteceu que Gödel acabou se apoderando dos seus manuscritos e ganhou
erroneamente os créditos pela autoria do famoso teorema. Quando aqueles de nós, que apenas
conhecem "Gödel" como o autor de um teorema, invocamos seu nome, a quem estamos nos
referindo? De acordo com a teoria da referência de Russell, estaríamos nos referindo, de fato, a
Schmidt: "Gödel" é apenas um atalho para o sujeito que definiu o teorema, e Schmidt é a criatura
que responde a esta descrição. "Mas não me parece que é assim que nós pensamos," declara
Kripke. "Simplesmente não é". Ao que os experimentalistas replicam: O que você quer dizer por
"nós"?
Recentemente, nos conta Appiah, um time de filósofos liderados por Machery, forjaram
situações com o mesmo formato proposto por Kripke e as apresentaram a dois grupos de
graduandos - um em New Jersey e outro em Hong Kong. Os americanos foram
significativamente mais predispostos a responder do modo como Kripke considera óbvio; os
estudantes chineses, por sua vez, tiveram intuições consoantes com a velha teoria da referência.
Talvez, este resultado esteja associado ao suposto individualismo dos ocidentais; talvez a nossa
preocupação em usar o nome de Schmidt corretamente não seja compartilhada pelo grupo de
orientais asiáticos, supostamente mais orientados ao grupo (goup-minded). Independente da
explicação, é um resultado desconfortável. Talvez Kripke tenha razão em Pinceton ou Rutgers.
Do outro lado do planeta, parece que não. O que deveriam os filósofos fazer com isso?
E Appiah sinceramente responde: eu não tenho certeza. Porque aqui está a questão da
teoria da referência: versões de ambas as visões - a de Kripke e a que ele ataca - tem muitos
seguidores entre os filósofos. Ambas as intuições possuem defensores e a resposta correta, se ela
existe, não será decidida por quem detiver o maior número de adeptos. A X-phy nos ajuda a
manter a honestidade e nos obriga a uma modéstia quanto ao peso a dar aos palpites de cada um,
mesmo quando eles são compartilhados pelo colega que trabalha ao lado. Mas - e esta é a
observação empírica de Appiah - embora os experimentos possam iluminar argumentos
filosóficos, eles não os estabelecem.
Por exemplo, é bom atribuir intencionalidade da maneira curiosa como fazemos e, em
caso afirmativo, por quê? (Afinal, o "efeito Knobe" é uma falha ou uma característica?) Podemos
conduzir mais e mais pesquisas para tentar iluminar certas questões, mas a interpretação dos
resultados sempre restará a ser feita pelo observador; eles não são auto-interpretáveis. Sempre
chegará um ponto em que as pranchetas, os questionários e exames de MRI devem ser colocados
de lado. E para separar as coisas parece que é necessário uma outra poderosa ferramenta.
Vejamos, tem uma bem ali no canto. As molas estão rangendo um pouco e o acolchoado está
gasto, mas não tem problema, brinca Appiah. A poltrona ainda serve bem.