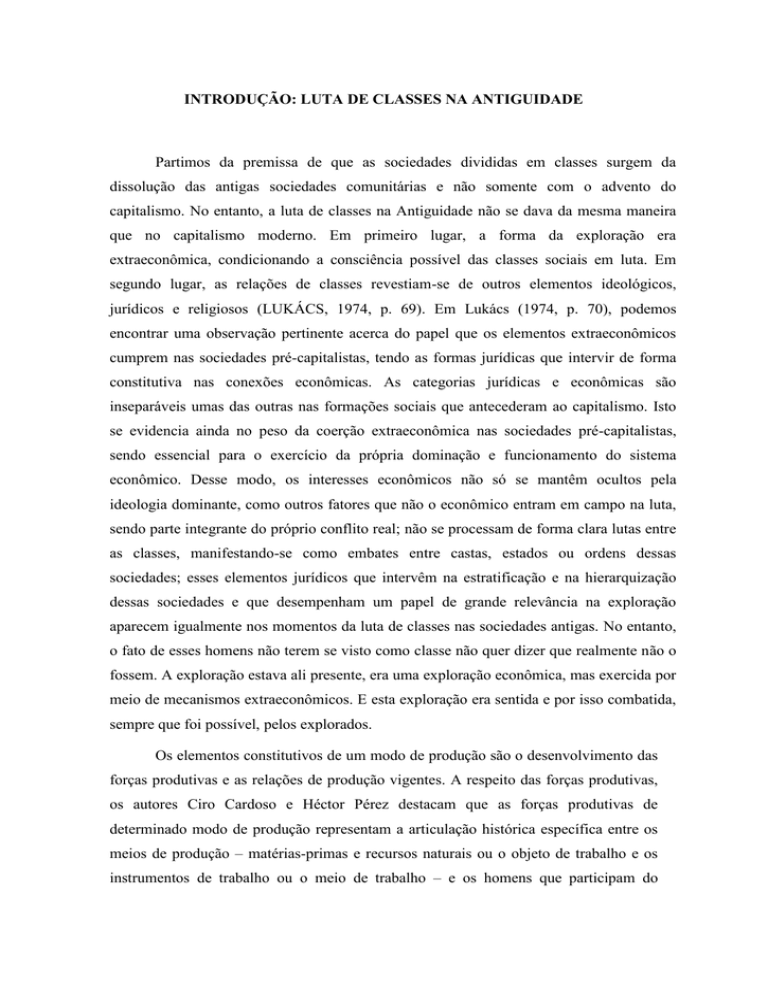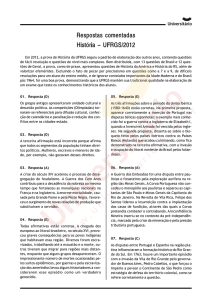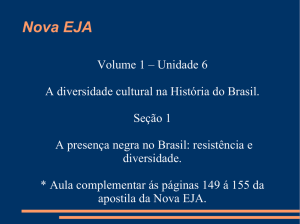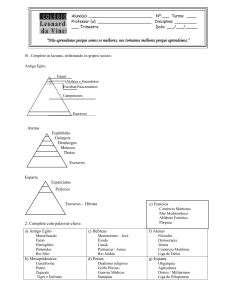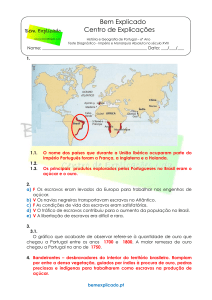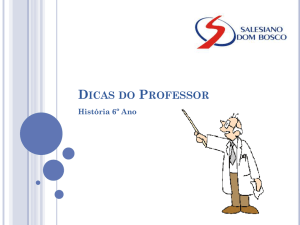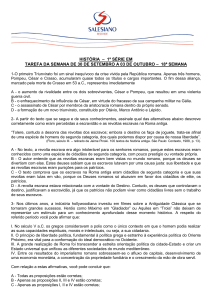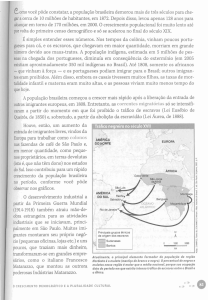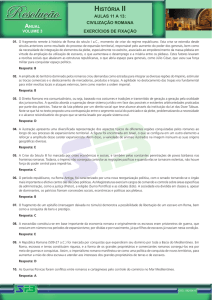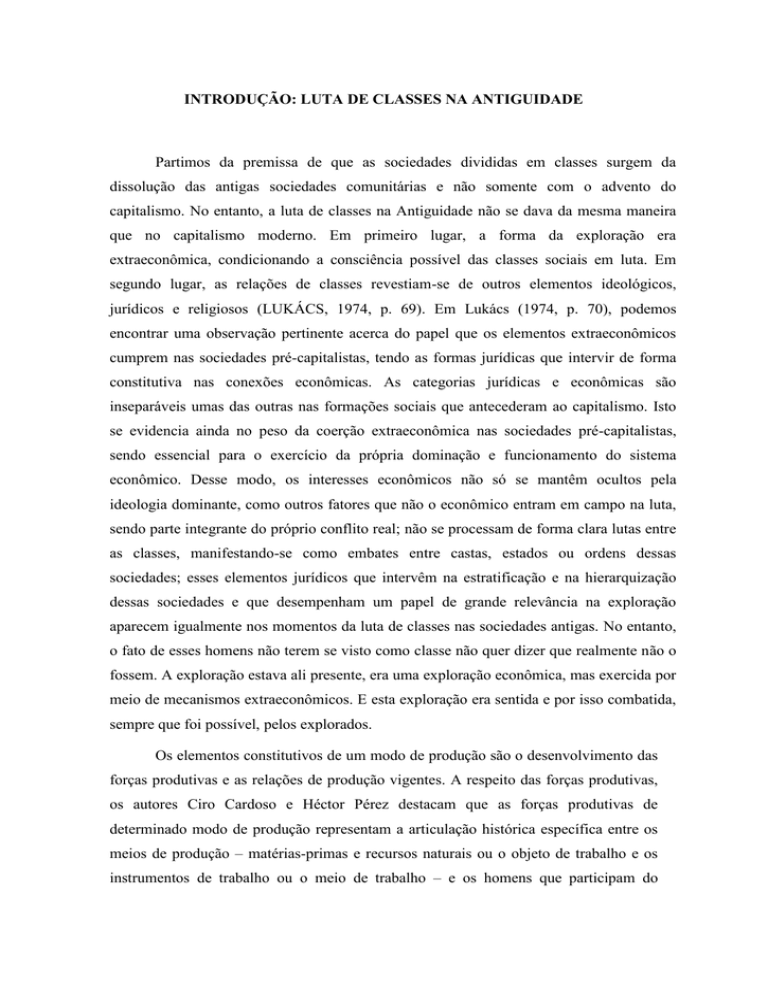
INTRODUÇÃO: LUTA DE CLASSES NA ANTIGUIDADE
Partimos da premissa de que as sociedades divididas em classes surgem da
dissolução das antigas sociedades comunitárias e não somente com o advento do
capitalismo. No entanto, a luta de classes na Antiguidade não se dava da mesma maneira
que no capitalismo moderno. Em primeiro lugar, a forma da exploração era
extraeconômica, condicionando a consciência possível das classes sociais em luta. Em
segundo lugar, as relações de classes revestiam-se de outros elementos ideológicos,
jurídicos e religiosos (LUKÁCS, 1974, p. 69). Em Lukács (1974, p. 70), podemos
encontrar uma observação pertinente acerca do papel que os elementos extraeconômicos
cumprem nas sociedades pré-capitalistas, tendo as formas jurídicas que intervir de forma
constitutiva nas conexões econômicas. As categorias jurídicas e econômicas são
inseparáveis umas das outras nas formações sociais que antecederam ao capitalismo. Isto
se evidencia ainda no peso da coerção extraeconômica nas sociedades pré-capitalistas,
sendo essencial para o exercício da própria dominação e funcionamento do sistema
econômico. Desse modo, os interesses econômicos não só se mantêm ocultos pela
ideologia dominante, como outros fatores que não o econômico entram em campo na luta,
sendo parte integrante do próprio conflito real; não se processam de forma clara lutas entre
as classes, manifestando-se como embates entre castas, estados ou ordens dessas
sociedades; esses elementos jurídicos que intervêm na estratificação e na hierarquização
dessas sociedades e que desempenham um papel de grande relevância na exploração
aparecem igualmente nos momentos da luta de classes nas sociedades antigas. No entanto,
o fato de esses homens não terem se visto como classe não quer dizer que realmente não o
fossem. A exploração estava ali presente, era uma exploração econômica, mas exercida por
meio de mecanismos extraeconômicos. E esta exploração era sentida e por isso combatida,
sempre que foi possível, pelos explorados.
Os elementos constitutivos de um modo de produção são o desenvolvimento das
forças produtivas e as relações de produção vigentes. A respeito das forças produtivas,
os autores Ciro Cardoso e Héctor Pérez destacam que as forças produtivas de
determinado modo de produção representam a articulação histórica específica entre os
meios de produção – matérias-primas e recursos naturais ou o objeto de trabalho e os
instrumentos de trabalho ou o meio de trabalho – e os homens que participam do
processo produtivo com suas capacidades físicas e mentais (CARDOSO; PÉREZ, 1982,
p. 20).
K. D. White escreve sobre o contexto de invenção, inovação e desenvolvimento
técnico do mundo clássico. O autor resgata, em primeiro lugar, a ideia de que a
tecnologia não é um fenômeno recente, produto da Revolução Industrial, mas uma parte
integrante das sociedades humanas desde o Paleolítico (WHITE, 1984, p. 6). O ser
humano é um animal social e todos os progressos biológicos de nossa evolução
tornaram o homem um fabricante de máquinas e instrumentos com os quais altera o
ambiente ao seu redor. O desenvolvimento de novas técnicas leva ao controle humano
do ambiente físico e provoca mudanças e novos problemas para as próprias sociedades
humanas, problemas que podem ser resolvidos somente por meio de mais mudanças
técnicas (WHITE, 1984, p. 9). Contudo, a invenção não é a única via pela qual podemos
interpretar o desenvolvimento das forças produtivas de determinada sociedade. Durante
o período clássico, as inovações tecnológicas também circularam pelas diversas regiões,
mesmo que não existisse uma globalização como nos dias de hoje, ou como por todo o
capitalismo, desde a sua origem, com a integração de mais e mais regiões em um
mercado mundial. A circulação de informações e técnicas era, sem dúvida,
infinitamente mais limitada, mas não devemos desprezar a existência de um “mercado
mundial” na região do Mediterrâneo, sob o domínio romano. O caráter dual da
economia romana revelava os limites e possibilidades que existiram na Antiguidade
clássica. Segundo Schiavone (2005, p. 100-101), a economia romana era um sistema
agrário-mercantil de base escravista, que congregava, de um lado, uma economia
mercantil desenvolvida, sendo a base da produção para o mercado sempre escravista, e,
de outro lado, uma economia natural ou de subsistência, que, estando voltada para o
autoconsumo direto dos produtores ou para o comércio local, era quantitativamente
superior em todo o império. Este plano da economia romana garantia a sobrevivência da
maior parte dos habitantes das províncias e da Itália.
As tecnologias que eram produzidas em determinada região podiam ser levadas
para outras áreas por meio da migração de inventores e artesãos, assim como pelo
comércio. Outra maneira de disseminação de novas técnicas foram as guerras de
conquista, pois os processos técnicos e as técnicas eram transferidos de uma área a outra
por meio das guerras (WHITE, 1984, p. 11).
O caso romano é explicitado pelo referido autor, demonstrando como os
romanos apropriaram-se das conquistas intelectuais de outros povos e as propagaram
pelas terras mais vastas e empregaram seus preceitos para o aumento da produtividade e
o progresso da ciência e da qualidade de vida no âmbito de uma rede mais ampla
e complexa de países, povos e relações políticas e sociais, promovendo o
desenvolvimento técnico, científico, econômico e social no Império Romano. Podemos
nos arriscar a dizer que fazia parte do butim de guerra a conquista de novos
conhecimentos e equipamentos. Roma conquistou dos gregos, por exemplo, muito mais
do que terras, também sua medicina, sua engenharia, sua arquitetura, sua ciência. Da
atual região da França e da Bélgica, os romanos apoderaram-se do conhecimento em
metalurgia dos celtas (WHITE, 1984, p. 11-12).
Apesar disso, muito do conhecimento produzido era meramente especulativo. O
trabalho manual não era valorizado pela concepção aristocrática de mundo. Cientistas
como os que temos hoje e a união entre ciência e tecnologia também não eram comuns.
De um lado estava o filósofo e de outro estava o artesão, separados por um imenso
abismo social. Este foi um fator muito importante no sentido de limitar os possíveis
progressos técnicos na Antiguidade greco-romana avançada (já que o desprezo pelo
artesão e pela tecnologia aumentou com o tempo). A maioria das pessoas vivia de forma
simples no campo. As sociedades antigas eram predominantemente agrárias. A
agricultura, que foi a mãe da vida civilizada, sem a qual seria impossível a existência de
sociedades complexas e das próprias cidades, por milênios foi o único ou principal meio
de vida dos homens e mulheres trabalhadores. Mesmo as aristocracias retiravam a maior
parte de sua riqueza e também de seu prestígio de suas terras e de sua posição como
proprietários de terras. O paradigma escravista exerceu sua influência no não
desenvolvimento da maquinaria e de novos processos de trabalho, além da utilização de
outras fontes de energia que não as tradicionais energias animal e humana. O uso da
água como recurso energético ocorreu na Antiguidade, mas não antes do século I a.C.,
sendo as fontes de energia mais largamente empregadas, realmente, a força de trabalho
humana e a energia dos animais, como o boi, o asno e o cavalo. A energia muscular
humana era a principal força produtiva em uma sociedade escravista. Além disso, o seu
uso era mais versátil, mais facilmente adaptável a cada situação e necessidade. A
resistência e a capacidade físicas dos animais eram a vantagem óbvia sobre os homens,
sendo mais empregados onde fossem necessários a força e um trabalho que se
estendesse por mais tempo. Um cavalo do tamanho que era usado no mundo clássico
fazia o trabalho de nove homens e uma mula podia realizar o trabalho de cinco homens
ou de três homens, carregando uma carga de 140 kg por cerca de oito horas em um dia
(WHITE, 1984, p. 55). Essa comparação é válida na medida em que a maior parte do
trabalho era produto destas fontes de energia e porque o escravo era equiparado aos
animais, na ideologia como na teoria, e o seu trabalho – o trabalho escravo – era
equiparado, na prática, ao trabalho dos animais. A diferença tanto na teoria quanto na
prática residia justamente nesta versatilidade da força de trabalho humana, advinda do
intelecto humano. Sendo assim, as capacidades físicas e intelectuais humanas permitiam
aos escravos executar um variado número de tarefas. Entre os animais, aquele que
ocupava o papel principal no trabalho nas fazendas era o boi. Os cavalos, que
simbolizavam o orgulho aristocrático e demandavam um custo maior, necessitando de
melhor alimentação, eram utilizados, principalmente, na guerra e nas corridas.
A quantidade elevada de escravos que os romanos tinham à sua disposição, a
aquisição do melhor da ciência helenística, com a tradição de ideias e experiências
recolhida pela atividade de inúmeros pesquisadores, cientistas, filósofos e intelectuais
em geral do Museu de Alexandria, e o aparato técnico e de recursos naturais das demais
conquistas romanas, desde as técnicas da metalurgia celta até o volume de terras
disponíveis para a produção, além de animais existentes e criados nestas mesmas
fazendas, compunham o conjunto de forças produtivas do Império Romano e exprimiam
o grau máximo de desenvolvimento econômico alcançado na Antiguidade. A circulação
de mercadorias, ideias e técnicas possibilitou que algumas conquistas da ciência, antes
restritas a um âmbito local, viessem a assumir um caráter universal. Talvez muitas das
descobertas da Antiguidade clássica sequer chegassem a ser conhecidas por nós, se não
fosse a sua difusão, fruto da integração de realidades isoladas em um império universal.
Isto não deve, no entanto, obscurecer os fatores que determinaram os limites
tecnológicos do Mundo Antigo, como o pensamento aristocrático e sua noção de
liberdade, que se distanciava totalmente do trabalho manual e da aplicação da teoria às
técnicas que estivessem ligadas à produção, e o paradigma escravista, sendo a
escravidão, senão quantitativamente absoluta, pois coexistia na realidade do mundo do
trabalho com o trabalho livre e outras formas de trabalho dependente, o paradigma
predominante em toda a representação do trabalho manual, no sistema social e mental
dos grupos dominantes, influenciando a sociedade como um todo, em um desprezo de
toda forma de trabalho dependente e na inferiorização do trabalho manual diante do
trabalho intelectual e das atividades cívicas da política e da guerra. Se por um lado é
errôneo falar em uma ausência de máquinas na Antiguidade greco-romana − tendo
havido não só invenções, como também sua difusão por meio de publicações,
migrações, do comércio e da guerra −, temos de encarar um importante obstáculo
cultural ao progresso científico no campo da produção e na inovação tecnológica, que,
muitas vezes, quando ocorria, era deixada de lado, sem que se utilizassem os recursos
necessários para o empreendimento, até pela possibilidade de se contar com uma grande
quantidade de força de trabalho humana, com a difusão da escravidão, gerando, ao
mesmo tempo, uma recusa ao trabalho dos livres e sua rejeição também no plano
mental. Este círculo vicioso representou um sério entrave para o desenvolvimento das
forças produtivas. A isso, podemos acrescentar o fato de que a aristocracia, ao contrário
da moderna burguesia, não se preocupava em reinvestir a riqueza acumulada, gastando
os lucros advindos da produção e do comércio no luxo, nas obras (evergetismo) e nas
festas das cidades. Arquimedes foi uma das exceções do Mundo Antigo. Ele utilizou
suas invenções contra os romanos, durante as Guerras Púnicas, na defesa da cidade de
Siracusa. O poder aristocrático permitiu à humanidade alcançar as mais magníficas
produções de que o intelecto humano seria capaz em uma sociedade de baixo nível
tecnológico, de tipo pré-industrial, mas também significou um entrave para o progresso
técnico, na medida em que nutria uma mentalidade marcadamente desinteressada na
produção, salvo alguns poucos intelectuais que resolveram se debruçar sobre o
problema da administração dos negócios privados e referentes à organização do trabalho
em uma unidade produtiva, como Catão, por exemplo. É possível relacionar, também
neste caso, a vitória da alternativa aristocrática da monarquia militar com a tomada de
uma direção que conduzia inevitavelmente à catástrofe, com a queda do Império
Romano no fim do caminho, mas que contou com a falta de estímulo para a inovação
durante todo o processo. Se o fim das guerras de conquista representou uma das causas
da crise do escravismo antigo, pois era por meio da guerra, principalmente, que os
escravos eram adquiridos no volume requerido pelo regime imperial romano, outra
consequência grave que pode ser por nós sugerida é o esgotamento desta forma de
avanço econômico e tecnológico por meio de sua difusão ao longo de um território que
vai se expandindo por meio da conquista. O fim das guerras de conquista representou
também o fim de um modelo de desenvolvimento técnico, econômico e social,
fundamentado na guerra. As guerras de rapina sustentavam Roma em sua essência, na
dinâmica mais profunda de seu sistema político e econômico. O saque de riquezas,
terras, escravos e ciências garantiu a Roma todo o seu esplendor. O término desta onda
de saques determinou igualmente o seu declínio; isso e o pensamento aristocrático, com
sua aversão ao trabalho manual, verdadeira fonte das riquezas da Antiguidade,
desfrutada pelos senadores, generais e filósofos. Uma revolução municipal que
democratizasse a Itália e restabelecesse o campesinato, política e economicamente, que
desse um espaço na política para as camadas médias italianas e que restaurasse o papel
político e militar da cidadania romana, talvez impedisse o desenvolvimento conservador
aristocrático e exercesse uma forte influência em um desenvolvimento vigoroso e
ininterrupto das forças produtivas rumo à modernidade, sem os empecilhos mentais e
sociais vigentes nos últimos séculos da Antiguidade; mas tal opção foi derrotada.
O principado de Augusto serviu para consolidar as tendências centrais que
vinham se afirmando desde as Guerras Púnicas, passando pelas conquistas de Júlio
César na Gália e de Pompeu no Oriente. A dinâmica da economia apontava para o
Estado monárquico como forma de garantir um aparato político-administrativo capaz de
arbitrar os diferentes conflitos políticos e sociais e as próprias relações sociais de
produção. É isso que, em parte, ajuda a explicar porque, no regime imperial, não
ocorreram grandes rebeliões servis como aquelas de fins da República. A nova máquina
estatal funcionava como um mecanismo político-ideológico de dominação social e de
estabilização política da nova sociedade romana. Os reformistas não contavam com uma
base social suficientemente coesa para fazer frente ao bloco aristocrático. A oligarquia
senatorial, por seu turno, também não tinha capacidade de manter indefinidamente um
sistema político já há muito falido. Em que pese todos os esforços de proeminentes
lideranças, como Cícero, que combateu Catilina e Júlio César e todos aqueles que, na
sua visão, tentavam usurpar o poder do Senado e dar fim à República e de sua política
de “concórdia das ordens”, e Sila, que restabeleceu durante seu governo o poder do
Senado e foi um ardoroso inimigo das lideranças reformistas e democráticas, como Caio
Mário, a República no século I a.C. não passava de um cadáver insepulto, uma ordem
social ultrapassada; era preciso admitir: o antigo regime estava morto. Cada ano que
passava era um passo a mais em direção ao abismo. A nobreza patrício-plebeia não teve
outra escolha a não ser apoiar-se no príncipe, uma figura acima das “ordens”
tradicionais, que unificava senadores e equestres, a classe dominante romana e as novas
elites itálicas, as municipalidades itálicas, as províncias e a capital do império, o
exército e a plebe, uma liderança baseada no poder unipessoal legitimada pelo
reconhecimento formal do Senado de sua autoridade e pela delegação plebiscitária das
massas de toda a Itália e das províncias do império.
Rostovtzeff (1977, p. 135) dizia sobre o caráter multirracial do exército de César que
sua política era a mesma de Mário quanto à composição do exército romano, visto como
força representativa de um Estado mundial, não restrito aos cidadãos romanos, sendo parte
de seu legado um exército formado por cidadãos de Roma, da Gália, da Espanha e da Ásia
Menor. O autor ainda afirma que o seu poder se apoiava nos veteranos em Roma, na Itália e
nas províncias ocidentais. Já o exército macedônio, responsável pelas conquistas de
Alexandre Magno, era uma síntese das tradições helênica e oriental, segundo Sousa (1988,
p. 75). Assim, o exército de Alexandre era a fusão da ênfase na infantaria pesada (legado dos
gregos) e do papel de destaque na batalha da cavalaria e das tropas ligeiras, além de um
sistema logístico muito desenvolvido (legado dos orientais). Sendo assim, é mais importante
e interessante comparar figuras como Júlio César e Alexandre, o Grande por sua relação
com as tropas e o papel político dos seus exércitos na definição de suas estratégias políticas
e militares, ou traçar uma comparação entre o regime monárquico na forma como foi
exercido por Alexandre e a ditadura na forma como foi exercida por César com a tirania
grega, levando-se em consideração não tanto a forma política, mas o conteúdo político e
social dos seus regimes/governos, ou ainda compará-los pelo caráter multirracial de seus
exércitos.
De todas as rebeliões de escravos da Roma antiga, a mais famosa foi a de
Espártaco. Eternizado no filme épico de Stanley Kubrick – Spartacus –, o herói, líder
desta revolta, aparece para nós como um grande libertador, como o anunciador da
libertação geral da humanidade, mesmo que tenha pertencido a um tempo em que isto
era objetivamente impossível. O filme é uma produção hollywoodiana do ano de 1960 e
foi filmado e exibido no contexto da Guerra Fria, em um momento em que o mundo
estava polarizado pela luta política e ideológica entre capitalismo e socialismo, na trilha
da luta do proletariado por um mundo mais justo e igualitário, sem exploradores. Em
2004, foi feita uma refilmagem do clássico em uma versão para a televisão, o que prova
que, mesmo em outro contexto político, continua atual a memória de um herói dos
desfavorecidos, da luta do oprimido contra o opressor, do explorado contra o
explorador. O cinema permitiu que esta mensagem chegasse às mais amplas massas no
mundo todo. É ao conhecimento do público leigo, até daqueles que nunca estudaram ou
entraram em contato com uma fonte histórica relacionada ao tema, a fabulosa odisseia
dos escravos pelos campos italianos da República romana e sua batalha de vida e morte
contra os seus senhores. Este já era um tema de grande interesse dos militantes
socialistas no início do século XX. A figura de Espártaco simbolizava a luta pela
liberdade e a luta contra a exploração. Inspirando o movimento socialista da época da
Revolução Russa de 1917, os comunistas que rompiam com a II Internacional durante a
Primeira Guerra Mundial denominaram o seu movimento de Liga Spartacus, fundada
em 1915 por Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin, na Alemanha. Essa
geração de militantes revolucionários foi profundamente influenciada pela revolta de
escravos da Antiguidade na construção de uma teoria da história que fizeram. Assim,
depois da revolução socialista na Rússia, feita por operários e camponeses, liderada pelo
Partido Bolchevique, e suas principais lideranças políticas daquele momento, Lênin e
Trotsky, nos anos que se seguiram, os historiadores soviéticos estudaram o tema desde o
início da revolução, atravessando todo o período stalinista, o que influenciou
profundamente as hipóteses e interpretações do significado daquele movimento,
mantendo-se objeto de interesse de diversos pesquisadores também no período posterior
ao governo de Stálin na URSS. A historiografia soviética produziu uma imagem da
revolta de Espártaco que encarava aquela rebelião como uma verdadeira revolução e
como parte de um processo mais amplo que culminou na queda do Império Romano, no
que foi considerado por Mishulin e Kovaliov como a segunda fase da revolução que,
unindo escravos, colonos e bárbaros, levou ao desmoronamento do mundo antigo e ao
surgimento do feudalismo. Neste esquema, a revolta de Espártaco encaixar-se-ia no que
estes historiadores considerariam a primeira etapa dessa revolução. Esta insurreição
escrava também foi retratada pela literatura moderna. O romance de Howard Fast,
Espártaco, foi publicado em 1952, contando a história dos escravos rebeldes da Roma
antiga e de sua luta contra a aristocracia romana, e serviu para popularizar a Revolta de
Espártaco, inspirando o filme homônimo de Kubrick. Howard Fast foi autor de vários
romances de conteúdo político e atuou junto de sindicatos e de movimentos
antifascistas, tendo sido preso durante o McCartismo. Em 1953, ele recebeu o Prêmio
Stálin da Paz.
Os estudos das revoltas de escravos da Roma antiga e seu significado e dos
projetos históricos representados por Alexandre e César e as possibilidades históricas e
as potencialidades neles contidas que abririam caminhos diferentes dos traçados a partir
da vitória do campo majoritário e conservador das aristocracias romana, macedônia e
grega são retratados nos artigos que compõem este livro. Em primeiro lugar, a síntese, o
resumo da minha dissertação de mestrado: As Revoltas de Escravos na Roma antiga e o
seu impacto sobre a ideologia e a política da classe dominante nos séculos II a.C. a I
d.C.: os casos da Primeira Guerra Servil da Sicília e da Revolta de Espártaco
(comunicação publicada nos Anais Eletrônicos do XXI Ciclo de Debates em História
Antiga – “Tempo e Espaço”, do LHIA-UFRJ); e, em seguida, vem o projeto de pesquisa
que culminou em um artigo sobre Alexandre e César: O “Príncipe Tirano” e a
“Democracia Militar” no projeto de construção de um Império Universal de
Alexandre, O Grande e de Júlio César (artigo publicado na revista História e Luta de
Classes, Ano 9, Edição 16, setembro de 2013, “Crises, Resistências e Insurreições”).
Esses trabalhos apontam para a discussão sobre a luta de classes na Antiguidade e esta
obra é um convite para esse debate histórico e teórico.
AS REVOLTAS DE ESCRAVOS NA ROMA ANTIGA E O SEU IMPACTO
SOBRE A IDEOLOGIA E A POLÍTICA DA CLASSE DOMINANTE NOS
SÉCULOS II A.C. A I D.C.: OS CASOS DA PRIMEIRA GUERRA SERVIL DA
SICÍLIA E DA REVOLTA DE ESPÁRTACO
Rafael Alves Rossi
O combate é de todas coisas pai, de todas rei, a uns manifestou como
deuses, a outros como homens; de uns fez escravos, de outros livres.
(Heráclito)
Preâmbulo
A presente comunicação é produto de uma pesquisa empreendida sobre as
revoltas de escravos ocorridas em fins da República Romana e seu significado. Ela
resume a dissertação de mestrado redigida recentemente sobre o tema e tenta dar conta
de seus aspectos centrais, bem como divulgar o estudo realizado para provocar o debate.
A hipótese central desta pesquisa é que, apesar de terem sido derrotadas
militarmente, as grandes revoltas servis da Roma antiga serviram para pôr em xeque a
teoria da escravidão natural, a visão do escravo como simples animal ou coisa,
representada no discurso oficial, e a própria afirmação da inferioridade dos escravos
presente no discurso de intelectuais da aristocracia romana como Catão, que já
relativizava a posição mais rígida da teoria aristotélica, provocando mudanças no
discurso da classe dominante e na sua forma de perceber os escravos, produzindo uma
fissura no plano ideológico, o que pode ser constatado nos textos que analisamos de
Diodoro, Plutarco e Apiano, tratando-se, pela primeira vez, da afirmação patente da
humanidade dos escravos que lutaram na Primeira Revolta de Escravos da Sicília,
comandada pelo escravo doméstico Euno, e na Revolta de Espártaco, iniciada pelos
gladiadores da escola de Lêntulo Baciato em Cápua, no Sul da Itália. Nos escritos
desses autores, a capacidade de organização dos escravos rebeldes, que formaram
exércitos e derrotaram o exército romano e seus generais em muitas batalhas, e a
coragem em combate demonstrada pelos rebeldes sicilianos e espartacanos aparecem
em muitas passagens e transparece nos textos dos ideólogos da aristocracia romana o
reconhecimento dessas qualidades morais junto com a tentativa de reafirmar a suposta
inferioridade natural dos escravos, que entrava agora em contradição com os fatos da
política e da guerra, com a manifestação do talento, da inteligência e da bravura dos
servos de Roma na cena pública. Desse modo, podemos concluir que os escravos do
império romano obtiveram uma importante vitória simbólica que reverberou pelos
séculos.
A análise das fontes é enriquecida pelo uso do método comparativo, tentando
traçar paralelos entre as revoltas de Euno e de Espártaco entre si e dessas revoltas de
escravos antigos com aquelas ocorridas nos Tempos Modernos, percebendo pontos de
interseção entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, bem como suas diferenças
fundamentais. O método estruturalista genético também aparece como um instrumento
importante na análise, relacionando os textos dos autores individuais com a sua
consciência de classe e o seu compromisso social, bem como com a ideologia de classe
do grupo social ao qual pertenciam, percebendo as ambiguidades que se manifestaram
de forma mais ou menos aguda, dependendo do autor ou do contexto político e social
em que o texto foi escrito. A ferramenta teórica que norteia a pesquisa é o marxismo,
com suas contribuições possíveis e necessárias a esse debate.
Guerras Civis e Guerras Servis: a Crise da República e a Revolução Passiva
A Primeira Revolta de Escravos da Sicília ocorreu em 135 a.C. A revolta ainda
estava em curso (durou de 135 a 132 a.C.) quando estourou o conflito entre Tibério
Graco, o tribuno da plebe, e a oligarquia senatorial, em 133 a.C. A guerra servil
influenciou a proposição urgente de uma reforma agrária no império. De 133 a 129 a.C.,
ocorreu a revolta de Aristônico, na Ásia Menor, outra revolta de grandes dimensões
com protagonismo dos escravos. Seu início deu-se paralelamente ao conflito
envolvendo Tibério Graco. Desse modo, este que foi um dos momentos de luta mais
intensos e ferozes entre as facções da classe dominante foi acompanhado de duas
rebeliões servis. A relação entre as guerras civis e as guerras servis parece evidente se
analisarmos o texto de Apiano acerca da luta entre Tibério Graco e a oligarquia
senatorial e o novo panorama social, com escravos ocupando os postos de trabalho de
camponeses livres e se insurgindo contra Roma, estando a proposta de reforma agrária
de Graco em estreita relação com o movimento de rebeliões servis:
(...) o recente descalabro sofrido na Sicília por estes nas mãos de seus
escravos por ter aumentado o número de servos pelas exigências da
agricultura (...) a guerra sustentada pelos romanos contra eles (os escravos),
que não era fácil, mas sim muito prolongada em sua duração e envolvendo
diversos tipos de perigos. (APIANO, Guerras Civis, I, 9)
O tribunato de Caio Graco deu-se em 123-122 a.C., quando ocorreu uma nova
luta acirrada por reforma agrária e a proposta de mudanças no regime republicano com a
participação de outras camadas sociais de forma mais ativa e efetiva da vida política,
como o direito de os equestres ocuparem os postos de jurados, privilégio reservado
anteriormente aos senadores, o direito de cidadania romana aos latinos e a concessão
dos privilégios dos aliados latinos aos demais aliados itálicos. O irmão de Tibério Graco
apontava também para uma redistribuição da riqueza social de Roma com as concessões
feitas ao proletariado urbano como “a distribuição regular de cereais por metade do
preço a que eram cotados no mercado” (BLOCH, 1956, p. 160). Leon Bloch destaca
este fato porque antes da lei de Caio Graco esta era uma medida excepcional aplicada
nas épocas de maior carestia. O caráter ordinário desta medida garantia aos proletarii a
sua parte no saque às terras estrangeiras promovido pelo exército romano. No entanto, a
nobilitas não podia fazer concessões ao povo em termos de participação política e
defesa de um Estado camponês romano. A nova aristocracia romana, nascida da fusão
da velha aristocracia patrícia com os plebeus ricos, da luta entre patrícios e plebeus,
senhora de todo o mundo mediterrânico e não apenas de uma cidade-Estado, passara a
se sustentar do sangue e suor dos milhares de escravos trazidos de outros países como
prisioneiros de guerra e da exploração das províncias, nascida das guerras contra
Cartago, quando fez sua primeira província, a Sicília. A nobilitas patrício-plebeia era
uma aristocracia ainda mais belicista e imperialista, governante de um império de
estrutura bastante complexa e que contava com uma intensa circulação de mercadorias e
uma administração crescentemente sofisticada. Uma oligarquia composta pelos ricos e
proprietários das duas antigas ordens explorava agora todos os recursos do império em
seu benefício e relegava para segundo plano as necessidades de homens livres e pobres
na nova Roma. No contexto do século II a.C. o Senado da República servia para
salvaguardar as posições conquistadas nas relações internacionais e no âmbito interno
pela nobreza senatorial. Sendo assim, a resposta do Senado à agitação política do
movimento reformista foi o senatus consultum ultimum.
Novos confrontos políticos, agora entre facções políticas delimitadas e
organizadas, marcando a divisão da classe dominante por grupos de interesses e base
social, os optimates e os populares, aconteceram no período de 103 a 100 a.C. Segundo
Norma Musco Mendes (1988, p. 63-64), os Populares eram aqueles que “através de
programas de reformas buscavam o apoio do povo” e os Ótimos (Optimates) eram os
que tinham como objetivo central “manter ou restaurar o poder do Senado, associando a
existência de um Senado poderoso à manutenção da liberdade republicana”. Estas duas
facções surgiram como consequência direta do assassinato dos irmãos Graco pela
nobreza senatorial. Um grupo de adeptos tornou-se o continuador do trabalho dos
reformadores, tendo tomado o nome de populares ou defensores do povo, e as medidas
propostas por Caio Graco serviram de base para o programa da recém-surgida facção
popular; em reação a este novo movimento organizado dos reformistas, a facção
senatorial passou a autodenominar-se os optimates.
Caio Mário foi um dos maiores expoentes da facção popular. Ele era um homo
novus e se notabilizou como um dos maiores generais e cônsules da história da
república romana. Ao defender a Itália contra a invasão dos cimbros e teutões no ano de
102 a.C., Caio Mário teve um enorme reconhecimento popular, tendo sido conferido a
ele o cognome de “terceiro fundador de Roma”, sendo os outros dois o lendário
Rômulo, fundador de Roma, e Marco Fúlio Camilo, o destruidor de Veios (396 a.C.),
que reconstruiu Roma depois da invasão dos gauleses (387-386 a.C.). Foi durante a
guerra com os cimbros que Mário realizou a reforma do exército que permitiu que os
proletários sem bens (capite censi) fizessem parte do exército romano, sendo equipados
pelo Estado. Foi nessa conjuntura que se combinou uma das mais graves guerras
externas da história de Roma e uma das mais importantes revoltas de escravos, a
Segunda Guerra Servil da Sicília (104-101 a.C.) em que se constituiu o exército
profissional no lugar do exército de camponeses-cidadãos-soldados, base material da
República romana, sendo a nova força militar também uma nova e decisiva força
política.
A crise política e social crônica de fins da República só teve solução com o
projeto cesarista de governo. Este representou um projeto conservador, corporificado na
aliança forjada entre o César, o Senado e o Exército, com o respaldo das massas. Esta
aliança conservadora e a afirmação desta alternativa societária reconfiguraram o aparato
político-administrativo para ajustá-lo às novas necessidades do império mediterrânico e
do sistema social baseado na elevada concentração fundiária e na escravidão-mercadoria
empregada em larga escala como modelo econômico e social hegemônico. As mudanças
processadas no aparato político-administrativo de Roma relacionavam-se com a
consolidação de elementos que estabeleciam um domínio oligárquico, de homens ricos e
possuidores de terras, membros da aristocracia ou não, com muitos libertos grandes
proprietários de terras, mas com um inegável predomínio da nobreza senatorial no que
se refere à condução dos negócios de Estado e ao direcionamento da máquina pública
para a consecução de seus interesses e objetivos.
O consenso aristocrático tomou forma no regime monárquico. A tendência
exclusivista da nobreza senatorial romana prevaleceu, tendo os senadores, porém, de
ceder o monopólio do poder político e depositar na figura do César a autoridade que
antes era sua. Esta alternativa era a que melhor preservava os privilégios sociais
conquistados pela nobilitas e promovia o ajuste perfeito das instituições políticas às
condições econômicas vigentes. As convulsões políticas e sociais dos séculos II e I a.C.
tiveram fim com o Principado de Augusto. Araújo (1999, p. 206) destaca os elementos
que conduziram ao advento do Principado, como a forma político-jurídica capaz de
atender aos reclamos dos variados grupos sociais:
A revolta de escravos liderada por Espártaco e a Guerra Social sinalizaram
para as classes dominantes que o sistema escravista e, inclusive, as relações
com outros segmentos sociais – os italianos, os homens livres e pobres –
deveria, para ser mantido, sofrer alguns ajustes: os populares deveriam
receber mais atenção a seus reclamos, daí a política imperial de “panis et
circenses”; os escravos deveriam ser mais controlados, cerceados em seus
movimentos, de modo a evitar revoltas, mas, por outro lado, a sanha dos
senhores deveria ser coibida pelo Estado para que não houvesse exacerbação
de ânimos e, consequentemente, rebeliões; os italianos deveriam ter suas
reivindicações atendidas, e serem integrados, e foram atendidos antes mesmo
do Principado.
O impacto dessas revoltas na vida romana pode ser notado pela legislação
aprovada no período do regime imperial que regulava as relações entre amos e servos. O
imperador Adriano aprovou uma série de leis que favoreciam os escravos, como a
restrição do uso da tortura para extrair informações dos escravos, a proibição da venda
de um escravo, sem razão, para uma escola de gladiadores ou para um bordel e ainda a
abolição dos ergástulos, as prisões dos escravos (MASSEY; MORELAND, 1978, p.
56).
A nova máquina estatal funcionava como um mecanismo político-ideológico de
dominação social e de estabilização política da sociedade romana. A situação de
Guerras Civis, Guerras Servis e Guerra Social colocavam em risco a unidade do tecido
social romano. A monarquia militar-republicana, surgida da crise do século I a.C.,
apresentou também um novo discurso ideológico. O controle das forças armadas era
fundamental para o exercício efetivo do poder e era a peça essencial no jogo político.
No entanto, sem um novo discurso que refletisse a nova conjuntura social, dificilmente
seria possível estabelecer este novo domínio em bases sólidas. O estoicismo foi uma das
vertentes filosóficas que funcionaram como parte desse mecanismo de dominação
político-ideológica do regime imperial. O reconhecimento da humanidade dos escravos
era parte integrante desse discurso, que se popularizou bastante no século I d.C., durante
o Alto Império. É impossível desconsiderar o peso das grandes revoltas servis do
período republicano na constituição de um novo paradigma sobre a escravidão, que
pode ser constatado nos escritos de Sêneca:
“Eles são escravos”, as pessoas declaram. Não, eles são homens. “Escravos”.
Não, eles são despretensiosos amigos. “Escravos”. Não, eles são seus
camaradas-escravos, se refletir que a fortuna tem direitos iguais tanto sobre
escravos como sobre homens livres. (SÊNECA, Epistulae 47.I, IO
(cf.17)
As grandes rebeliões servis e a crise do paradigma escravista republicano
Um dos maiores ideólogos representantes daquilo que chamaremos de
paradigma escravista republicano foi Catão. Ao contrário dos escritores do período do
Principado, durante o período republicano tanto o tratamento conferido na prática aos
escravos quanto o discurso ideológico – mesmo havendo exceções – partiam da
premissa de que o escravo era semelhante a um animal e sua única função, a única razão
de sua existência, era proporcionar lucro e bem-estar ao seu amo. Catão era o porta-voz
desta tendência dominante na República. Para ele, o escravo era, antes de mais nada,
uma propriedade, um instrumento de produção destinado a retirar do solo a riqueza do
proprietário rural. Na passagem a seguir, temos uma boa síntese desta concepção do
escravo como mera mercadoria:
O senhor (pater familias)...quando for informado, deve fazer as contas dos
trabalhos e das diárias; se o trabalho não aparece, se o capataz diz que fez o
melhor possível, mas os escravos estiveram doentes, fez mau tempo, que
alguns escravos fugiram, que fez trabalho obrigatório para o Estado, quando
tiver dito todas estas coisas, faça-o voltar às contas dos trabalhos e das
diárias... Quando tiver sabido, corretamente, o que deve ainda ser feito,
mande-as fazer, checar as contas de prata e trigo e do que foi preparado como
forragem, as contas do vinho e do azeite, o que se vendeu, do que se obteve,
do que sobrou, do que há ainda à venda, que os empréstimos feitos sejam
cobrados; o que sobrou deve ser mostrado; se falta qualquer coisa, compre; se
sobrou, venda; os trabalhos a serem arrendados devem ser arrendados; deve
deixar por escrito quais trabalhos devem ser feitos por locação e quais não.
Examine o gado, faça um leilão: venda o azeite, se o preço for bom, vinho, o
trigo que sobrou, os bois velhos, gado em mau estado, lã, couro, carro velho,
ferramentas velhas, os escravos velhos ou doentes e tudo o que sobrar, venda;
o senhor deve ser um vendedor e não um comprador. (CATÃO, De Agri
Cultura, 2, I-7)
Nesta comunicação, tomamos de empréstimo os conceitos elaborados por João
José Reis acerca das fugas-rompimento que manifestaram o “não quero” dos escravos, a
sua inconformidade com o cativeiro, e que o simples fato de se rebelarem já evidenciava
uma ruptura com o paradigma ideológico existente, mesmo que parcial, mas sempre
forçando uma reelaboração teórica ou um aumento da repressão como mecanismo de
controle social; neste caso, tal como Reis chamou de paradigma ideológico colonial aos
valores da sociedade escravista brasileira que funcionavam como o principal mecanismo
dificultador das fugas e das revoltas (REIS, 2009, p. 66), chamaremos de paradigma
ideológico republicano ou paradigma escravista republicano os valores da Roma
republicana e sua crítica também foi feita na prática social pelas rebeliões que eclodiram
nos últimos séculos da República.
A excepcionalidade dessas revoltas escravas pode ser explicada pelos fatores
limitadores estruturais e conjunturais para a sua ocorrência, havendo levantes de
escravos sempre que a oportunidade surgia, evidenciando que não existia um controle
ideológico absoluto dos servos nem o seu consentimento. Nas relações particulares,
privadas, entre determinado senhor e determinado servo possivelmente devia ser
percebido que os escravos não eram naturalmente inferiores, bem como constatada a sua
humanidade, mas não no discurso oficial e público. No entanto, isto mudaria com as
grandes insurreições escravas que foram de tal monta que produziram mudanças na
política social da classe dominante para as classes subalternas e condicionaram o
desenvolvimento ulterior do modo de produção escravista, com novos mecanismos de
regulação e o arbitramento do Estado nas relações sociais. Essas grandes revoltas de
escravos tiveram também uma influência importante sobre o fim da República e o
advento do Principado, senão de maneira direta e decisiva, pelo menos de uma maneira
indireta, como forma de contenção daqueles que eram a principal força produtiva da
economia romana. Desse modo, a mobilização política dos escravos, a manifestação de
sua humanidade na cena pública, não pôde ser ignorada nem ocultada. Intelectuais
orgânicos da classe dominante romana como Plutarco deixaram escapar vez ou outra os
elementos que permitem a crítica do paradigma escravista republicano:
Esta foi a mais dura batalha de todas. Ele (Crasso) matou doze mil e
trezentos, e apenas dois deles foram encontrados com ferimentos nas costas:
todos os outros ficaram firmes em seus postos e morreram combatendo os
romanos. (PLUTARCO, Crasso, Ch. 11.3)
Revolução Política e Fuga Coletiva Insurrecional: as revoltas de Euno e de
Espártaco
O líder da Primeira Guerra Servil era um escravo sírio chamado Euno. Ele era
um escravo doméstico e um fazedor de milagres, tornando-se chefe religioso, além de
chefe político e militar, organizando os escravos da Sicília contra os seus amos. A
religião teve papel fundamental nessas revoltas, pois funcionava como um programa,
apontando para uma estratégia e perspectivas, uma orientação geral, partindo os
rebeldes de algumas referências conhecidas e comungadas por todos, dando, assim, a
necessária coesão ao grupo. Depois de consolidada a vitória, Euno foi eleito rei,
intitulando-se rei Antíoco, e organizou um conselho formado pelos melhores dentre o
exército rebelde, sendo um deles um escravo chamado Aqueu. Mais tarde, tendo o eco
da rebelião ressoado em outros cantos da Sicília, alastrando-se para outras cidades a
revolta servil, um ex-pirata da Cilícia, Cléão, liderou um movimento nas cercanias de
Agrigento, ocupou a cidade e depois se uniu a Euno. Além destes dois generais, Euno
contava ainda com dois pastores como seus lugares-tenentes, Hérmias e Zêuxis.
Completando sua corte, a esposa de Euno foi feita rainha. É importante observar que os
escravos rebeldes não criaram nenhuma nova forma de autoridade estatal, nenhum novo
tipo de governo ou de regime político. Eles apenas reproduziram as formas conhecidas
de governo e o tipo de governo conhecido por eles e talvez considerado legítimo e até
mesmo o melhor era o sistema da monarquia helênica oriental, adotado, então, no novo
governo da Sicília. Sendo assim, os escravos tomaram o poder, isto é, assumiram o
controle da ilha e estabeleceram um reino próprio, um governo autônomo, mas sem
inovar, sem revolucionar as formas políticas existentes. Diodoro explica as razões da
escolha de Euno como chefe de Estado:
Em seguida, Euno foi eleito rei. Isto não se deveu ao fato dele ser
particularmente corajoso ou que tenha se destacado como comandante, mas
simplesmente por ser um fazedor de milagres e por ter iniciado a revolta.
(DIODORO, 14)
Os escravos rebeldes chegaram a escravizar os seus antigos senhores e
elementos da população livre que detinham conhecimentos estratégicos para sua
organização político-administrativa e político-militar, como homens que fossem capazes
de fabricar armas:
Estabelecido como senhor dos rebeldes em todos os assuntos, ele convocou
uma assembléia e matou as pessoas de Enna que haviam sido capturadas,
exceto aqueles que eram hábeis em fazer armas; ele forçou-os a realizar seu
trabalho acorrentados. (DIODORO, 15)
Esta insurreição escrava teve um impacto sobre outras comunidades, províncias
e propriedades com trabalhadores escravos; somente a destruição do exército rebelde da
província da Sicília poria fim à onda de insubordinação desencadeada por esse conflito.
A repressão que se seguiu serviu para incutir o medo nos demais escravos do império,
impedindo que ocorressem outras revoltas. Este fato foi de fundamental importância,
pois o insucesso das revoltas que eclodiram na esteira da rebelião siciliana e o
retrocesso do movimento, marcando um recuo da reação servil contra a opressão
romana, levaram ao isolamento dos rebeldes da ilha da Sicília e à sua consequente
derrota. Como os escravos não eram uma classe para si e não possuíam uma
organização que ultrapassasse o nível local (as revoltas tinham um caráter local, restritas
a um espaço físico, limitadas a uma região qualquer, não havendo unidade entre os
vários processos), não foi possível articular um amplo movimento pela libertação dos
escravos ou uma frente de resistência contra a opressão romana. Assim, mesmo sendo
possível forjar a unidade entre os escravos de um mesmo senhor, em uma mesma
propriedade, ou de uma mesma região ou província, esse caráter local mostrava-se uma
barreira intransponível no processo de enfrentamento com a classe senhorial romana,
itálica e siciliana. Esta divisão existente entre os próprios escravos, que não tinham uma
consciência de classe, e a ausência dos meios de comunicação e transporte que
possibilitassem materialmente esta articulação maior entre os servos das distintas
províncias facilitaram a repressão. Diante da inexistência de uma alternativa societária,
da impossibilidade de uma solução revolucionária para o escravismo antigo, os
movimentos de resistência tendiam a operar com as mesmas ideias, reformulando-as,
talvez, com base em outras tradições, locais ou estrangeiras, mas, de qualquer modo,
conservadora e sem uma perspectiva transformadora.
A fase final da guerra foi marcada pela contraofensiva romana:
Foi nesta ocasião que o irmão de Cléão, Comano, foi capturado, tentando
escapar da cidade sitiada. No fim o sírio Serapião traiu a cidadela e o
governador foi capaz de trazer sob seu controle todos os fugitivos na cidade.
Ele os torturou e depois os atirou de um penhasco. De lá ele foi para Enna, a
qual ele sitiou da mesma maneira; ele forçou os rebeldes a ver que suas
esperanças tinham chegado a um beco sem saída. Seu comandante Cléão veio
para fora da cidade e lutou heroicamente com uns poucos homens até que os
romanos foram capazes de mostrar o seu cadáver coberto de feridas. Esta
cidade também foi capturada através da traição, até porque ela não poderia ter
sido tomada nem pelo mais poderoso exército. Euno levou sua escolta de uns
mil homens e fugiu de uma forma covarde para uma região onde havia
muitos penhascos. Mas os homens com ele perceberam que eles não
poderiam evitar seu destino, pois que o governador (cônsul) Rupilius já
estava indo na direção deles, e eles decapitaram uns aos outros com suas
espadas. O fazedor de milagres Euno, o rei que tinha fugido por sua covardia,
foi arrastado para fora das cavernas onde ele estava se escondendo com
quatro serviçais – um cozinheiro, um padeiro, um homem que o massageava
no banho e um quarto que costumava entretê-lo quando ele estava bebendo.
Ele foi posto sob custódia; seu corpo foi comido por uma multidão de
piolhos, e ele terminou os seus dias em Morgantina na maneira apropriada
por sua vilania. Em seguida, Rupilius marchou através de toda Sicília com
uns poucos soldados selecionados e libertou-a de todo vestígio de bandos de
bandidos mais cedo que o esperado. (DIODORO, 20-23)
O beco sem saída das sociedades antigas pode ser visto como o fator estrutural
determinante para a derrota de todas as rebeliões servis. Serapião traiu os seus
companheiros, cedendo ao desespero, e permitiu que as tropas romanas entrassem na
cidade de Tauromênio. O mesmo ocorreu na cidade de Enna, quando outro escravo traiu
o movimento também. Antonio Gramsci foi o teórico marxista que melhor elaborou
sobre a função desarticuladora da ideologia dominante nas revoltas dos subalternos:
Os grupos subalternos sofrem sempre a iniciativa dos grupos dominantes,
inclusive quando se rebelam e se levantam. Na realidade, inclusive quando
parecem vitoriosos, os grupos subalternos se encontram em uma situação de
alarma defensivo. (GRAMSCI, C.XXIII, R. 191-193)
Assim, partimos da compreensão desta revolta como uma insurreição popular.
Entretanto, os escravos não se rebelaram simplesmente, eles derrubaram o antigo poder
e assumiram o controle político-administrativo da ilha da Sicília. Este elemento de
qualidade superior não foi suficiente, no entanto, para produzir uma nova sociedade.
Permaneceram como realidades sociais a escravidão e a monarquia como modelo de
regime político, sendo implantada pelos rebeldes após a tomada do poder. No campo do
marxismo, alguns historiadores e teóricos dedicaram-se a diferenciar insurreições de
revoluções e revoluções políticas de revoluções sociais. Uma revolução social ocorre
quando se modifica a estrutura econômico-social de uma sociedade determinada. Isto
evidentemente não se deu no caso da revolta dos rebeldes sicilianos. Contudo, este não é
o único tipo de revolução existente na realidade para os marxistas. O conceito de
revolução política é fundamental para o melhor entendimento deste evento.
Um importante teórico marxista russo, Leon Trotsky, criou este conceito para
diferenciar mudanças de regime político de mudanças econômicas e sociais e para
caracterizar quando uma classe social substitui outra no poder, sem que a estrutura
social se modifique necessariamente. A simples derrubada de um governo não configura
um processo revolucionário autêntico; nem mesmo a tomada do poder quando produto
da ação de uma minoria. A conquista do poder político de Estado para ser algo mais que
um golpe de Estado tem de ser obra de uma classe social progressista e não de um setor
reacionário ou conservador da classe dominante ou ainda de setores políticos e sociais
minoritários. É claro que para que possamos chamar um movimento de revolucionário a
sua ação precisa ser mais que uma insurreição. A insurreição, nesse caso, tem de ser
somente o ponto culminante de um processo mais amplo e mais profundo. Isto porque
podem existir insurreições que não sejam revoluções ou parte integrante de um processo
revolucionário. Desse modo, o que nos permite afirmar que a Primeira Revolta de
Escravos da Sicília tratou-se de uma revolução política foi a tomada do poder político
de Estado e o estabelecimento de um novo governo pelos rebeldes sicilianos. A
revolução escrava aparece aqui, portanto, não na forma apresentada pela historiografia
stalinista, mas de forma mediada, utilizando o repertório conceitual que é patrimônio do
marxismo que rompeu com o dogmatismo stalinista. Este conceito de revolução política
é apresentado por Trotsky: “O mecanismo político da revolução consiste na
transferência do poder de uma classe para outra. A insurreição, violenta por si mesma,
realiza-se habitualmente em curto espaço de tempo” (TROTSKY, 1978, p. 184).
Na historiografia soviética, de inspiração stalinista, as revoltas de escravos, em
especial a revolta de Espártaco, aparecem como verdadeiras revoluções contra o sistema
escravista, sendo a causa da queda do Império Romano uma revolução de escravos,
camponeses e invasores germanos no século V d.C., tendo sido a primeira fase deste
processo, que ficou conhecido como “a revolução em duas fases”, justamente a revolta
dos escravos espartacanos. Desse modo, Roma teve sua derrocada pela via
revolucionária, tendo os escravos antigos como protagonistas dessa revolução
(ARAÚJO, 1999, p. 234-235). Em historiadores como Misulin a interpretação histórica
estava bastante impregnada de conteúdo político-ideológico. A sua análise dava
justificação teórica ao combate empreendido pela maioria da direção do PCUS aos seus
opositores. Assim, Espártaco teria sido o verdadeiro “líder do proletariado” e o “Grande
Líder”, que teve seus planos derrotados pela indisciplina da “pequena burguesia”,
representada pelos homens livres e pobres e pelos “extremistas de esquerda” Crixo,
Enomau e Casto (as lideranças dissidentes do exército espartacano), que poderiam ser
identificados como os “trotskistas” da oposição de esquerda (RUBINSOHN, 1987, p.
8).
A revolta de Espártaco guarda algumas similitudes, mas muitas diferenças, em
relação à sua antecessora. Começando por uma semelhança importante, em ambos os
casos, a religião cumpriu um papel decisivo na organização dos rebeldes e na escolha
dos líderes. A companheira de Espártaco era uma adivinha de Dionísio. O casal místico
deu maior confiança aos rebeldes pela relação com os deuses e com o sobrenatural e a
possibilidade de prever os eventos e de invocar os deuses para o sucesso, sendo capazes,
na visão dos escravos e dos homens livres e pobres que aderiram à revolta, de conduzilos à vitória, com o apoio dos deuses salvadores – Dionísio e Sabázio (deus filho de
Júpiter e pai de Dionísio). A liderança simbólica e efetiva do gladiador trácio, casado
com uma sacerdotisa de Dionísio, provinha de sua capacidade, de sua inteligência e
coragem postas em destaque por Plutarco e Apiano, mas também das crenças populares
da época, que o habilitavam, mais do que a qualquer outro, a ser o chefe principal do
exército rebelde.
A rebelião teve início em uma escola de gladiadores em Cápua, no Sul da Itália.
Esta revolta logo se generalizou e aquilo que era um pequeno grupo de escravos
amotinados transformou-se em um verdadeiro exército servil. O levante de escravos
libertos foi desde o princípio uma fuga. Os gladiadores revoltosos se refugiaram no
Monte Vesúvio, ou seja, em uma posição geográfica favorável, formando um tipo de
“quilombo”. Fugas de escravos e formação de quilombos eram as formas básicas de
fugas para fora, de expressão mais radical do “não quero” dos escravos tanto na
Antiguidade quanto no Novo Mundo. O Vesúvio era uma fortaleza natural inacessível e
inexpugnável, constituindo uma importante base de operações para os revoltosos e um
refúgio relativamente seguro para os fugitivos dos ergástulos e da morte na arena, além
dos pobres da Península Itálica, que viram neste movimento, que contava com uma
liderança como Espártaco, que dividia o produto dos saques de forma igualitária, como
uma estratégia de sobrevivência. A perseguição empreendida pelos romanos somada ao
fato de os mesmos subestimarem aquele movimento insurrecional fizeram com que os
fugitivos formassem um exército e que os espartacanos percorressem toda a Itália,
atendendo aos anseios daqueles que aderiam à comunidade móvel de ex-escravos e
homens livres e pobres e nas diversas rotas de fuga traçadas de acordo com as
possibilidades. A maior fuga de escravos da História marcou profundamente a visão de
mundo da classe dominante romana. Uma fuga coletiva insurrecional dessas dimensões
forçaria os proprietários romanos a irem à guerra não pela glória, mas pela própria vida.
Este processo é retratado por Apiano:
Ao mesmo tempo, na Itália, entre os gladiadores que treinavam para o
espetáculo em Cápua, Espártaco, um homem da Trácia que havia servido
certa vez como soldado com os romanos e que, por ter sido feito prisioneiro e
vendido, encontrava-se entre os gladiadores, persuadiu a uns setenta de seus
companheiros a lutar por sua liberdade ao invés de divertir os espectadores.
Eles dominaram os guardas e fugiram, armando-se com clavas e adagas de
algumas pessoas nas estradas e refugiaram-se no Monte Vesúvio. Ali deu
acolhida a muitos escravos fugitivos e a alguns camponeses livres e saqueou
os arredores, tendo como lugares-tenentes aos gladiadores Enomau e Crixo.
Por repartir o botim em partes iguais, teve logo uma grande quantidade de
homens. (APIANO, As Guerras Civis, XIV, 116)
Além dos elementos já levantados, este fragmento apresenta outras questões
como a suposta atuação de Espártaco como soldado do exército romano. Assim,
Espártaco, o escravo gladiador, teria aprendido no seu período de serviço militar os
conhecimentos mais avançados de estratégia militar do mundo antigo – a estratégia de
guerra romana. Este argumento poderia tanto ser verídico quanto uma justificação
ideológica para a extrema capacidade de um inimigo tão valoroso de Roma, que
derrotou seus melhores generais e tropas bem treinadas de cidadãos romanos. Os saques
e sua divisão igualitária explicavam a adesão de camponeses livres e do crescimento
rápido no número de revoltosos. O igualitarismo presente em Espártaco possivelmente
exerceu grande influência na sua consolidação como a principal liderança do exército
rebelde, sendo mais um aspecto de sua extraordinária capacidade como organizador,
sedimentando a unidade de escravos de diferentes etnias e deles com homens da plebe
rural empobrecidos, itálicos livres, por meio de laços de solidariedade mútua. Nesse
sentido, esta revolta foi mais longe na ruptura com os valores da sociedade romana,
superando o paradigma escravista republicano, contestando a ideologia escravista
romana, com uma organização de homens livres e iguais.
A opção de Espártaco em sua estratégia militar de realizar uma guerra de
guerrilha contra as tropas romanas possibilitou que o movimento armado resistisse por
mais tempo e fosse acumulando forças, tanto numéricas quanto morais, com as
sucessivas vitórias contra o exército da maior potência mundial. No entanto, esta era
uma situação que não poderia se perpetuar indefinidamente e o combate em campo
aberto, o enfrentamento direto entre as forças beligerantes, não tardava a acontecer.
Talvez se Espártaco tivesse sido bem-sucedido em seu plano de fugir para fora da Itália,
sua tática tivesse sido realmente eficaz. No entanto, era uma tática a serviço de uma
política e a não concretização da última limitou as possibilidades de vitória a partir de
uma tática de guerrilha. O prolongamento da revolta infundiu o medo na classe
dominante romana, ampliou o exército rebelde, mas também levou o Senado romano a
tratar a situação da maneira que era devido, reconhecendo a gravidade daqueles eventos.
O conflito chega ao fim com um desfecho trágico para os espartacanos:
Crasso tentou de todas as maneiras dar combate a Espártaco para que
Pompeu não pudesse colher a glória da guerra. O próprio Espártaco,
pensando antecipar-se a Pompeu, convidou Crasso a entender-se com ele.
Quando suas propostas foram rejeitadas com desprezo, ele resolveu arriscar
uma batalha, e como sua cavalaria havia chegado, avançou com todo o seu
exército através das linhas do exército que lhe fazia cerco, e avançou para
Brundusium com Crasso perseguindo. Quando Espártaco soube que Lúculo
acabara de chegar a Brundusium da sua vitória contra Mitrídates, perdeu toda
esperança e trouxe suas forças, que eram então muito numerosas ainda, para
perto das de Crasso. A batalha foi longa e sangrenta, como era de se esperar
de tantos milhares de homens desesperados. Espártaco foi ferido na coxa por
uma lança e ajoelhou-se, segurando seu escudo à sua frente e lutando assim
contra seus atacantes até que ele e a grande massa dos que com ele estavam
foram cercados e mortos. O resto de seu exército entrou em pânico e foi
massacrado maciçamente. Tão grande foi a matança que se tornou impossível
contar os mortos. Os romanos perderam mais ou menos mil homens. O corpo
de Espártaco não foi achado. Muitos dos seus homens fugiram do campo de
batalha para as montanhas, onde os seguiu Crasso. Eles se dividiram em
quatro grupos, e continuaram a lutar até que todos pereceram, com exceção
de seis mil que foram capturados e crucificados ao longo de toda a estrada de
Cápua a Roma. (APIANO, As Guerras Civis, XIV, 120)
Keith Bradley, ao comparar as revoltas de escravos na Antiguidade clássica com
as revoltas de escravos no Novo Mundo, aponta para a excepcionalidade de rebeliões
escravas como a de Espártaco e a do Haiti:
No entanto, seja numa grande escala ou num nível mais reduzido, como a
conspiração do ano 24 d.C. organizada no sul da Itália por um antigo membro
da guarda pretoriana, as revoltas de escravos foram muito escassas depois de
Espártaco, pelo que muitos estudiosos tem considerado que não havia
nenhum motivo para se sublevar. A principal falha desta tese é supor
falsamente que a revolta era a única via de que dispunham os escravos e que,
em sua ausência, reinava a calma. No Novo Mundo, as revoltas de escravos
foram particularmente virulentas no Caribe, porém no Brasil ou nos Estados
Unidos, como em Roma, foram pouco freqüentes. Na realidade, não se
presencia uma revolta parecida com a de Espártaco até princípios do século
XIX, quando o movimento de escravos liderado em Santo Domingo por
Toussaint L’ouverture cria o moderno Estado do Haiti. (BRADLEY, 1998,
p.137-138)
Os escravos antigos não tinham, como o proletariado moderno, organizações
perenes, como sindicatos ou partidos, ou mesmo instituições e organizações políticas
como as criadas pelos plebeus no curso de sua luta contra a nobreza patrícia e que se
integraram ao Estado Romano. Cada luta começava do zero. Eles não tinham também
intelectuais orgânicos que formulassem uma teoria e um programa revolucionários. Já
vimos que, muitas vezes, era a religião compartilhada pelos escravos que funcionava
como programa. Além disso, conforme Schiavone (2005, p. 168), nunca existiu uma
alternativa do ponto de vista produtivo, nem na teoria nem na prática. Com isso,
tornava-se impossível para os escravos rebeldes transformarem sua revolta em uma
verdadeira revolução social sem formas revolucionárias, mesmo que embrionárias, na
realidade social vigente, ou teorias revolucionárias que surgissem de um contexto
específico e se alicerçassem em uma classe social progressista ou em uma aliança de
classes revolucionárias e progressistas. Não existia, portanto, a possibilidade histórica
de chegarem à consciência de classe e, por conseguinte, ao programa político da
revolução social. Sendo assim, os escravos que se levantaram na Roma antiga
desenvolveram um certo grau de consciência, que poderia ser classificado, de acordo
com os conceitos forjados pelos estudiosos e teóricos marxistas, como um sentimento de
classe. Nessa identidade de classe surgida do processo de luta contra a situação de
escravidão dos envolvidos nas rebeliões, confundia-se a consciência social com todas as
influências culturais e religiosas. Todos estes elementos combinados em uma situação
histórica determinada, produto de uma conjuntura específica, configuravam a psicologia
de classe dos escravos rebeldes. Apesar da proximidade e similaridade dos conceitos,
preferimos o conceito sentimento de classe em vez de psicologia de classe por expressar
com maior exatidão o processo de experiência dos sujeitos, que formavam, nestas
circunstâncias, o sujeito social da luta libertária (talvez seja um termo mais adequado
diante da inexatidão do uso luta antiescravista ou revolucionária, sendo tentador de fato,
mas que não corresponde à realidade). A ideia de identidade também é mais forte no
conceito de sentimento de classe. O sentir da classe é um conceito que aparece primeiro
em Lênin (1988, p. 24) e depois é desenvolvida por Raymond Williams (1988, p. 134135). A ideia de sentimento se relaciona com a de lampejos de consciência, mas
transmite certa estabilidade em tempo determinado, enquanto lampejo remete a algo
episódico, explosivo. De qualquer modo, a ênfase em uma definição que evidencie o
caráter dinâmico e processual da realidade norteia este trabalho e aponta um caminho
que nos parece mais interessante. A inexistência de uma genuína consciência de classe e
o fato de os escravos antigos não terem se constituído em uma classe para si não
impediram que, a partir de sua experiência nas lutas concretas e da exploração diária, os
escravos desenvolvessem um antagonismo em relação aos senhores e conseguissem
manifestar essa oposição de forma violenta e unificada, buscando obter sua liberdade.
Em nossa análise, vimos que as revoltas eram desarticuladas entre si e isto demonstra,
de fato, uma ausência de organização em termos territoriais mais amplos, sendo
rebeliões locais, que, dependendo do seu desenvolvimento, podiam estender-se para
além da região onde haviam se iniciado. Porém, mesmo neste nível regional, algumas
delas chegavam a um grau de organização relativamente elevado.
Conclusão
A contestação prática da ideologia escravista romana foi a grande vitória
simbólica das insurreições escravas dos séculos II e I a.C. Se não podemos falar da
substituição de uma visão de mundo que percebia os escravos como seres inferiores,
podemos, ao menos, dizer que essas revoltas produziram uma fissura no paradigma
ideológico vigente, que tinha suas bases na teoria da escravidão natural de Aristóteles e
no discurso escravista de intelectuais romanos como Catão.
Devemos destacar que se a crise e a queda do Império foram acompanhadas pela
crise do escravismo antigo, a crise da República foi acompanhada de seu florescimento,
da sua implantação em ritmo acelerado, gerando mudanças sociais profundas e abalando
as velhas estruturas da república oligárquica. Na medida em que não existia um
aparelho burocrático em todos os seus aspectos – político, jurídico, administrativo e
militar – totalmente adequado para regular essa nova economia e as novas relações
sociais que com ela se desenvolviam, a eclosão de uma série de conflitos que marcaram
os séculos II e I a.C., sendo o último século da República marcado pelos mais graves
confrontos entre os cidadãos romanos da classe dominante, especialmente, os romanos e
seus aliados e os senhores e seus escravos. O Principado foi, então, um ajuste políticoadministrativo que correspondia às transformações econômico-sociais do período em
que explodiram a revolta de Espártaco, a Guerra Social e a Conjuração de Catilina.
INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Fontes
APIANO. História de Roma II: Guerras Civiles (libros I e II). Tradução e notas de
Antonio Sancho Royo. Madri: Editorial Gredos S.A., 1985.
ARISTÓTELES. A Política. 15.ed. Tradução: Nestor Silveira Chaves. Introdução: Ivan
Lins. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações S.A., 1988.
CARDOSO, Ciro Flamarion. Trabalho Compulsório na Antiguidade. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1984. (Coletânea de documentos).
CATÃO. De Agri Cultura. Tradução de William Davis Hooper. Londres: William
Heinemann Ltd., 1979.
GARNSEY, Peter. Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine. Nova Iorque:
Cambridge University Press, 1996. (Coletânea de documentos).
PLUTARCO. Vies Parallèles. Tradução de Bernard Latarus. Tomo II. Paris: Garnier,
1950. p. 49-55. Traduzido por Ciro F. Cardoso.
WIEDEMANN, Thomas. Greek and Roman Slavery. Baltimore: The Johns Hopkins
Press, 1981. (Coletânea de documentos).
Bibliografia
ALFOLDY, Géza. A História Social de Roma. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. Tradução de Beatriz
Sidou. 5. ed. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 2004.
ARAÚJO, Sônia Regina Rebel. A Visão dos Letrados sobre Rebeliões de Escravos no
Mundo Romano: Uma Abordagem Semiótica de Fontes Literárias. Volume I. 1999. 198
f. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1999.
_______. Religião, Política e Revolta de Escravos: o caso de Espártaco. Niterói:
CEIA/Depto.de História da UFF, 2006.
ARCARY, Valério. As Esquinas Perigosas da História. São Paulo:Editora Xamã, 2004.
BEARD, Mary; CRAWFORD, Michael. Rome in the Late Republic. Londres: Gerald
Duckworth & Co. Ltd., 1985.
BLOCH, Leon. Lutas Sociais na Roma Antiga. Lisboa: Publicações Europa-América,
1956.
BRADLEY, Keith. Esclavitud y Sociedad em Roma. Tradução de Fina Marfà.
Barcelona: Ediciones Península S.A., 1998.
BRAUDEL, Fernand. O Espaço e a História no Mediterrâneo. Tradução de Marina
Appenzeller. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1988.
BRITO, Orsely Guimarães Ferreira. “Heráclito, o Pensador do Logos”. Cadernos do
ICHF da Universidade Federal Fluminense, Niterói, n. 7, 1989.
CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. A Afro-América: A escravidão no novo mundo.
São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1982. (Coleção Tudo é História).
_______. “Economia e Sociedade Antigas: Conceitos e debates”. In: ______. Sete
Olhares sobre a Antigüidade. Brasília: Editora UNB, 1994.
______. “Sociedade, Crise Política e Discurso Histórico-Literário na Roma Antiga”.
Revista Phoînix da UFRJ – Laboratório de História Antiga. Rio de Janeiro: Sette Letras,
1998.
CARDOSO, Ciro Flamarion Santana; PÉREZ, Héctor. El Concepto de Classes
Sociales. San José, Costa Rica: Editorial Nueva Década, 1982.
______. Os Métodos da História. Tradução de João Maia. 6. ed. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 2002.
FINLEY, Moses. Escravidão antiga e Ideologia Moderna. Tradução de Norberto Luiz
Guarinello. Rio de Janeiro: Edições Graal Ltda, 1991.
GENOVESE, Eugene. A Economia política da escravidão. Tradução de Fanny Wrobel
e Maria Cristina Cavalcanti. Rio de Janeiro: Pallas S.A., 1976. (Coleção América:
Economia e Sociedade).
GOLDMANN. A Sociologia do Romance. Tradução de Álvaro Cabral. 3. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1976.
______. Ciências Humanas e Filosofia. Tradução de Lupe Cotrim Garaude e J. Arthur
Giannotti. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967.
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 1978.
GRAMSCI, Antonio. Antología. Seleção, tradução e notas de Manuel Sacristán. Cidade
do México: Siglo XXI, 1970.
______. Cadernos do cárcere. Tradução de Luiz Sérgio Henriques, Marco Aurélio
Nogueira e Carlos Nelson Coutinho. 3. ed., v. 3. Rio de Janeiro: Editora Civilização
Brasileira, 2007.
HESÍODO. Os Trabalhos e os Dias. Introdução, tradução e comentários de Mary de
Camargo Neves Lafer. São Paulo: Iluminuras, 1991.
______. Teogonia – a origem dos deuses. Tradução de Jaa Torrano. São Paulo:
Iluminuras, 1992.
JAMES, C. L. R. Os Jacobinos Negros. Tradução de Afonso Teixeira Filho. São Paulo:
Boitempo Editorial, 2000.
JOLY, Fábio Duarte. A escravidão na Roma antiga: política, economia e cultura. São
Paulo: Alameda Casa Editorial, 2005.
KOVALIOV, S. I. História de Roma. Tradução de Marcelo Ravoni. Tomo II. Buenos
Aires: Editorial Futuro, 1959.
LÊNIN, V. I. Que Fazer? São Paulo: Hucitec, 1988.
LUKÁCS, Georg. “A Consciência de Classe”. In: ______. História e Consciência de
Classe. Tradução de Telma Costa. Porto: Publicação Escorpião, 1974.
MARX, Karl. Formações Econômicas pré-capitalistas. Tradução de João Maia. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1975.
______. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. Seleção por José Arthur Giannotti.
Tradução de Leandro Konder. São Paulo: Editora Abril S.A. Cultural e Industrial, 1974.
(Coleção Os Pensadores).
MASSEY, Michael; MORELAND, Paul. Slavery in Ancient Rome. Londres: MacMillan
Education Ltd., 1978.
MENDES, Norma Musco. Roma Republicana. São Paulo: Editora Ática S.A., 1988.
PRADO, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. 23. ed. São Paulo:
Editora Brasiliense S.A., 2004.
REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: A Resistência Negra no
Brasil Escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
ROSTOVTZEFF, M. História de Roma. Tradução de Waltensir Dutra. 4. ed. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1977.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução de Lourdes Santos
Machado. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda., 1999. (Coleção Os Pensadores).
RUBINSOHN, W. Z. Spartacus’ Uprising and Soviet Historical Writing. Oxford:
Oxford University Press, 1987.
SANTOS, Theotônio. Conceito de Classes Sociais. Tradução de Orlando dos Reis. 2.
ed. Petrópolis: Editora Vozes S.A., 1983.
SCHIAVONE, Aldo. Uma História Rompida: Roma Antiga e Ocidente Moderno.
Tradução de Fábio Duarte Joly. São Paulo: EDUSP, 2005.
TRABULSI, José Antônio Dabdab. “Quando os Excluídos Contam: Escravos, Cidadãos
e a Mobilização Política na Grécia”. In: ______. Ensaio sobre a Mobilização Política
na Grécia Antiga. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.
TROTSKY, Leon. A História da Revolução Russa. Tradução de E. Huggins. 3. ed., v. I.
Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra S.A., 1978.
VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e Escravidão na Grécia
Antiga. Tradução de Marina Appenzeller. Campinas, SP: Papirus, 1989.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1988.
WHITE, K. D. Greek and Roman Technology. Londres: Thames and Hudson Ltd.,
1984.
O “PRÍNCIPE TIRANO” E A “DEMOCRACIA MILITAR” NO PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DE UM IMPÉRIO UNIVERSAL DE ALEXANDRE, O
GRANDE E DE JÚLIO CÉSAR
Rafael Alves Rossi
O objetivo deste artigo é analisar o projeto de construção de um império
universal e de um consenso político e social amplo presentes nos governos de
Alexandre Magno e de Júlio César, entendendo-se ambos como chefes políticos e
militares de uma “democracia militar” como fundamento de sua “tirania”.
A partir dos exemplos de Augusto, sucessor de Júlio César, e de Filipe,
antecessor de Alexandre Magno, fica mais claro quais eram os projetos hegemônicos da
aristocracia romana e da aristocracia macedônia, respectivamente. Nesse sentido,
Alexandre e César representaram elementos divergentes no seio das aristocracias às
quais pertenciam. Mais do que simples representantes de facções dissidentes ou
opositoras, eles lideraram blocos políticos formados por vários grupos sociais e mesmo
étnicos.
Aldo Schiavone (2005, p. 168) retrata o governo de Augusto como uma
“revolução passiva” dos velhos grupos dirigentes. Representou um consenso
conservador, o consenso aristocrático. A identificação de César com o povo, a sua
relação mais direta e mais próxima com as tropas, que ele costumava tratar por
“companheiros de armas”, a sua relação histórica com os populares e sua pertença à
família de Caio Mário combinadas com uma política consciente de governo
“interclassista” tornavam o seu programa inaceitável para a aristocracia romana. Além
disso, o seu governo, especialmente a partir da sua nomeação para ditador vitalício,
passa a ser identificado com a tirania. É o que explica Luciano Canfora (2002, p. 312).
Ele analisa o texto de Plutarco e aponta para o sentido de tirania por ele exposto,
comparando com o tipo de poder que existiu na Grécia, um governo de natureza
popular-autoritária, cujo maior exemplo foi Pisístrato. César exerceu um poder pessoal
contrário às normas constitucionais sem avançar para uma reformulação constitucional
de fato. O recurso a manobras políticas para a implementação de seu programa político
e social, sem o estabelecimento de novas instituições, encontrou o seu limite na
resistência obstinada e feroz dos aristocratas republicanos tiranicidas.
Comparando o programa cesarista original com o regime cesarista estabelecido
pelo cesariano e depois “restaurador republicano” Otávio Augusto, é possível perceber
que o caráter conservador da classe dominante romana de fins da República ainda não
permitia uma grande inovação em termos de política social.
A mesma comparação vale para Filipe e Alexandre. Alexandre Magno elaborou
e aplicou uma política de incorporação das elites asiáticas dos países conquistados e
buscou agir em sua presença à maneira oriental, estabelecendo um diálogo com os
nobres persas, ao mesmo tempo em que a monarquia macedônica de fato se
orientalizava. A maior oposição à política alexandrina partiu dos próprios macedônios e,
principalmente, dos velhos generais da época de Filipe. A discussão entre Alexandre e
Clito, que culminou na morte do último, foi marcada pela defesa de Clito da memória
de Filipe, rei-general dos macedônios e líder dos gregos. Droysen (2010, p. 46) afirma
que o rei Filipe da Macedônia retomou a palavra de ordem de Isócrates de união dos
Estados da Hélade para travar a luta final contra a Ásia. Desse modo, os velhos generais
macedônios e seus aliados gregos se engajaram em uma “cruzada contra os persas”. O
projeto de Alexandre provocou a desconfiança da aristocracia macedônica. Sentiam-se
frustrados por ver os frutos de suas vitórias serem entregues nas mãos dos vencidos
(DROYSEN, 2010, p. 282). No entanto, o episódio que talvez tenha causado maiores
ressentimentos foi a substituição dos falangistas macedônios pelos 30 mil meninos
asiáticos educados nas letras gregas e no treinamento militar macedônio, os “Epigonoi”,
como relata Hammond (2005, p. 206-207), sublinhando a crise e o motim ocorrido em
Ópis, no verão de 324 a.C., que levou à prisão e à execução de 30 amotinados
macedônios. O projeto alexandrino era muito maior do que os objetivos que uniram
gregos e macedônios em uma árdua campanha na Ásia. A opção de seguir em direção
ao Leste impunha para Alexandre uma política de império ecumênico e a criação de um
exército multirracial.
Os projetos de império de Alexandre Magno e de Júlio César eram propostas
divergentes no seio das classes dominantes macedônia e romana, respectivamente, e se
apoiavam tanto um quanto outro na soldadesca, constituindo governos autocráticos
próximos das tiranias, com uma base social ampla e heterogênea e apoio popular. Os
projetos imperiais alexandrino e cesariano foram derrotados pelo exclusivismo das
aristocracias da monarquia macedônia e da república romana, que não estavam
dispostas a ceder espaço para outros atores políticos na divisão do poder e da riqueza.
As alternativas políticas que se afirmaram como consequência de seus governos foram,
ao mesmo tempo, sua continuidade e sua negação.
Partindo desta constatação mais geral, esbocei as seguintes hipóteses:
1 – Um dos motores das conquistas de Júlio César e de Alexandre Magno foi a
“democracia militar” que esteve na base do imperialismo greco-romano em geral e na
relação dos príncipes que acompanham seus exércitos em particular. A lealdade das
tropas a Alexandre, o Grande e a César era inspirada pela coragem e pela audácia dos
seus comandantes, mas também pelas promessas de prosperidade, pela distribuição de
terras aos veteranos e pelo butim de guerra. Mesmo os soldados-cidadãos tinham
aspectos que os assemelhavam aos mercenários e, estando em campanha permanente,
eram soldados profissionais, militares em tempo integral. O desejo e o interesse desses
homens cumpriram um papel determinante nas conquistas militares e na consolidação
do poder político de seus líderes, que tinham, muitas vezes, de negociar e dialogar com
seus comandados para alcançar os seus objetivos.
2 – César e Alexandre eram príncipes-generais, porque eram chefes políticos na medida
em que eram chefes militares, e eram “príncipes tiranos”, porque o seu poder vinha da
força das armas, da fidelidade dos seus exércitos e da simpatia do povo, mais do que das
constituições de seus impérios. Tanto a monarquia alexandrina quanto a ditadura
cesarista tinham um conteúdo político e social “tirânico”, ou seja, aproximavam-se em
sua base popular e em seu caráter autocrático, que se caracterizava pelo poder pessoal,
pela centralização política em torno do chefe supremo, das tiranias gregas, produzindo
uma ruptura constitucional com o regime político anterior.
3 – Tanto Alexandre quanto César buscavam construir um Império Universal, uma
Talassocracia Ecumênica com um exército multirracial. Eles alargaram as estruturas
políticas deveras estreitas de seus Estados e inovaram em seu comportamento político,
desrespeitando as instituições e as constituições tradicionais em nome de um projeto
imperial divergente. A fusão do mundo greco-romano com o “mundo bárbaro”
evidenciou-se no casamento de Alexandre com Roxana e no relacionamento amoroso (e
político) de César com Cleópatra, gerando dessa relação um filho que simbolizava esse
laço de Roma com o Oriente. A “orientalização” dos governos de Alexandre e de César
parece ter sido uma tendência que se afirmava a cada dia, com a adoção das maneiras
dos “bárbaros” e do aspecto cada vez mais “absolutista” de sua forma de gerir o Estado,
provocando reações violentas contra essa política. Alexandre era um “rei-tirano” de uma
monarquia militar orientalizada e César exercia sua ditadura dialogando com a tirania
grega e com a monarquia helenística na construção de seu novo regime.
4 – Tanto Alexandre Magno quanto Júlio César pretendiam fazer um governo que fosse
um “consenso de todos”. Alexandre adotou os hábitos e vestimentas dos orientais,
nomeou asiáticos para cargos administrativos e de chefia militar, enriqueceu gregos e
macedônios, formou um exército multiétnico e fundou suas Alexandrias. César nomeou
gauleses como senadores, reergueu as estátuas de Pompeu e de Sila, favoreceu seus
clientes provinciais, formou um exército multiétnico, concedeu terras aos veteranos,
perdoou os seus adversários dando-lhes cargos e distribuiu trigo à plebe romana. Isto é,
ambos beneficiaram seus aliados, cooptaram seus adversários e repartiram entre os
diversos grupos sociais de seu Estado mundial a participação nos resultados de suas
conquistas.
Alexandre Magno, vencido Dario, tornava-se ele próprio Rei da Pérsia,
abandonando progressivamente suas raízes macedônias. O novo senhor da Ásia não
seria “o melhor entre iguais”. Stoneman (2008, p. 107) aponta para este aspecto,
decorrente da vitória final de sua campanha contra o império persa com a rendição da
Babilônia após o êxito militar que foi a batalha de Gaugamela. A confirmação de
Mazaeus, antigo partidário de Dario, como chefe da Babilônia sinalizou o tipo de
política que ele pretendia empreender em relação à nobreza asiática: a cooptação.
Conquistados os domínios persas, Alexandre Magno não pensava mais o seu império
como macedônio.
Para Hammond (2005, p. 140), a vitória de Antípatro sobre Esparta, a
confirmação da autoridade do Conselho da Comunidade Grega no continente grego e a
aceitação do rei da Macedônia como rei da Ásia no Egito e na Ásia ocidental, bem
como sua política de incorporação da classe dominante da Pérsida e da Média ao seu
governo, à sua monarquia universal, foram os fatos decisivos para que Alexandre
pudesse prosseguir em suas campanhas, pois havia assegurado no Mediterrâneo oriental
a sua hegemonia. De fato, para o autor, o “rei dos Macedônicos”, o “Hegemon da
Comunidade Grega”, o “rei da Ásia” se tornou o chefe de uma talassocracia no
Mediterrâneo oriental e no Mar Negro. A frota multirracial formada pela frota
macedônica e pelas frotas dos gregos, dos fenícios e dos cipriotas garantiria o sucesso
de seu projeto. A Monarquia Alexandrina era agora uma corte móvel. O avanço de
Alexandre e de seu séquito para o Leste diminuiu o peso político e administrativo da
Macedônia neste novo Império Universal.
A política imperialista em Alexandre e em César tinha uma importância vital,
por serem, respectivamente, a monarquia alexandrina e a ditadura cesarista repletas de
contradições políticas e sociais e, como afirma Guarinello (1987, p. 10), a expansão
político-militar de uma cidade-Estado antiga era um empreendimento coletivo, que
tinha por objetivo auferir ganhos econômicos que pudessem amenizar as lutas de classes
no seio da cidadania, os conflitos sociais internos. Desse modo, Guarinello destaca o
papel fundamental da luta de classes no centro expansionista como base das motivações
do imperialismo antigo, determinando e influenciando a sua dinâmica. Um dos
elementos determinantes do expansionismo romano era a busca de terras cultiváveis.
A vitória de Roma sobre os demais Estados do Mediterrâneo tornou-a uma grande
potência e uma verdadeira talassocracia mediterrânea. A Segunda Guerra Púnica foi o
passo decisivo nessa direção, com a derrota da sua rival Cartago. O desfecho das
guerras civis foi a transformação do Egito em província romana e o advento do
Principado. Consolidava-se o Império Romano como o Império do Mediterrâneo e este
império, em sua maior parte, foi conquistado por um exército de camponeses-cidadãossoldados.
A reforma serviana vinculou a estrutura militar de Roma ao princípio de que os
proprietários de terras é que deviam prover a defesa da república, armando-se de acordo
com a proporção do patrimônio. Giovanni Brizzi (2003, p. 27) apresenta a estrutura da
legião romana e sua divisão censitária. Nesse exército, o comando era exercido por
oficiais oriundos da aristocracia, o grupo mais abastado, os equites. Os capite censi
eram exonerados do serviço militar por não possuírem propriedades rurais, mesmo
sendo uma parte considerável da população. Ciro Flamarion Cardoso (1987, p. 79)
apresenta a análise de Marx nos Grundrisse acerca do mundo antigo, em especial da
história romana, apontando para a relação entre cidadania e posse da terra, sendo a
condição prévia para o pertencimento à comunidade de cidadãos a apropriação do solo
pelo indivíduo. Na opinião de Yvon Garlan (1991, p. 136-137), todo soldado-cidadão
tinha um pouco de mercenário. A esperança do butim animava o espírito de luta tanto
dos mercenários quanto dos cidadãos em campanha. A guerra era uma fonte de lucro
para os soldados, fosse por meio do soldo, da remuneração recebida do Estado, fosse
pela rapina privada. A partir da reforma do exército realizada por Mário, os proletários
sem bens foram chamados às fileiras do exército romano. Segundo Géza Alfoldy (1989,
p. 93), os proletários recrutados passaram a ser equipados pelo Estado. Antes somente
os pequenos proprietários rurais eram recrutados e obrigados a fornecer seu próprio
equipamento de guerra. A divisão censitária do corpo dos cidadãos em várias categorias
como base do recrutamento político e militar perdeu a relevância que tinha no início
pelo alistamento voluntário instituído por Caio Mário; o novo exército romano passou a
ser formado por homens que faziam do serviço militar uma profissão, verdadeiros
profissionais da guerra, leais aos seus chefes militares, o que Brizzi (2003, p. 93) viu
como uma espécie de clientelismo.
A relação de César com seus soldados é a maior evidência da “democracia militar”
que existiu na base do governo popular-autoritário cesarista ou simplesmente da tirania
de César, a “ditadura democrática” cesariana. César favoreceu os soldados que o
serviram por mais de 15 anos com colônias de povoamento, fundadas para assegurar
que os mais idosos pudessem passar os seus últimos anos de vida na paz e na
tranquilidade, livres de preocupações. Esta era a recompensa dada aos leais soldados de
César, aqueles que passaram por tantas privações e travaram tantas batalhas; mereciam
uma vida segura ao terminarem o seu serviço militar (SCHMIDT, 2006, P. 223).
No entanto, isso não impediu a X legião de se rebelar na Itália. A insurreição
militar foi causada pelo cansaço das tropas, que exigiam que fossem liberadas. Schmidt
(2006, p. 211), baseando-se no texto de Suetônio, retrata esta cena. César, então,
responde para os legionários: “Eu vos dispenso”. Depois, chama-os, durante o seu
discurso, de “cidadãos” e não mais de soldados. Os legionários ficam preocupados com
a possibilidade de não terem mais butins, soldos ou terras e exclamam: “Somos
soldados!”. Essa era a maneira de César contornar as queixas e os motins de suas tropas,
além da punição, evidentemente, sendo importante notar que o chefe militar e seus
soldados também eram igualmente um chefe político e uma base política. Júlio César
não mantinha sua autoridade só pela repressão, mas também pelo consenso, pelo
convencimento. Ele, antes de ser um general, era um hábil político. É fácil entender a
devoção dos soldados cesarianos, na medida em que o seu comandante lhes concedia
terras e riquezas como prêmio por sua bravura e lealdade.
Quando da crise de Ópis, Alexandre discursou para as tropas macedônias
relembrando os serviços de Filipe e dele próprio, que tiraram os macedônios da
obscuridade e da pobreza, tornando-os líderes do mundo e donos do tesouro da Pérsia, e
lhes disse ainda que havia sido ferido com tanta frequência quanto qualquer um deles,
vivendo, no entanto, mais humildemente que a maioria e, irritado, completou que
podiam ir para casa e espalhar que haviam abandonado seu rei. Depois do discurso, ele
se afastou dos macedônios por alguns dias e começou a organizar seu exército para a
campanha, nomeando os persas para o comando das tropas asiáticas. Os macedônios
atiraram suas armas diante da porta dele e pediram misericórdia. O rei Alexandre
chorou com suas tropas macedônicas e permitiu que os macedônios, a exemplo de
alguns persas, também o beijassem, e se reconciliaram (HAMMOND, 2005, p. 207208). A liderança carismática de Alexandre e sua busca do consenso também se
combinavam com sua coragem e com sua generosidade, assim como podemos notar em
César. Além do exemplo de virtude que encorajava os homens, os soldados de
Alexandre e de César tinham nos benefícios concedidos a eles por seus respectivos
chefes o motor de sua ação. E ainda que os líderes encaminhassem seus projetos,
também tinham de dialogar com sua principal força política – seus exércitos. Essa
parece ser a opinião de Garlan (1991, p. 146). Para ele, a política de fixação no Oriente
dos greco-macedônios de Alexandre não devia ser interpretada somente do ponto de
vista dos soberanos que dela necessitavam para garantir as bases militares, políticas,
econômicas e culturais de seu domínio, como é costume se fazer ao analisar os relatos
da política alexandrina, mas também do ponto de vista daqueles que eram objeto dessa
política, em função de suas aspirações, pois seria impossível uma política de
colonização e de helenização realmente consistente se não houvesse o interesse da base
dos exércitos de Alexandre Magno e de setores da população da Grécia e da Macedônia
que buscassem novas terras e melhorias de vida.
Inúmeras biografias de César e de Alexandre já foram escritas. Então, por que
abordar esse tema? A resposta pode ser encontrada no poema de Bertold Brecht,
“Perguntas de um operário que lê”, nos versos que se seguem: “O jovem Alexandre
conquistou as Índias./ Sozinho?/ César venceu os gauleses./ Nem sequer tinha um
cozinheiro ao seu serviço?”. Essa é uma primeira questão: não tiveram os soldados de
César e de Alexandre nenhuma influência política, nenhum peso em suas decisões?
Exércitos que permaneceram tanto tempo em campanha, que lutaram tantas batalhas e
que eram tão devotados aos seus chefes seriam formados por autômatos? Não creio. E
acredito que esse problema merece ser mais bem investigado.
Outra questão de suma importância é o caráter singular de seus projetos de
império. Por que esses homens encarnaram um projeto societário original? Por que eles
instituíram um modelo constitucional, ou melhor, de gestão do Estado completamente
novo?
A fonte principal utilizada para este trabalho foi Vidas Paralelas, de Plutarco. A
análise das biografias de Alexandre e de César escritas por ele serviram de base para a
pesquisa. A tradução francesa Plutarque – Vies Parallèles: Vie d´Alexandre – Vie de
César, de J. Alexis Pierron, revisada e corrigida por Françoise Frazier e com introdução
e notas de Jean Sirinelli foi o texto analisado.
Em Plutarco, podemos encontrar alguns pontos de apoio para a problemática
levantada e para as hipóteses expostas. Sobre a relação de Alexandre com as tropas e do
interesse das tropas nas guerras de conquista, a passagem que se segue é esclarecedora:
Depois da batalha de Issos, ele (Alexandre) lhes enviou (os soldados) a
Damasco para que tomassem os tesouros, as bagagens, os filhos e as
mulheres dos persas. Os cavaleiros tessálios ali fizeram um butim
considerável. Como eles tinham se distinguido no combate, Alexandre
enviou-lhes lá propositalmente para lhes enriquecer. Mas o resto do exército
também acumulou grandes riquezas; e os macedônios, depois de terem
provado o ouro, a prata, as mulheres e o luxo bárbaros, como os cachorros
que seguem uma pista, tinham ganas das riquezas dos persas e de encontrálas. (PLUTARCO, Alexandre, 24)
Outra fonte utilizada para a pesquisa foi Apiano. A obra História Romana –
Guerras Civis, livro II, na versão em espanhol, tradução e notas de Antonio Sancho
Royo, tem uma breve passagem em que César e Alexandre são comparados em seus
feitos. Uma comparação comum, basicamente focada na grandeza desses homens:
Pois ambos foram os mais ambiciosos de todos, os mais hábeis na guerra, os
mais rápidos em executar suas decisões, os que mais se arriscaram aos
perigos, os que menos velaram por suas vidas e os que mais confiaram em
sua ousadia e boa estrela mais que em sua habilidade guerreira. (APIANO,
As Guerras Civis, II, 149)
Apiano retrata ainda a relação de Alexandre e de César com seus soldados:
Seus exércitos foram igualmente zelosos e dedicados a ambos e lutaram com
ferocidade selvagem nas batalhas, mas também, em muitas ocasiões, se
mostraram indisciplinados com um e outro e se amotinaram por causa da
severidade de suas tarefas. No entanto, quando morreram, choraram por igual
a seus chefes e sentiram saudades deles e outorgaram a ambos honras divinas.
(APIANO, As Guerras Civis, II, 151)
Havia um diálogo entre os generais e suas tropas que se dava por meio dos
butins e dos motins. Os soldados podiam suportar campanhas intermináveis e duras,
mas tinham de receber sua recompensa. Em alguns casos, mesmo com o butim era
difícil prosseguir devido ao cansaço. A forma que as tropas tinham de se fazer ouvir e
reivindicar era se rebelando. Os chefes, por sua vez, respondiam com a repressão aos
motins e com mudanças na política militar. Isso mostra que as conquistas de Alexandre
e de César, que suas vitórias militares (e também políticas) não eram somente de seu
interesse, mas também da própria base do exército e mesmo dos oficiais, e que as tropas
podiam influenciar na dinâmica, no ritmo e na forma da política expansionista e da
estratégia militar.
O governo de César apresentava-se como o “consenso de todos”. A sua
autocracia, a sua tirania, unificava politicamente o império, dava impulso à romanização
e promovia a paz social. A ditadura vitalícia de César foi a expressão disso:
No entanto, os romanos, curvando-se para a Fortuna de César, e se
submetendo a seu jugo, convencidos de que a única maneira de se recuperar
de todos os males que causaram as guerras civis, era a autoridade de um só, o
nomearam ditador vitalício: era uma tirania declarada, já que seu poder
absoluto, não submetido a nenhum controle, tornava-se perpétuo.
(PLUTARCO, César, 57)
Pretendo interpretar o tema a partir de uma perspectiva marxista. O conceito de
“democracia militar”, por exemplo, está presente no marxismo clássico e merece ser
visto no seu uso original para que se possa compreender a sua reinterpretação para essa
pesquisa e o período histórico abordado pela mesma, isto é, nos séculos IV a.C. e I a.C.
O fenômeno do cesarismo, a interpretação do governo de Júlio César e a
utilização do conceito de cesarismo como ponte para o entendimento do governo de
Alexandre, que não parece ter uma definição conceitual, embora tenha servido de
modelo para a maioria dos governantes das monarquias helenísticas e do império
romano, serão buscados em Antonio Gramsci.
Além do marxismo, a filosofia renascentista e o resgate e o esforço de
interpretação que foi empreendido naquele momento histórico acerca dos governos de
Alexandre e de César não devem ser desconsiderados. Nesse sentido, Maquiavel –
filósofo e historiador que foi bastante estudado por Gramsci – será útil para a definição
do conceito de príncipe e da sua aplicação para Alexandre e César. Recorrerei ainda a
alguns ensaios de Montaigne e sua percepção sobre a figura de César.
No texto de Yvon Garlan (1991) é abordado o conceito de “democracia militar”.
Sua análise é centrada no trabalho de Engels, A origem da família, da propriedade
privada e do Estado. O conceito de “democracia militar” em Engels referia-se à
sociedade do tipo dos “tempos homéricos”. O avanço das forças produtivas fez emergir
estruturas estatais de natureza essencialmente militar da sociedade “gentílica” em
decomposição no período então caracterizado como estágio superior da “barbárie”,
segundo Engels (GARLAN, 1991, P. 189). Além do destaque para o aspecto militar
como determinante para a organização dessas sociedades, a ideia de “democracia
primitiva” para o mundo homérico, que hoje é descartada pelos historiadores por provir
de uma concepção unilinear da evolução da humanidade, estava presente nos escritos de
Engels. No entanto, o destaque dado pelo principal colaborador de Marx e teórico
socialista de primeira linha para a guerra como fator de diferenciação social e
estruturação política
permanece
amplamente
admitido (GARLAN, 1991, p.
190).Vejamos como o conceito aparece no original:
O chefe militar do povo – rex, basileus, thiudans – torna-se um funcionário
indispensável, permanente. A assembleia do povo surge onde ainda não
existia. Chefe militar, conselho, assembleia do povo, esses são os órgãos da
sociedade gentílica que evoluiu para tornar-se democracia militar. Militar –
pois a guerra e a organização para a guerra tornaram-se então funções
regulares da vida do povo. As riquezas dos vizinhos excitam a cupidez dos
povos a quem a aquisição de riquezas parece já um dos objetivos principais
da vida. São bárbaros; saquear parece-lhes mais fácil e até mais honroso do
que ganhar a vida pelo trabalho. A guerra, antigamente praticada apenas por
vingança de usurpações ou por defesa de um território que se tornou
insuficiente, é então praticada com vistas unicamente à pilhagem e torna-se
um ramo permanente de indústria. Não é sem motivo que as muralhas
ameaçadoras erguem-se em volta das novas cidades fortificadas; em seus
fossos abre-se a tumba escancarada da organização gentílica, e suas torres
elevam-se na civilização (p.150)
Desse modo, ao compreendermos o sentido original empregado por Engels ao
termo democracia militar, podemos reinterpretá-lo e utilizá-lo para o melhor
entendimento da relação absolutamente singular estabelecida por Alexandre Magno
com suas tropas e com os povos conquistados e por César com seus soldados. Tanto o
rei macedônio quanto o ditador romano fizeram política por meio da guerra e foram boa
parte do tempo muito mais comandantes-chefe de forças militares em campanha
permanente do que chefes políticos “normais”. Eles eram os chefes militares de todo o
império (não em um sentido formal, mas real); eram “príncipes-generais”. Independente
dos aspectos formais e constitucionais, os “soldados em assembleia” exigiam e se
amotinavam e, em campanha, lutavam por seus interesses e pelos de seus chefes.
A guerra era vista como o grande trabalho coletivo das comunidades antigas.
Nas “Formen”, Marx levanta o problema da relação da cidadania com a posse da terra e
a solução da colonização:
Por exemplo, quando cada indivíduo deve possuir uma determinada
quantidade de terras, o simples aumento da população constitui um obstáculo.
Para que este seja superado, deverá desenvolver-se a colonização e isto
exigirá guerras de conquista. O que conduzirá à escravidão etc., à ampliação
da ager publicus e, por isto, ao advento do Patriciado que passará a
representar a comunidade, etc. Assim, a preservação da antiga comunidade
implica a destruição das condições sobre as quais ela está baseada, tornandose o seu contrário. (MARX, 1975, p. 88)
O conceito de cesarismo ajuda a explicar a natureza do governo de Júlio César e
de seus sucessores já no regime imperial. A sua utilização como ponte ou referência
para o governo de Alexandre, o Grande pode ser uma possibilidade, na medida em que
também o último construiu um acordo amplo entre as elites de seu império universal. O
seu poder alicerçado nos exércitos em campanha também parece apontar para essa
interpretação.
Em Gramsci, o cesarismo aparece da seguinte maneira:
Pode-se afirmar que o cesarismo expressa uma situação na qual as forças em
luta se equilibram de modo catastrófico, isto é, equilibram-se de tal forma
que a continuação da luta só pode terminar com a destruição recíproca.
Quando a força progressista A luta contra a força regressiva B, não só pode
ocorrer que A vença B ou B vença A, mas também pode suceder que nem A
nem B vençam, porém se debilitem mutuamente, e uma terceira força, C,
intervenha de fora, submetendo o que resta de A e de B. (GRAMSCI, 2007,
p. 76)
O teórico marxista explicita ainda de que maneira esta forma político-ideológica
se manifesta na ação do próprio César histórico:
O desenvolvimento histórico que teve em César sua expressão assume na
“península itálica”, ou seja, em Roma, a forma do “cesarismo”, mas tem
como quadro todo o território imperial e, na realidade, consiste na
“desnacionalização” da Itália e em sua subordinação aos interesses do
Império. (...) Deve-se fazer uma comparação entre Catilina e César: Catilina
era mais “italiano” do que César, e sua revolução talvez tivesse conservado
para a Itália, com uma outra classe no poder, a função hegemônica do período
republicano. Com César, a revolução não é mais solução de uma luta de
classes itálicas, mas de todo o Império, ou pelo menos de classes com
funções principalmente imperiais (militares, burocratas, banqueiros,
empreiteiros, etc.). Além disto, César havia desequilibrado o quadro do
Império com a conquista da Gália: com César, o Ocidente começou a lutar
contra o Oriente. Isto se vê nas lutas entre Antônio e Otaviano. (GRAMSCI,
2007, p. 347)
De acordo com Gramsci, César representava o projeto universalista, não
exclusivista; outras alternativas, mesmo que possam ser consideradas progressistas,
dependendo da perspectiva teórica, como foi o caso de Catilina, representavam uma
solução italiana para a crise, talvez a “revolução municipal” vista como redentora por
Aldo Schiavone (2005), mas que não representaria necessariamente a criação de um
verdadeiro império universal, como o projeto de César. Sua perspectiva era mais
progressista, aberta e avançada que a de Augusto, visto como líder de uma “revolução
passiva” por Schiavone (2005), mas, ainda assim, abriu caminho para a revolução de
Otávio, que seguiu o seu universalismo.
Alexandre Magno também representou o governo de um sobre todo o império,
que unificou tendências conflitantes em um equilíbrio instável, mas que impulsionou
progressos sociais, culturais e técnicos.
A noção de “Príncipe” de Maquiavel é apresentada em suas múltiplas distinções
por Gramsci. Para o marxista italiano, “príncipe” pode ser um chefe de Estado, um
chefe de Governo, mas também um chefe político que pretende conquistar um Estado
ou mesmo fundar um novo tipo de Estado.
Em Maquiavel, o tipo de príncipe que é objeto dessa pesquisa, ou seja, aquele
que acompanha seus exércitos nas marchas, nas batalhas e nos saques, é analisado e a
política que cabe a esse príncipe se quiser governar:
O príncipe que acompanha seus exércitos, que vive de presas de guerra, do
saque e de resgates e que maneja o que é dos outros, não pode deixar de agir
com liberalidade, caso contrário os soldados não o seguirão. E, afinal, ele
pode ser amplamente generoso com o que não lhe pertence nem a seus
súditos, como aconteceu com Ciro, César e Alexandre, porque gastar o que é
dos outros não diminui mas aumenta a reputação. (MAQUIAVEL, 2008, p.
76)
Como se pode ver, esse trecho de Maquiavel vai ao encontro do que foi
explicitado ao longo do texto: o príncipe Alexandre e o príncipe César, por
fundamentarem o seu poder nas tropas e estabelecerem uma relação mais próxima por
acompanharem as mesmas em sucessivas campanhas e lutarem à frente e ao lado delas,
deviam atender, mesmo que parcialmente, às suas exigências.
Montaigne reforça a diferença exposta anteriormente entre Júlio César e
Augusto. O tratamento conferido por César a seus soldados não parece algo menor, nem
tampouco a mudança processada com a vitória da alternativa conservadora para a crise
da República romana manifestada no principado de Augusto:
Tratava-os de “companheiros”, como nós, o que foi abolido por Augusto, o
qual considerava que César o fizera em vista das exigências do momento,
para agradar os que em suma o acompanhavam voluntariamente. (“Na
travessia do Reno, César era general; aqui ele é meu companheiro. O crime
nivela os cúmplices.”) Mas esse tratamento não convinha mais à dignidade de
um imperador ou de um general. E voltou a chamá-los “soldados”.
(MONTAIGNE, 1988, p. 60)
Desse modo, podemos afirmar que as tropas eram a principal força política dos
governos de Alexandre Magno e de Júlio César. Ao assumir o poder após o assassinato
de Filipe em 336 a.C., Alexandre altera significativamente o conteúdo da política
macedônia e contraria os interesses da aristocracia de seu próprio país em nome de um
projeto universalista. O mesmo vale para César, que concentrou em suas mãos os
poderes político, religioso e militar e feriu mortalmente o regime republicano
oligárquico romano com sua nomeação a ditador vitalício em 44 a.C. A única maneira
que ambos encontraram para exercer um poder tirânico sobre a sociedade e contra o
exclusivismo aristocrático foi se apoiar na democracia militar, favorecendo os soldados.
Os seus governos foram uma confluência dos interesses dos príncipes tiranos com seus
soldados.
INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Fontes
APIANO. História de Roma II: Guerras Civiles (libros I e II). Tradução e notas de
Antonio Sancho Royo. Madri: Editorial Gredos S.A., 1985.
PLUTARCO. Vies Parallèles. Tradução de J. Alexis Pierron. Paris: Flammarion, 1999.
Bibliografia
ALFOLDY, Géza. A História Social de Roma. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. Tradução de Beatriz
Sidou. 5. ed. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 2004.
ARAÚJO, Sônia Regina Rebel. “A Denúncia da Traição: Plutarco, Dante, Shakespeare
e o Assassinato de Júlio César”. Revista Phoînix da UFRJ – Laboratório de História
Antiga. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008.
BEARD, Mary; CRAWFORD, Michael. Rome in the Late Republic. Londres: Gerald
Duckworth & Co. Ltd., 1985.
BLOCH, Leon. Lutas Sociais na Roma Antiga. Lisboa: Publicações Europa-América,
1956.
BRAUDEL, Fernand. O Espaço e a História no Mediterrâneo. Tradução de Marina
Appenzeller. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1988.
BRIZZI, Giovanni. O Guerreiro, o Soldado e o Legionário: Os Exércitos no Mundo
Clássico. Tradução de Silvia Massimini. São Paulo: Madras Editora Ltda., 2003.
BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha. “Espaços e Práticas Cultuais em Hippo
Regius: Estratégias e Táticas”. Revista Phoînix da UFRJ – Laboratório de História
Antiga. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.
CANFORA, Luciano. Júlio César: O Ditador Democrático. Tradução de Antonio da
Silveira Mendonça. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. A Cidade-Estado Antiga. São Paulo: Ática, 1987.
______. “Economia e Sociedade Antigas: Conceitos e debates”. In: ______. Sete
Olhares sobre a Antiguidade. Brasília: Editora UNB, 1994.
______. “Sociedade, Crise Política e Discurso Histórico-Literário na Roma Antiga”.
Revista Phoînix da UFRJ – Laboratório de História Antiga. Rio de Janeiro: Sette Letras,
1998.
CARDOSO, Ciro Flamarion Santana; PÉREZ, Héctor. El Concepto de Classes
Sociales. San José, Costa Rica: Editorial Nueva Década, 1982.
______. Os Métodos da História. Tradução de João Maia. 6. ed. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 2002.
DROYSEN, Johann Gustav. Alexandre, o Grande. Tradução de Regina Schopke e
Mauro Baladi. Revisão de César Benjamin. Rio de Janeiro: Contraponto Editora Ltda.,
2010.
GARLAN, Yvon. Guerra e Economia na Grécia Antiga. Tradução de Cláudio Cesar
Santoro. Campinas, SP: Papirus, 1991.
GONÇALVES, Ana Teresa Marques. “Júlio César e Cleópatra na obra História Romana
de Dion Cássio”. In: LESSA, Fábio de Souza; BUSTAMANTE, Regina Maria da
Cunha (Org.). Dialogando com Clio. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009.
GRAMSCI, Antonio. Antología. Seleção, tradução e notas de Manuel Sacristán. Cidade
do México: Siglo XXI, 1970.
______. Cadernos do cárcere. Tradução de Luiz Sérgio Henriques, Marco Aurélio
Nogueira e Carlos Nelson Coutinho. 3. ed., v. 3. Rio de Janeiro: Editora Civilização
Brasileira, 2007.
GUARINELLO, Norberto Luiz. Imperialismo Greco-Romano. São Paulo: Ática, 1987.
HAMMOND, N. G. L. O Gênio de Alexandre, o Grande. Tradução de Julia Vidili. São
Paulo: Madras, 2005.
JOLY, Fábio Duarte. A escravidão na Roma antiga: política, economia e cultura. São
Paulo: Alameda Casa Editorial, 2005.
LUKÁCS, Georg. “A Consciência de Classe”. In: ______. História e Consciência de
Classe. Tradução de Telma Costa. Porto: Publicação Escorpião, 1974.
MAQUIAVEL. O Príncipe. Tradução de Brasil Bandecchi. São Paulo: Centauro
Editora, 2008.
MARX, Karl. Formações Econômicas pré-capitalistas. Introdução de E. Hobsbawn.
Tradução de João Maia. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra S.A., 1975.
MENDES, Norma Musco. “Centralização e Integração na Experiência Imperialista
Romana: uma reflexão”. Revista Phoînix da UFRJ – Laboratório de História Antiga. Rio
de Janeiro: Mauad, 2004.
______. Roma Republicana. São Paulo: Editora Ática S.A., 1988.
MONTAIGNE. Ensaios. Tradução de Sérgio Milliet. v. 1. São Paulo: Editora Nova
Cultural Ltda., 2004. (Coleção Os Pensadores).
______. Ensaios. Tradução de Sérgio Milliet. v. 2. São Paulo: Nova Cultural, 1988.
(Coleção Os Pensadores).
______. Os Ensaios. Tradução de Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das
Letras, 2010.
ROSTOVTZEFF, M. História de Roma. Tradução de Waltensir Dutra. 4. ed. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1977.
SANTOS, Theotônio. Conceito de Classes Sociais. Tradução de Orlando dos Reis. 2.
ed. Petrópolis: Editora Vozes S.A., 1983.
SCHIAVONE, Aldo. Uma História Rompida: Roma Antiga e Ocidente Moderno.
Tradução de Fábio Duarte Joly. São Paulo: EDUSP, 2005.
SCHMIDT, Joel. Júlio César. Tradução de Paulo Neves. Porto Alegre: Coleção L&PM
Pocket Biografias, 2006.
SOUSA, Marcos Alvito Pereira. A Guerra na Grécia Antiga. São Paulo: Editora Ática
S.A., 1988.
STONEMAN, Richard. Alexandre, o Grande. Tradução de Ana Paula Lopes. Lisboa:
Edições 70, 2008.
WHITE, K. D. Greek and Roman Technology. Londres: Thames and Hudson Ltd.,
1984.