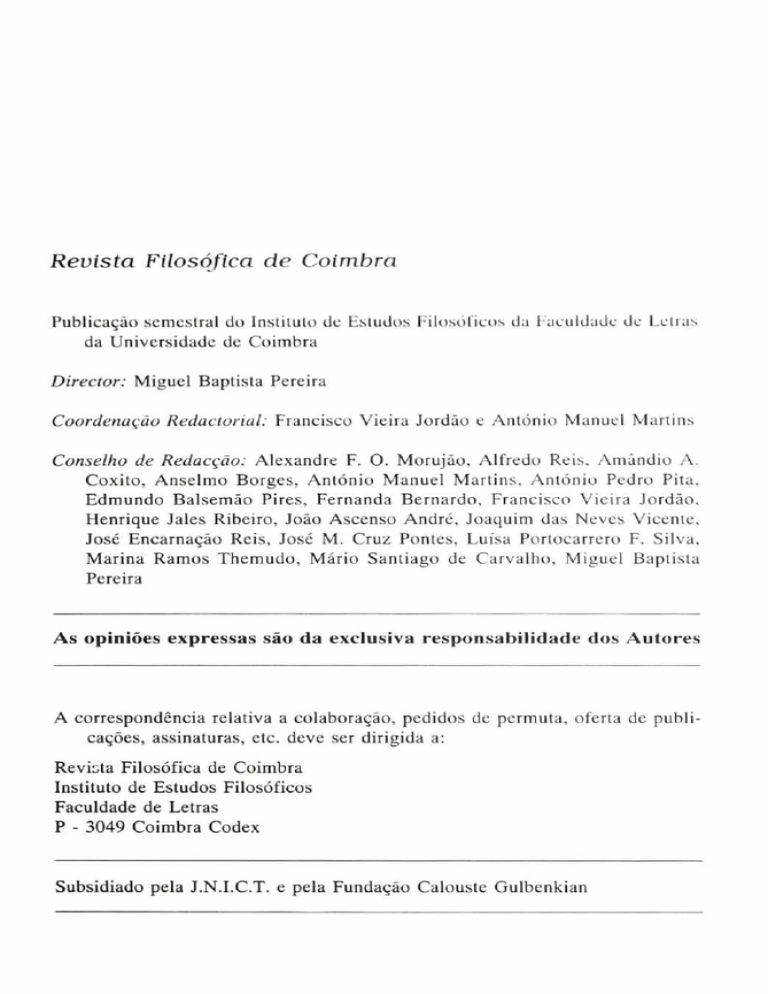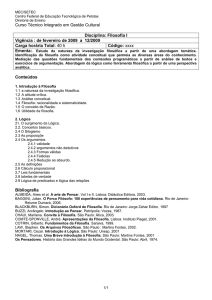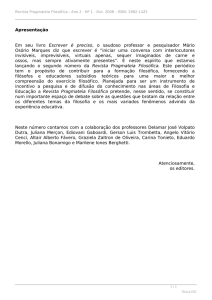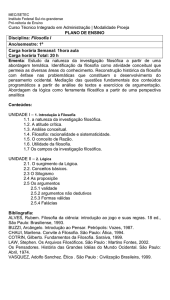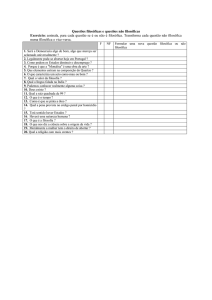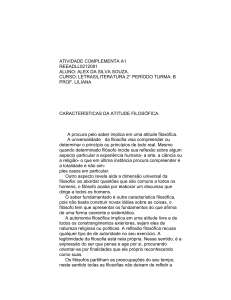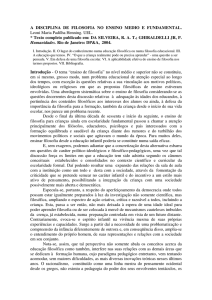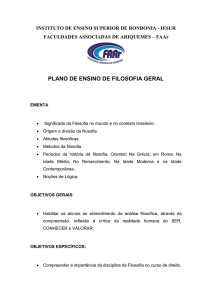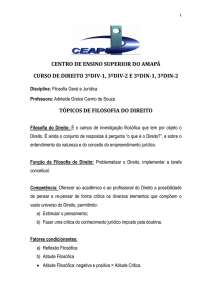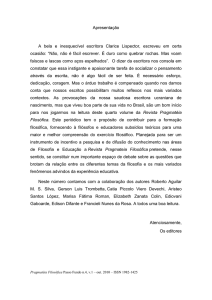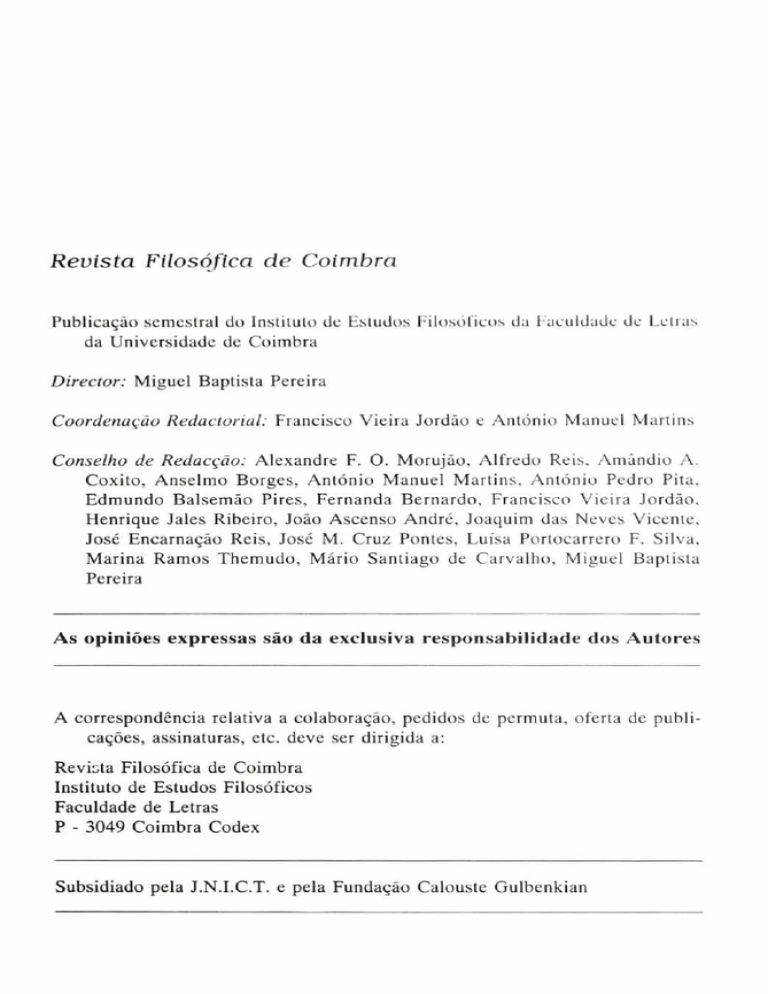
Revista Filosófica de Coimbra
Publicação semestral do Instituto de Estudos Filosóficos da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra
Director: Miguel Baptista Pereira
Coordenação Redactorial: Francisco Vieira Jordão e António Manuel Martins
Conselho de Redacção : Alexandre F. O. Morujão , Alfredo Reis, Amãndio A.
Coxito , Anselmo Borges , António Manuel Martins , António Pedro Pita,
Edmundo Balsemão Pires , Fernanda Bernardo , Francisco Vieira Jordão,
Henrique Jales Ribeiro , João Ascenso André, Joaquim das Neves Vicente,
José Encarnação Reis, José M . Cruz Pontes , Luísa Portocarrero F. Silva,
Marina Ramos Themudo , Mário Santiago de Carvalho, Miguel Baptista
Pereira
As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade dos Autores
A correspondência relativa a colaboração, pedidos de permuta, oferta de publicações, assinaturas, etc. deve ser dirigida a:
Revista Filosófica de Coimbra
Instituto de Estudos Filosóficos
Faculdade de Letras
P - 3049 Coimbra Codex
Subsidiado pela J .N.I.C.T. e pela Fundação Calouste Gulbenkian
Revista Filosófica de Coimbra
ISSN 0872-0851
Publicação semestral
Artigos
Miguel Baptista Pereira - Modernidade, Fundamentalismo e Pós-Modernidade ................................................................................
205
J. Ma. Ga. Gomez-Heras - La Naturaleza Reanimada - Del Desencantamiento del Mundo en Ia Racionalidad tecnológica al
Reencantamiento de Ia Vida en Ia Utopia ecológica ................
265
Amândio A. Coxito - Ainda o Problema da Filosofia Portuguesa - Recordando Joaquim de Carvalho, no Centenário do
seu Nascimento .............................................................................
299
Francisco V. Jordão- Joaquim de Carvalho e Espinosa- O Acordo
de Intenções no Campo político-religioso .................................
309
Joaquim Neves Vicente - Subsídios para uma Didáctica Comunicacional no Ensino-Aprendizagem da Filosofia ........................
321
Estudo Crítico
Mário A. Santiago de Carvalho - Noção, Medição e Possibilidade
do Vácuo segundo Henrique de Gand ........................................
359
Crónica ................................................................................................
387
Recensões ............................................................................................
389
CRÓNICA
FILOSOFIA E CULTURA
NO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE JOAQUIM DE CARVALHO
Decorreu nas instalações da Academia Figueirense o colóquio Filosofia e
Cultura / No centenário de Joaquim de Carvalho, organizado pela Associação
de Professores de Filosofia e submetido a um duplo objectivo: analisar a pertinência das interpretações filosóficas, estéticas e culturais de Joaquim de Carvalho
e "fazer o ponto" dos conhecimentos actuais nos domínios favoritos do labor
intelectual do ilustre mestre coimbrão. Três conferências e cinco mesas redondas
preencheram os quatro dias de colóquio, que se realizou de 10 a 13 de Junho de
1992. Docentes da Universidade de Coimbra, quer da Faculdade de Ciências
- como o Prof. Doutor António Amorim Costa - quer da Faculdade de Letras, e
em particular do Instituto de Estudos Filosóficos, participaram activamente na
iniciativa; é o caso dos Profs Doutores Carvalho Homem, Francisco Vieira
Jordão, Maria Luísa Portocarrero Ferreira da Silva, Amândio Coxito, Fernando
Catroga, Carlos André e dos Drs. José Carlos Seabra Pereira e Ana Leonor
Pereira. Todos apresentaram comunicações a convite da entidade organizadora,
num contexto multi disciplinar destinado mais a reflectir com (e a partir do )
trabalho de Joaquim de Carvalho do que a tomá-lo como ponto de referência
erudito. E, neste sentido, pode considerar-se que a reflexão produzida pelos
participantes (cuja publicação conjunta se prevê) constitui um momento significativo na cena historiográfico-cultural.
O programa do colóquio procurou, de facto, articular de um modo coerente
as principais linhas de força do trabalho de Joaquim de Carvalho, atendendo,
como pressuposto fundamental, a que reflectir sobre ele significa analisar a
textura filosófica da historiografia das ideias.
A tese: "0 que somos, somo-lo pela história" conduz o Mestre de Coimbra
a uma peculiar articulação entre Filosofia e História da Filosofia: dissipa a
aparente "contradição que a história da filosofia parece conter intrinsecamente,
ou seja a contradição entre o conceito de História como sucessão e diversidade
de pensamentos, e o de Filosofia, como expressão da imutabilidade e eternidade
da verdade" (Prefácio a Introdução à História da Filosofia , Arménio Amado
Editor, Coimbra, 38 edição, 1974, p. 19); e, nessa linha, entende a Filosofia como
"o conhecimento do sistema (ou da Ideia) que evolve" e a História da Filosofia,
assim colocadas em relação com o necessário desenvolvimento da História, são
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992)
pp. 387-388
António Pedro Rita
388
terreno de opinião: "a filosofia ( diz-se ainda no mesmo texto) é conhecer mediante conceitos , não é opinar nem deduzir uma opinião de outra".
De posse desta intuição, que vai progressivamente explicitando , Joaquim de
Carvalho desenvolve um impressionante trabalho : começa por ser a elaboração
das possibilidades de urna 1listória da Filosofia em Portugal ( publicação de
fontes , reedição de textos básicos ); prossegue numa interpretação de alguns objectos favoritos , entre os quais não será excessivo salientar a ideologia republicana,
a lógica interna do sistema de Espinosa e a descnvolução existencial e metal ísica
de Aulero: inclui unia abordagem do problema de uma " lilosoti:l portuguesa",
tornada questão relevante pelo trabalho sobre as condiçì es, os IcnIas e : is personalidades da Filosofia em Portugal ; clescinboca uuin:i elaboração te(iiica pró pria,
distanciada do labor hisloriogrífico , embora primitivamente diluída cm miloliogratias sobre outros autores e em privilegiado diálogo com poetas (Anteio. Pascoaes).
Assim, reflectir sobre a obra de Joaquim de Carvalho e:
a) abordar os problemas da comunicação do teclo filosr^Jico ( trabalho exempiar como professor , administrador da Imprensa da Universidade, director da Revista Filosófica e coordenador da Biblioteca Filosófica da
Atlântida Editora);
b) reabrir a discussão ou tentar novas vias de debate para os filósofos da
modernidade (Espinosa, Leibniz , Ilegel. Ilusserl , l)ilthey), para a ideologia republicana , para o problema da Ilistória da Filosofia em Por(ugal,
para as possibilidades e resistências de uma verdadeira atitude científica
entre nós e para a importância da literatura como capítulo de urna história
das ideias;
c) remeditar, no crepúsculo do paradigma moderno, o problema elo filosofar
e não tanto a questão da filosofia (" O que importa é o filosofar e não a
adopção de uma filosofia").
Os trabalhos que decorreram na Figueira da Foz procuraram ir ao encontro,
precisamente , destas temáticas . O Prof . J. V. de Pina Martins fez a inscrição
biográfica do percurso especulativo de Joaquim de Carvalho, na sessão de
abertura . O Dr. Joaquim de Montezuma Carvalho, ensaísta e filho do homenageado, abordou o enraizamento concreto, existencial de qualquer filosofia e
da atitude filosófica do Mestre. O Prof. Eduardo Lourenço , em comovida
evocação , analisou o problema de Portugal no pensamento de Joaquim de
Carvalho. E os Profs Viriato Soromenho Marques , João Caraça e Ana Luísa
Janeira, bem como os Drs João Luís Oliva, Cabral Pinto , Adelino Cardoso e
Manuel Dias Duarte, participaram, com os docentes da Universidade de Coimbra
já referidos , nas mesas - redondas.
Resultou , do conjunto de trabalhos , um Joaquim de Carvalho porventura
inesperado , intérprete arguto mas discreto , elo insubstituível na compreensão actual da cultura portuguesa moderna, analista pertinente das articulações internas
dos pensamentos mais do que das vicissitudes externas dos pensadores , filósofo
inconcluso a caminho da explicitação de uma atitude filosófica própria. Se não
houve conclusões emergiu , talvez, a complexidade coerente de paciente paixão,
perseverança militante e irreprimível aspiração ao voo especulativo.
António Pedro Pita
pp. 387 -388
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
*til :$fiifl d^. f
+ 11iiN$1iRl^.dteila
'r,bs:xll^^ +i*w eSs s pa a ,. :ilkilMlANgO ** . p
... r ¡ : ^,lgtkl n s 4Of ^Y
1, f ïdiktõWlgk^
\ 9h outkdMl 417 f.
{9 1^t:^C /d. MgáwJ, ..
+riM gP!!^cy "
l^w,1k;1-^ggAW'. ^.é^IMâ
t , 1M,1 d'' OW
F +ry+HO
'ia
ì a,}
,
i
RECENSÕES
WESSELL, Leonard P.: El Realismo Radical de Xavier Zubiri - Valoraciónl Crítica. Ed. Univ. de Salamanca. 1992.
El Realismo radical de Xavier Zubiri - Valoraclón crítica tem como objectivo
confrontar o realismo de Zubiri com o idealismo de Josiah Royce , destacando num e
noutro o que se oferece de mais específico e resistente às objecções da facção contrária,
e mostrar que a dinâmica interna do realismo de Zubiri não permite concluir pela total
independência da realidade em relação ao sujeito , sem o perigo de cair numa aporia: o
real é o que se dá por si mesmo ao sujeito cognoscente ; o real é o que permanece sempre
para além do mesmo sujeito.
A obra consta de seis capítulos e cada um constitui uma etapa no processo de solução
do conflito que opõe o idealismo ao realismo . No primeiro capítulo , tomando como ponto
de referência a posição de N. Hartmann , o autor procura explanar a posição realista a partir
do conceito de "realidade" e conclui pela problematicidade radical deste conceito: "mi
interpretación me fuerza a desafiar a todos los Ilamados defensores de Hartmann a que
me expliquem , es decir , a que hagan compreensible a mi conciencia cognoscente,
sentiente , etc., cuál es el carácter general , positivamente expressado , de Ia realidad, de
esta realidad -en-si, que está absolutamnete mas allá de, o allende , toda experiencia" (p.55).
No segundo capítulo, o autor desenvolve o conceito de realidade em Zubiri e defende que
o dado determinante para a sua concepção consiste no modo como ela se dá na intelecção:
"realidad es formalidad o, en otros términos, un modo de estar presente en Ia intelección"
(p.74). O terceiro capítulo oferece- nos uma permenorizada exposição de qual é, segundo
Zubiri , o traço fundamental da realidade , o «de suyo» (o que lhe é próprio no dar-se à
intelecção ), que constitui a essência da realidade, ou a realidade «simpliciter», a este único
traço, Zubiri tende para um "nominalismo pluralista que se basa en un nominalismo
monista , es decir, en Ia independencia absoluta y única que tipifica el «de suyo» en cuanto
realidad transcendental y nada más " (p. 106). No quarto capítulo , é explanado o carácter
problemático do realismo de Zubiri , em virtude da impossibilidade de precisar o que está
na base da intelecção , o "facto puro", ou realidade « simpliciter», concluindo que um tal
realismo, ao defender a independência total da realidade , tal qual é, em relação ao
conhecimento que o sujeito tem dela , nunca pode gerar qualquer segurança no conhecimento : "si Ia conciencia o inteligencia no encuentra directa , inmediata y unitariamente
Ia realidad como es, no tenemos ni certidumbre ni seguridad de que Ias representaciones
representen Ia realidad verdadeira" (p. 144). O quinto capítulo é dedicado a mostrar que
a capatação do "de suyo", ou da realidade « simpliciter", é impossível de descrever, pelo
que não se pode defender que na base da intelecção esteja um "acto puro", independente
de todo o contexto envolvente e da acção do sujeito: "el «de suyo » no puede ser aprehendido (primordialmente o simplemente ) en absoluto como lo que es simpliciter" (p. 200).
No sexto e último capítulo, a partir da reflexão de Royce sobre o idealismo, Wessell
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992)
pp. 389-414
390
Revista Filosófica de Coimbra
conclui que realidade não é mais do que "o que está aí como dado à consciência", ou o
que se apresenta a uma apreensão ulterior e englobante: um «ex se-ad alium», bem
expressivo da relatividade de todo o conhecimento.
Com a sua interpretação do realismo de Zubiri pelo prisma do idealismo royciano,
com notável firmeza de argumentos, grande coerência nas deduções, clareza de linguagem
e precisão de conceitos, Wessell procura mostrar que, no acto primordial de apreensão,
não existe uma "actualidade comum", como defende Zubiri, mas uma simples correlação
intrínseca entre os dois polos, ou os dois momentos, tanto objectivos como subjectivos,
da apreensão : o que está consciente e o que foi dado à consciência
O que está em causa , para Wessell, é a possibilidade de conceptuali/ar a realidade
de qualquer índole, independentemente da consciência. A sua conclusão e a de que a reali
dade como alteridade - um "prius" objectivo - é sempre cunclauva ao aprcensãi - uni
"prius" subjectivo - interessado nela. No acto de intelecção, ha sempre dois ' pnoia que
não são independentes um do outro mas dois polos dum mesmo: a realidade e o que esta
presente na medida em que me dou conta da sua presença.
Wessell propôs-se "prescrutar" e, ao mesmo tempo, pôr a prova a filosofia de Zubiri.
Como sublinha Mariano Alvarez Gómez (Presentación, pp. 15-17), a conjugação destes
dois aspectos, investigação e prova, é um dos grandes méritos da obra de Wessell. Trata-se dum estudo de carácter valorativo. que resulta numa espécie de drama, com Zubiri
por protagonista e Royce por antagonista, em que aquele pretende reconquistar a base
autêntica da realidade , enquanto este se opõe tenazmente a este intento. Sem cair numa
apologética fácil ou na exposição repetitiva nem numa crítica vazia ou sem ponto de apoio,
Wessel desenvolve a tese de que, da realidade enquanto supostamente independente da
consciência , não é possível dizer seja o que for, porque, de modo geral. só se pode falar
com sentido do que se torna presente a nós e, por conseguinte, a realidade não pode ser
pensada como independente do pensamento: além disso, a realidade enquanto tal, para
ser pensada, tem de ser forçosamente algo discernido ou discernível por uma inteligência,
o que quer dizer que a sua independência da consciência não significa necessariamente
"fora de" ou para além de toda a consciência. No termo do seu estudo, Wessell constata
que o realismo de Zubiri não somente é impossível de se manter sem pressupostos idealistas, como , mais ainda , encerra uma dinâmica intrínseca tendente à sua transformação
em idealismo : se a realidade se torna presente na inteligência por impressões e a
inteligência se constitui nela como impressão de, a reflexão de Zubiri move-se no círculo
idealista entre a consciência da realidade e a a realidade consciente.
Esta obra de Leonard Wessell, apesar do mérito que lhe reconhecemos para o esclarecimento duma problemática sempre actual, a da possibilidade de atingir o que as coisas
são sem qualquer aportamento da actividade pensante, é susceptível de levantar algumas
questões : constituirá Royce a única alternativa a Zubiri, ou apenas o opositor mais bem
colocado para fornecer os argumentos da crítica feita a este? Não terá a consciência
nenhuma capacidade de se transcender e de afirmar algo como independente de si mesma?
Poderá dizer - se que o último possível de ser afirmado tem de ser restringido aos princípios,
às categorias e aos conceitos inerentes ao funcionamento da mesma consciência? Nenhuma
distinção pode ser estabelecida entre a consciência enquanto consciência e a consciência
enquanto algo? Estas e outras questões ficam em aberto na obra de Wessell, porque, mais
do que o problema da possibilidade de afirmar a independência do real em relação ao
sujeito cognoscente , como penso que é preocupação de Zubiri, a investigação foi-se
desenvolvendo no sentido de tornar dominante o problema de saber o que é que, no
contexto dos limites e dos princípios prévios ou subjacentes à actividade esclarecedora
do sujeito , pode ser afirmado . O que equivale a dizer que a questão ontológica de Zubiri
é transformada por Wessell numa questão fundamentalmente gnosiológica.
Francisco Vieira Jordão
pp. 389-414
Revista Filosófica de Coimbra -2 (1992)
Recensões
391
DILTHEY, W.: Teoria das Concepções do Mundo, Trad ., Lisboa: ed.70,
1991, 162 pp.
Publicados nos princípios deste século , acabam de ser editados entre nós, numa
tradução de A. Morão, os dois textos que constituem a Teoria das Concepções do Mundo
de W. Dilthey. Trata- se de dois ensaios da última fase do autor, que claramente revelam
qual a sua grande preocupação: compreender o mundo da cultura como expressão
significativa da vida histórica e concreta dos homens.
Que para além do mundo fáctico, neutro ou puramente natural , sabiamente explorado
pela ciência e técnica modernas, existe um mundo vivido originário, o mundo sofrido e
significado , cuja textura simbólica ou intersubjectiva escapa a toda a lógica subsuntiva
da objectividade e universalidade - eis o contexto mais geral que nos permite entender
a pertinência das reflexões desenvolvidas nestes dois ensaios . W. Dilthey , o teórico das
ciências do espírito , eminente representante das filosofias da vida , na sua reacção contra
o naturalismo abstracto da Modernidade científica , procura mostrar - nos ao longo de toda
a sua vida como a imagética que sustenta a ciência e cultura humanas faz parte da própria
ordem da vida vivida pelos homens dando precisamente origem a múltiplas visões ou
concepções do mundo . O mundo originário da vida é um mundo já sempre mediado pela
ordem do sinal e da significação e, no entanto , sempre ainda por significar . Por isso, a
grande tarefa de uma filosofia da vida é compreender as diferentes concepções do mundo
que entretecem a nossa história , procurando simultaneamente estabelecer os fundamentos
de uma nova gnosiologia , capaz de resolver o importante problema suscitado pela
historicidade fundamental de todas as nossas imagens do mundo.
O antagonismo entre perspectiva histórica e pretensão de validade universal
de qualquer concepção de mundo constitui , pois , o eixo central em volta do qual
se desenrolam as meditações feitas por Dilthey nesta pequena obra . É que são várias e
muito diferentes as visões do mundo que caracterizam a nossa história. O mundo da
cultura não é um conjunto de formas estáticas ou ideias a priori . E, apesar de permanecer a reinvindicação de universalidade de todas as visões humanas do mundo,
todas elas acabam por se dissolver tragicamente no processo da história . A vida ultrapassa
as suas próprias significações, apesar de nada ser sem elas. É um jogo inacabado de
força e significação . Por isso , só a autoreflexão histórica pode resgatar os ideais
humanos e suas múltiplas imagens do abismo do tempo e da inexorável marcha da
evolução. Mas para que tal aconteça , é necessário descobrir , na "variegada multiplicidade
dos sistemas , estruturas , conexões e articulações " ( 20). Por outras palavras : um mesmo
pressuposto deve ser encontrado por detrás de toda a luta entre as diversas mundividências.
É, de facto, de ordem preconceptual a solução para a variedade das perspectivas que
entretecem a história . Não exprimem elas apenas a dimensão semântica ou visível
daquele enigmático poder que distingue o homem ou vida vivida do objecto puramente
inerte?
A capacidade evolutiva do homem, essa dimensão prospectiva que o caracteriza
enquanto projecto, antecipação ou ser inacabado , tal é o núcleo da imagem, ou o miolo
do tempo, motivo pelo qual é introduzida no mundo a perspectiva , a expectativa, a
significação ou imagem.
É, pois, a vida na sua inesgotável capacidade de simbolização ou referência
(transcendência ) a raíz última de toda a visão de mundo . Por isso , muitas são as
possibilidades de o conceber. Por toda a parte, Religião, Filosofia e Poesia reflectem
nomeadamente sobre o enigma da vida procurando torná- lo compreensível , na base de
modelos, que transformam o que é confuso e absurdo numa conexão necessária de
problemas e soluções (118). Da reflexão sobre a vida nasce a experiência da vida, afirma
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992 )
pp. 389-414
392
Revista Filosófica de Coimbra
o autor revelando -nos, deste modo, a dimensão eminentemente histórica e mediata de toda
a experiência humana.
A ordem das significações, integra a própria ordem da vida, é mesmo a sua real
condição - tal é a descoberta fundamental de Dilthey que o obriga a elaborar uma teoria
das concepções ou linguagens do mundo, que procure respeitar a ,ua inevitável
historicidade.
l.ui.sa l'ortocarrero F. Silva
SIMON, Josef: Filosofia da Linguagem. Trad. de A. Moi ãt). Lisboa,
Ed. 70, 1990, 244 pp.
Publicada em 1981, a obra Filosofia da Linguagens de J. Simon surge finalmente
entre nós, numa tradução de Artur Morão.
Neste texto interessante o autor analisa a inegável importância da linguagem no
pensamento contemporâneo, em ordem a poder situar a tarefa concreta de uma filosofia
da linguagem.
Se, de facto, a linguagem ocupou, desde cedo, a cena filosófica - como o atestam o
diálogo Crbtilo de Platão e a importante determinação aristotélica da linguagem como
logos semântico, dotado de um tríplice carácter, pragmático (ou retórico), poético e
apofântico - nem sempre os filósofos deram muita atenção aos problemas implicados na
mediação linguística do seu pensamento, considerando-a, em regra. como puro acidente
ou roupagem exterior. É, no entanto, já desde a crise nominalista dos universais e sua
crítica ao conceito realista de linguagem que se prepara, no contexto da tradição filosófica
ocidental, todo um movimento de ordem marcadamente epistemológica, cujo resultado
foi a conversão linguística do filosofar iniciada por W. von Humboldt nos finais do
séc. XIX.
Com efeito, ao pôr em causa a pretensão directa de todos os nossos enunciados
predicativos, o movimento nominalista abre caminho a uma forte tendência para a
desvalorização da linguagem natural, que acaba por ter como contrapartida necessária a
posição transcendental do sujeito moderno. O divórcio entre pensamento puro e linguagem
natural consuma-se de um modo tal com a viragem transcendental da filosofia moderna
que a questão da verdade - a questão filosófica por excelência - passa então a exigir uma
fundamentação extralinguística dos nossos enunciados. Só a referência dos conceitos
universais à experiência (elevada a verdadeira instância de fundamentação )(34) permite
agora decidir da verdade ou não verdade dos nossos juízos. Mas a própria noção de
experiência - o novo modelo de referência - é, como nos alerta já Kant, uma noção
complexa, pois sem os conceitos que a ordenam (51) toda a observação humana é
puramente caótica. O pensamento humano, os seus conceitos não têm um significado em
si geral , nem tãopouco derivam simplesmente da experiência. São por referência à
experiência , que ordenam e que, por sua vez, nada é sem eles. Tal foi o ensinamento
fundamental da filosofia transcendental de Kant. Mas, Kant, diz-nos a este propósito
J.Simon (45), parte ainda de um entendimento arquetípico, cujo pensar é plenamente
adequado , isto é , pressupõe a identidade do sujeito na sua referência às formas com que
pensa, ideia que mais tarde será radicalmente contestada. Na verdade, o advento, no
séc. XIX, da problemática das ciências humanas e toda a questo da sua radical
linguisticidade e historicidade, vai fazer-nos tomar consciência de que o pensamento
humano tem uma consistência linguística finita; de que nada existe onde falta a palavra
pp. 389 -414
Revista Filosófica de Coimbra- 2 (1992)
Recensões
393
e de que toda a linguagem é uma visão específica do mundo que "sobressai como um
comportamento interindividual"(79). A partir de W. von Humboldt e de toda a revisão
da autocompreensão filosófica ocidental proporcionada pela problemática da finitude e
historicidade do existir humano, criam- se, pois, as condições que obrigam a Filosofia a
pensar , antes de mais, a sua mediação linguística.
Grande parte do filosofar do nosso tempo considera mesmo que uma teoria dos
signos ( e da sua radical intersubjectividade) deve preceder a antiga teoria das coisas,
concedendo assim à filosofia da linguagem o lugar outrora ocupado pela própria
Metafísica ou filosofia primeira . A filooofia da linguagem é, hoje, uma disciplina fundamental, que reorganniza o filosoficamente pensável, não devendo , pois, confundir-se
com a mera análise linguística , desenvolvida com êxito e pertinência neste século, a partir
de F. Saussure. Reflecte sobre a linguagem não para a tratar como um qualquer objecto
particular mas para, a partir dela , reinterpretar o nosso próprio modo de ser e pensar,
na sua eterna referência ao ser das coisas . Nem o conhecimento puramente conceptual,
nem o conhecimento puramente empírico ou sensista são, hoje, hipóteses possíveis. Para
o homem não existe de facto uma relação directa e imediata com o mundo e com os
outros homens. A descoberta da finitude e historicidade do existir mostrou-nos,
justamente , que a nossa relação ao mundo não é de posse , espelhamento ou coincidência,
mas sim de referência , interpretação ou simbolização . Por isso, é hoje impossível sustentar
um discurso inequívoco sobre a referência.É o poder hermenêutico -intersubjectivo da
própria linguagem humana o objecto fundamental de uma filosofia da linguagem que
apresenta assim um escopo simultaneamente ontológico, ético e gnosiol6gico.
Luísa Portocarrero F. Silva
BOAVIDA, João: Filosofia - do Ser e do Ensinar, Coimbra, Centro de
Psicopedagogia (I.N.I.C.), 1991 , 540 + XIV páginas.
O livro é constituído por quatro partes , distintas mas inter -relacionadas, que vamos
tentar resumir com vista à compreensão da obra.
A primeira ("Análise dos condicionalismos gerais postos pela Filosofia como domínio
específico") procura compreender não s6 as condições gerais do pensamento filosófico
como o seu "modus faciendi". Apesar da variedade quase ilimitada das suas manifestações,
poderá resumir-se a uma necessidade de entendimento e a uma exigência racional quanto
aos factores que o desencadeiam, a dois tipos de actividade intelectual, quanto ao modo
da actuação predominante (a análise e a síntese), e a duas formas de concretização
essenciais (o processo e o sistema).
A segunda ("A adolescência como transformação e especificidade") procura justificar
o carácter particular do comportamento e do pensamento adolescentes, com o intuito de
compreender melhor o que se pretende ao nível do ensino/aprendizagem da Filosofia.
Apesar do carácter em grande parte cultural da chamada crise da adolescência, o livro
procura demonstrar que há efectivamente uma especificidade psico-afectiva e intelectual
que se coaduna muito bem com o tipo de actividade que a Filosofia dominantemente
exige. Ou seja, o livro pretende demonstrar que os alunos do ensino secundário têm em
geral boas condições para a aprendizagem e para a actividade filosófica, e que a razão
para a sua desmotivação frequente terá que encontrar-se em razões de natureza pedagógica
e psicológica e não no âmbito da Filosofia propriamente dita.
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992 )
pp. 389-414
394
Revista Filosófica de Coimbra
A terceira ("A educação e a concepção educativa como processos em evolução")
procura, analisando o acto educativo , e a evolução a que tem vindo a ser sujeita a sua
concepção , realçar não só a sua dinâmica integrada, mas, digamos, a sua funcionalidade,
real e potencial . Passa ainda em revista os contributos psicológico e pedagógico para uma
concepção da actividade educativa que concorre, no seu ponto de vista, para a abordagem
que pretende para a Filosofia.
A quarta parte enfim ("Esboço de uma didáctica geral para a Filosofia") pretende
sintetizar os contributos das perspectivas anteriores (filosófica, psicológica e pedagógica)
no sentido de encontrar uma nova abordagem para a I ilusnfia e, simultaneamente, uma
didáctica diferente.
As razões e os argumentos aduzidos nas quatro partes valem cm si mesmos ruas,
numa segunda ordem, entrecruzarn -se numa espécie de conflucncia ou coeréncia orais
profunda, porque inter-relacionada. Quero dizer, desde a primeira paute que rios
apercebemos , tomando como ponto de partida a Filosofia, quer como interpretação/
fundamentação , quer como construção/interpretação, que a relação entre Filosofia e
Pedagogia tem aqui uma nova perspectiva, uma inter-relação que não é habitual ver-se.
Por um lado, a actividade filosófica é de natureza judicativa e oscila constitutivamente
entre a vocação para o sistema e a dinâmica do processo que o apela. Por outro, a
dimensão pedagógica, muito mais do que uma actividade complementar e extrínseca, surge
aqui como uma componente intrínseca ao processo, como elemento determinante. Na
medida em que a actividade filosófica real tem uma estrutura reconhecidamente
pedagógica, e a vocação profunda da pedagogia é muito mais do que a arte de transmitir
conceitos , as coisas alteram-se profundamente em relação ao que é habitual. Assim não
só será necessário alterar a relação pedagógica, mas também a actividade na aula, que
terá que passar a assentar na dinâmica do processo e não na estrutura do sistema. Não se
nega a sistematicidade implícita da Filosofia; simplesmente toda a pedagogia moderna,
do mesmo modo que alguns dos contributos mais significativos da Psicologia, apontam
no sentido da necessidade de não esquecer o processo, ou esquecer-nos-emos da própria
Filosofia.
A quarta parte, por outro lado, ao propor uma didáctica para a Filosofia que
corresponda " à natureza construtiva do processo filosófico", e depois de analisar numa
perspectiva nova o tão falado problema da "ensinabilidade filosófica", estabelece
pressupostos mínimos na concretização da actividade filosófica e na definição de
objectivos. A qual definição (cognitivos, psico-afectivos e psicomotores: gerais,
específicos, comportamentais) constitui uma solução suponho que original para este
problema , visto que ao nível do ensino da Filosofia, sendo também indispensável a
definição de certas metas, para que se possam alcançar aquelas que realmente interessam
à Filosofia, é preciso dar-lhe, porém, uma formulação diferente e alterar a sua concepção,
se não queremos ver de novo afastada a hipótese de uma iniciação filosófica adequada.
Sendo esses objectivos, justamente , os que partem do próprio processo filosófico. Todos
os outros se afiguram ilegítimos , pelo conteúdo que impõem e pela particularização (de
escolas, de problemas) que, por este meio, imediatamente impõem à Filosofia. Quanto,
enfim , aos objectivos capazes de proporcionar estas condições, reservamos aos leitores
da obra a tarefa de encontrar a resposta...
Na verdade , isto é apenas um esboço, e tendo a obra mais de quinhentas densas
páginas, só uma leitura completa e atenta a poderá revelar em todos os seus aspectos
significativos . Há, porém, desde já, e para incentivar os hesitantes, um aspecto que apraz
registar : mesmo nas passagens mais complexas, o autor procura sempre tornar claro o seu
pensamento . É sabido que não é a sinuosidade verbal que faz a boa filosofia, mas ainda
há quem tenha dificuldade em o entender . E tratando-se de um livro que assumidamente
defende a ligação indissociável da Filosofia e da Pedagogia, o esforço é de louvár.
pp. 389-414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
395
Licenciado em Filosofia , que leccionou no ensino secundário durante vários anos, o
autor especializou - se depois na área da Psicopedagogia , estando diariamente em contacto,
teórico e prático , com os respectivos problemas . Daí que esta obra não seja o resultado
de uma qualquer " congeminação abstracta ", e nem mesmo uma simples ( ainda que
excelente ) tese de doutoramento . Ela é antes o fruto, maduro , de parte de uma vida
apaixonada por estas questões.
J. A. Encarnação Reis
HARRIS, J. F. (Ed.): Logic, God and Metaphysics. (Dordrecht /Boston/
London, Kluwer Academic Publishers, 1992) IX+151 pp.
A recepção do pensamento de A. N . Whitehead no continente europeu tem-se
limitado a um conjunto muito limitado de investigadores embora esteja a aumentar o
número de publicações sobre a filosofia do processo na Alemanha. Contudo, é, de facto,
nos EUA que floresce uma teologia do processo bem como uma certa tradição de estudos
sobre Whitehead . O livro que J. F. Harris edita inclui um conjunto de dez ensaios
publicados pelo Grupo Kluwer como homenagem a Bowman L. Clarke, professor
universitário que se distinguiu nas áreas da filosofia da religião, do estudo da filosofia
de Whitehead e do "cálculo de indivíduos ". Por isso, os ensaios aqui reunidos reflectem
precisamente sobre estes três centros de interesse do homenageado e sua interpenetração.
Daí, a justificação do título Lógica, Deus, e Metafísica.
Charles Hartshorne partilha com Bowman Clarke o interesse pelos grupos temáticos
para que aponta o título deste volume . Contudo , divergem profundamente quer ao nível
da construção sistemática quer no domínio da reconstrução interpretativa das teses
fundamentais de Whitehead . Divergência que é explorada por Lewis S. Ford e confrontada
com as interpretações de John Cobb, Jr. e William Christian em torno da problemática
da concrescência divina (19-37). Trata-se de um tema complexo que envolve a difícil reflexão sobre o tempo e, muito particularmente, a análise da teoria do tempo desenvolvida
por Whitehead como possível resposta à célebre distinção de dois tipos de tempo (a série-A e a série-13 baseada em relações de antes e depois) feita por J. M. E. Mc Taggart.
Rem B . Edwards retoma as divergências de fundo em torno das noções básicas de
"Processo e Deus" (41-57). Referindo- se a um estudo de Bowman Clarke em que este
argumenta convincentemente que, apesar de Hartshorne defender a tese de que todas as
preensões implicam uma causalidade eficiente , Whitehead distinguia claramente entre dois
tipos de preensões, causais e presentacionais ( 54), R. E . Edwards conclui: "Clarke
convenceu -me de que Whitehead acreditava na existência de preensões físicas não-causais
de actualidades concretas . Não me convenceu de que tais preensões não-causais existem
realmente" (55).
John T. Dunlop analisa outro tema sobre o qual Clarke e Hartshorne divergem: o
argumento ontológico (99-109). Neste ensaio de Dunlap , mais interessante do que a
exegese das posições dos dois autores citados, é a análise das dificuldades comuns a ambos
face a qualquer interpretação standard da lógica modal quer se trata do sistema T de Von
Wright ou dos sistemas S4 e S5 de Lewis (104-108). A única saída possível seria optar
por um sistema modal não-standard sabendo de antemão que estes sistemas são fracos.
A posição de Hartshorne que pretende manter a validade do argumento independentemente
de qualquer sistema formal, parece claramente insustentável.
Revista Filosófica de Coimbra -2 (1992 )
pp. 389-414
396
Revista Filosófica de Coimbra
James Harris, no estudo "Deus, eternalidade e a visão de parte nenhuma", examina
alguns dos problemas relacionados com o atributo clássico da etern(al)idade divina desde
a concepção judaico-cristã e o Primeiro Movente de Aristóteles até às concepções mais
características da Modernidade com realce para os autores da tradição anglo-americana.
Mas o objectivo principal de Ilarris é a avaliação da resposta whiteheadiana ao dilema
do Movente Imóvel resultante da adopção por Tomas de Aquino da argumentação
aristotélica para justificar a existência do Movente Imóvel (73-86). Mais urna vez, tudo
passa por uma reflexão sobre essa dimensão central e extremamente dificil de articular
que é a temporalidade.
Eugene 'Churras Long aborda a questão do " plurali in icligiov, e Jn fundamento
da fé religiosa " (87-97) a partir de um posição que se inspira no pens:unento de 1lcideggcr
e de John Macquarric (88). Trata-se, portanto de um estudo que não se insere na tradição
de que se reclama B. Clarke e a maior parte dos colaboradores deste volume. 1., sem
dúvida, um dos estudos mais interessantes deste conjunto e que nos leva a uma questão
que o leitor se pode colocar: qual dos quadros de referência, o heideggeriano ou o
whiteheadiano, preferir? Evidentemente, que esta pergunta pressupõe um mínimo de
abertura no horizonte de reflexão do leitor e uma reflexão minimamente estruturada a um
nível meta -filosófico.
Lucio Chiaraviglio escreve a partir de um contexto das ciências da computação e da
informação sobre "alguns problemas novos para a especulação construtiva" defendendo
a prioridade da metáfora do processamento da informação sobre a velha metáfora da
representação ou da figuração (111-119).
Lance Factor, no estudo "Regiões, limites e pontos" analisa criticamente a versão do
cálculo dos indivíduos desenvolvida por B. Clarke focando a sua atenção sobre as
consequências da substituição da noção primitiva de "overlap" de Goodman pela noção
whiteheadiana de "conexão" (121-131). L. Factor sublinha a importãncia do trabalho de
Clarke neste domínio uma vez que Whitehead não desenvolveu uma topologia nem
dispunha de qualquer cálculo dos indivíduos. Na IV Parte dç Processo e Realidade, tudo
o que se pode encontrar é um conjunto de definições e construções parciais bem como
algumas sugestões . Daí a importância dos estudos de Clarke no desenvolvimento de um
projecto de inspiração whiteheadiana.
O último ensaio, de Bowman L. Clarke inclui a sua resposta a algumas das criticas
à sua obra formuladas pelos colaboradores deste volume bem como a sua reflexão sobre
os aspectos principais da interpretação do pensamento de Whitehead que ainda requerem
um esforço por parte daqueles que se interessam por este tipo de filosofia (131-149). De
facto, todos estes ensaios podem servir como exemplo de um modo peculiar de fazer
filosofia que não é certamente o modelo dominante mas que é adoptado por um grupo
minoritário da comunidade filosófica americana. Caracteriza-se, por um lado, pela
referência nuclear à obra de Whitehead e, por outro, pelo desenvolvimento de instrumentos
de análise lógica e rigorosa dos construtos teoréticos.
Não é de forma nenhuma um livro adequado a uma introdução ao labirinto da
filosofia do processo mas pode ser interessante para quem já possuir uma boa formação
e informação filosófica e quiser explorar novos caminhos, confrontar pontos de vista
diferentes , por à prova a autenticidade do seu pluralismo e tolerância. Aliás, este parece
ser o espírito que anima a colecção publicada pelo Grupo Kluwer em que se insere este
volume.
António Manuel Martins
pp. 389-414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
397
ZEKL, Hans Günther : Topos. Die aristotelische Lehre vom Raum. Eine
Interpretation von Physik, 0 1-5. (Hamburg : Felix Meiner, 1990)
VII + 289 pp.
H. G. Zekl tem consciência das dificuldades que se deparam a quem quiser ocupar-se hoje com a Física de Aristóteles e muito particularmente com a doutrina do lugar/
espaço. Isto apesar de Heidegger ter caracterizado a Física, no seu conjunto , como "o livro
fundamental da filosofia ocidental, ocultamente e por isso nunca suficientemente pensado"
(Satz vom Grund , 112). Daí a necessidade de obter um horizonte a partir do qual seja
possível ainda hoje reflectir sobre a Física de Aristóteles em geral e sobre a sua doutrina
do topos sem desembocar numa floresta de enganos . Zekl define sumariamente este
horizonte a partir de três caracteríticas fundamentais. Em primeiro lugar, o princípio da
racionalidade : para Aristóteles , a sua reflexão sobre o topos insere - se num quadro de
racionalidade metódica e crítica orientada pela observação e experiência e que não tem
nada que ver com qualquer misticismo topológico ou cabalístico . A segunda característica
seria a interdisciplinaridade dado que este tema exige como poucos o concurso da
matemática , ciências da natureza e filosofia . A investigação interdisciplinar é apresentada
hoje , muitas vezes , como um novo paradigma. Dentro dos seus limites, "a física
aristotélica foi sempre interdisciplinar , no sentido de estar aberta e em comunicação com
outros methodoi aristotélicos como: lógica, dialéctica , doutrina dos princípios, da matéria
e suas transformações , astronomia , metereologia , psicologia , investigação sobre o
comportamento , anatomia , movimento e reprodução dos seres vivos e ainda a
metafísica"( 2). A terceira dimensão do horizonte aqui esboçado seria a Alternativa não-cartesiana , tornada urgente pela falência do paradigma científico - técnico dominante na
Modernidade . Zekl parte da urgência de uma viragem , sublinhada, entre outros, por
C. F. v. Weiszãcker . Não se trata aqui de reclamar um regresso acrítico a uma posição
pré-moderna sob a forma de um retorno a Aristóteles mas sim de integrar a leitura do
texto aristotélico no quadro de uma reflexão exigente sobre modelos alternativos de uma
forma de ciência de tipo não cartesiano ( 3). O presente estudo de H. G. Zekl insere-se
numa linha programática de interpretação do texto aristotélico definida por O . Gigon como
a necessidade de dar prioridade a análises do texto aristotélico em que cada frase é
interpretada por si e em função do seu contexto imediato de forma a chegarmos à
reconstrução interpretativa do contínuo de determinado texto. Trata- se, portanto de uma
microanálise do texto de Física 0 1-5 sobre o topos . Em rigor, nem Platão nem Aristóteles
esboçaram qualquer teoria do espaço . A sua reflexão gira em torno da problemática do
lugar dos corpos naturais. Daí a necessidade de situar o texto da Física sobre o lugar no
quadro do pensamento aristotélico . Depois de uma série de considerações preliminares
sobre o estado da questão (reconstrução do pensamento de Aristóteles , forma do texto,
tema ), H. G. Zekl analisa a determinação fundamental do lugar/espaço nas Categorias
fazendo, em seguida, um contraste com a definição quasi lexicográfica de topos em
Metafísica 13 (21-46 ). O resto do livro gira em torno da interpretação de Física Ml-5,
texto que tem como tema o lugar físico enquanto determinação central da physis. Os
conceitos " infinito", "lugar ", " vazio" e "tempo", contrariamente àquilo que sucede com
o de movimento ( Kinesis ), são problemáticos para Aristóteles no sentido em que há muitas
coisas que não são claras a seu respeito a começar pela questão de saber se existem
realmente ou não. Aliás, como é sabido, o vazio, por exemplo , não existe de acordo com
o texto da Física e Aristóteles explica porque é que ele não pode admitir a existência do
vazio postulada pelos atomistas antigos . Assim , o texto da Física apresenta - nos a análise
aristotélica destes conceitos centrais em três momentos : existência (ou não), modalidade
da existência e definição . O texto de Phys. A 1-5 segue igualmente este esquema genérico
Revista Filosófica de Coimbra-2 ( 1992 )
pp. 389-414
398
Revista Filosófica de Coimbra
que vai servir de fio condutor à investigação minuciosa de H. G. Zekl. Numa primeira
aproximação , H. G. Zekl explora as antinomias físicas ligadas à tese da existência do
lugar . Dado que o texto aristotélico é muito sintético no que se refere ao enquadramento
histórico desta problemática (o que talvez não seja de admirar se nos lembrarmos que
Aristóteles pensava que também nesta matéria não tinha recebido qualquer legado digno
de nota ) tem particular interesse o Excursus sobre as opiniões dos antecessores de
Aristóteles (56-69).
A resposta à primeira questão parece fácil, pelo menos a nível intuitivo. O facto de
os corpos naturais mudarem de lugar parece indicar que este e diferente de todos os corpos
que podem "estar nele". Aliás, a existência de seis direcções diferentes, suposta no texto,
implica urna teoria do movimento dos corpos naturais que vai no mesmo sentido (71-73).
Contudo, a introdução de urna componente cosmológica nesta análise do lugar vem
introduzir alguns factores de perturbação no quadro conceptual da 1 isica aristotélica. Num
universo esférico como é o aristotélico, as direcções para cima e para baixo ( ou na
linguagem problemática dos "lugares naturais": em cima e em baixo) podem ser de certa
forma reinterpretados em termos de periferia (em cima) e centro do todo (cm baixo). Foi
isto que fez a tradição de leitura irreflectida do texto aristotélico. partilhada pelos
defensores cegos do Estagirita e pelos seus adversários igualmente pouco dados a um
maior rigor hermenêutico. Esta reinterpretação já não é tão fácil de fazer - no universo
esférico de Aristóteles - com os pares esquerda/direita, à frente/atrás. H. G. Zekl chama
a atenção para alguns dos principais problemas que se colocam neste contexto (72-82).
O primeiro momento da análise aristotélica termina com a conclusão de que o lugar existe
e que todos os corpos naturais ocupam determinado lugar (88-89). Mas, mesmo que se
dê por positivamente resolvida a primeira questão, resta ainda a difícil tarefa de encontrar
uma resposta satisfatória à pergunta, o que é o lugar? Para chegarmos lá é necessário
passarmos pela análise do segundo momento da reflexão aristotélica. Em ordem a
clarificar melhor o ductus do texto, H. G. Zekl começa por salientar uma série de seis
aporias relativas à definição e existência do lugar: tridimensionalidade, redução
geométrica, noções de elemento e de causalidade, o paradoxo de Zenão de Eleia e o
crescimento (90-100). Segue-se a análise do texto de 209a31-210al3 (101-118). Não se
trata tanto de julgar os conteúdos objectivos adquiridos na análise como de salientar os
processos argumentativos usados no texto. A análise das aporias permitiu encontrar uma
primeira resposta a duas questões colocadas no início do texto em apreço (208a28). Por
um lado, é manifesto que o lugar existe e sem admitirmos a sua existência não se pode
compreender adequadamente a estrutura fundamental da physis que é a mudança (kinesis). Por outro lado, essas mesmas aporias mostram que não se pode aceitar acriticamente
um conceito de lugar(topos) que nos leve a pensar que a existência do lugar e o seu modo
característico são algo de imediatamente acessível e claro para todos. Daí que a tentativa
de definição (210b32-212a30) seja inseparável dos problemas levantados ao longo da
análise . H. G. Zekl faz uma análise minuciosa deste texto e dos pressupostos da
argumentação aristotélica (136-210). Na última parte do livro, faz uma série de esclarecimentos complementares e algumas considerações sobre as principais consequências da
análise aristotélica no âmbito da cosmologia e do quadro conceptual em que se desenvolve
a física aristotélica (211-260). Estamos perante um estudo rigoroso do texto aristotélico
que se orienta pela letra do texto de Phys. A 1-5, como não poderia deixar de ser, mas
que não perde de vista o fio condutor principal que é o ductus da análise aristotélica do
lugar . Por isso, é um livro que como o próprio autor sublinha, não se presta a uma súmula
que compendie os resultados da análise pois o que há de mais importante aqui reside na
própria investigação, no caminho penoso para a definição. Como H. G. Zekl diz, com
alguma ironia , "aqui não existe a célebre escada que se pode deixar cair depois de com
ela ter atingido um nível superior " (262). Também não é, como o próprio título o indica,
pp. 389-414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
399
uma análise completa do conceito de lugar no Corpus Aristotelicum . Tal não seria viável
se o autor quisesse manter o mesmo nível de análise e confinar - se a um número razoável
de páginas . Entre outras coisas, falta a análise de textos centrais para a concepção do lugar
em De caelo A, B e Met. XII, 8. Tal análise revelar -nos-ia , para além de novos aspectos
da dimensão cosmológica, os traços centrais da dimensão antropológica do lugar. Porém,
o objectivo principal de H.G . Zekl era fazer uma análise detalhada dos momentos por que
passa a reflexão aristotélica em Phys . AI -S. Podemos dizer que a sua reconstrução foi
levada a bom termo e de uma forma exemplar.
António Manuel Martins
HONNEFELDER, Ludger: Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendlleit und Realitcit in der Metaphysik des
Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus - Suárez - Wolff - Kant Peirce). (Hamburg: Felix Meiner, 1990) XXIII + 568 pp.
Ludger Honnefelder persegue neste trabalho uma intuição que já estava presente na
sua dissertação sobre a metafísica de Duns Escoto, Ens inquantum ens (Münster, 1979)
e que aparece muito claramente na parte final em que o autor procura situar historicamente
o projecto de Escoto definindo -o como a transformação da metafísica em ciência transcendental ( scientia transcendens - precisamente o título da obra que agora nos cumpre
analisar ) ( 396-404 ). Aquilo que naquelas páginas finais era simples alusão transformou-se agora em objecto principal de investigação . A prossecução de tal investigação insere-se num quadro de articulação da ontologia medieval com a ontologia moderna. O nexo
entre as várias configurações históricas destas duas grandes épocas da história do
pensamento é algo que está ainda muito pouco estudado . E o pouco que existe, pelos
limites e parcialidade inerentes , conduz facilmente a uma floresta de enganos. Honnefelder
aproveita toda a investigação por ele realizada sobre Duns Escoto e , recorrendo a toda
uma série de trabalhos publicados sobre os principais pensadores da Modernidade
designadamente sobre Kant, procura seguir as vicissitudes da recepção do conceito de
metafísica como scientia transcendens no pensamento moderno . É claro que não se trata
de simples recepção mas igualmente , em maior ou menor grau conforme os casos, de
transformação do ponto de partida inicial . Assim, torna-se decisivo para o horizonte da
investigação de Honnefelder a introdução da compreensão da realidade como a questão
central que pode polarizar um interesse de algum modo comum aos autores investigados.
Honnefelder desenvolve aqui um projecto paralelo mas de sentido inverso ao de Gilson
em L'être et 1'essence . Aceita- se, nos seus traços gerais , a linha de desenvolvimento da
influência da metafísica de Escoto em pensadores posteriores designadamente em Suárez
e Wolff. O que Honnefelder não aceita é a superioridade do projecto tomasiano reclamada
por Gilson . Pelo contrário , Honnefelder parte do pressuposto de que a definição da
metafísica como scientia transcendens em Duns Escoto é não s6 o conceito de metafísica
mais influente nos finais da idade média e princípio dos tempos modernos como aquele
que é, de facto, teoricamente mais aceitável . Portanto , a haver superioridade de algum
dos vários projectos de determinação da metafísica como filosofia primeira esboçados na
época medieval , ela pertenceria sem qualquer margem para dúvida ao esboço de Duns
Escoto . Esta é, de algum modo , a tese central de Honnefelder neste texto. A monografia
de Honnefelder está estruturada em quatro partes e uma conclusão . Na primeira parte
(3-199) desenvolve a concepção de Duns Escoto em que a metafísica teria sido definida,
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992 )
pp. 389-414
400
Revista Filosófica de Coimbra
pela primeira vez, de forma clara, como scientia transcendens. Nesta configuração teórica,
o ente seria definido primordialmente como "non repugnantia ad esse". Daí a importância
crucial que assumem as modalidades e a necessidade de articular convenientemente a
relação entre ente, possibilidade e realidade para compreender o discurso de Escoto sobre
os "modi essendi ". Nesta primeira parte do seu trabalho, llonnctclder persegue dois
objectivos estratégicos essenciais . Em primeiro lugar, aproveitando os trabalhos
anteriormente realizados e as novas contribuições da literatura especializada, procura situar
a metafísica de Escoto no contexto histórico que a viu nascer. Escoto pertence a urna
segunda geração do confronto coar Aristóteles que levou a unia nova re(onnul:rçao da
filosofia primeira nos sécs. XIII e XIV. Escoto não se confronta apenas tom Aristotcles
e seus intépretes árabes mas também com os autores latinos que entretanto tinham
desenvolvido a recepção do conceito aristotélico de mctafisica em varas sentidos
Henrique de Gand, Godofredo de Fontaincs, Egidio Romano e Tontas dc Aquino. Mas o
que importa a Honnefelder sublinhar é que o conceito de mctafisica desenvolvido por
Escoto foi pensado para superar as dificuldades entretanto surgidas com os esboços dos
autores da primeira geração mantendo uma pretensão de validade que não limitasse a
intenção programática do texto aristotélico a ser uma interpretação do mundo e, por outro
lado, não tivesse implicações destrutivas para a teologia cristã designadamente tornando
a Revelação supérflua. Isto só poderia ser conseguido por uma metafísica que se
compreendesse como ciência transcendental e partindo de uma crítica da razão. O segundo
objectivo estratégico de que falávamos consiste precisamente na defesa especulativa do
ponto de vista de Duns Escoto, assim entendido, como o mais satisfatório. E este o sentido
da primeira parte desta monografia com uma análise sistemática dos principais temas e
conceitos da metafísica de Duns Escoto. Estabelecidas as bases do projecto com a
articulação e travejamento do edifício escotista, lonnefelder pode passar à segunda
estação do seu roteiro: Francisco Suárez, tema da segunda parte (200-294). Honnefelder
parte da constatação de que tanto Suárez como Wolff retomam quase literalmente as
formulações escotistas "hoc cui non repugnar esse" e "quod aptum natum est existere"
para definir "ens". Uma vez que a recepção daquelas fórmulas não parece meramente
acidental e ocorre em textos centrais pergunta-se até que ponto Suárez e Wolff aceitaram
e/ou transformaram o conceito de metafísica associado originalmente àquelas fórmulas.
Honnefelder sublinha a ausência de monografias que explorem esta problemática nos
autores citados. O fio condutor da reconstrução da sistematização da metafísica em Suárez
é o conceito de entidade como "aptitudo intrínseca". Apesar de todas as incertezas que a
falta de estudos críticos semeiam , Honnefelder procura reconstruir o projecto suareziano
de uma filosofia primeira retomando a tese defendida já em 1919 por Minges, contra
Grabmann , segundo a qual Suárez, nas questões centrais da metafísica, concorda com
Escoto mesmo nos passos em que o combate, tese que a investigação mais recente sobre
Escoto confirmaria (205). Toda a segunda parte da monografia de Honnefelder consiste
numa análise do conceito de ens e sua explicação modal em Suárez que permitam uma
justificação mais explícita e diferenciada daquela tese. A terceira parte, como não podia
deixar de ser , ocupa-se da transformação da metafísica em ontologia geral operada por
Christian Wolff (295-381). Trata- se aqui de desenhar os contornos de uma filosofia
primeira que compreende a entidade como "não contradição". Para sublinhar a importância
histórica de Wolff, Honnefelder recorda que, em 1735, nas escolas e universidades alemãs
havia 112 lugares ocupados por fiéis discípulos de Wolff (298). Kant teria tomado
contacto com a tradição da metafísica clássica precisamente através destes discípulos de
Wolff. Daí a importância estratégica desta terceira parte dedicada a Wolff a que acresce
o facto de Honnefelder não dedicar nenhum capítulo a Kant. Isto não significa que o
filósofo de Kõnigsberg esteja ausente da investigação de Honnefelder. Pelo contrário, é
a figura de referência para todas as vias, aqui exploradas , de definir os contornos de uma
pp. 389-414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
401
filosofia primeira como "ciência transcendental". Neste sentido , ele está presente ao longo
de todo o texto mas aparece de forma mais explícita a partir dos capítulos dedicados a
Wolff e sobretudo na conclusão ( 403-486 ) designadamente nas pp . 443-459 . A última
parte da monografia de Honnefelder tem por objecto a análise do conceito de metafísica
em Charles S. Peirce ( 382-402 ). Peirce não se enquadra na linha de recepção do conceito
escotista de metafísica que liga Duns Escoto a Wolff. Contudo , na medida em que faz
uma referência explícita ao conceito escotista de "realitas " pode - se legitimamente
perguntar até que ponto Peirce retoma aquele conceito de realidade e a determinação
formal de entidade que lhe está associada . Esta conexão Escoto - Peirce já tinha sido
explorada anteriormente por alguns estudos . Contudo, Honnefelder espera contribuir com
algo de positivo para este debate fazendo uma reconstrução apoiada na investigação mais
recente sobre Escoto. Assim , explora a definição da metafísica em Peirce como "theory
of reality ". Realidade que é definida como objecto da "definite opinion" em Peirce.
Como já salientámos , o objectivo principal da monografia de Honnefelder consiste
na reconstrução crítica do projecto de uma filosofia primeira enquanto "scientia
trancendens " e da compreensão da determinação formal da realidade e entidade que lhe
está associada em Duns Escoto. Quem tiver um conhecimento minimamente satisfatório
do texto de Escoto sabe que as proposições metafísicas nele contidas se encontram esparsas
na sua obra teológica e , por isso, saberá igualmente apreciar o mérito da síntese oferecida
por Honnefelder . O facto de esta problemática não se encontrar desenvolvida na
bibliografia especializada para cada um dos autores citados levou o autor a desenvolver
pequenas monografias sobre cada um deles a partir de um conjunto de textos relevantes
para o tema . Contudo , verifica - se um esforço para não violentar o texto dos autores
analisados procurando reconstruir , num primeiro momento , o ponto de partida característico de cada um dos autores . Só num segundo momento se faz a comparação crítica
com o ponto de partida de Escoto detalhadamente analisado na primeira parte da obra.
No capítulo final , Honnefelder resume os principais resultados da sua investigação e
procura articular melhor alguns aspectos teóricos , refutar algumas críticas mais correntes
às posições dos autores estudados . O tema é interessante e este estudo contribui
decisivamente para explorar um possível horizonte comum às várias filosofias
representadas pelos autores indicados no subtítulo a partir do qual será eventualmente
viável um diálogo . Seria talvez necessário , a partir daqui, ter mais presentes as diferenças
e ver até que ponto o diálogo pode ser frutuoso noutras direcções . Além de uma boa
bibliografia , o texto de Honnefelder inclui um índice de citações bem como índices de
temas e de nomes.
António Manuel Martins
BURNS, Linda Claire: Vagueness. An Investigation finto natural Languages and lhe Sorites Paradox, Dordrecht/ Boston/London, Kluwer
Academic Publishers, colecção Reason and Argument volume 4, 1991,
202 págs. + xii.
Integrado numa colecção dedicada a temas de Lógica iniciada nos fins dos anos 80
na editora multinacional Kluwer, o presente livro de L. C. BURNS aborda temas e
problemas semânticos que se levantam na análise das linguagens naturais. O grupo
disciplinar a que pertencem as suas investigações pode considerar-se o da Semântica das
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992)
pp. 389-414
402
Revista Filosófica de Coimbra
Linguagens Naturais . A obra divide-se em duas partes. A primeira parte (Puzzles, Problems and Paradoxes ) investiga o conceito do vago, tal como ele surge perspectivado
directa ou indirectamente em G. FREGE, B. RUSSELL, L. WITTGENSTEIN, R. CARNAP, D. DAVIDSON, D. LEWIS. A abordagem da autora não se limita ao histórico das
acepções do vago e propõe-se examinar este conceito não apenas em sede semântica, mas
também na pragmática , na psicológica e na ontológica. Esta parte contém três capítulos.
A segunda parte (The Sorites Parador) é constituída por seis capítulos. Aqui, o leitor
encontrará uma aplicação do conceito do vago da primeira parte à resolução dos paradoxos
semânticos que podem surgir de argumentos do tipo do Sorites. Um dos problemas básicos
com que se defronta a autora é o de saber se o vago e uma cararteristira das linguagens
naturais eliminável pela via da formalização lógica ou se o vago e irredutível a semântica
lógico-formal e é, para além disso, objecto de dilucidação no uso quotidiano das
linguagens naturais, na dependência de contextos válidos para interlocutores com
competência linguística e comunicativa. Esta forma de apresentação da questão do vago
leva a autora a encarar a abordagem pragmática como mais decisiva do que a estritamente
semântica , em concordância com a posição analítica de D. LEWIS. A serie argumentativa
em causa no Sorites exemplifica de um modo claro a utilização do vago no encadeamento
de raciocínios, que levam a conclusões inesperadas ou paradoxais.
Na primeira parte, L. C. BURNS começa por nos referir o carácter vago e impreciso
do próprio conceito do vago, o que pode enunciar-se dizendo que o vago "se diz de muitas
maneiras ". O seu ponto de partida na tarefa de clarificação é a posição de G. FREGE, a
qual pensa o vago como uma imprecisão das linguagens naturais. L como um defeito de
significado (deficiency of meaning) que K. FINE descreve o vago. A caracteristica
distintiva deste fenómeno frente às indefinições, por exemplo, radica em que o vago se
aplica aos predicados das proposições e às condições de aplicação desses predicados a
casos e objectos possíveis. Podem assumir-se duas posições teóricas a partir da constatação
deste traço distintivo:
1. o vago é um fenómeno linguístico e é uma propriedade semântica de tipos de
expressão das linguagens naturais (FREGE, FINE): 2. o vago resulta dos usos da
linguagem , que são ou não considerados como vagos. Neste último ponto de vista, ele
não é uma propriedade semântica mas sim pragmática, ou conviria dizer melhor,
semântico -pragmática (F. WAISMANN, LEWIS). A atitude pragmática de D. LEWIS
conduz a uma situação do vago que a autora retém: o vago existe onde há tinta
multiplicidade de linguagens precisas alternativas para falantes numa comunidade
(pág. 9). Este enunciado leva implicado o pressuposto de que as linguagens naturais como
códigos linguísticos são indiferentes, em si mesmas, ao vago ou não vago das expressões
que os falantes possam realizar com base na sua competência linguística. Para LEWIS,
o vago depende de certas convenções linguísticas originadas numa população e dos hábitos
linguísticos dos falantes . O "segundo- WITTGENSTEIN abandona nas Investigações
Filosóficas as teses de FREGE sobre o carácter defeituoso das linguagens vulgares, quanto
à sua capacidade para gerar expressões com significado coerente. O acento posto por
WITTGENSTEIN no uso da linguagem , viria a recobrir a intenção semântica da definição
dos termos a partir da relação entre os factos do mundo objectivo e os conceitos mentais,
com a ideia de que a linguagem quotidiana possui mecanismos próprios de clarificação
semântico-pragmática dos termos, na dependência da conversação e do uso de regras. Mas,
uma regra do uso de certos termos não pode ser entendida como uma fórmula infalível
para a aplicação desses termos a todos os objectos possíveis, numa subsunção mecânica.
Uma outra ordem de problemas em torno das expressões vagas aparece-nos quando
ligamos a linguagem a certos estados mentais . Daqui resulta a versão psicológica do
problema do vago. L. C. BURNS mostra toda a relevância da dimensão psicológica a
respeito das crenças , em que o vago parece oscilar quanto a ser determinado pela natureza
pp. 389 -414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
403
da realidade psicológica ou pela expressão linguística dessa realidade : vaga expressão de
uma crença precisa ou expressão exacta de uma crença vaga?
A referência ontológica do vago é enunciada na proposição (d) da página 14, na ideia
de que objectos, acontecimentos ou estados de coisas no mundo podem ser vagos. A
autora não se ocupa longamente com a tese do vago nas coisas e apresenta a refutação
liminar de D. M. ARMSTRONG, para a qual ser é ser determinado. No mesmo sentido
irá M. DUMMETT que afirma o carácter pouco inteligível de uma tese que defende o
vago nas coisas actualmente existentes.
No ponto 1.3 do capítulo 1, a autora diferencia dois tipos , com base no que é commonly supposed by philosophers: 1. a variedade do vago dos "casos de fronteira" (borderline case vagueness ), do tipo de FREGE, inerente às linguagens naturais e fonte de
paradoxos; 2. o tipo das indefinições, que se funda tanto na linguagem como em
fenómenos psicológicos. De um modo geral , o vago do tipo "borderline" e o vago típico
das indefinições distinguem -se pelo facto de no primeiro caso existir o vago se uma
proposição contiver expressões ou termos com casos de aplicação do tipo "borderline".
No segundo caso o vago acontece em graus . Aqui, uma proposição é tanto mais vaga
quanto maior for a extensão da sua aplicação verdadeira a casos possíveis . Em qualquer
destes casos , estamos em presença de violações da Lei do Meio Excluído e do Princípio
da Bivalência . O vago nestes dois tipos distingue -se ainda da ignorância (pp. 22-23). Com
efeito, existem casos em que o valor de verdade de uma proposição não pode ser
inteiramente determinado por falta de conhecimento objectivo do referente dessa
proposição. Mas este aspecto não pode comparar-se com o conhecimento vago actual que
eu retiro de uma proposição. Os valores de verdade referentes à aplicação de um predicado
considerado vago a um caso podem, em certas circunstâncias , depender de decisões ad
hoc, no sentido do alargamento da verdade ou falsidade para o caso em questão.
A introdução de decisões ad hoc é um caso particular de intervenção de convenções a
propósito de indeterminação semântica . Outro caso de controlo da indeterminação é
possível quando ocorre a explicitação de pressuposições de background, no uso de certas
palavras.
O capítulo 1 é decisivo na economia da obra para o esclarecimento das distinções
operatórias dos outros capítulos. É por isso que têm uma grande importância as páginas
dedicadas aos sentidos "forte" e "fraco" do vago, na acepção do borderline case vagueness (sobretudo pp. 24 e ss.). No sentido forte do vago do tipo "borderline", um predicado
é considerado vago se a linha de demarcação entre as condições positivas , negativas e
neutras da sua aplicação para casos possíveis não tiver sido estabelecida com clareza. No
sentido comum do predicado "vermelho" não está disponível uma demarcação infalível
entre as coisas "vermelhas" e os casos "fronteira" em que o vermelho desliza para o
"laranja", por exemplo. De acordo com o sentido forte , este predicado é considerado
"vago". O conceito de vago que se encontrou a propósito da posição de FREGE aproximase deste sentido. No sentido fraco do vago existe indeterminação sobre até onde se devem
estender os limites de aplicação de um predicado vago. Nesta acepção, as instâncias
neutras da aplicabilidade dos predicados são instâncias potenciais e meramente potenciais
da extensão dos predicados. A ausência de incerteza actual seria um motivo suficiente
para se considerar que não existe , como tal, o vago . Assim, o sentido fraco s6 pode
considerar-se um conceito genuíno do vago se a classe neutra for considerada do mesmo
modo que a extensão actual da incerteza quanto à aplicação do predicado.
Outro fenómeno linguístico associado e que permite atribuir toda a importância que
merece o conceito de FREGE é a existência de inconsistências. O que é uma
inconsistência? Uma inconsistência emerge no uso actual de uma linguagem natural,
quando vários locutores dessa linguagem concordam com a existência de uma discordância
fundamental sobre a extensão de um ou mais predicados para um caso particular do uso
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
pp. 389-414
404
Revista Filosófica de Coimbra
desse(s) predicado(s). Os continua seriam determinantes a este respeito, na análise deste
tipo de casos : é necessária uma certa continuidade no uso de termos para distinguir. num
uso possível , quando um predicado ainda é ou deixa de ser aplicável a uma classe
determinada dos seus casos eventuais. A discussão do ponto 1.7 (The Evidence for
Fregean Vagueness) acaba por conduzir à afirmação positiva de que "uni termo é
intensionahnente vago se o seu significado permite a possibilidade de casos de fronteira'
(p. 29). Mas desta conclusão vão resultar ainda algumas proposições decisivas sobre o
vago no sentido de FREGE, que vale a pena agrupar: 1. onde existe o vago no sentido
da semântica intencional fracassa toda a tentativa de desenhar uma linha de demarcação
rigorosamente nítida da classe dos casos "borderline", pois ha sempm uni .uplemento de
outros casos "borderline", que não se incluiram na classe inicial e que a todo o momento
podem ser descobertos. A hipótese do vago no sentido fraco e aqui questionada. 2 A existência de uma open texture e decisiva na aceitação do conceito Iregeano-lorte do vago.
A open texture resulta da forma habitual como aprendemos os ternos, a partir de casos
exemplares da aplicação desses termos ou de estereotipos: —0 dominio da maior parte
dos termos vulgares é adquirido em situações nas quais eles são aplicados a altuns
objectos salientes, a partir dos quais o aprendiz está preparado para extrapolar para
tuna mais ampla classe de coisas" (p. 29). Mas esta extrapolação é possivel somente
porque o sentido dos termos aprendidos se não restringe ao contexto da sua aprendizagem.
Isto implica que a forma da aprendizagem não traz consigo uma regra infalível da
aplicação dos predicados a casos diferentes. 3. Se a regularidade no uso da linguagem
(das regras do uso dos termos) revela uma fundamentação normativa, a noção de open
lexture mostra que não possuímos regras de tal natureza, que governam o uso dos termos
para todas as circunstâncias imagináveis. 4. Mesmo os termos utilizados de acordo com
definições no campo das Ciências Naturais (natural sciences) mantêm uma margem de
indeterminação, que apenas pode ser limitada por critérios extra-semânticos. como o
escopo do significado de tais termos em um estádio determinado da pesquisa nessas
ciências.
A legitimidade da relação entre certos usos linguísticos e certos termos nas linguagens
naturais , costuma ser identificada com o consensus gerado nas comunidades linguísticas
sobre esses mesmos significados. A ideia do consensos comunitário aparece como uma
"necessária idealização" da inconsistência no uso actual das línguas naturais. Esta
concepção foi alargada no trabalho de K. LEHRER (1984), que a autora cita (p. 33), a
um conceito matemático do consensus, com base num tratamento das "probabilidades
semânticas ". A base empírica possível para se poder falar de um comportamento
discursivo (speech behaviour) ligado a comunidades linguísticas é a regularidade no uso
de certos significados. Esta regularidade pode exprimir-se mesmo do ponto de vista
estatístico . As regularidades estatísticas sobre os usos habituais podem dar, também, a
indicação da natureza e frequência dos usos vagos. A autora segue aqui M. BLACK na
sua proposta de um "perfil de consistência". A apreciação quantitativa do vago pode
exprimir - se concretamente por intermédio de uma função. Esta será a função de
consistência da aplicação de predicados a objectos ou ocorrências e expõe-se na forma
geral : C(F, b), em que C designa a consistência, F o predicado e b o objecto. A quantificação exprime - se no limite min, em que "m" representa numa amostra de juízos, as
ocorrências positivas da aplicação de "F" a "b" e "n" representa para a mesma amostra
o número de aplicações de -F. A autora exemplifica com abundância as possibilidades
de utilização desta fórmula . As tentativas de formalização e quantificação apenas revelam,
todavia , como a noção do "falante competente" de uma linguagem natural é tão vaga e
variável.
A abordagem que a obra faz das concepções pragmáticas de LEWIS tem, como frutos
imediatos , as seguintes conclusões : 1. as noções no quadro da "Semântica Geral" de
pp. 389-414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
405
LEWIS permitem uma fundamentação mais clara da ideia de linguagem comunal, do que
a visão do consensus com base estatística; 2. permitem uma resposta ao desafio da
clarificação do relacionamento entre linguagens naturais vagas e os seus modelos formais
precisos e exactos; 3. a abordagem que ele fez da linguagem natural permite que o vago
seja tomado "mais a sério". Segundo LEWIS, existe uma linguagem natural desde que
se reunam determinadas condições: uma possível linguagem L é a linguagem actual de
uma população P de falantes, quando eles usam L para certos propósitos comunicativos
em conformidade com a convenção (p.37). Toda a questão reside aqui em saber o que se
deve entender por Convenção. O conceito de convenção possui uma relação muito estreita
com a regularidade no uso. Uma convenção existe , aliás, se a ela corresponder alguma
regularidade empírica. Mas uma regularidade só pode tornar-se no objecto de uma
convenção, se as condições de veracidade que são válidas para ela, coexistirem com
condições complementares de veracidade em outra linguagem, mas de um modo
alternativo. Depois de analisar em 2.3 as teses de LEWIS sobre a convenção , a autora
aborda em 2.4 a tese de D. DAVIDSON sobre a relação entre as teorias semânticas e a
teoria da verdade. O capítulo 3 destina-se, em larga medida, à apreciação da importância
da aplicação dos valores de verdade à questão do vago.
Na parte II da obra sobre o Sorites, L. C. BURNS analisa , entre outras, as teses de
M. DUMMETT e de C. WRIGHT. Estas teses afirmam que se as linguagens naturais são
estruturalmente alicerçadas no uso de asserções e de predicados vagos, isso se deve a uma
característica interna e não a uma ignorância de teorias semânticas que lhes seriam
aplicáveis, no sentido de as purificar do vago, da incoerência e do paradoxo. O Sorites
não poderia pura e simplesmente resolver-se, como paradoxo lógico, no quadro das
inconsistências essenciais das linguagens naturais . DUMMETT e WRIGHT parecem
ambos concordar em que é impossível afastar o vago das linguagens naturais.
Resumidamente, os argumentos destes dois autores ou levam à admissão do sentido
fregeano do vago (sentido forte) e, desde logo, à impossibilidade de resolver as séries
argumentativas do Sorites; ou à tese de que não há expressões genuinamente vagas.
Aqueles autores, se concordam com a posição de FREGE sobre o vago como fonte de
incoerência, dele discordam quando se trata de impôr a sua liquidação, em nome da
univocidade do significado. DUMMETT reafirma de um modo claro a tensão que existe
entre as posições de FREGE e WITTGENSTEIN a propósito do vago como fonte de
incoerência. Neste passo, a autora reconhece a sua concordância com a atitude de
WITTGENSTEIN, no sentido de que a linguagem de todos os dias possui uma profunda
coerência semântico-pragmática, não obstante a presença do vago. Coerência não
significará, portanto, univocidade.
No Sorites, o princípio da série argumentativa é uma proposição cujo predicado deve
poder aplicar-se a uma corrente contínua de proposições até à conclusão. O Sorites traduz-se numa aplicação contínua de um predicado vago numa série argumentativa. De acordo
com o capítulo que conclui o presente livro (especialmente 9.2, pág. 177), o Sorites
implica casos do vago no sentido fregeano, quer dizer, ele ocorre quando certos termos
vagos se aplicam a um discurso, sem que seja possível traçar uma linha de demarcação
entre aplicações incorrectas e correctas do mesmo termo, no sentido de aplicações a casos
do tipo "borderline". Uma das questões que se pode colocar a respeito da aplicabilidade
em série do termo vago é a de saber qual o limiar de autenticidade e veracidade da
aplicação, isto é, qual a última proposição no interior da série, para a qual é correcto
aplicar certo termo (p.181). A autora defende a importância da relação entre contexto,
observador e interlocutor na determinação desta legitimidade. Assim, a opção pelo uso
de um termo a respeito de um novo membro da série no Sorites, depende não somente
do relacionamento entre conceito mental e estado de coisas objectivo, como mais
decisivamente da opção por parte dos falantes de modalidades de uso determinadas e
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992)
PP• 389-414
406
Revista Filosófica de Coimbra
precisas dos mesmos termos em diferentes facetas da linguagem de uma comunidade
linguística . Este entendimento dos problemas semânticos que se levantam no quadro do
Sorites, não é um entendimento semântico mas pragmático. É nesta direcção que a autora
orienta as suas conclusões.
Edmundo Balsetnão
THOMPSON , Janna : Justice and World Order, 1.undun/Ncw Yurk,
Routledge, 1992, 211 páginas.
Os acontecimentos políticos mundiais mais recentes, que abalaram as crenças das
gerações da Guerra Fria e da divisão do mundo em blocos, colocaram problemas ao
homem comum, ao jornalista , ao historiador; ao jurista e ao político; ao economista e ao
sociólogo; tal como ao físico preocupado com o alcance industrial-militar das suas
pesquisas , e ao biólogo interessado nos graves problemas ecológicos. Mas, o grau em que
estes acontecimentos perturbaram os filósofos é tão variável, quanto e diferente o alcance
que eles atribuem à sua própria actividade teórica.
O livro de Janna Thompson deve contar-se no número daquelas obras em que o
interesse pela Filosofia é tomado como indício de empenhamento na inteligibilidade de
tudo o que ocorre. Mas, ao mesmo tempo, mantém tal interesse no domínio da mais
rigorosa exigência teórica e argumentativa. As "relações internacionais" constituem o
objecto imediato da obra, no que se pode considerar um excelente texto de introdução
ao agrupamento disciplinar que se designa sob este título comum. Todavia, a intenção
filosófica da autora acaba por recobrir este domínio de investigação das pesquisas políticojurídico -sociológicas com temas filosóficos iniludíveis, do ponto de vista da tradição da
Filosofia política, como são os da Justiça, da Comunidade Universal, da Paz, da Soberania,
da Democracia ; do Cosmopolitismo e do Nacionalismo; da Comunidade e da Sociedade.
A intenção filosófica aparece também ao leitor numa perspectiva histórica, nas abordagens
dos autores que a autora considera fundamentais: Hobbes, Locke, Rousseau, Fichte, Hegel,
Marx e Rawls.
O livro divide- se em duas partes, que coincidem com duas modalidades diferentes
da aproximação ao mesmo género de problemas: parte 1 "De um ponto de vista
cosmopolita" e parte II "De um ponto de vista comunitário". A parte 1 contém cinco
capítulos e a parte II quatro. A Introdução e o capítulo 6 da parte II conheceram versões
anteriores , publicadas em revistas da especialidade.
Qual é o problema nuclear da presente obra? O de dar resposta às condições de
possibilidade da justiça na ordem internacional . As diferentes questões que começam a
abrir- se a partir desta sugestão genérica vão todas elas agrupar-se, como é natural, num
conceito de Justiça "doméstico", que é, já por si, um conceito atormentado. Contudo,
J. Thompson segue , no geral , a concepção dos "dois princípios da justiça", tal como
foram enunciados na obra de J. Rawis, A Theory of Justice (1971). Rawls foi
particularmente incisivo no seu enunciado (cf. A theory of Justice, 1. 2. § 11). O primeiro
princípio : cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema o mais extenso de liberdades
de base iguais para todos, que seja compatível com o mesmo sistema para os outros.
O segundo princípio: as desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas, de
tal modo que , ao mesmo tempo; a) se possa razoavelmente esperar que sejam vantajosas
a cada um e b) que se relacionem com posições e funções abertas a todos. Estes dois
princípios são, para Rawls , particularizações de uma concepção mais geral da justiça:
pp. 389 - 414
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992)
Recensões
407
todos os valores sociais - liberdade e possibilidades oferecidas ao indivíduo , proventos
e riqueza, tal como as bases sociais do respeito de si mesmo - devem ser repartidos
igualmente, a não ser que uma repartição desigual de um ou de outro destes valores
seja mais vantajosa para cada um. Este último conceito do justo "doméstico", quando
aplicado à ordem internacional tal como a conhecemos, coloca imediatamente os
problemas de uma distribuição da riqueza mais respeitadora da equidade . Na perspectiva
de J. Thompson, a justiça internacional tem de enfrentar problemas desta natureza, não
podendo quedar- se numa orientação meramente formal, baseada nos princípios
consagrados do respeito da soberania dos estados . Porém, não é só num plano doutrinal
que se põem as dificuldades da adequação dos "dois princípios da justiça" às relações
internacionais . O principal obstáculo reside na própria organização internacional. É pelo
facto de admitir a organização internacional no terreno da própria teoria internacional da
justiça, que a autora pode submeter as doutrinas filosóficas a uma dupla mediação: a que
se refere às instâncias político-práticas da assumpção internacional do justo , e a mediação
pelo "utópico" que, nesta sede , significa a pré-figuração da "ordem mundial justa".
Logo na Introdução é feito o mapa doutrinal do percurso da obra , com base naquela
dupla mediação. Aí se distinguem algumas doutrinas sobre a realidade internacional, umas
mais divulgadas do que outras. O "realismo" na política internacional, por exemplo, é uma
doutrina que nega possibilidades de aplicação dos princípios da justiça doméstica à ordem
mundial dos estados . O "realismo" parte da visão da ordem mundial como de um cenário
"pessimista" de afrontamento explícito ou previsível, regional ou global , entre potências.
Para os autores "realistas " (de Tucídides a R. Aron) qualquer acto de um Estado que não
suponha um cálculo sobre as suas próprias oportunidades em conflitos mais ou menos
generalizados , é um acto inconsequente na política internacional desse Estado.
As críticas ao "realismo " partem de uma ideia mais "realista" da realidade
internacional , desde logo naquilo que se refere à existência nas democracias liberais de
um processo decisório determinado por normas constitucionais , sobre matérias relativas
à guerra ou à "defesa nacional ". Este processo decisório nunca é completamente
indiferente a princípios morais , sobretudo em sociedades em que o horror à guerra está
historicamente implantado . Um estado de coisas mais ou menos violento no cenário
internacional pode, também por esta razão , vir a constituir matéria para o juízo do público.
Mas, as críticas ao modelo "realista" partem da própria natureza das "relações
internacionais " no seu pluralismo . Tais relações não se limitam às políticas externas dos
Estados. Deve supor- se ao lado destas últimas , as relações comerciais entre empresas, os
negócios entre particulares, as actividades das grandes companhias multinacionais, etc.
É por isso que no grupo dos opositores das teses realistas se contam os liberais que, no
séc. XIX, como J. S. Mill, apostavam decididamente no contributo das relações privadas
para um orbe pacífico, muito para além dos magros esforços dos estados soberanos para
um mundo livre de conflitos.
A concepção marxista não se pode considerar "optimista", como a visão liberal sobre
os esforços dos particulares, mas o seu "pessimismo" não tem os mesmos fundamentos
da atitude "realista". A análise da posição dos marxistas ocupa todo o capítulo 3 (pp. 62-73), onde de um modo que se afigura demasiado resumido , se mostram alguns dos
motivos que conduzem a ver na economia do capitalismo e no imperialismo as raízes dos
grandes conflitos internacionais , de Marx a Bukharine e a Lénine.
Partindo destas posições que podem considerar-se "descritivas " ("realismo ", posição
liberal e posição marxista), a autora investe progressivamente no terreno dos discursos
de legitimação, mesmo que alicerçados nas posições anteriores . Isto acontece na
Introdução e na globalidade da obra, o que pode ser tomado como próprio do ritmo lógico
escolhido. Assim, as teorias da "Guerra Justa", cujos antecedentes medievais e renascentistas não preocupam sobremaneira a autora , tendem a insistir nos princípios da
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992 )
pp. 389-414
408
Revista Filosófica de Coimbra
"política das nações" e da diplomacia, quer dizer, no reconhecimento recíproco do valor
das soberanias nacionais , no respeito dos tratados internacionais e da liberdade individual,
tal como ela veio a ser pensada na Declaração Universal dos Direitos do Homem. A guerra
justifica - se quando um ou vários destes princípios são violados de uma forma flagrante,
pondo em risco as bases do respeito mútuo entre estados. As teorias da "Guerra Justa"
baseiam as intervenções de um ou mais estados na esfera da política soberana de outro(s)
estado ( s) na noção da legalidade e costume internacionais, que permitem uma linha de
demarcação suficientemente clara entre o "crime de agressão" e a "intervenção justa". As
teorias da "Guerra .Justa" podem ser tratadas, com alguma facilidade, como teorias
"conservadoras " da ordem internacional, incapazes dc integrar nos seu. quadros de
legitimação as guerras de libertação, a resistência a opressores, o surgimento de novas
nacionalidades a partir do florescimento da consciência nacional, os movimentos de
migração e certas políticas de colonatos e, sobretudo, a constante lonte de v iolcncia regional que é o desequilíbrio económico mundial entre Norte e Sul.
A contrapartida das teorias da "Guerra Justa" proposta pela autora e um relativismo
de fundo cultural-nacional, que o leitor enquadrará, sem dificuldade, em um postmodernismo de feição "comunitarista". Para os teóricos que se agrupam nesta tendência,
as comunidades nacionais são "incomensuráveis". Isto significa que a ordem internacional
não pode consistir na aplicação de um critério do "justo" a conflitos regionais fundando-se em valores inteiramente alienígenas para as culturas em questão. As teses sobre a
"incomensurabilidade" das comunidades nacionais tornam-se especialmente agudas, no
que diz respeito aos juízos do público sobre a intervenção de potências ocidentais em
outros países, com base na sofismável defesa dos direitos humanos ou dos direitos das
minorias ameaçadas. Todavia, ainda para além das extraordinárias exigências que a defesa
da "incomensurabilidade" comporta no ideal de uma justiça para o universo, não é ela
mesmo um impedimento para uma teoria exequível da justiça, talvez, afinal, pelo excesso
de fascínio pelo diferente que põe num tema dominado pelo "terceiro homem" e pela
terceira instância ? Para a autora, o post-modernismo e o comunitarismo aprofundam a
crise , já começada há muito, da justificação dos valores da política internacional com base
no Direito Natural clássico, de que os Direitos do Homem seriam uma consequência
histórica.
Como o leitor verá, a tentativa de J. Thompson consiste na ultrapassagem da
dicotomia imposta pela alternativa entre uma base moral com vocação universal, mas com
um berço cultural particular, cujo centro é a defesa da inviolabilidade da liberdade individual; e uma séria defesa da identidade das "comunidades", como raízes dos próprios
indivíduos. A estas duas posições francamente divergentes no ponto de partida cabem as
designações de "cosmopolitismo" e "comunitarismo", respectivamente. Em torno de tal
oposição concentram - se os recursos histórico-filosóficos das duas partes da obra, do
mesmo modo que os princípios teóricos hauridos na obra de Rawls.
Resumindo as perspectivas históricas da obra, com Hobbes e Kant é possível testar
a hipótese do duplo estado de natureza (doméstico e internacional) e verificar em que
residem as condições de possibilidade da Paz. Se. para Hobbes, o estado de natureza
internacional não pode ser ultrapassado mediante a mesma solução contratual da política
interior e, por isso , os Estados se comportam uns com outros, como os indivíduos sem o
poder soberano e o império da lei, já para Kant é possível que a congruência mundial
dos estados , na sua forma "republicana", tenha como conclusão um contrato social universal e a paz perpétua (pp.48 e 54). O conceito kantiano de "república" significa a forma
de Estado que obedece a princípios legais comuns a um povo e à "regra da lei', pelo
menos tal como é usado no artigo de 1795 sobre a "Paz Perpétua—. O equivalente
contemporâneo da "república " kantiana é a democracia liberal, independentemente do
facto de se exprimir mediante formas monárquicas ou republicanas. Pelo facto de o tipo
pp. 389 -414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
409
de contratualismo de Kant conter a dimensão teleológica do aperfeiçoamento histórico,
que lhe empresta a visão da História "do ponto de vista cosmopolita", não pode o contrato
social entender-se como um acto empírico , mas como prius regulador da história política
das nações e seu recurso justificador. A tendência da história política é, para Kant, a
realização de uma comunidade supra - nacional dos estados -repúblicas , de modo a impedir
a guerra. A evolução de que aqui se trata é apoiada, na história factual dos povos, no
papel educativo da lei moral e civil , gradualmente introduzindo hábitos de vida social e
política, que acabam por tornar preferível a vida no "estado social " regida por leis, à
existência anárquica do "estado de natureza".
O que faz de Hobbes e de Kant pensadores do tipo "cosmopolita" é o facto de o seu
ponto de partida comum ser o indivíduo, independentemente da sua pertença a
"comunidades" com "formas de vida" próprias, determinantes das características dos seus
membros.
Os capítulos 4 e 5 da obra estão voltados para uma apreciação do grau de extensão
da justiça em sentido cosmopolita, numa versão federalista ou na versão do "estado
mundial". A lógica que a autora segue no cap . 4 para a evolução dos tratados de integração
supra-nacional , guia-se pela história recente do empenhamento progressivo das nações da
comunidade europeia na "construção europeia". Segundo esses esquemas , o movimento
da integração far-se-ia, num primeiro momento , de um ponto de vista estritamente
económico, seguindo- se uma união política parcial , com base nas políticas externas e de
defesa , para finalmente dar lugar a um estado com os poderes de uma administração
central de uma federação (p. 86). Esta narrativa pretende mostrar, na sequência da visão
kantiana do contrato social e para a ordem mundial , que o hábito da decisão conjunta e
da geração de consensos produz, no tempo , as necessidades associativas e comunitárias
ligadas a esses mesmos hábitos, tal como também pretende Rawls com a noção de "overlapping consensus". O capítulo 5 avança decididamente a tese de que a visão cosmopolita
plena terá de corresponder aos ideais do Estado planetário e do cidadão do universo,
depois de caracterizar o conceito de cosmopolitismo e a defesa dos direitos individuais
no mundo. Mas, ao mesmo tempo, os "cosmopolitas " colocam frente ao seu próprio ideal
alguns obstáculos de ordem prática, que podem resumir - se a cinco aspectos , a que autora
dá uma importância desigual : 1. o carácter excessivamente complexo de um governo
mundial, com a consequente tendência para reduzir a complexidade por meio dos
mecanismos burocráticos; 2. o facto de a participação eleitoral de um indivíduo perder a
sua força num "oceano" de outras expressões eleitorais , com uma tão grande diversidade
de interesses e de problemas; 3. a possibilidade de um aumento preocupante da
passividade política e um desenvolvimento substitutivo dos grupos de pressão, num
sistema democrático constitucional que não pode subsistir sem participação popular; 4.
um desvio das forças disponíveis na participação política no sentido de comportamentos
anómicos ou num uso alienante dos recursos tecnológicos existentes na ocupação dos
tempos livres; 5. o perigo da deriva totalitária num mundo politicamente apático. O
governo mundial pode bem não ser o meio próprio da defesa dos indivíduos no mundo,
como deveria segundo a base doutrinal e política dos "cosmopolitas." Mas outras
dificuldades bem mais decisivas se colocam à noção do estado mundial . Em primeiro lugar
podem existir nações que, simplesmente , não estejam interessadas em constituir o "grande
estado" e, em segundo lugar, o estado planetário incipiente pode evitar desenvolver
políticas económicas que favoreçam a distribuição igualitária ( segundo o "princípio da
diferença" de Rawls, que é consequência obrigatória do "segundo princípio" da justiça),
como modalidade de uma justiça distributiva mundial. Perante estes obstáculos é possível
concluir que os "cosmopolitas" só aceitarão o estado mundial se este for uma solução
preferível a qualquer outra para a defesa do indivíduo. Caso contrário, ela deve ser uma
solução abandonada. É a este propósito que a oposição entre "comunitaristas" e
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992)
pp. 389-414
410
Revista Filosófica de Coimbra
"cosmopolitas" vem à superfície, pois para aqueles, a solução do estado mundial não pode
aceitar -se em si mesma, na medida em que o valioso reside, para eles, na pertença histórica
dos indivíduos às comunidades nacionais em que se formaram.
A parte II é dedicada à análise das diferentes posições do "comunitarismo". Logo o
capítulo 6 é dedicado à concepção hegeliana do Estado como realidade orgânica,
continuando os laços internos que unem os indivíduos desde o espaço familiar, passando
pelas corporações até à comunidade política propriamente dita. De acordo com as
interpretações mais correntes dos Princípios da Filosofia do Direito, a autora vê em l legel
um defensor radical da soberania dos estados, pois para ele a liberdade dos indivíduos
só tem pleno florescimento na unidade dialéctica racional-real do 1?stadn. Nu plano da
política internacional ou ainda no que se chama a "soberania para o exterior". Ilegel
considera os estados como indivíduos separados, dotados de vontades autonomas. ('onio
cada estado realiza a unidade orgânica do todo e das partes, us relações enue estados
devem compreender-se como relações semelhantes às do reconhecimento entre as
consciências , tal como a Fenonrenologia do Espírito as pensou. quer dizer, envolvendo
uma luta. A História não é mais do que esta evolução do reconhecimento entre estados
na cena mundial, de que a guerra é uma das mais importantes expressões. As análises do
capítulo seguinte dedicadas a Rousseau estabelecem uma comparação com Hegel, do
ponto de vista, contudo, de uma noção democrática das comunidades nacionais. Os
desenvolvimentos centram-se aqui nos conceitos do "contrato social", de "vontade geral",
na ideia não representativa da democracia, nos limites demográficos e territoriais das
comunidades ideais em Rousseau. A autora reserva também algumas páginas (138-146)
aos autores que continuam Rousseau na perspectiva contemporânea do "comunitarismo"
de pequena escala. O tema comum é sempre o de que uma ordem supra comunitária não
pode garantir a expressão do enraizamento mais profundo dos indivíduos nas suas
comunidades de origem. Claramente, o "comunitarismo" substitui um pluralismo dos
indivíduos por um pluralismo das comunidades. No seu horizonte, as questões referentes
a uma justiça mundial não dispensam o valor da incomensurabilidade das comunidades.
O capítulo 8 trata de um tipo particular de comunidade - a nação. Aqui se expõem
os rudimentos do nacionalismo, tal como aparece na obra de Fichte e na de Mazzini.
Depois de estabelecer uma distinção operatória entre Estado e Nação (p. 147), a autora
mostra como a nação é um conceito "fuzzy" (p. 157), que retira grande parte do seu
sentido do reconhecimento pelos indivíduos de uma participação num fundo de valores
sedimentado historicamente e que se exprime num ideal e numa forma de vida comuns.
Foram propostos vários índices exteriores da individuação das nacionalidades, como por
exemplo o uso de uma determinada língua (Fichte), a pertença a uma mesma raça (teóricos
do séc . XIX) ou a uma mesma cultura , mas todos estes signos fracassam se forem tomados
como motivos da obrigação ética dos indivíduos para com as comunidades nacionais,
renovando -se, a este propósito, a antiga questão da descontinuidade entre facto e obrigação
ética . O carácter problemático do nacionalismo em termos de política prática advém do
ideal da " auto - suficiência " axiológica da nação. É aqui que vai ancorar toda a intenção
imperialista do nacionalismo, em tudo contrária, todavia, à vocação do nacionalismo
romântico, que tomava essa "auto-suficiência" como argumento contra as grandes
potências dominantes na política europeia nos princípios do século passado. No capítulo
9 repõe - se a dúvida sobre se a nação e as relações inter-nacionais estritas são os conceitos
mais indicados para pensar uma ordem mundial justa e regressa-se à ideia de um
"consenso por sobreposição" ( Rawls ), para propor o princípio (tido por "não utópico")
de uma " sociedade mundial de comunidades interligadas" ["World Society of Interlocking Communities " (pp. 168, 171, 184-185, 187)], que consistirá numa sociedade de
indivíduos (mantendo - se a perspectiva cosmopolita) dotados de compromissos comunitários de diversa índole ( tal como tende a sublinhar o "comunitarismo"). A interligação
pp. 389-414
Revista Filosófica de Coimbra - 2 (1992)
Recensões
411
das diferentes obrigações comunitárias dos diferentes indivíduos será a tarefa permanente
da ordem mundial. A tese da autora não se pode desvincular de um conceito optimista
da modernidade , sobretudo no que se refere à "modernização" das comunidades
tradicionais , factor este decisivo no envolvimento de todas as comunidades do mundo,
sem excepção , na sociedade mundial . Não deixa de ser importante notar o facto de que a
referência à ordem justa mundial se associa ao conceito de uma sociedade e não apenas
ao de um governo mundial . Naturalmente que a tarefa da sua realização não fica entregue
a um decisionismo momentâneo , mas é um ideal regulativo que pode , desde já, funcionar
no palco mundial como inspiração na resolução dos conflitos inter-comunitários e nos
conflitos gerados entre indivíduos e comunidades . A conclusão da obra aponta nesta
direcção ( pp. 188 - 196), do mesmo modo que para um prolongado período de gestação
da autêntica "nova ordem mundial".
Para terminar , algumas questões podem ser colocadas a respeito da obra.
Em primeiro lugar, as referências históricas não ultrapassam os autores da
modernidade , sendo ainda aqui os contratualistas os mais privilegiados . Para esta
preferência não se encontram justificações , excepto aquela que decorre da "semelhança
de família" entre Rawls e essa tradição . Uma abordagem histórica mais profunda não
poderia deixar na sombra a concepção grega da "Polis " e as linhas divisórias que introduz,
a ideia estóica da unidade do género humano e a noção de Império, tal como a visão
medieval da cristandade e as ideologias das conquistas da nova época. Trata-se, no fundo,
dos membros de uma genealogia do Direito Natural do Ocidente, com a qual a autora
não chega a defrontar-se.
Em segundo lugar , a imagem de uma Sociedade Mundial emergente da confluência
planetária das comunidades e das diferentes obrigações individuais , segundo o ideal
democrático - liberal e como efeito do alargamento progressivo do modelo político da
modernidade ocidental a sociedades tradicionais ou neo - tradicionais , não possui uma
correspondência suficientemente clara no plano da política prática . É difícil não colocar
certas conclusões nos planos do utopismo ou da futurologia . Mas o leitor encontrará neste
pequeno livro muitos outros motivos de inspiração e esclarecimento.
Edmundo Balsemão
LEVINAS, Emmanuel: Transcendência e Inteligibilidade, Lisboa, Edições 70, Biblioteca de Filosofia Contemporânea, 1991, 53 páginas
(Transcendance et Intelligibilité, Genève, Labor et Fides - Centre
Protestant d'Études, 1984, 69 páginas) Tradução do francês por José
Freire Colaço, revisão da tradução por Artur Morão e revisão
tipográfica de Artur Lopes Cardoso.
Emmanuel Levinas não é um autor desconhecido no meio filosófico do nosso país,
depois de, em 1988 , ter sido traduzida e editada uma das suas obras mais relevantes,
Totalidade e Infinito, nas edições 70. Ainda de Levinas, publicou- se nesta mesma editora
e na mesma colecção o texto de uma conferência realizada em 1983, em Genebra, seguido
do registo de uma conversa-debate. Na presente publicação, o autor teve a preocupação
de distinguir entre os dois tipos de textos oferecidos ao leitor. O texto da conferência
pretende ser, segundo as palavras da Introdução, "rigorosamente filosófico", enquanto que
o registo escrito da conversa-debate releva de um diálogo no campo teológico, entre
representantes de diferentes confissões religiosas. O cuidado desta diferenciação não afecta
Revista Filosófica de Coimbra - 2 ( 1992)
pp. 389-414
412
Revista Filosófica de Coimbra
somente este livro , mas é visível ao longo da actividade literária do filósofo, logo na
escolha das casas editoras que lhe publicam as lições e comentários talmúdicos e aquelas
que veiculam a sua produção filosófica. Quando os cruzamentos temáticos e conceptuais
se estabelecem entre o "teológico" e o "filosófico" - o que não raramente acontece - a
necessidade dos enlaces manifesta-se já no interior da obra filosófica, na sua arquitectura
conceptual e nos seus desígnios de fundo. No presente livro, o leitor deparara, por isso,
com preocupações distintas a nível temático, embora dependentes de um traço de união.
Uma leitura minimamente atenta permite notar que os conceitos de pensamento e de
religião, associados aos de intc'li,çihilidade e transcende-nn-ia ì oostilue o todo o conteudo
problemático da conferência e do debate.
O tema da conferência é a "Inteligibilidade do Transcendente.", junção de termos cuja
trama o filósofo faz remontar às raízes metafisicas da interpretaçao do pensar como saber
e da Filosofia como saber da "presença do Ser'', aias que por onuo lado, tanibem deveria
fazer sinal para um novo entendimento do Transcendente. A conferência dedica-se à
investigação desta última possibilidade - a de uni sentido novo para a lntelrgibilidade e
o pensar do Outro. O autor começa com o questionamcnto da noção do psiquismo como
sede do saber e do saber como essência do psiquismo. A "filosofia que nos é transmitida"
(p. 13) ter-se-ia baseado, logo na sua origem, na confluência não problematizada entre
auto-consciência , saber e psiquismo, de modo que este último não reservaria para a
Filosofia nenhum outro segredo, para além da dimensão do conhecimento. O ser
consciente de si na modalidade reflexiva de um saber de qualquer coisa é o conceito de
Espírito, a partir do qual a mesma Filosofia entreviu a possibilidade da experiência. Assim,
pensar significa saber e nesta identificação jogam-se determinações antropológicas
decisivas, como a socialidade e a revelação em sentido religioso. Na primeira, o "outro
homem" apareceria ao lado de tantas outras manifestações do mundo e como correlato
de uma intenção do eu, como mostrou a fenomenologia da V Meditação cartesiana de
Husserl ; na segunda , Deus surgiria ou como o correlato do acto de crer, cuja teleologia
elevaria a intenção para além do nosso mundo visível ou como o efeito de experiências
religiosas colectivas, que encontrariam a sua explicação na imanência de um mundo da
cultura . Tanto a alteridade pessoal como Deus estavam prometidos à tentação
omniexploratória do "querer saber', cujo coroamento doutrinal se dá no hegelianismo e
na fenomenologia (p. 17), momentos do fausto filosófico do Espírito como saber do Outro.
A identificação filosófica entre psiquismo e saber tem uma correspondência
ontológica na unidade entre Ser e presença do presente. Esta unidade representa para
Levinas um esquecimento da corrente do Novo, que prende a alteridade ao tempo. Esta
"alter-acção " que é tempo, foi descoberta por Bergson no seu conceito de "durée pure",
em que o Novo haveria de irromper com o incessante brotar da energia criadora, em tudo
diferente da monótona insistência no mesmo, que constitui o espaço e as relações das
coisas no espaço . Ainda a respeito da associação entre o saber e a presença, tematiza o
autor o privilégio filosófico do conceito, que indica um "agarrar" ou um "prender", uma
assimilação e um "tornar próprio" (p. 14). No plano da realização do conhecimento, a
captação da exterioridade por um sujeito designa a motivação mais profunda da
dependência do conhecer em relação à re-presentação. Mas a exterioridade de que fala
Levinas não é a exterioridade dos factos empíricos que, na sua forma de objectos do
conhecimento se sincronizam na experiência do tempo imanente, na synopsis dos extases.
A ordem da imanência que é, ipso facto, ordem minha, a "Jemeinigkeit do Cogito" (p.
24), não possibilita um acesso à dimensão do pensamento que não se inclui nas diferentes
modalidades do conhecimento, desde o conhecimento vulgar, ao conhecimento científico
e ao conhecimento metafísico , dimensão a que já Kant fizera referência no seu conceito
de Razão Prática . A exterioridade do outro-homem e a exterioridade pressentida na
Revelação do Deus bíblico não podem deixar de se referir a um Absoluto, quer dizer, a
pp. 389 -414
Revista Filosófica de Coimbra- 2 (1992)
Recensões
413
um Outro que não pode sincronizar -se, na corrente do tempo , numa intuição do que seria
o seu próprio presente , a sua própria manifestação, abertura ou verdade . Mas o que é um
pensamento irredutível ao conhecer e que se abre a essa novidade do Absoluto ? A resposta
que o autor dá é inicialmente interrogativa : "seria para tal necessário um pensamento que
não fosse construído como relação ... seria necessário um pensamento em que deixaria de
ser legítima a própria metáfora da visão e da visada ?" ( Note-se que a tradução portuguesa
corrompe o sentido da frase , ao tirar o ponto de interrogação que consta do original).
A concepção cartesiana da ideia do Infinito não é utilizada por Levinas a um título
meramente ilustrativo , nesta conferência ou em textos anteriores onde o Infinito é tema
nuclear, como em La Philosophie et I'Idée de 1'Infini (Revue de Métaphysique et de
Morale, 1957) e Totalité et Infini (1961). O infinito na interpretação levinasiana de
Descartes significa o princípio de uma afecção do psiquismo por uma exterioridade, que
não se reduz nem à imanência desse psiquismo , nem à ordem do mundo . Com efeito, a
ideia do infinito é, na "ordem das razões ", um momento de separação e distinção no ego
cogito daquilo mesmo que não poderia ter provido do pensar finito, embora nele se revele
e a ele afecte . Esta descontinuidade entre o continente da revelação e a fonte da revelação
permite encontrar no psiquismo , não já um acto que se desdobra desde si até ao seu
conteúdo reflexo, mas uma passividade que, na obra de 1974 , se exprimia mediante os
recursos estilísticos de uma ênfase da sensibilidade e da afectividade (Autrement qu'être
ou au -deld de 1'essence, 86 e ss .). Numa significação reflexiva e filosófica , o infinito das
Meditações de Descartes é a modalidade pela qual Deus "vem à Ideia", mas já no que
chamamos religião e na socialidade se formula , para Levinas , o paradoxo de um Deus
que não aborda de face , mas na modalidade do mandamento do "amor do próximo", isto
é, na forma de uma transcendência duplicada que, ao longo das obras do autor, se vem
exprimindo no conceito de Rosto do outro-homem. O "religioso" vive - se como
transcendência na socialidade e não pode caracterizar -se nas formas da relação com o ser
ou nas formas da relação com o mundo . O "religioso " é rigorosamente afastado da gesta
ontológica da anfibologia do ser e dos entes , para além da "diferença ontológica" e das
suas potencialidades teológicas , tão bem investigadas por J . L. Marion (Cf. L'Idole et Ia
Distance , Paris, 1977). E se a realidade da religião comandada pelo "amor do próximo"
é o próprio Bem, ela não representa , todavia, uma relação com um ser ou com uma
existência superior , diferente das existências finitas porque perfeita , embora ainda segundo
os predicados da finitude ; ainda de outro modo que aquilo que se viesse a implicar de
superlativo nas teologias superlativas ou de alteridade negativa na negação das teologias
negativas . O convite do autor consiste em nos franquear o acesso ao Reino de um Deus
sem Ser , sem que isso implique um Nada , alternativa em que nos quereria encerrar, ainda,
a forma ontológica de perguntar por Deus desde a existência. Na religião contém-se a
possibilidade de pressentir Deus na oscilação entre verdade e mistério, o que as provas
filosóficas da Sua existência não permitem manter, não obstante todo o seu virtuosismo
dialéctico . Mas, não é verdade que o religioso monoteísta só poderia ter nascido da
prevenção dos homens contra o "humano, demasiado humano" dos deuses pagãos, o que
talvez implique uma secreta aliança entre cepticismo e monoteísmo? Gesto este de uma
imanência inquietada pelo Transcendente ! O conceito de "enigma", que Levinas introduziu
num artigo de 1965 ["Enigme et Phénomène" in Esprit, 33 (1965)] fala-nos, justamente,
desta hesitação no ser, de um peut-être que é o modo primitivo como Deus aborda um
psiquismo satisfeito e ateu. Ateísmo que é, afinal, a única possibilidade que resta ao Deus
único de afectar uma subjectividade liberta de encatamentos e de "mistérios", de feitiçaria
e do "mau" sobrenatural.
O logos que compõe a palavra teologia só pode compreender-se mediante este esforço
de ultrapassagem do que resume o Divino à iniciativa cognoscitiva do "eu penso", nos
quadros do seu sincronismo teo-onto-gnosiológico, na direcção positiva da socialidade,
Revista Filosófica de Coimbra- 2 (1992)
pp. 389-414
414
Revista Filosófica de Coimbra
do "amor do próximo" e no "temor pela morte do outro": "socialidade que, por oposição
a todo o saber e a toda a imanência - é relação com o outro enquanto outro e não com o
outro, pura parte do mundo" (p. 24). Mas, comoção do ateísmo: um Deus que provém
"de fora" num mundo que se basta a si mesmo e em si encena as leis da sua possibilidade
é, segundo a afectividade da adoração e da prece, um Deus que sú um mundo laico pode
receber, aliás pelo seu puro "desinteresse" pela questão da existência de um hiper-mundo,
de um além. Com efeito, Deus num mundo laico apenas pode significar na modalidade
mesma da rigorosa transcendência e do Novo.
A segunda parte deste livro reúne os contributos de Levinas e dos seus interlocutores
num debate sobre os cnntcúdos da conferência (lean I lalperin: o ;mlitrià(i, Marc I aessler,
Esther Starohinski-Safran, David Banon, Jean Burel, (jabriclle Duluur e I.aurent Adert).
A pretensão do debate foi a de reunir representantes de dilerentes cunfrssCes religiosas
(judeus, católicos e protestantes) e de submeter o exercicio Glusolieu da cunlcrcncia a
prova da multiplicidade do "religioso". Como seria de esperar, novas noçoes e temas
surgiram e o tipo de literatura evocado deixou de ser "estritatnentc lilusol ico", para passar
a incluir referências ao texto bíblico e ao Talmude, à obra do Rabi llaïm de Volozina e
à de Chouchani. Um dos temas que me pareceu mais decisivo neste debate, foi o de
"Kénosis". Este termo grego que na forma verbal significa literalmente esvaziar, evacuar
ou fazer sair, recebe interpretação teológica na ideia de uma descida-despojamento do
Divino. Entre Jean Borel e Levinas desenvolve-se um diálogo sobre a universalidade do
tópico da "Kénosis", que no plano filosófico tem especial interesse para a compreensão
da transcendência na socialidade. Com efeito, sem a dimensão de uma "descida" ou
"humildade" de Deus [o termo hebraico é anarvah e surge a propósito de Moisés em
Números 12, 3 (p. 43)], não é possível ver na epifania do Rosto do outro-homem a Traça
do Ele Divino. A mesma insistência no tópico da "descida', da chegada ou da "visita' é
comum à interpretação levinasiana de certos passos da Escritura com apoio talmúdico e
ao Cristianismo, que toma a figura de Jesus Cristo como a objectivação do `despojamento"
e "humildade' do Divino, na unidade da encarnação, do sacrifício e da bondade. A interpretação da "kénosis" ocupará ainda Levinas num artigo mais recente e de grande
importância no quadro dos seus textos teológicos. Trata-se de "Judaistne et Kénose"
[publicado inicialmente em Archivio di Filosofia n°. 2-3 (1985) e integrado no livro
A l'Heure des Nations, Paris, 19881 onde, a propósito da obra de Rabi Haïm de Volozina
inspirada na Kabala de Safed, se pensa a articulação entre a "descida' e a "elevação" no
Divino, ultrapassando o valor cosmológico das teses do Rabi, num sentido ético.
O leitor vai encontrar neste livro um grande número de problemas em aberto, de
sugestões de estudo e investigação mas, talvez o mais importante: um novo modo de
interrogar a alteridade pessoal e a alteridade do Divino. Só é pena que a presente tradução
encerre por vezes erros que corrompem o significado das proposições, o que um leitor
desprevenido pode tomar como a própria intenção do autor. Certas gralhas fazem esperar
um maior cuidado na revisão tipográfica que, neste caso, até teve um responsável.
Edmundo
pp. 389 - 414
Balsemão
Revista Filosófica de Coimbra-2 (1992)
ÍNDICE 1992
Nota de apresentação ........................................................................
5
Artigos
Fernanda Bernardo, O Dom do Texto: a Leitura como Escrita - o
Programa gramatológico de Derrida .........................................
155
Amândio A. Coxito, A Crítica do Inatismo segundo Luís A. Vernei
Ainda o Problema da Filosofia Portuguesa. Recordando
Joaquim de Carvalho, no Centenário do seu Nascimento .......
299
J. Ma. Ga. Gomez-Heras, La Naturaleza Reanimada - Dei Desencantamiento dei Mundo en Ia Racionalidad tecnológica ai
Reencantamiento de Ia Vida en Ia Utopia ecológica ................
265
51
Francisco V. Jordão, Natureza, sentido e liberdade em Kant........
Joaquim de Carvalho e Espinosa. O Acordo de Intenções
no Campo político- religioso ........................................................
309
Miguel Baptista Pereira, Do Biocentrismo à Bioética ou da Urgência de um novo Paradigma holístico ..........................................
5
Modernidade, Fundamentalismo e Pós-Modernidade ......
José Reis, Sobre o Conceito de Ser ..................................................
Luísa Portocarrero F. Silva, Da Fusão de Horizontes ao Conflito de
Interpretações: a Hermenêutica entre Gadamer e Ricoeur .....
Marina R. Themudo, Solipsismo: Viagens de Wittgenstein à volta
de uma Questão ............................................................................
Joaquim Neves Vicente, Subsídios para uma Didáctica Comunicacional no Ensino-Aprendizagem da Filosofia ........................
63
205
97
127
83
321
Estudo Crítico
Mário A. Santiago de Carvalho, Noção, Medição e Possibilidade
do Vácuo segundo Henrique de Gand .......................................
359
Crón ica ................................................................................................
387
Recensões ....................................................................................
191, 389
BOLETIM DE ASSINATURA
Assinatura anual ( 2 números) ........................
3.000$00
Assinatura de apoio ....................................
5.000$00
Desejo assinar a Revista Filosófica de Coimbra
a partir do n.°
Nome
Morada
Código Postal
, sobre o
Junto envio cheque n .°
Banco
na importância de
$
pagável à ordem de Revista Filosófica de Coimbra.
Data
Assinatura
Execução gráfica
da
TIPOGRAFIA LOOSANENSE, LDA.
em Outubro de 1992
Depósito legal n .° 51135/92
Tiragem : 500 ex.