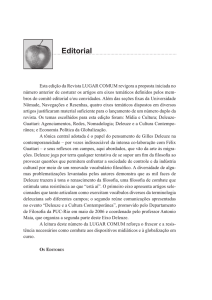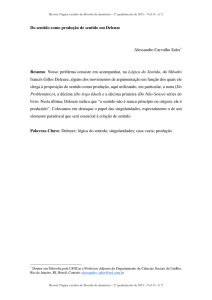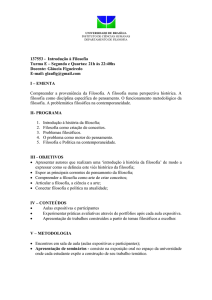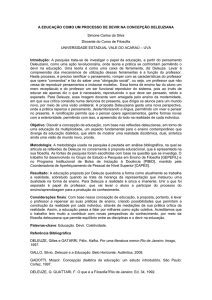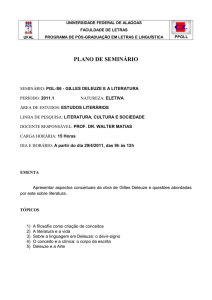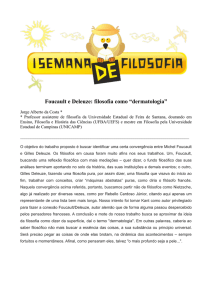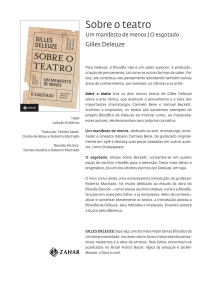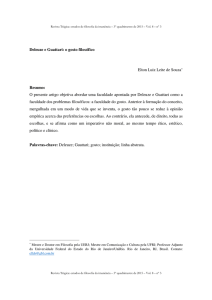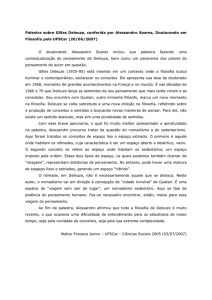1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
A FILOSOFIA DA DIFERENÇA DE GILLES DELEUZE
NA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
Supervisor: Prof. Dr. Sílvio Donizetti de Oliveira Gallo
Pesquisadora: Cristiane Maria Marinho
Campinas - SP
2012
2
CRISTIANE MARIA MARINHO
Relatório apresentado ao Programa de PósGraduação em Educação da Faculdade de
Educação da Universidade Estadual de
Campinas – UNICAMP – como requisito
parcial para obtenção do título de pós-doutora
na Área de Concentração Filosofia e História
da Educação.
Supervisor: Prof. Dr. Sílvio Donizetti de
Oliveira Gallo
Campinas – SP
2012
3
4
CRISTIANE MARIA MARINHO
A FILOSOFIA DA DIFERENÇA DE GILLES DELEUZE
NA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
_________________________________________
Prof. Dr. Sílvio Donizetti de Oliveira Gallo
5
Ao meu pai, por tudo.
6
AGRADECIMENTOS
Aos professores Eduardo Triandópolis e José Expedito Passos pelo incentivo dado na
elaboração do projeto e na liberação das aulas.
À professora Tereza Callado, pela confiança de sempre e pelo material indicado.
Aos alunos componentes do GEF – Grupo de Estudos Foucaultianos – que tanto me
apoiaram quanto tão bem conduziram o grupo na minha ausência.
Ao Curso de Filosofia da UECE, pela liberação.
À UECE, parceira intelectual.
À professora Marise D’Almeida, minha amiga Baía, pelo carinho e pela amizade e
quem, um dia, me deu a Filosofia da Educação de presente.
À minha amiga Toinha, que sempre cuidou de tudo para que eu me “alimentasse de
letrinhas” com a tranquilidade necessária.
Aos amigos professores Natal e Dorgival, pelas discussões, solidariedade, amizade e
pelos materiais indicados.
Ao Robson e ao Chano, guardiões e companheiros.
À minha amiga Vanda Tereza, pelo companheirismo, pela colaboração na revisão do
trabalho e pelo incentivo na concretização desse projeto, a quem também dedico o
resultado dessa realização.
À minha amiga Carolina Rocha, assistente maravilhosa nos trabalhos de transcrição,
formatação, inspiração, tradução, a quem também dedico este trabalho.
À minha amiga Cristina, da Pousada Solar dos Pássaros, que tão carinhosamente me
acolheu em Barão Geraldo, Campinas.
Aos professores entrevistados: Prof. Dr. Paulo Ghiraldelli (UFRRJ); Prof. Dr. Sylvio
Gadelha (UFC); Prof. Daniel Lins (UFC); Prof. Dr. Walter Kohan (UFRJ); Prof. Dr.
Sílvio Gallo (UNICAMP); Prof. Dr. Nuno Fadigas (Universidade do Porto - Portugal),
com quem muito aprendi e que muito me inspiraram.
Ao Prof. Dr. Sílvio Gallo, pela confiança da aceitação do projeto, pela liberdade de
pesquisa e pela generosidade do compartilhamento do saber.
7
Ao escrevermos, como evitar que
escrevamos sobre aquilo que não sabemos
ou que sabemos mal? É necessariamente
neste ponto que imaginamos ter algo a
dizer. Só escrevemos na extremidade de
nosso próprio saber, nesta ponta extrema
que separa nosso saber e nossa ignorância e
que transforma um no outro. É só deste
modo que somos determinados a escrever.
Suprir a ignorância é transferir a escrita
para depois ou, antes, torná-la impossível.
Talvez tenhamos aí, entre a escrita e a
ignorância, uma relação ainda mais
ameaçadora que a relação geralmente
apontada entre a escrita e a morte, entre a
escrita e o silêncio.
Gilles Deleuze – Diferença e repetição
[...] não há critérios senão imanentes, e uma
possibilidade de vida se avalia nela mesma,
pelos movimentos que ela traça e pelas
intensidades que ela cria, sobre um plano de
imanência; é rejeitado o que não traça nem
cria. Um modo de existência é bom ou mau,
nobre ou vulgar, cheio ou vazio,
independente do Bem e do Mal, e de todo
valor transcendente: não há nunca outro
critério senão o teor da existência, a
intensificação da vida.
Gilles Deleuze – O que é a filosofia?
8
RESUMO
O presente trabalho, A Filosofia da diferença de Gilles Deleuze na Filosofia da
Educação no Brasil, tem por objetivo central apresentar o pensamento filosófico
educacional de alguns pensadores brasileiros sob a inspiração da filosofia da diferença
deleuzeana, realçando o que distingue esta produção da Filosofia da Educação
tradicional regida pela filosofia da Representação. Para tanto, a pesquisa se divide em
quatro capítulos: o primeiro capítulo, De Deus à Diferença: trajetória das matrizes
filosóficas na educação brasileira, elenca as matrizes filosóficas mais expressivas no
nosso país, bem como as práticas e as teorias educativas resultantes delas; o segundo
capítulo, A Filosofia da Educação no Brasil, expõe a trajetória de constituição da
Filosofia da Educação como campo de saber específico e apresenta três obras brasileiras
representativas desse percurso; o terceiro capítulo, A Filosofia da Diferença de Deleuze,
explicita os contornos principais do pensamento deleuzeano no que diz respeito à sua
Filosofia da Diferença; o quarto e último capítulo, Filosofia da Diferença deleuzeana na
Filosofia da Educação no Brasil ou para uma (não)-teoria da quebradura da vara,
apresenta a emergência da Filosofia da Diferença deleuzeana no Brasil e sua posterior
intercessão na Filosofia da Educação, com ênfase em quatro nomes representativos:
Tomaz Tadeu, Daniel Lins, Walter Kohan e Sílvio Gallo. Em anexo, o trabalho trás,
ainda, as entrevistas com estes filósofos brasileiros, somadas a mais duas entrevistas de
professores brasileiros e uma de um português: Paulo Ghiraldelli, Sylvio Gadelha e
Nuno Fadigas, os quais também falam da intercessão deleuzeana na educação.
RESUMEN
El presente trabajo, La Filosofia de la Diferencia de Gilles Deleuze en la Filosofia de la
Educación en Brasil, tiene por objecto central presentar el pensamiento filosófico
educacional de algunos pensadores brasileños con la inspiración de la filosofia de la
diferencia deleuzeana, realzando lo que diferencia esta produción de la Filosofia de la
Educación tradicional regida por la Filosofia de la Representación. Para tanto, la
pesquisa se divide en cuatro capítulos: el primero capítulo, De Diós hasta la Diferencia:
trayectoria de las matrizes filosóficas en la educación brasileña, elenca las matrizes
filosóficas más expresivas en nuestro país, tal como las práticas y las teorias educativas
resultante de ellas; el segundo capítulo, La Filosofia de la Educación en Brasil, expone
la trayectoria de constitución de la Filosofia de la Educación como campo de saber
específico y presenta tres obras brasileñas representativas de esto trayecto; el tercero
capítulo, La Filosofia de la Diferencia de Deleuze, explica los contornos principales del
pensamiento deleuzeano, con relación a su Filosofia de la Diferencia; el cuarto y último
capítulo, Filosofia de la Diferencia deleuzeana en la Filosofia de la Educación en
Brasil o para una (no)- teoria de la quiebra de la vara, presenta la emergência de la
Filosofia de la Diferencia deleuzeana en Brasil y su posterior interceción en la Filosofia
de la Educación, con énfasis en cuatro nombres representativos: Tomaz Tadeu, Daniel
Lins, Walter Kohan e Silvio Gallo. En anexo, el trabajo tiene, aún, las entrevistas con
estos filósofos brasileños, as de más tres e la de uno portugués, Paulo Ghiraldelli, Sylvio
Gadelha e Nuno Fadigas, los cuáles hablan de la interceción deleuzeana en la
educación.
9
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 10
CAPÍTULO 1 – DE DEUS À DIFERENÇA: TRAJETÓRIA DAS MATRIZES
FILOSÓFICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA ....................................................... 16
1. Matrizes filosóficas da educação brasileira ...................................................................16
2. Colônia (1500-1822): de Deus à ciência mitigada ........................................................ 17
2.1. A matriz filosófica aristotélica-tomista dos Jesuítas .................................................. 17
2.2. A matriz filosófica empirista e iluminista das reformas pombalinas ........................ 24
2.3. O surgimento da matriz filosófica Eclética Espiritualista no Período joanino ........... 36
3. Império (1822-1889): entre o Ecletismo e o Cientificismo ........................................... 40
3.1. A matriz filosófica Eclética Espiritualista do Império ............................................... 43
4. República (1889-2012): do Positivismo à Filosofia da Diferença ................................ 52
4.1. Primeira República (1889-1930): ciência, crença, prática e liberdade ...................... 53
4.2. Segunda República (1930-1937): missão francesa e pragmatismo versus
neotomismo ....................................................................................................................... 75
4.3. Quarta República (1945-1964): liberalismo e socialismo cristão .............................. 86
4.4. Regime militar (1964-1985): metodologismo, tecnicismo, reprodutivismo-crítico e
anarquismo ........................................................................................................................ 93
4.5. Décadas de 1980-2012: Capital, Razão Instrumental, Redescrição e Diferença....... 104
CAPÍTULO 2 – A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL .............................. 118
1. Breve histórico da Filosofia da Educação no Brasil ..................................................... 118
2. Anísio Teixeira: pioneirismo e modernidade na Filosofia da Educação ...................... 125
2.1. Pequena introdução à filosofia da educação – a escola progressiva ou a
transformação da escola ..................................................................................................132
3. A Filosofia da Educação de Paulo Freire: diálogo da educação como prática da
liberdade ........................................................................................................................... 149
3.1. Pedagogia do oprimido ............................................................................................. 154
4. Dermeval Saviani e Filosofia da Educação: os condicionamentos sociais da educação
. ........................................................................................................................................ 168
4.1. Escola e democracia ..................................................................................................174
CAPÍTULO 3 – A FILOSOFIA DA DIFERENÇA DE DELEUZE .......................... 196
1. Breve Histórico da Filosofia da Diferença ...................................................................196
1.1. A Filosofia da Diferença e seus filósofos ..................................................................198
1.2. Deleuze: o filósofo da Diferença ............................................................................... 202
2. Deleuze: o eterno retorno da repetição da diferença .................................................... 210
2.1. Repetição ................................................................................................................... 212
2.2. Diferença ................................................................................................................... 219
2.3. Eterno retorno ............................................................................................................ 227
3. A Filosofia da Filosofia da Diferença........................................................................... 233
4. A Filosofia da Educação na Filosofia da Diferença ..................................................... 243
4.1. Deleuze: aprendizagem como intermediação entre saber e não-saber ..................... 247
10
CAPÍTULO 4 – FILOSOFIA DA DIFERENÇA DELEUZEANA NA FILOSOFIA
DA EDUCAÇÃO NO BRASIL OU PARA UMA (NÃO)-TEORIA DA
QUEBRADURA DA VARA .......................................................................................... 251
1. A diferença deleuzeana na Filosofia da Educação em terras brasileiras ...................... 252
2. Tomas Tadeu: implicações do pensamento da diferença para uma teoria do currículo257
3. Daniel Lins e Mangue’s School: pedagogia rizomática, escola do acontecimento, do
devir e do afecto ............................................................................................................... 269
4. Walter Kohan: o devir-criança do ensino, da infância e da Filosofia........................... 284
5. Sílvio Gallo: “educação menor” como aposta nas minorias e na possibilidade das
diferenças .......................................................................................................................... 303
CONCLUSÃO................................................................................................................. 319
REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 332
ANEXOS ......................................................................................................................... 339
Entrevistas: .................................................................................................................... 340
- Daniel Lins – UFC – CE ............................................................................................. 340
- Walter Kohan – UFRJ – RJ ....................................................................................... 366
- Sílvio Gallo – UNICAMP – SP ................................................................................... 373
- Paulo Ghiraldelli – UFRRJ – RJ ............................................................................... 392
- Sylvio Gadelha – UFC – CE ........................................................................................ 424
- Nuno Fadigas – Universidade do Porto – Portugal ................................................... 450
11
INTRODUÇÃO
A partir da década de1990, a perspectiva filosófica que embasa a reflexão
educacional brasileira tendenciou para o que se chama, mais amplamente, de
pensamento pós-moderno, questionando radicalmente a centralidade do sujeito,
rejeitando o discurso filosófico da modernidade, colocando sob suspeita todo o projeto
iluminista da modernidade racionalista, acusando o saber de arma de poder, condenando
a prepotência das metanarrativas modernas, afirmando que a história é pura
contingência e defendendo a importância do desejo e do corpo.
Assim, no final do Século XX e com maior celeridade no Século XXI, a
literatura produzida no Brasil sobre a Filosofia da Educação vem recebendo forte
influência dessa perspectiva pós-moderna. Com isso, temos visto o surgimento de uma
crítica desconstrutiva dos paradigmas do conhecimento, da ciência e da filosofia da
modernidade, embasados na centralidade da razão.
Os grandes teóricos dessa perspectiva são: Michel Foucault, Derrida, Barthes,
Lyotard, Baudrillard, Deleuze e Guatarri. Esses pensadores são tidos como pósmodernos ou pós-estruturalistas ou pós-críticos e trazem, em comum, a crítica ao
Projeto Emancipatório Iluminista da Modernidade, que postulava, dentre outras coisas,
a libertação do homem por intermédio do aperfeiçoamento de sua racionalidade. O
conceito tido como central nesse pensamento é o da Diferença, daí este ser conhecido,
também, como Filosofia da Diferença. O conceito de Diferença se fortaleceu ainda mais
quando o fundamento do Ser foi negado em sua estrutura estável, foi declarada a morte
da metafísica e foram postas em xeque as conquistas políticas, econômicas e filosóficas
da Modernidade .
Assim, se para as vertentes filosóficas educacionais, inspiradas no pensamento
pós-moderno, o saber, a razão e o conhecimento não são mais sinônimos de liberdade
como o fora na Modernidade, e agora significam poder, então a educação não pode ser
somente transmissão de saber, aperfeiçoamento da razão e produção de conhecimento.
Agora, é exigido dela um pensamento criativo e contestador e uma prática libertadora
dos desejos e afetos em relação aos poderes estabelecidos.
Nesse contexto histórico, filosófico e educacional, o presente trabalho, A
Filosofia da diferença de Gilles Deleuze na Filosofia da Educação no Brasil, tem por
objetivo central apresentar o pensamento filosófico educacional de alguns pensadores
brasileiros sob a inspiração da filosofia da diferença deleuzeana, realçando o que
12
distingue esta produção da Filosofia da Educação tradicional que é regida pela filosofia
da Representação. De forma mais ampla podemos dizer que o presente texto apresenta o
resultado de uma investigação sobre a influência da Filosofia da Diferença de Deleuze
na Filosofia da Educação no Brasil, na contemporaneidade.
Por um lado, o interesse pessoal por essa temática resulta de um longo processo
de pesquisa e atividades afins, desenvolvidas ao longo dos vinte e seis anos de
magistério superior, na Universidade Estadual do Ceará – UECE, onde ocupo o cargo
de Professora Adjunta, ministrando, dentre outras, as Disciplinas Filosofia da Educação
e História da Filosofia no Brasil, a partir das quais desenvolvi um interesse crescente em
torno de assuntos que cruzam esses dois universos.
Outra razão para o interesse nessa pesquisa é a minha trajetória teórica. Na
Monografia de Graduação, pesquisei sobre o pensamento de Foucault para responder a
uma insatisfação diante do pensamento metafísico que predominou na formação inicial.
Na Academia e no Mestrado, adveio outra insatisfação: o pensamento foucaultiano não
conseguia responder às angústias diante das desigualdades sociais e política, bem como
a posição teórica de indiferença de alguns pesquisadores diante da problemática social.
Esse conjunto de elementos me conduziu a buscar novos rumos filosóficos. Parti, então,
para um estudo aprofundado do marxismo, linha de investigação predominante no
Mestrado. Mas, o aprofundamento nos estudos marxianos e o convívio com certos
radicalismos, inerentes a alguns estudiosos dessa seara, me levaram de volta ao início
das minhas pesquisas de juventude.
Já na maturidade intelectual, cursando o Doutorado, pude perceber que os
radicalismos teóricos não respondiam, de fato, aos problemas complexos da realidade,
por que a própria realidade é complexa e múltipla, não comportando segmentações ou
exclusões que ela própria não contém. Nem tampouco os pensadores pesquisados
traziam em seu pensamento esses radicalismos excludentes. O fruto dessa reflexão foi a
Tese de Doutoramento, na qual procurei me distanciar de uma posição extremista entre
as fronteiras do marxismo e o pensamento pós-moderno, buscando compreender a
validade de ambos e o que cada um possibilita para o desvelamento e intervenção da/na
realidade do mundo e da vida.
Outro motivo que me direcionou a empreitada dessa investigação foi a
compreensão da importância de fazermos a memória da nossa história, ou seja, no nosso
caso, a memória da Filosofia no Brasil. O registro e a atenção dessa história no âmbito
13
da Filosofia têm sido descuidados sistematicamente, seja pela nossa subserviência aos
grandes referenciais europeus que marcaram a nossa formação filosófica, seja pelo
nosso parâmetro de considerar filosofia somente o exercício exegético do conjunto de
obras clássicas. A importância do registro do nosso fazer filosófico é fundamental para
constituirmos minimamente o exercício autônomo da Filosofia.
O último elemento que justifica a presente investigação é relativo à Educação. O
primeiro critério é o exercício em si da atividade no magistério, onde exerço a minha
militância e interfiro no mundo de forma mais apaixonada. O segundo critério se refere
à longa pesquisa em torno da Filosofia da Educação, tanto na História da Filosofia
quanto na História da Filosofia no Brasil, com expressiva leitura e uma produção teórica
expressa em forma de livro, artigos, palestras e mini-cursos. O terceiro critério é relativo
à volta obrigatória da Filosofia no Ensino Médio, ponto crucial para dimensionar o meu
interesse em torno do assunto.
O interesse pela volta da Filosofia ao Ensino Médio foi determinado por vários
fatores: é importante um pensamento gestado pela/na Filosofia sobre o assunto, para que
não somente profissionais ligados a outras áreas tenham o poder de decisão sobre os
fatos e a condução do processo; é fundamental que os próprios filósofos interfiram na
produção de materiais didáticos e na sua utilização em sala de aula; é necessário o
conhecimento e a compreensão dos referenciais teóricos que norteiam os rumos do
ensino da Filosofia, para que se possa extrair deles o que de melhor podem oferecer para
o seu ensino.
Por outro lado, para além do interesse pessoal, há razões objetivas que
determinaram a nossa investigação. A grande produção bibliográfica, tanto no mercado
editorial quanto nos muros da Academia (papers, artigos, monografias, dissertações e
teses), resultante da influência da Filosofia da Diferença Deleuziana, merecem uma
reflexão acurada. Ressalte-se, ainda, que não é somente a grande quantidade de
produção de material sob essa vertente filosófica que justifica a importância da
pesquisa, pois há, também, uma vasta produção sobre ela que demonstra a sua
expressividade no cenário filosófico contemporâneo brasileiro. Alguns marxistas, por
exemplo, contestam, criticam e, principalmente, deslegitimam a filosofia deleuzeana.
Como receber essa vasta produção bibliográfica? Como algo positivo, por um
lado, por trazer novas propostas para além das habituais que as escolas marxistas e
lukacscianas trazem? As quais se alicerçam na centralidade ontológica do trabalho e,
14
muitas vezes, encerram o pensamento sobre a educação na necessidade inadiável de
formação de consciência crítica para o enfrentamento das desigualdades sociais, através
da formação política? Ou seja, tendo por horizonte somente a macropolítica e
desqualificando a importância da micropolítica.
Ou, por outro lado, como falam os chargões acadêmicos, deve ser recebido como
algo extremamente negativo, por representarem o acirramento de um “pensamento
alienado”,
“pró-capitalista”,
“subjetivista”,
“distante
dos
projetos
coletivos”,
“relativista”, “fruto do comportamento do capital contemporâneo” ou, ainda, como
afirma Habermas se referindo à Filosofia da Diferença em geral, “consiste em uma
filosofia neoconservadora”.
Outro viés problemático diz respeito a todas essas questões, mas transita por
uma preocupação específica: a Filosofia da Diferença e sua influência na Filosofia da
Educação no Brasil configura, efetivamente, um quadro conservador no que concerne à
formação dos estudantes que se apropriam dessa produção teórica? Há, de fato, como
dizem alguns marxismos, um esvaziamento da ideia de um projeto coletivo que
contemple a perspectiva da luta de classes e um fortalecimento de uma consciência
acrítica e, consequentemente, apropriada pelo mercado?
Inversamente a essas posturas, é possível contemplar abordagens extremamente
positivas no pensamento da Diferença? Principalmente se pensarmos a partir das
reflexões do pensamento pós-moderno, no que diz respeito à certa truculência do
pensamento metafísico e até mesmo do pensamento marxista-dialético. Truculências e
prepotências que hipostasiaram a realidade em conceitos abstratos, principalmente no
que diz respeito à imposição da cultura europeia ao resto do mundo civilizado como
tendo caráter de universalidade. A consequência maior dessa imposição foi a
prevalência das bandeiras do projeto emancipatório Iluminista, com pretenso caráter
universal, em detrimento das culturas particulares e resultando em atrocidades das mais
diversas ordens.
Outra questão muito importante é relativa às possibilidades e limites da
influência da Filosofia da Diferença deleuziana na prática do ensino da Filosofia no
Ensino Médio, pois a nova conjuntura política educacional ainda se abre de forma lenta
às soluções dos problemas advindos dessa nova realidade.
O desenvolvimento dessas questões foi exposto em quatro capítulos. O primeiro
capítulo, De deus à Diferença: trajetória das matrizes filosóficas na educação
15
brasileira, faz a exposição das diversas matrizes filosóficas europeias e norteamericanas que influenciaram a educação, tanto na prática quanto na teoria, ao longo da
trajetória histórica do Brasil. O propósito deste capítulo, ao elencar as matrizes
filosóficas mais expressivas no nosso país, é possibilitar uma melhor observação das
influências filosóficas contemporâneas e suas inserções na atualidade educacional, bem
como as distinções dessas matrizes filosóficas. A exposição dessas vertentes filosóficas
seguiu os períodos cronológicos de Colônia, Império e República.
O segundo capítulo, A Filosofia da Educação no Brasil, demonstra que, apesar
da diversidade de influências de matrizes filosóficas na educação em terras brasileiras,
isso não representou ou produziu desde o início uma Filosofia da Educação como
pensamento sistematizado, o que só aconteceu posteriormente. Assim, o capítulo faz
uma breve exposição da trajetória de constituição da Filosofia da Educação em terras
brasileiras, como campo de saber específico, inclusive retomando o histórico europeu, e
apresenta três obras consideradas representativas da Filosofia da Educação no Brasil,
em seu percurso constitutivo: Pequena introdução à filosofia da educação – a escola
progressiva ou a transformação da escola, de Anísio Teixeira; Pedagogia do oprimido,
de Paulo Freire; Escola e democracia, de Dermeval Saviani.
O terceiro capítulo, A Filosofia da Diferença de Deleuze, explicita os contornos
principais do pensamento deleuzeano, no que diz respeito à sua Filosofia da Diferença,
material decisivo para a compreensão da influência deleuzeana na Filosofia da educação
no Brasil. A apresentação da filosofia deleuzeana é feita distribuída em quatro tópicos:
Breve Histórico da Filosofia da Diferença – mostra os filósofos mais representativos
da diferença e enfatiza Deleuze como o filósofo da Diferença; Deleuze: o eterno
retorno da repetição da diferença – detalha o universo conceitual da Repetição, da
Diferença e do Eterno retorno; A Filosofia da Filosofia da Diferença – explica por que
a Filosofia da filosofia da diferença deleuzeana é diversa da Filosofia da filosofia da
representação; A Filosofia da Educação na Filosofia da Diferença – demonstra,
também, por que uma Filosofia da Educação da filosofia da diferença é diversa da
Filosofia da Educação da filosofia da representação.
O quarto e último capítulo, Filosofia da Diferença deleuzeana na Filosofia da
Educação no Brasil ou para uma (não)-teoria da quebradura da vara, apresenta a
emergência da Filosofia da Diferença deleuzeana no Brasil e sua posterior intercessão
na Filosofia da Educação, com ênfase em quatro nomes representativos: Tomaz Tadeu,
16
Daniel Lins, Walter Kohan e Sílvio Gallo. A exposição do pensamento de cada um
desses filósofos é feita a partir de entrevista concedida à pesquisadora e também pela
exposição de livros e/ou artigos de suas produções bibliográficas, considerados
representativos na intercessão entre filosofia da diferença deleuzeana e filosofia da
educação. Ressalte-se, ainda, que o único a não ser entrevistado pela pesquisadora foi
Tomaz Tadeu da Silva, pela impossibilidade de manter contato com o estudioso.
Contudo, a ausência dessa entrevista pessoal foi suprida por outra, Mapeando a
[complexa] produção teórica educacional – Entrevista com Tomaz Tadeu da Silva,
publicada na Revista Currículo sem Fronteiras.
Em anexo, o presente trabalho trás, ainda, a íntegra dessas entrevistas utilizadas
no corpo do texto, além de mais três entrevistas com nomes significativos na Filosofia
da Educação: Paulo Ghiraldelli, que faz uma retrospectiva histórica da Filosofia da
Educação no Brasil, questiona a filosofia deleuzeana da diferença frente a perspectiva
rortyana neopragmática, que pesquisa e reforça o esgotamento das teorias críticas;
Sylvio Gadelha, representante dessa vertente deleuzeana na Filosofia da Educação
contemporânea, discorre longamente sobre os motivos que legitimam a importância do
pensamento de Deleuze no pensamento filosófico sobre a educação frente ao
esgotamento da filosofia da representação; e, finalmente, Nuno Fadigas, professor
português da Universidade de Porto, Portugal, para quem é necessário inverter a
educação, tal como Deleuze o fez com relação ao platonismo.
17
CAPÍTULO 1 – DE DEUS À DIFERENÇA: TRAJETÓRIA DAS MATRIZES
FILOSÓFICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Ao longo da trajetória histórica do Brasil, diversas matrizes filosóficas europeias
e norte-americanas influenciaram a educação, tanto no seu direcionamento prático
quanto na sua produção teórica. O propósito do presente capítulo é, precisamente,
elencar essas matrizes filosóficas mais expressivas no nosso país, bem como as práticas
e as teorias educativas resultantes delas, a fim de melhor observar as matrizes filosóficas
contemporâneas e suas inserções na atualidade educacional. A exposição dessas
matrizes filosóficas seguiu os períodos cronológicos de Colônia, Império e República.
1. Matrizes filosóficas da educação brasileira
O breve histórico sobre as principais influências das matrizes filosóficas
estrangeiras na educação no Brasil, aqui traçado, não se pretende definitivo ou único,
mas sim tem a intenção, tão somente, de oferecer uma perspectiva ampla para melhor
situar as tendências contemporâneas das influências filosóficas e dimensionar, assim,
seus impactos e suas características nas práticas e teorias que giram em torno da
educação brasileira.
A recomposição histórica é importante para maior clareza e localização do nosso
principal objeto de estudo: a influência da categoria da diferença deleuziana na Filosofia
da Educação no Brasil contemporâneo. Essa recomposição histórica é, também,
metodologicamente necessária no percurso aproximativo de nosso objeto de
investigação. Da mesma forma, o segundo capítulo, Filosofia da Educação no Brasil,
implica na compreensão dessas grandes matrizes filosóficas que nortearam o caminho
da Educação brasileira, seja na sua prática institucional, seja na sua produção teórica.
A exposição dessas matrizes filosóficas foi feita de forma cronológica a partir
dos respectivos períodos históricos em que elas estiveram inseridas. Essa opção
metodológica tem por objetivo didático propiciar uma visão geral, na qual a ênfase é
dada às vertentes filosóficas e às suas características que marcaram os fatos e as teorias
educacionais brasileiras. Dessa forma, seguem os períodos Colônia, Império e
República e seus respectivos segmentos.
18
2 - Colônia (1500-1822): de Deus à ciência mitigada
As três principais fases da época colonial (1500-1822), nas quais se destacam
nitidamente algumas matrizes filosóficas que influenciaram os rumos da educação
brasileira da época, são: presença dos Jesuítas – de 1550 a 1759; reformas pombalinas –
de 1759 a 1807; período joanino – de 1808 a 1822.
2.1. A matriz filosófica aristotélica-tomista dos Jesuítas
A atuação pedagógica dos jesuítas pode ser dividida em duas etapas: a primeira
teve início em 1549, com a chegada de um pequeno grupo de jesuítas chefiado pelo
padre Manoel da Nóbrega, que veio ao Brasil acompanhando o Governador-Geral Tomé
de Sousa, e vai até o final do século XVI; a segunda corresponde à presença jesuítica no
Brasil no século XVII até o ano de 1759, com a expulsão desses religiosos pelo
Marquês de Pombal.
Azevedo (1958, p. 9) avalia que “a vinda dos padres jesuítas [...] marca o início
da história da educação no Brasil”. Os discípulos de Inácio de Loiola, fundador da
Companhia de Jesus, que tinham por missão combater a Reforma Protestante em defesa
dos valores da Igreja Católica, desenvolveram uma atividade política e educadora entre
“povos infiéis”, pois, para os jesuítas, a função educadora assumia um papel primordial
em suas atividades, sendo considerada como um dos “mais poderosos instrumentos de
domínio espiritual e uma das vias mais seguras de penetração da cultura europeia nas
culturas dos povos conquistados, mas rebeldes, das terras descobertas” (Azevedo, p.
11).
Assim, a primeira etapa da presença dos jesuítas no Brasil teve um caráter
pedagógico mais voltado para o ensino elementar, com as escolas de ler e escrever
voltadas para a catequese dos índios e para a expansão e fortalecimento de um sistema
de ensino que se estendeu por grande parte do território brasileiro. Azevedo (1958)
resume essa etapa nos seguintes termos:
Se os jesuítas atacaram, no século XVI, a missão civilizadora a que se
propunham, começando, como era natural onde tudo faltava, pelas
escolas de ler e escrever, não se detiveram, porém, no ensino
elementar nem mesmo no primeiro século, em que já mantinham, nos
colégios do Rio de Janeiro e de Pernambuco, aulas de humanidades, e
conferiam, no colégio da Bahia, os graus de bacharel, em 1575, e em
1578 as primeiras láureas de mestres em artes. O ensino elementar não
19
lhes servia senão de instrumento de catequese e como base para a
organização do seu sistema que, ao se encerrar o século XVI, já havia
atingido na Bahia o curso de artes, com quarenta estudantes em 1598 e
que, menos de um século após a sua chegada, alcançara quase o
maximum de expansão pelo território do país. O primeiro século foi,
pois, o de adaptação e construção, e o segundo, o de desenvolvimento
e extensão do sistema educacional que, adquirida a altura necessária,
foi alargando progressivamente, com unidades escolares novas, a sua
esfera de ação (p. 27).
No segundo século de atuação pedagógica, os jesuítas expandiram seu sistema
de ensino e mudaram o plano pedagógico: “A pedagogia aplicada nesses colégios
evoluiu do plano de Nóbrega para a adoção do sistema do Ratio Studiorum”
(Ghiraldelli, 2006, p. 25). Esse sistema tinha o pensamento aristotélico-tomista como
matriz teórica e filosófica norteadora da prática educacional.
Saviani (2007) afirma que a educação colonial pode ser dividida em três etapas:
a primeira corresponde ao “período heroico” que vai desde 1549, data da chegada dos
primeiros jesuítas, até 1570, ano da morte de Manuel da Nóbrega, ou até 1597, ano da
morte de José de Anchieta e promulgação do Ratio Studiorum, em 1599; a segunda
etapa vai de 1599 a 1759 e representa a organização e consolidação da educação
jesuítica baseada no Ratio Studiorum; a terceira etapa, de 1759 a 1808, é marcada pelo
declínio dos jesuítas e sua expulsão pelas reformas pombalinas que inauguraram um
período de modernização da nossa sociedade.
A chamada institucionalização da pedagogia jesuítica aconteceu em condições
mais confortáveis devido a um imposto criado pela Coroa para subsidiar a manutenção
dos colégios jesuítas.
O Ratio Studiorum, plano de estudos da Companhia de Jesus, oferecia um
sistema de ensino composto pelos cursos de Humanidades, Filosofia e Teologia e foi
fortemente influenciado pelo pensamento filosófico escolástico aristotélico-tomista no
período colonial: “a Companhia de Jesus deu início à elaboração de um plano geral de
estudos a ser implantado em todos os colégios da Ordem em todo o mundo, o qual ficou
conhecido como Ratio Studiorum” (Saviani, 2007, p. 50). Era um código pedagógico
composto por 467 regras a serem seguidas por professores, alunos, diretores etc. e que
se dividia em orientações por áreas de conhecimento, inclusive a filosofia. Esse plano
pedagógico da Igreja católica fazia parte de um plano maior para fazer frente a Contra-
20
Reforma1. Uma tentativa católica bem sucedida de retomar o terreno perdido para os
protestantes. Segundo Saviani (2007) esse plano tinha um caráter universalista e elitista:
Universalista porque se tratava de um plano adotado indistintamente
por todos os jesuítas, qualquer que fosse o lugar onde estivessem.
Elitista porque acabou destinando-se aos filhos dos colonos e
excluindo os indígenas, com o que os colégios jesuítas se converteram
no instrumento de formação da elite colonial (p. 56).
Dessa forma, no plano elitista de ensino do Ratio Stutiorum foram suprimidos os
estágios iniciais da proposta educacional de Manoel da Nóbrega. Ou seja, o ensino de
português e a escola de ler e escrever foram substituídos pelos chamados “estudos
inferiores” e “estudos superiores”. Os estudos inferiores eram compostos por um curso
de humanidades, correspondente ao atual nível médio, com o currículo formado pelas
disciplinas de retórica, humanidades, gramática superior, gramática média e gramática
inferior. Os estudos superiores davam prosseguimento à formação com os cursos de
filosofia e teologia, que no Brasil, segundo Saviani (2007), eram limitados à formação
dos padres catequistas, tendo prevalecido os chamados estudos inferiores de
humanidades.
O Ratio Studiorum, método pedagógico dos jesuítas, foi elaborado no final do
século XVI como resultado de outras constituições da Companhia de Jesus, existentes
desde 1552 e que regiam outras paróquias jesuítas em diversas partes do mundo. Teve a
aprovação de sua “forma definitiva nos começos do século XVII e [...] sintetiza a
experiência pedagógica dos jesuítas, regulando cursos, programas, métodos e
disciplinas das escolas da Companhia” (Paim, 1984, p. 210). Seu objetivo mais
abrangente e elevado era: “[...] ensinar ao próximo todas as disciplinas convenientes ao
nosso Instituto, de modo a levá-lo ao conhecimento e amor do Criador e Redentor
nosso”.
1
“A Contra-Reforma, projetada no Concílio de Trento (1545-64), foi a resposta da Igreja à Reforma.
Primeiramente, a Igreja Católica condenou a Reforma e depois providenciou a reorganização das escolas
católicas com base nas antigas tradições, pondo tudo sob o controle dos bispos. Internamente, atacou a
ignorância dos padres instituindo os seminários com a finalidade de educar e instruir rigorosamente na
disciplina eclesiástica, modificando cuidadosamente a herança humanista. Assim, a luta contra os
católicos e protestantes deu-se basicamente no campo educacional, em que as ordens religiosas
recentemente formadas, especialmente a Companhia de Jesus, fundada em 1540 por Inácio de Loyola,
constituíram-se no maior instrumento de luta da Igreja Católica contra a Reforma. [...]. pode-se dizer que
a Contra-Reforma caracterizou-se pela defesa intransigente da prerrogativa da Igreja Católica sobre a
educação, sobre toda a inovação cultural na tentativa de recobrar sua hegemonia abalada pelo
Renascimento e pela Reforma” (Lago, 2002, p. 58-59).
21
Essa finalidade maior do Plano de Estudos da Companhia de Jesus busca se
realizar através de 467 regras que devem nortear a conduta e/ou pensamento de:
provincial; reitor; prefeito de estudos superiores; professores de escritura, hebreu,
teologia, teologia moral das faculdades superiores; professores de Filosofia (Filosofia
Moral e Matemática); prefeito de estudos inferiores; dos exames escritos; para a
distribuição de prêmios; professores das classes inferiores (Retórica; Humanidades;
Gramática); estudantes da Companhia; repetentes de Teologia; bedel; estudantes
externos; das academias (gerais; prefeito; Academia de Teologia e Filosofia; prefeito da
Academia dos Teólogos e Filósofos; Academia de Retórica e Humanidades; Academia
dos Gramáticos) 2.
Como a matriz filosófica norteadora do Ratio Studiorum era aristotélica-tomista, o
curso superior de Filosofia, a ser feito em três anos, era subordinado ao de Teologia, a
ser realizado em quatro anos, tendo como guia a doutrina tomista. Saviani (2007)
informa o seguinte sobre o currículo dos cursos de filosofia e teologia:
O currículo filosófico era previsto para a duração de três anos, com as
seguintes classes ou disciplinas: 1º ano: lógica e introdução às
ciências; 2º ano: cosmologia, psicologia, física e matemática; 3º ano:
psicologia, metafísica e filosofia moral. O currículo teológico tinha a
duração de quatro anos, estudando-se teologia escolástica ao longo de
quatro anos; teologia moral durante dois anos; Sagrada Escritura
também por dois anos; e língua hebraica durante um ano (p. 56).
A segunda regra do professor de Teologia era: “Em teologia escolástica sigam os
nossos religiosos a doutrina de Santo Tomás; considerem-no como seu Doutor próprio,
e concentrem todos os esforços para que os alunos lhe cobrem a maior estima”. Da
mesma forma, a regra de número dois do professor de Filosofia deixa claro qual seu
eixo filosófico norteador:
Em questão de alguma importância não se afaste de Aristóteles, a
menos que se trate de doutrina oposta à unanimemente recebida pelas
escolas, ou, mais ainda, em contradição com a verdadeira fé.
Semelhantes argumentos de Aristóteles ou de outro filósofo, contra a
fé, procure, de acordo com as prescrições do Concílio de Latrão,
refutar com todo vigor (Cf. Ratio Studiorum).
2
As edições do Ratio Studiorum aqui consultadas foram a tradução de Padre Leonel Franca a partir da
versão disponível no site www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/r.html HISTEDBR e a versão
espanhola
Ratio
Studiorum
Oficial
1599
disponível
no
site
www.puj.edu.co/.../Documentos_Corporativos_Compania_Jesus.pdf. Procedeu-se a um cotejamento de
ambas as versões para se obter um resultado mais adequado da consulta.
22
Nas Regras do Reitor, a de número trinta também enfatiza esse eixo aristotélicotomista ao especificar quais os livros que deveriam ser dados aos alunos de Teologia e
Filosofia, além da Bíblia e do Concílio de Trento:
Nas mãos dos estudantes de teologia e filosofia não se ponham todos
os livros, mas somente alguns, aconselhados pelos professores com o
conhecimento do Reitor: a saber, além da Suma de Santo Tomás para
os teólogos e de Aristóteles para os filósofos um comentário para
consulta particular [...] (Cf. Ratio Studiorum).
Reforçando essas informações sobre a matriz filosófica do Ratio, relativas ao
ensino da filosofia sob a influência aristotélica-tomista, afirma Saviani:
A expressão mais acabada dessa vertente é dada pela corrente do
tomismo, que consiste numa articulação entre a filosofia de Aristóteles
e a tradição cristã; tal trabalho de sistematização foi levado a cabo
pelo filósofo e teólogo medieval Tomás de Aquino [...]. É justamente
o tomismo que está na base do Ratio Studiorum, que estipulou na
regra de número 2 do professor de filosofia que ‘em questões de
alguma importância não se afaste de Aristóteles’ [...]. e a regra de
número 6 recomendava falar sempre com respeito de Santo Tomás,
“seguindo-a de boa vontade todas as vezes que possível” [...]. Por sua
vez, a regra de número 30 do prefeito dos estudos recomenda que se
coloque nas mãos dos estudantes a Summa Theologica de Santo
Tomás, para os teólogos, e Aristóteles, para os filósofos [...] (Saviani,
2007, p. 58-59).
A obediência a essas matrizes filosóficas permeia todo o código pedagógico
jesuítico. Assim, a filosofia se submete à teologia e lhe serve de auxiliar. Pode-se
constatar essa posição com muita clareza na regra 16, no conjunto de Regras do
provincial quando se reporta aos dotes do professor de Filosofia. Este deveria ter a
formação em teologia para melhor ensinar filosofia que, por sua vez, deve se orientar
para ser útil à teologia. Aqueles que forem rebeldes a essa subserviência não possuem
um bom perfil para o cargo:
Dotes do professor de filosofia. – Os professores de filosofia (exceto
caso de gravíssima necessidade) não só deverão ter concluído o curso
de teologia senão ainda consagrado dois anos à sua revisão, afim de
que a doutrina lhes seja mais segura e mais útil à teologia. Os que
foram inclinados a novidades ou demasiado livres nas suas opiniões,
deverão, sem hesitações, ser afastados do magistério (Cf. Ratio
Studiorum).
Nas diversas regras do Ratio Studiorum é possível perceber que sua matriz
filosófica impunha e valorizava uma filosofia pautada na retórica, apoiada em disputas
lógicas formais a partir da obra aristotélica e nas disputas medievais tão ao gosto da
23
obra tomista. A realidade terrena ficava preterida em função dos estudos sobre os anjos,
os sacramentos e a encarnação, em busca do conhecimento e amor do criador. Era uma
filosofia voltada para o ensino da doutrina cristã e exercida sob uma forte estrutura
hierárquica, com vistas à salvação das almas da danação do inferno. Seu objetivo maior
era, de fato, o fortalecimento de uma Inquisição tardia portuguesa. Assim, ressalta Paim
se referindo ao aspecto político subjacente ao sistema filosófico do Ratio Studiorum:
A rigidez desse sistema combina-se com o advento da Inquisição para
imprimir ao pensamento português rumo diverso ao empreendido pela
Europa Ocidental. Os Tribunais do Santo Ofício, estabelecidos no
século XIII e que instituíram o sistema de queimar em fogueiras os
acusados de heresias, achavam-se praticamente extintos em fins do
século XV, época em que são restabelecidos na Espanha, estendendose a Portugal nos meados do seguinte (1984, p. 212).
Dessa forma, Correr (2006) realça que no século XVI, nessa busca de formar o
homem para Deus, a visão de Aristóteles tornava-se o instrumento de formação
intelectual plena para a teologia cristã, pois representava a máxima autoridade
filosófica. A essa perspectiva somava-se o pensamento de Santo Tomás, que sobre a
teoria aristotélica, “desenvolve a teoria da ordem natural, em que a natureza humana,
com suas próprias forças, é capaz de fortalecer-se, disciplinar-se e ‘produzir’ boas
obras” (Correr, 2006, p. 52). Aos jesuítas coube alcançar esse objetivo através da
educação. Nessa perspectiva, as filosofias de Aristóteles e Tomás de Aquino
possibilitavam o alcance seguro para o caminho que leva à fé cristã, que seria
fortalecido no curso de Teologia, finalidade última da reflexão filosófica.
No Brasil, essa orientação predominou no ensino e nos meios filosóficos por
dois séculos, até 1759, data da expulsão dos Jesuítas de Portugal e de suas colônias pelo
marquês de Pombal, primeiro ministro de Dom José I. Assim, Severino (1997) afirma
que não há dúvida de que a marca do modo metafísico de pensar é profunda na cultura
brasileira: “Foi assim que toda nossa experiência pedagógica até o primeiro quartel
deste século desenvolveu-se sob a influência direta ou difusa dos pressupostos éticos e
metafísicos da escolástica agostiniano-tomista” (p. 36).
Contudo, é necessário esclarecer que não há unanimidade entre os estudiosos
que essa prevalência do pensamento metafísico aristotélico-tomista dos jesuítas tenha,
de fato, representado tão somente um atraso. Para Saviani3 (2007), apesar de sua
3
“Mas se os jesuítas se reportavam fortemente a Santo Tomás de Aquino e a Aristóteles, não parece
procedente a visão que se difundiu segundo a qual, por se situar na vanguarda da Contra-Reforma, os
24
referência filosófica central, esses religiosos teriam trazido traços da modernidade como
o livre-arbítrio que teria repercutido em uma pedagogia inovadora. Já para Paim4
(1986), o que houve foi a absorção das teses da Escolástica clássica e o repúdio aos
avanços da modernidade do século XVI, já fortemente presentes na Europa,
caracterizando uma postura filosófica atrasada e conservadora.
Da mesma forma, não há também unanimidade quanto à prevalência de uma
corrente única de filosofia nesse período. Para Paim, outras correntes filosóficas teriam
acompanhado a presença aristotélica-tomista dos jesuítas nesses primórdios coloniais.
O pensamento do período dos jesuítas ou período colonial (séc. XVII e XVIII),
conhecido também por Saber de salvação, classificação feita por Luiz Washington Vita
inspirado em Max Scheler, visava caracterizar “aqueles pensadores de formação
escolástica ou de tendência mística, ou outros, cuja especulação filosófica ou teológica
se acha dentro dos dogmas católicos, sendo a filosofia mera ancilla theologiae” (Paim,
1986, p. 22). Paim caracteriza esse período pelo “desprezo do mundo”:
O mundo é aqui identificado, sobretudo, com a dimensão
corpórea, na qual se integra o próprio homem. Concebe-se a este
como ser corrompido precisamente pela circunstância. O mundo
não estaria aí para que os homens nele erigissem algo digno da
glória de Deus, [...] mas para tentá-lo. Desse modo, a resistência
jesuítas voltaram as costas para a modernidade, buscando fazer prevalecer as ideias características da
Idade Média. De fato, eles pretendiam, sim, defender a hegemonia católica contra os ataques da Reforma
protestante. Mas, para isso, eles procuraram compatibilizar a liderança católica com as exigências dos
novos tempos apoiando-se firmemente na herança clássico-medieval. Ao mesmo tempo, reformularam a
escolástica absorvendo elementos próprios da época que respirava o clima da Renascença, em especial a
questão do livre-arbítrio, uma das ideias centrais da doutrina elaborada por Francisco Suárez, o principal
teólogo jesuíta [...]. E o Ratio Stutiorum, talvez, a expressão mais clara desse esforço que se traduziu na
prática pedagógica dos colégios jesuítas, como reconheceu Durkheim [...], para quem, ao mesmo tempo
em que os jesuítas podiam lançar mão dos clássicos da Antiguidade para promover a instrução cristã, em
lugar da literatura que lhe era contemporânea, já que esta se encontrava impregnada de anticatolicismo, a
‘pedagogia ativa’ por eles propugnada constituía uma verdadeira revolução [...], situando-os na linha de
superação das práticas educativas medievais em direção à pedagogia moderna. Com efeito, é própria dos
tempos modernos a emergência do indivíduo associado à ideia do livre-arbítrio, o que conduz ao
entendimento de que o homem em geral e, por consequência, também o homem cristão deve ser ativo,
isto é, necessita traduzir em ações a fé que professa, não lhe bastando meditar e orar. Daí o fervor
missionário, de caráter militante e combatente que moveu os inacianos levando-os a considerar a cruz e a
espada como faces da mesma moeda. Para isso, certamente contribuiu a experiência prévia e a
mentalidade militar do fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola” (Saviani, 2007, p. 59).
4
“Ao longo do século XVII e até a primeira metade do século XVIII, os jesuítas lograram isolar a cultura
portuguesa do resto da Europa. Em nome da Contra-Reforma foram reintroduzidas as teses da Escolástica
clássica e abandonados os intentos reformadores do século XVI, iniciados por Pedro da Fonseca
(1528/1599) e Francisco Suarez (1548/1617). O novo tipo de saber da natureza, constituído no período,
foi solenemente ignorado. Permanecia insuspeitada a necessidade de reforma da monarquia, em nome das
novas doutrinas que refutavam a origem divina do poder do monarca. O ciclo em apreço foi batizado, por
Joaquim de Carvalho, de Segunda Escolástica Portuguesa” (Paim, 1985, p. 20).
25
à tentação equivale ao comportamento ético por excelência
(Paim, 1985: 22).
Paim assinala uma multiplicidade de tendências filosóficas que teria marcado o
período do saber de salvação: existiriam obras apologéticas dirigidas aos ateus, baseadas
no Pensamentos, de Pascal; outras de cunho mais espiritualistas, místicas e edificantes,
como os sermões e “obras de cunho moralizador, casuístico e intenção pedagógica,
tendo em vista a formação das almas e a direção das consciências; e, finalmente, as
obras teológicas propriamente ditas” (Paim, 1985, p. 24).
Assim, para Paim, nesse período, a filosofia no Brasil não teve o predomínio de
uma corrente filosófica única. Geralmente se aponta a Segunda Escolástica Portuguesa
como a corrente filosófica exclusiva, mas se encontra até indício da presença de certa
tradição platônica na Ordem dos beneditinos. Mas o certo é que houve um predomínio
da influência no pensamento filosófico colonial brasileiro da Segunda Escolástica
Portuguesa5.
Nomes representativos desse período são: Nuno Marques Pereira (1652 / 1735);
Feliciano Joaquim de Sousa Nunes (1730 / 1808); Frei Gaspar da Madre de Deus (1715/
1800). A temática filosófica recorrente e predominante nesses pensadores e período foi
a da reflexão moral.
2.2. A matriz filosófica empirista e iluminista das reformas pombalinas
A segunda fase do período colonial é relativa às reformas pombalinas, entre os
anos de 1759-1807, efetuadas a partir da expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil
pelo Marquês de Pombal. Essas reformas visavam adequar os interesses de Portugal e
de suas colônias à modernidade europeia. Tratava-se de substituir as ideias religiosas e
metafísicas dos jesuítas pelas ideias de cunho mais racionalista e científico próprias ao
5
“A denominação de Segunda Escolástica, para o período da filosofia portuguesa que se inicia com
Pedro da Fonseca (1528/1597) e se estende até a metade do século XVIII, foi sugerida a Joaquim de
Carvalho pela obra de Carlo Giacon (La Seconda Scolastica [...]). Tem o mérito de chamar a atenção para
a necessidade de a distinguir da grandiosa sistematização empreendida por Tomás de Aquino no século
XIII sem lhe atribuir a condição de simples prolongamento da chamada escolástica decadente dos séculos
XIV e XV. Ao mesmo tempo, torna patente que não se esgota com a escolástica barroca (1550/1650),
assim batizada por Ferrater Mora para ressaltar a peculiaridade desta fase da Contra-Reforma, cuja
influência sobre a filosofia moderna já foi comprovada à saciedade por vários estudiosos. Assim, a
Segunda Escolástica Portuguesa compreenderia duas fases: o período barroco (meados do século XVI às
primeiras décadas do século XVII) e o período escolástico propriamente dito (meados do século XVII a
meados do XVIII)” (Paim, 1984, p. 206).
26
Iluminismo, com predominância dos ideais liberais, seculares e democráticos (conf.
Ghiraldelli, 2009, p. 3).
A atmosfera portuguesa do século XVIII se mostrava paradoxal, nos diz Saviani
(2007, p.77) e expressava uma tensão entre Razão e religiosidade; mudança e tradição;
fé e ciência. As ideias de influência iluminista chegavam a Portugal através de
portugueses residentes no exterior, os quais eram chamados de “estrangeirados”. Dentre
esses, ressaltamos os nomes de Luís Antônio Verney e do próprio Marquês de Pombal 6.
Saviani relata que esses homens
[...] defendiam o desenvolvimento cultural do Império português pela
difusão das novas ideias de base empirista e utilitarista; pelo
“derramamento das luzes da razão” nos mais variados setores da vida
portuguesa; mas voltaram-se especialmente para a educação que
precisaria ser libertada do monopólio jesuítico, cujo ensino se
mantinha [...] preso a Aristóteles e avesso aos métodos modernos de
fazer Ciência (Saviani, 2007, p. 80).
O “despotismo esclarecido” português, idealizado por Pombal, com o apoio de
Dom José I, condizente com os novos interesses burgueses, decretou reformas em
diversos âmbitos, como o urbano, o político, o econômico etc. As modificações
impostas à educação foram determinadas pelo Alvará de 28 de junho de 1759, que
impunha o fechamento dos colégios jesuítas que deveriam ser substituídos pelas aulas
régias mantidas pela Coroa com o imposto chamado de “subsídio literário”, criado
especificamente para isso. Basicamente, foram três as reformas educacionais: Reforma
dos estudos menores, primário e secundário (1759); Reforma dos estudos maiores,
referente à Universidade de Coimbra (agosto de 1772); e Reforma das escolas de
primeiras letras (novembro de 1772).
A principal modificação nos estudos menores, inspirada pelo viés iluminista, foi
quanto ao método de estudar: o Alvará da reforma criticava o método de estudo
jesuítico por ser obscuro, fastidioso, sem resultado e distanciado da prática da vida
cotidiana. Um bom exemplo é quanto ao estudo da gramática latina que era ensinada no
mesmo idioma que se desconhecia e somente pela memorização. O novo método
6
“Sebastião José de Carvalho e Melo (1699 / 1782), o famoso Marquês de Pombal, pretendeu efetivar
uma ruptura radical com a tradição da cultura portuguesa. Pôs fim ao domínio da filosofia escolástica e
expulsou aos jesuítas que, em nome daquela, exerciam verdadeiro monopólio do pensamento. Abriu as
portas da Universidade para a ciência, até então proibida em Portugal por motivos religiosos. Promoveu a
primeiro plano o ideal de riqueza, em contraposição à prática de exaltar as virtudes da pobreza vigente
durante séculos. E cuidou, finalmente, de combinar essa autêntica revolução com o status quo em matéria
ético-política” (Paim, 1985:25).
27
sugerido por Verney era baseado no ensino prático e a partir de coisas úteis e práticas
(Cf. Saviani, 2007, p. 86).
Assim, a diretriz filosófica presente nas reformas pombalinas da instrução
pública instituídas no Reino de Portugal e em suas colônias era de cunho
tendencialmente iluminista, empirista e de crítica à Escolástica, tendo por figura central
Antônio Verney e seu livro epistolar Verdadeiro método de estudar7, que
significativamente influenciou a reforma dos estudos superiores dos novos Estatutos da
Universidade de Coimbra, buscando orientar a vida cultural portuguesa pela ideologia
iluminista.
a)
A influência de Locke no pensamento de Verney
Verney foi um português iluminista estrangeirado. Nascido em Lisboa (17131792), estudou Teologia na Universidade de Évora e, em 1736, também concluiu
Direito ao se transferir para Roma. Viveu na Itália desde os 23 anos de idade, onde
ampliou seu universo cultural, influenciou fortemente nas mudanças do pensamento de
Portugal “ao criticar, em suas famosas cartas, todo o sistema pedagógico dos jesuítas,
arrastando a intelectualidade portuguesa a um debate prolongado e que prepararia a
reforma pombalina da Universidade” (Paim, 1984, p. 224).
O livro Verdadeiro método de estudar constitui o conjunto de 16 cartas editadas,
inicialmente, em dois volumes. Posteriormente, já no século XX, o livro foi organizado
em cinco volumes8, “agrupando as cartas na sequencia de sua numeração, mas
procurando assegurar uma unidade temática em cada volume” (Saviani, 2007, p. 100).
Essa obra teve uma atribulada história editorial. Sua primeira edição foi
publicada com pseudônimo e confiscada pela Inquisição. Para fugir da perseguição e da
censura do Santo Ofício, Verney abre o livro com um elogio à Companhia de Jesus,
apesar de ser um tratado contra a pedagogia e o pensamento escolástico dos jesuítas.
Conforme Salgado Júnior, essa crítica que move o pensamento de Verney tem por
7
Outro grande expoente inspirador dessas reformas foi Antonio Nunes Ribeiro Sanches com os livros
Cartas sobre a educação da mocidade e Método para aprender a estudar a medicina. As propostas
dessas obras fundamentaram, principalmente, os “novos Estatutos da Universidade de Coimbra [e]
tiveram o sentido de orientar a vida cultural portuguesa pela ideologia iluminista” (Saviani, 2007, p. 90).
8
Vol. I – Estudos Linguísticos (carta 1 a 4); Vol. II – Estudos Literários (carta 5 a 7); Vol. III – Estudos
Filosóficos (carta 8 a 11); Vol. IV – Estudos Médicos, Jurídicos e Teológicos (carta 12 a 14); Vol. V –
Estudos canônicos, Regulamentação e Sinopse
28
matriz filosófica a teoria empirista lockeana, formulada a partir do combate à doutrina
das ideias inatas e metafísicas (Cf. Prefácio Verney, 1952, p. xix).
Apesar da principal obra de Locke dirigida à educação, Alguns pensamentos
sobre a educação9 (Thoughts concerning education), conter elementos próximos à
proposta da educação jesuítica, como os relativos à moral, outros elementos se
distanciavam diametralmente da proposta pedagógica desses religiosos.
Para Salgado Júnior, é impossível separar o Locke pedagogo do Locke filósofo
(Verney, 1952, p. xvi). Assim, em concordância com seu empirismo gnosiológico,
“Locke buscava uma formação de homem útil e premunido de conhecimentos que lhe
garantissem essa utilidade” (Idem). Nesse mesmo sentido, para Verney, a realidade
cultural daquela época exigia uma transformação radical dos estudos e o critério era o
da utilidade da cultura: “o caso presente implica reforma geral do ensino. Assim, há que
começar por ajustar os estudos superiores todos às necessidades culturais, e tornar seus
diplomados cada vez mais úteis à sociedade. O resto serão consequências” (Verney,
1952, p. xx).
Médicos, juristas e teólogos deveriam interferir de forma útil na vida civil e
religiosa. Para tanto, era necessário adequar as respectivas formações educacionais, que
deviam seguir os fundamentos científico-naturais ao invés das superstições e
especulações. O critério da educação, portanto, deveria ser o da utilidade. Dessa forma,
salienta Salgado Júnior em Prefácio do livro de Verney:
Locke repetia muito essa norma, tanto nos aspectos filosóficos como
pedagógicos: este e aquele conhecimento pode não ser seguro; mas
obtenha-se, se é útil. Foi assim que ele sempre justificou a Física. Foi
nesse critério de utilidade que ele elegeu as disciplinas para instrução
do gentleman. Por essa mesma norma se norteará Verney e denunciálo-á desde logo na portada do Verdadeiro Método: para ser útil à
República e à igreja. Repete-o depois, na primeira carta, quando diz
que o seu correspondente lhe pediu que lhe dissesse seriamente se o
método vigente lhe parece racionável para formar homens que sejam
úteis para a República e a Religião. Depois ainda, faz disso fiel de
balança para avaliar os estudos: isto não serve para nada, aquilo para
nada serve; mas este e aquele outro estudo devem acrescentar-se
porque esses, sim, servem para isto e aquilo. Enfim: o que Verney
9
“A obra de Locke sobre a educação deriva das várias cartas escritas a seu amigo Edward Clarke, durante
os anos de 1684-1686, aconselhando-o sobre a educação do primogênito. Estas foram publicadas em 1693
em função de vários pedidos de amigos, sob o título de Alguns Pensamentos sobre a Educação. Nela visa
mostrar como se deve conduzir um jovem cavalheiro desde a infância, pois acredita que os homens são
‘[...] bons ou maus, úteis ou inúteis, pela educação que têm recebido’ [...]. Entende também que a
educação deve estar voltada para a vida e ‘não consiste em aperfeiçoar os jovens em alguma das
ciências, senão em abrir suas mentes, preparando-os para que possam utilizar qualquer delas quando
necessitarem’” (Lago, 2002, p. 93-94). (grifos nossos).
29
procura é, portanto, [...], uma maior eficiência, ou utilidade, dos
homens formados pela Universidade (Verney, 1952, p. xx).
Ainda conforme Salgado Júnior, Verney considerava importante levar em conta a
complementaridade das reflexões presentes no Ensaio acerca do entendimento humano
e no Alguns pensamentos sobre a educação. Assim:
A reflexão que exerceu sobre esses documentos deve-o ter levado,
antes de mais à compreensão [...] da íntima conexão existente entre o
Locke filósofo do Essay e o Locke pedagogo dos Thoughts. Ele parece
ter compreendido, efetivamente, que ambos eles se harmonizam em
função da criação dum novo tipo humano, cujas características são
definíveis dentro dos limites fixados ao conhecimento no Essay. [...].
O novo tipo humano será, portanto, o que realize uma vida assente em
tais limites de conhecimento e nela procure um máximo de
valorização social e individual, quer dizer, alicerçada em
fundamentação positiva e realizada em atividade útil (Verney, 1952, p.
xxiii-xxiv).
Para Verney, a proposta educacional lockeana para o gentil-homem dos
Pensamentos serviria também para a formação das novas profissões do seu tempo.
Salgado Júnior afirma que para o pensador português, seguindo a perspectiva lockeana,
a educação ao se guiar pela utilidade dos conhecimentos deveria dispensar os hábitos
mentais da especulação pura e se entregar às atividades experimentais e positivas:
“Quem via ele que realizasse filosoficamente esse aspecto senão
Locke, tanto no Essay com o nos Thoughts? De fato, Locke minara a
confiança nas construções metafísicas, - e apontara as vantagens
utilitárias dos conhecimentos cuja origem estivesse tão próxima da
experiência sensível, que nisso tivessem garantia” (Verney, 1952, p.
xxiv).
Assim, a nova lógica a ser seguida nos estudos não deveria ser mais a “lógica da
abstração pura (a lógica formal), mas a da atividade científica (a lógica da experiência),
única que se adaptava àquele objetivo” (Verney, 1952, p. xxvii). É dessa forma que a
influência da filosofia de Locke sobre a pedagogia de Verney é enfaticamente
reafirmada por Salgado Júnior, ao final da apresentação do Verdadeiro Método de
Estudar: “[...] acabamos de ver, [...], como o sistema pedagógico de Verney é, de fato,
aquele em que se prolonga o sistema filosófico-cultural a que aderira – e, sempre que
possível, é esse sistema pedagógico baseado na própria obra de Locke” (Verney, 1952,
30
p. xlii). Também ressalta fortemente a confluência dos livros Ensaio e Pensamentos de
Locke na obra pedagógica de Verney10.
b) O iluminismo de Genovesi
A Reforma da Universidade, de 1772, oficializou a influência empirista com
outra grande influência representada por um dos compêndios do filósofo italiano
Antônio Genovesi (1713- 1769), Instituições de Lógica de 1773 (Cf. Paim, 1985; 1984).
Assim, surge uma nova corrente oficial denominada de empirismo mitigado:
O adjetivo visa indicar que se trata de um empirismo que evitou
ciosamente todas as dificuldades que essa espécie de filosofia vinha
enfrentando nas ilhas britânicas. A partir mesmo da tese de que o
conhecimento origina-se na sensação. Nesse aspecto essencial, o
empirismo mitigado não estabeleceu nenhuma definição mais precisa.
A preocupação maior não se dirigia à precisão conceitual, mas à
simples exaltação do conhecimento experimental e à condenação
frontal da metafísica tradicionalmente cultivada em Portugal. Mesmo
da acepção de ciência elimina-se qualquer compromisso com a busca
da verdade, que lhe é conatural, para reduzi-la à aplicação (Paim,
1985, p. 26).
Antônio Genovesi ensinou na Universidade de Nápoles, marco europeu da
influência iluminista, reformada depois da expulsão dos jesuítas em 1767, que se
caracterizava pelo ensino de disciplinas científicas, de direito e de economia. Nessa
mesma universidade, Genovesi foi aluno de Vico, em 1748; escreveu os Elementa
theologiae, defendendo a distinção entre poder eclesiástico e poder civil, bem como a
infalibilidade da Igreja circunscrita à fé. Genuense, como também era conhecido, foi
contrário à atitude antirreligiosa de alguns iluministas, pois a religião e a ideia de
divindade fazem parte da essência humana. Contudo, “estava firmemente convencido de
10
E prossegue Salgado Júnior na reafirmação da influência lockeana sobre a pedagogia de Verney: “Aí
está, pois, o aproveitamento agora direto, agora amplíssimo do Essay, para onde se saltava logicamente,
partindo dos Thoughts. Aí estaria Verney perfeitamente à vontade, porque estava no campo que lhe era
grato, o da fundamentação filosófica do sistema cultural a que tinha aderido. A Carta da Lógica fala por si
mesma. Depois é a da Metafísica, com a sua dissolução pela Lógica e pela Física: sempre uma ideia de
Locke. Depois ainda a da Física, para que Locke, se não dava as soluções necessárias, dava, pelo menos,
as sugestões, [...], apontando o Newtonianismo como prolongamento adequado das suas ideias, tanto no
Essay como nos Thoughts. Para mais, estes exigiam que para cultura do gentleman se lhe ministrassem,
de menino, esses conhecimentos fundamentais da Aritmética, da Astronomia, da Geometria, - o que, por
fim, viria a coroar-se com a Física, dividida nos dois setores já conhecidos da Física do corpo e Física do
Espírito. Não há, ainda neste ponto, senão uma perfeita adesão ao pensamento filosófico e pedagógico
lockeano. Por fim, ainda desenvolvendo sugestões da mesma origem, vem a considerar-se a Ética como
estudo fundamental, desde que estabelecida a partir do Direito Natural das Gentes, e tudo com
possibilidade de ser aprofundado nos mesmos autores que já Locke apontara nas páginas dos Thoughts”
(Verney, 1952, p. xli- xlii).
31
que a liberdade e a autonomia da razão eram os meios indispensáveis para qualquer
progresso civil” (Reale, 1990, p. 854).
Paim (2008, p. 1) se refere ao empirismo mitigado como via de superação do
aristotelismo escolástico português e o caracteriza a partir do texto Instituições de
Lógica de Genovesi:
Essa denominação foi sugerida por Joaquim de Carvalho (1892/1958),
tratando-se de uma expressão muito feliz porquanto destaca o
essencial, isto é, ausência de problematização do empirismo.
Enquanto nessa corrente, tanto na Inglaterra como na França, no
mesmo período, a problematização do conceito-chave iria fecundar a
meditação posterior, em Portugal, [...], evitou-se ciosamente tudo
aquilo que pudesse desviar da rota principal - difusão pura e simples
de uma nova doutrina -, a começar da crítica ao aristotelismo até então
dominante.
Conforme Paim (2008), Genovesi poderia ser denominado de filósofo da
experiência, por sustentar que a filosofia se move a partir da experiência e a ela se
refere, mas seria necessário admitir e enfatizar o papel da crítica dos dados empíricos
pela razão. Sua classificação das ideias admite somente alguns graus de certeza, por isso
a percepção direta não pode prescindir da razão. Da mesma forma, é impossível resolver
a questão da origem das ideias e conhecer a natureza última da percepção em virtude de
não se poder conhecer a natureza da alma. Deste modo, afirma Paim, o empirismo
mitigado de Genovesi procura incorporar certas premissas do empirismo lockeano à
tradição racionalista.
Tratava-se de um empirismo mitigado, atenuado, exatamente por não minimizar
o papel da razão, bem como por não levar às últimas consequências políticas liberais
que acompanhavam o empirismo. A esse propósito, relata Paim (2008, p. 1):
Lamentavelmente, o seu compêndio foi entendido entre nós como um
conjunto de afirmações dogmáticas, que deveriam substituir a tradição
escolástica, substituição essa que prescindia de qualquer avaliação
crítica. Mais grave é que o novo sistema, destinado a substituir o
antigo, se completava por uma defesa inconsistente do absolutismo
monárquico. O imperativo de substituir esse sistema político, que logo
adiante surgiria, levava facilmente à aceitação sem crítica das
chamadas “ideias francesas”, o que aconteceu com quase todos
aqueles que formaram seu espírito a partir do empirismo mitigado, de
que seria exemplo dramático os padres radicais e belicosos egressos
do seminário de Olinda. Por isto mesmo, a necessidade de demolir o
empirismo mitigado, peça por peça, tornar-se-ia o grande desafio das
gerações que, tanto em Portugal como no Brasil tornado independente,
tiveram a incumbência de conceber todo um conjunto de instituições
sociais e políticas.
32
Paim (2008) enfatiza outros graves limites presentes no empirismo mitigado de
Genovesi: não consegue estabelecer de forma radical a distinção entre a ciência
aristotélica e a ciência moderna; incapacidade de vislumbrar a incompetência da ciência
moderna por questões ontológicas; certo cientificismo11 que levaria ao desinteresse pela
Filosofia. Dessa forma, essas “questões não estavam ali para permitir que a cultura
portuguesa se renovasse no contato com autores modernos, mas para substituir as
antigas teses escolásticas por um novo dogmatismo” (Paim, 2008, p. 1).
c) A reforma pombalina do ensino superior português e o Iluminismo sertanejo:
Seminário de Olinda, Azeredo Coutinho e a filosofia das brenhas e dos sertões
Em Portugal, a Faculdade de Filosofia12, que na época englobava as ciências
naturais, e a Faculdade de Matemática, assumiram o caráter tipicamente moderno e
iluminista. Assim, os reformadores executaram as transformações:
Partindo de uma crítica incisiva ao espírito escolástico predominante
no período em que a universidade esteve sob o controle jesuítico;
desenvolvendo uma longa, minuciosa e contundente análise crítica da
ética de Aristóteles, os reformadores decidiram-se a transformar
radicalmente a tradicional universidade portuguesa. Para isso,
substituíram as disputas escolásticas e o ensino verbalístico pelos
estudos históricos nas Faculdades de teologia, de Direito e de
Cânones; em lugar do método de ensino baseado no estudo livresco
expresso nos comentários dos tratados antigos, introduziram o método
experimental, valorizando o contato entre os alunos e doentes dos
hospitais públicos nos cursos de medicina e instalando laboratórios de
física e química associados a instrumentos científicos para
demonstração prática (Saviani, 2007, p.93).
11
Paim chama a atenção para o fato de que a redução da filosofia à ciência já remontava a Verney: “Na
Carta Oitava afirmara: ‘Eu suponho que a Filosofia é conhecer as coisas pelas suas causas; ou conhecer a
verdadeira causa das coisas. Esta definição recebem os mesmos Peripatéticos, ainda que eles a explicam
com palavras mais obscuras. Mas, chamem-lhe como quiserem, vem a significar o mesmo [...]: saber qual
é a verdadeira causa que faz subir a água na seringa é Filosofia; conhecer a verdadeira causa por que a
pólvora, acesa em uma mina, despedaça um grande penhasco é Filosofia; outras coisas a esta semelhante,
em que pode entrar a verdadeira notícia das causas das coisas, são filosofia’” (Paim, 1984, p. 235).
12
“O curso tinha a duração de quatro anos e era constituído por quatro cadeiras, frequentadas, pela ordem,
uma em cada ano: filosofia racional e moral, história natural, física experimental e química teórica e
prática. No segundo ano os alunos deviam seguir, juntamente com história natural, as aulas de geometria
elementar na Faculdade de Matemática” (Saviani, 2007, p. 92).
33
A Reforma da Universidade de 1772, fiscalizada por Pombal, requeria a
obrigatoriedade de que o conhecimento fosse baseado no método newtoniano e nas leis
da natureza. Assim, essa Reforma
Introduziu na Universidade as novas Faculdades de Matemática e
Filosofia, incumbidas de formas naturalistas, botânicas,
mineralogistas, metarlugistas, enfim, homens familiarizados com a
ciência de seu tempo, dirigindo tais conhecimentos para a aplicação. A
orientação utilitária vigente na reforma dos cursos completa-se pela
criação das seguintes instituições: Horto Botânico; Museu de História
Natural; Teatro de Filosofia Experimental (Gabinete de Física);
Laboratório de Química; Observatório Astronômico, Dispensário
Farmacêutico e Teatro Anatômico. É importante assinalar que a
ciência assim entendida devia estar voltada para o ideal de promover
novo período de apogeu e riqueza para Portugal (Paim, 1985, p. 2627).
Contudo, ressalta Saviani (2007), a reforma da Universidade de Coimbra, ao
incorporar o progresso das investigações empíricas no campo da medicina, da filosofia e
da matemática, bem como os avanços do método histórico, hermenêutico e crítico na
Teologia e no Direito, correspondia aos propósitos políticos do governo de Dom José I.
Uma questão central foi a tentativa de conciliação entre os interesses da Igreja e os do
Império.
Era necessário evitar que os jesuítas identificassem quaisquer indícios
doutrinários contrários à fé católica na adesão iluminista do governo, na qual fé e
religião se subordinavam ao poder secular. Para tanto, foi criada a Real Mesa Censória
para substituir o Conselho Geral do Santo Ofício na censura e publicação dos livros.
Dessa forma, a Inquisição foi secularizada e se respaldou a reforma dos Estatutos da
Universidade de Coimbra.
Essa conciliação entre Governo e Igreja exigiu um tipo de filosofia que
abarcasse certo relativismo, e foi justamente a filosofia eclética que se ajustou a essa
realidade política:
Evitando as consequências mais radicais do pensamento iluminista, a
‘Junta da Providência Literária’ inclinou-se para o ecletismo,
conforme se pode ler no livro II [...] dos estatutos, onde se considerou
não haver qualquer sistema filosófico que o professor “inteiramente
subscreva na exploração e demonstração das leis naturais: antes pelo
contrário a filosofia que ele deverá seguir será precisamente a
eclética” [...]. O componente da filosofia eclética possibilitou, assim,
ao pombalismo erigir-se como o Iluminismo real e historicamente
possível em terras lusitanas (Saviani, 2007, p. 95).
34
Contudo, no período pombalino, a busca de harmonizar fé e ciência não se
radicalizou em favor do empirismo13. Da mesma forma, apesar do rompimento com os
jesuítas e de sua expulsão, não houve uma ruptura definitiva com a Igreja. Assim,
Sob Pombal, a questão dos vínculos entre a religião católica e a física
aristotélica foi resolvida com base na tese de Verney de que a doutrina
dos Santos Padres não podia ficar na dependência de uma obra, a de
Aristóteles, que não era de seu conhecimento. Vale dizer: a física
peripatética não foi refutada. Algo de semelhante ocorre com a ideia
de riqueza, que não se podia conciliar com o conjunto que constituía a
Contra-Reforma e com a qual o Marquês de Pombal não desejava
romper. A luta com a Igreja esgotou-se com a expulsão dos jesuítas e
o posterior fechamento da Ordem pelo Papa. Com o afastamento de
Pombal, em 1772, voltam a estreitar-se os vínculos entre a monarquia
portuguesa e a Cúria Romana. Mas não se renunciou ao ideal de
riqueza nem à crença de que a ciência seria o instrumento hábil para
conquista-la. Apenas a riqueza se entende como do Estado e não dos
cidadãos. Tampouco se revoga o princípio em que fôramos educados,
durante séculos, segundo o qual mais fácil é passar um calabre pelo
fundo de uma agulha que entrar um rico no Reino do Céu (Paim,
1985, p. 28-29).
Ou seja, em Portugal, a reação contra a escolástica não foi um movimento
burguês para acompanhar o espírito do século que venerava a razão e a ciência como
grandes conquistas humanas, pois ela própria já nascera limitada ao ter surgido
amparada pelo absolutismo monárquico. Assim, quando D. José I morreu, em 1777, e
iniciou a Viradeira de D. Maria I, o máximo que a renovação simbolizada por Verney
alcançou foi a adotação do empirismo mitigado de Antônio Genovesi, sem os devidos
avanços políticos liberais presentes no empirismo clássico inglês (Cf. Paim, 1984, p.
231). Daí a necessidade de uma filosofia eclética.
De qualquer forma, em 1759, com a expulsão dos jesuítas, tanto em Portugal
como no Brasil, o Estado assume a educação e realiza concursos, libera ou censura a
literatura a ser utilizada e estabelece as aulas régias no lugar das aulas ministradas pelos
jesuítas: “Eram aulas avulsas de latim, grego, filosofia e retórica. Os professores
(certamente formados pelos jesuítas) ministravam aulas, em geral em suas casas, e
recebiam do Estado para tal” (Ghiraldelli, 2009, p. 4). O desatrelamento da estrutura de
ensino das rédeas dos jesuítas e a assunção do Estado na condução educacional não deixa de ser
um avanço político dentro dos moldes da modernidade, apesar de pífio e conveniente ao poder.
13
Para se ter uma ideia da posição conciliatória do governo português, Paim relembra que a censura
efetuada pela Real Mesa Censória proibiu, em 1768, “a venda, no original ou em tradução, do Ensaio
sobre o entendimento humano, de Locke” (Paim, 1984, p. 221).
35
Por aqui, a implantação das aulas régias ocorreu de forma lenta, em meio às
grandes resistências e ausência de recursos financeiros. Depois da criação do imposto
destinado a esse fim, chamado de subsídio literário, houve um incremento no
estabelecimento dessas aulas. Mas, somente em 1777, no Reinado de Dona Maria I,
ocorreu, de fato, uma maior expansão no número das aulas avulsas. A explicação mais
plausível para esse aumento foi o retorno dos religiosos como professores ao ensino.
Contudo, as aulas régias tiveram uma expansão maior ainda no reinado de Dom João
VI, quando este substituiu sua mãe Dona Maria I, acometida de demência, e retomou o
projeto pombalino de reformismo ilustrado, em 1792.
Contudo, “o funcionamento das aulas régias não impediu os estudos nos
seminários e colégios das ordens religiosas, tendo sido, inclusive, criadas algumas
dessas instituições no espírito das reformas pombalinas” (Saviani, 2007, p. 108). Nesse
sentido, três instituições se destacam nas últimas décadas do século XVIII: Convento de
Santo Antônio do Rio de janeiro, onde os franciscanos organizaram cursos de Filosofia
e Teologia; Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, mais conhecido como
Seminário de Mariana; Seminário de Olinda. Esses estabelecimentos seguiam os moldes
iluministas dos Estatutos da Universidade de Coimbra e preparavam leigos e religiosos
para os estudos superiores em Portugal. Eles foram representativos também quanto ao
papel na formação intelectual de várias gerações.
Aqui damos destaque ao Seminário de Olinda por representar, para vários
estudiosos, uma das melhores escolas secundárias do Brasil da época, bem como devido
à sua importância na absorção das diretrizes da filosofia iluminista norteadora da
reforma pombalina.
O Seminário de Olinda, que orientava seu ensino pelas ideias das reformas
pombalinas presentes, especialmente, em O verdadeiro método de estudar, de Verney,
foi fundado em 1800, pelo bispo da Igreja Católica Azeredo Coutinho, formado pela
Universidade de Coimbra. Contrapunha-se, portanto, às ideias religiosas e, baseado nas
ideias laicas inspiradas no Iluminismo, defendia o direcionamento do Estado na
educação. Seus estatutos buscavam ensinar não uma ciência universal, mas princípios
elementares, adequados aos padres e aos leigos para uma formação de cidadãos
indagadores da Natureza:
Por isso o Plano de Estudos concedia um espaço importante para a
filosofia na qual ocupava lugar especial a filosofia natural, com os
estudos de física experimental, história natural e química. Tudo isso
36
presidido por um espírito primordialmente prático, afastando-se do
caráter especulativo de que se revestia o ensino jesuítico de filosofia
(Saviani, 2007, p. 110).
Azeredo Coutinho, politicamente tradicionalista, a favor do absolutismo e da
escravidão, foi estudioso de Economia Política, área na qual publicou alguns livros. Em
1794 foi nomeado bispo de Olinda, aonde chega em 1798 “para tomar posse de sua
diocese trazendo consigo, já impressos, os Estatutos do Recolhimento de Nossa Senhora
da Glória, educandário para moças que fundará em Recife, e do Seminário Episcopal de
Nossa Senhora da Graça, que será conhecido como o Seminário de Olinda” (Saviani,
2007, p. 110).
Para Azeredo Coutinho, o padre14 deveria se formar simultaneamente em
sacerdote e filósofo da natureza e por isso acrescentou os estudos eclesiásticos aos
estudos das ciências naturais nos estatutos do Seminário de Olinda. Para ele, o filósofo
naturalista deveria deixar de ser somente um homem de gabinete, tornar-se um homem
prático para complementar e enriquecer o conhecimento limitado do homem silvestre e
ignorante, pois:
Os produtos da natureza encontram-se em lugares inóspitos, nas
brenhas, aonde o filósofo naturalista nunca vai, ou só vai de passagem
[...]. Portanto, para se ter a pessoa adequada à descoberta dos tesouros
da natureza, seria preciso que o habitante das brenhas e dos sertões
fosse filósofo ou que o filósofo habitasse as brenhas e os sertões. Ora,
conclui Azeredo Coutinho: ‘o ministro da religião, o pároco do sertão
e das brenhas, sábio e instruído nas ciências naturais é o homem que
se deseja’ [...] (Saviani, 2007, p. 112).
Contudo, é necessário enfatizar que, politicamente, o resultado obtido na
formação dos seus alunos foi contraditório, pois, apesar de visar o fortalecimento do
reino português unificado sob a bandeira de um déspota esclarecido, o Seminário de
14
“Esse pároco que por ofício, vai à procura de suas ovelhas percorrerá caminhos nunca trilhados,
examinará diretamente os mais diversos produtos da natureza em todas as estações do ano: ‘o animal, o
mineral, o vegetal, a planta, a raiz, a flor, o fruto, as sementes, tudo será analisado’ [...]. Conhecerá, pelas
experiências dos paroquianos sertanejos, os poderes medicinais das ervas silvestres que ele, versado nas
ciências naturais e no desenho, descreverá e desenhará; conhecedor dos princípios da mineralogia, ele
detectará as minas e os mais diversos metais como a prata, o ouro e o ferro, ‘esse metal indispensável para
os trabalhos da lavoura e da escavação das minas’ [...]; instruídos na sabedoria dos químicos, dos
hidráulicos e dos geômetras, analisará e decomporá os fenômenos da natureza extraindo os sais,
identificando as águas termais e ensinando a abrir canais, a controlar, represar e conduzir as águas até as
lavouras; como sábio físico conhecedor das leis mecânicas ensinará a potencializar a força humana por
meio das máquinas; e ‘como geógrafo inteligente, ele descreverá a extensão da sua paróquia, não só
quanto às suas confrontações e dimensões, mas também quanto à natureza de que é, ou não, capaz o seu
terreno e o para que é mais ou menos próprio’ [...]” (Saviani, 2007, p. 112).
37
Olinda também formou republicanos e se tornou um centro que abrigou a liderança da
revolução pernambucana de 1817 na luta por um Brasil independente e republicano (Cf.
Saviani, 2007, p. 113).
No Brasil, a reforma pombalina, com seu aporte filosófico iluminista, resultou
na formação de numerosos naturalistas, com reconhecimento na Europa como, por
exemplo, José Bonifácio de Andrada e Silva e Alexandre Rodrigues Ferreira, além de
constituir uma elite formada com uma nova mentalidade que, posteriormente, inspiraria
nossa formação cultural. Isso ocorreu no Brasil Metrópole, principalmente, quando da
transferência da família real e Dom João VI para o Rio de Janeiro, no qual foi
construído um conjunto de instituições voltadas para a ciência aplicada, aos mesmos
moldes de Portugal (Cf. Paim, 1985).
A reforma pombalina tenta modernizar a sociedade brasileira com a inserção dos
parâmetros científicos exatos, mas não o faz com relação à política, pois os
pensamentos filosóficos liberais que caracterizavam a Europa da época não foram
contemplados nessa modernização:
Toda a questão resume-se na conciliação que se buscou estabelecer
entre eliminação da Escolástica, entronização da ciência e exaltação
da riqueza, de um lado, com a manutenção, de outro lado, de doutrinas
e instituições como a monarquia absoluta e a defesa da origem divina
do poder do monarca; o monopólio estatal de numerosas atividades
econômicas e as doutrinas mercantilistas, entre outras, que
conflitavam abertamente com o propósito de incorporar a
modernidade, expresso na mudança de posição em face da ciência
(Paim, 1985, p. 27).
Tratava-se de inserir os aspectos modernos da Ciência, mas preservando o
tradicionalismo ético, político e econômico, bem como rechaçando a filosofia com a
condenação da Escolástica e da Metafísica. Ou seja, foi modernizado somente o que
beneficiava a Monarquia. O ideal de produção foi perseguido, assim como a crença na
ciência, mas na perspectiva de que “a ciência seria o instrumento hábil para conquistála. Apenas a riqueza se entende como do Estado e não dos cidadãos” (Paim, 1985, p.
29).
2.3. O surgimento da matriz filosófica Eclética Espiritualista no Período joanino
O último período da fase colonial do Brasil é marcado pela vinda da família real,
1808, em fuga das tropas napoleônicas e liderada pelo príncipe regente Dom João de
Bragança, que se tornará, em 1816, o rei Dom João VI. Este período ficou conhecido
38
como joanino. Saviani (2007, p. 113) afirma que “nessa nova fase as ideias pedagógicas
oriundas do pombalismo continuaram inspirando as iniciativas de Dom João, ainda que
sua motivação principal tenha sido de caráter administrativo”, pois havia a necessidade
de formar quadros para administrar e defender militarmente o reino que transferiu sua
sede para o Rio de Janeiro.
A formação dessa mão-de-obra ocorreu a partir da criação de cursos organizados
nos moldes das aulas régias. Os cursos criados foram eminentemente técnicos:
Assim, já em 1808 foi criada a Academia Real de Marinha e, em
1810, a Academia Real Militar, destinadas a formar engenheiros civis
e militares. Também em 1808 foram instituídas a aula de cirurgia na
Bahia e de cirurgia e anatomia no Rio de Janeiro, organizando-se, em
1809, a aula de medicina, cujo objetivo era formar médicos e
cirurgiões de que necessitavam o Exército e a Marinha. Ainda em
1808 surgem, na Bahia, as aulas de economia. Em 1812 temos a
escola de serralheiros, oficiais de lima e espingardeiros em Minas
Gerais, de agricultura e de estudos botânicos na Bahia e o laboratório
de química no Rio de Janeiro, onde também foi criada em 1814 a aula
de agricultura. Em 1817 surge o curso de química que englobava as
aulas de química industrial, geologia e mineralogia e em 1818 o de
desenho técnico, ambos na Bahia (Saviani, 2007, p. 113).
Azevedo (1958, p. 71) afirma que, apesar de todos os seus limites, a fase joanina
representa um marco de superação completa e radical do programa escolástico e
literário do período colonial, mesmo que impelido tão somente pelo cuidado de
utilidade prática e imediata.
a) Silvestre Pinheiro Ferreira (1769 / 1846)
O entusiasmo prático, inspirado pela vertente filosófica empirista, não teve
equivalência nas teorias filosóficas que rondavam a intelectualidade da época.
Contraditoriamente, a matriz filosófica que teve mais expressão nesse período buscava
questionar os limites e obstáculos do empirismo mitigado. Pode-se até afirmar que é um
momento de transição do empirismo mitigado para o ecletismo espiritualista. Silvestre
Pinheiro Ferreira foi um dos representantes desse período:
Coube a esse pensador, no plano teórico, conceber um sistema
filosófico que permitisse à cultura luso-brasileira integrar-se à Época
Moderna e superar as insuficiências do empirismo mitigado. No plano
prático, foi incumbido de realizar o trânsito da monarquia absoluta
para a constitucional, como chefe do último governo de D João VI no
Brasil. Mais tarde radicado em Paris, tornou-se, em seu tempo, um dos
principais teóricos europeus do liberalismo político (Paim, 1985:33).
39
Silvestre Pinheiro Ferreira nasceu em Portugal, teve formação seminarista, foi
professor de filosofia na Universidade de Coimbra, tornou-se diplomata e exerceu várias
funções pela Europa. Em 1810 vem para o Brasil, onde retoma a condição de professor
de filosofia. Suas aulas foram editadas com o título de Preleções Filosóficas15 e traziam
uma concepção geral de suas ideias. Em 1821, torna-se chefe de governo, pastas do
Exterior e da Guerra. Retorna com o monarca a Portugal, deixando o governo logo em
seguida, devido à tendência absolutista do Governo. Exila-se voluntariamente em Paris
e, aos 73 anos, volta a Portugal para aí morrer, em 1846.
Segundo Paim (1985, p. 34), para Silvestre Pinheiro Ferreira, o direito
constitucional, como na época se chamava o liberalismo político, fazia parte de um
amplo sistema filosófico. Defensor das causas liberais, já no fim de sua vida em Paris
estudou, comentou e criticou as constituições brasileira e portuguesa. Em 1834,
publicou uma síntese de suas ideias no Manual do cidadão em um governo
representativo, em três tomos. Em 1826, também no período parisiense, elaborou Essai
sur la psychologie, que mais tarde resumiria no compêndio Noções elementares de
filosofia geral e aplicada às ciências morais e políticas: ontologia, psicologia e
ideologia, em 1839.
Com essa produção bibliográfica, Silvestre Pinheiro tentou resgatar a filosofia da
prisão do conhecimento positivo da natureza, efetuado por Verney, que, ao tentar se
contrapor ao verbalismo escolástico da cultura portuguesa, acaba por fechar a filosofia
num âmbito cientificista, no qual a moral e a política ficavam a margem. Para Silvestre,
Verney teria radicalizado a importância do conhecimento prático e científico e
sufocado, dessa maneira, o mérito das coisas do espírito. Dessa forma, relata Paim
(1985, p. 34):
Luís Antônio Verney escrevera que “saber qual é a verdadeira causa
que faz subir a água na seringa é filosofia”. A partir dessa concepção é
que a Faculdade de Filosofia, criada na Universidade renovada, iria
dedicar-se à formação de naturalistas, botânicos, mineralogistas,
enfim, homens voltados para o conhecimento das condições
adequadas de exploração das riquezas naturais.
Compreende-se que Verney pretendera exaltar o conhecimento
positivo da natureza, em contraposição ao verbalismo da cultura
portuguesa. Mas de semelhante entendimento resultava o
15
“As aulas de Silvestre Pinheiro Ferreira, durante largo período, constituíram o único texto filosófico,
em português e atualizado, ao alcance dos que, porventura, se viessem a interessar pelo tema” (1984,
Paim, p. 255).
40
amesquinhamento da filosofia e o abandono do propósito de fundar a
Moral e a Política.
Silvestre Pinheiro Ferreira, consciente das novas urgências culturais do seu
tempo e na busca de ampliar o espaço de reflexão filosófica, concebe um sistema
grandioso que abrangia três grandes domínios: a teoria do discurso e da linguagem; o
saber do homem; e o sistema do mundo. Dessa forma, a filosofia não correria mais o
perigo de ser confundida com qualquer ciência particular e, assim, ocupar-se-ia dos
princípios gerais da ordenação do saber, sua verdadeira vocação16.
O balanço final que Paim (1985, p. 35) faz da importância da filosofia de
Silvestre Pinheiro Ferreira no Brasil pode ser condensado da seguinte forma:
[...] no seu afã de coerência e de harmonia sistemática, não logrou dar
uma solução plenamente satisfatória à questão da liberdade, que
chegou a adquirir enorme relevância quando se pretendia fosse o
liberalismo político parcela integrada no todo. Contudo, não apenas
apresentou, à intelectualidade da jovem nação em emergência, uma
opção superadora do empirismo mitigado, mas igualmente a conduziu
ao tema crucial da liberdade humana. Desse modo, preparou os
espíritos para a aceitação das ideias de Maine de Biran que tinham o
atrativo adicional de se terem formulado na busca da coerência do
empirismo e facultava uma solução nessa linha de pensamento. Por
tudo isto, a obra do grande filósofo português corresponde, no
pensamento brasileiro, ao momento de transição para o ecletismo
(Paim, 1985:35).
Paim (1984, p. 254) ainda afirma que esse estudioso foi “o primeiro pensador a
atacar frontalmente o empirismo mitigado, despreocupado da defesa da filosofia
tradicional, em nome da própria coerência do empirismo”. À filosofia restrita do
empirismo e confundida com ciência, contrapunha a ideia de filosofia como sistema. E
“graças a tudo isto e ao magistério de filosofia que exerceu no Rio de Janeiro, ao longo
da segunda década do século, lançou as bases para o debate dos temas modernos, que
iria empolgar parte da intelectualidade nas décadas de trinta e quarenta” (idem).
Inspirando, inclusive, a consciência filosófica e política brasileira da época no seu traço
conservador de índole liberal (idem, p. 275).
16
No entanto, afirma Paim (1984), “O pensador decidiu-se [...] por uma tarefa bem mais árdua. Lançou-se
a uma reformulação tomando como ponto de partida as ideias consolidadas pela tradição. Reinterpreta
Aristóteles segundo cânones empiristas e situa a Locke e Condillac como seu desdobramento natural.
Pretende harmonizá-los num sistema que tenha a grandiosidade da Escolástica, preserve as conquistas de
Verney e lhes assegure desenvolvimento coerente no plano ético. Enfim, não deseja interromper o diálogo
com o passado nem apresentar a modernidade como algo de chocante e inusitado. Semelhante objetivo
perseguiria durante cerca de quatro decênios, no magistério ou na política, em sua pátria ou fora dela” (p.
256).
41
Urge registrar aqui, também, a penetração do Kantismo em terras brasileiras.
Segundo Paim, “movidos pela mesma insatisfação que Silvestre Pinheiro Ferreira
manifestara em relação à filosofia dominante, intelectuais brasileiros são levados a se
interessar pelas ideias de Kant, no mesmo ciclo” (1985, p. 37). Tendo sido um dos
irmãos Andrada, Martins Francisco, o primeiro pensador brasileiro a trazer essas ideias
filosóficas alemãs para solo brasileiro.
3 - Império (1822-1889): entre o Ecletismo e o Cientificismo
Em 1823, alguns meses após a Proclamação da Independência, D. Pedro I
convocou a Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa, visando à reforma da
estrutura administrativa do novo país independente. Em todo o período imperial vai
predominar, em termos de orientação teórica e filosófica, o Ecletismo Espiritualista e,
em termos políticos, o reformismo. Somente a partir de 1870 é que o Ecletismo
Espiritualista começa a entrar em declínio, sendo substituído lentamente pelo
Positivismo que, por sua vez, vai permanecer influente no Brasil, até mesmo depois da
Proclamação da República, a qual serviu de fonte de inspiração. Tanto o Ecletismo
filosófico quanto o reformismo político eram extremamente convenientes à nova fase
política brasileira, ou seja, suas posições conciliatórias impediam o acirramento das
contradições políticas e econômicas.
Saviani (2007) relata que foi nesse contexto histórico e político que o Imperador
constatou a necessidade de se elaborar uma legislação especial sobre instrução pública,
até então inexistente no país. Para tanto, inicialmente foi promovido, pela Comissão de
instrução Pública da Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa, um projeto que
instituiria um prêmio para a melhor proposta de um “Tratado Completo de Educação da
Mocidade Brasileira”.
A proposta vencedora foi a de Martim Francisco, um dos irmãos Andrada,
inspirada quase que literalmente nas Cinco memórias sobre instrução pública, um livro
de 1791, de autoria de Condorcet, tido como um dos últimos filósofos iluministas da
França. Conforme Saviani, a preferência por esse projeto foi expressiva:
Como se vê, a concepção laica de escola, na forma como começava a
ser formulada pela burguesia triunfante, tendeu a ser apropriada pela
elite que esteve à testa do processo de independência e da organização
do Estado brasileiro, ajustando-a, porém, às peculiaridades dessa
situação particular. E o recurso a Condorcet não deixa de ser
42
significativo, pois é, com certeza, nele que encontramos a expressão
mais elaborada da íntima relação entre Estado e escola na perspectiva
liberal (2007, p. 121).
Condorcet, a partir do âmbito iluminista, defende que a instrução é necessária para
o bom exercício da liberdade e constitui a possibilidade de evitar os erros. O
conhecimento através da instrução é que legitima a decisão e justifica a submissão do
homem a ela. Assim, o indivíduo esclarecido, ao delegar suas decisões em assembleias,
terá maior possibilidade de acerto. É isso que respalda a independência de um povo
soberano e possibilita a autonomia do indivíduo. Em outras palavras, a ignorância não
promove a independência.
Contudo, tanto a proposta de Martim Francisco quanto o projeto de elaboração
de uma política de instrução pública para o Brasil foram postos de lado. A Assembleia
Constituinte e Legislativa foi dissolvida por Dom Pedro I, em novembro de 1823. Em
março de 1824, o imperador outorgou a primeira Constituição do Império do Brasil,
que, sobre a educação, afirmava tão somente que “a instrução primária é gratuita a todos
os cidadãos”.
A discussão sobre o problema nacional da instrução pública foi retomada em
1826, quando da reabertura do Parlamento. O projeto que teve mais adesão dos
parlamentares era também respaldado pelas ideias iluministas de Condorcet. Mas, da
mesma forma que o anterior, esse projeto também não foi adiante. Afinal, o projeto de
instrução pública que vigorou foi o da criação de “Escolas de Primeiras Letras”
resultante da lei de 15 de outubro de 1827:
Essa primeira lei de educação do Brasil independente não deixava de
estar em sintonia com o espírito da época. Tratava ela de difundir as
luzes garantindo, em todos os povoados, o acesso aos rudimentos do
saber que a modernidade considerava indispensáveis para afastar a
ignorância (Saviani, 2007, p. 128) 17.
17
Quanto ao currículo da Escola de Primeiras Letras, prossegue Saviani: “O modesto documento legal
aprovado pelo Parlamento brasileiro contemplava os elementos que vieram a ser consagrados como o
conteúdo curricular fundamental da escola primária: leitura, escrita, gramática da língua nacional, as
quatro operações de aritmética, noções de geometria, ainda que tenham ficado de fora as noções
elementares de ciências naturais e das ciências da sociedade (história e geografia). Dada a peculiaridade
da nova nação, que ainda admitia a Igreja católica como religião oficial e estava empenhada em conciliar
as novas ideias com a tradição, entende-se o acréscimo dos princípios da moral cristã e da doutrina da
religião católica no currículo proposto” (Saviani, 2007, p. 128). Pela lei de 1827 também é adotado por
decreto o método de ensino mútuo ou monitorial criado pelo pedagogo Lancaster e que tinha o objetivo
de colocar estudantes na atividade de professores, que por sua vez eram responsáveis pelo custeio de sua
própria formação pedagógica.
43
Essa lei, contudo, não obteve êxito nos seu objetivo de instalar escolas
elementares em todas as cidades, vilas e lugares de grande população, inviabilizando
uma política que poderia ter frutificado em um sistema nacional de instrução pública.
Em 1934, foi feita uma reforma na qual “o ensino elementar, o secundário e o de
formação de professores foram descentralizados, passando para a iniciativa e
responsabilidade das províncias” (Aranha, 2006, p. 223). A descentralização do ensino,
promovida por essa reforma, atribuiu também à Coroa a função de promover e
regulamentar o ensino superior. Assim, a educação da elite ficou a cargo do poder
central e a do povo confiada às províncias, assevera Aranha (2006).
No entanto, afirma Aranha, com relação ao ensino secundário, o que de fato
ocorreu foi uma pseudodescentralização:
[...] pois em 1837 foi fundado no Rio de Janeiro o Colégio D. Pedro
II, que ficou sob a jurisdição da Coroa. Destinado a educar a elite
intelectual e a servir de padrão de ensino para os demais liceus do
país, esse colégio era o único autorizado a realizar exames parcelados
para conferir grau de bacharel, indispensável para o acesso aos cursos
superiores (Aranha, 2006, p. 224).
Dessa forma, pode-se inferir que o descaso com a educação elementar da
população brasileira, fruto de uma política elitista, foi uma das razões que impediram a
absorção das ideias liberais e iluministas de Condorcet por duas vezes seguidas. A
noção iluminista de escola pressupunha a distribuição das Luzes por todos os habitantes
de um país, o que não podia se realizar com a “descentralização” acima referida que, na
verdade, era uma regra que não valia para o custeio do colégio que formava a elite do
país, o colégio secundário Pedro II.
A mesma restrição à distribuição das luzes a alguns poucos cidadãos ocorre com
relação aos escravos negros, conforme reflexão de Saviani (2007), referindo-se ao
Regulamento para a reforma do ensino primário e secundário do Município da Corte,
instituído pela Reforma Couto Ferraz de 1854:
Se as ditas luzes deveriam derramar-se a todos os habitantes, deve-se
entender que se restringia a todos os habitantes ‘livres’, pois os
escravos estavam explicitamente excluídos, já que, nomeados no
parágrafo 3º do artigo 69, estavam entre aqueles que ‘não serão
admitidos à matrícula, nem poderão frequentar as escolas’ (Saviani,
2007, p. 132).
Todo esse quadro nos oferece a compreensão dos limites políticos que
caracterizou o período imperial. As posições liberais eram aceitas pela metade, segundo
44
as conveniências do poder imperial; as bandeiras iluministas eram aceitas e acatadas,
mas somente para a parte rica da população. Daí, então, o Ecletismo Espiritualista ter
encontrado forte aceitação nos círculos intelectuais da elite política e educacional dessa
época, haja vista que a sua capacidade de reunir elementos diferenciados sob um mesmo
matiz viabilizava a conciliação necessária aos interesses políticos e econômicos do
império.
3.1. A matriz filosófica Eclética Espiritualista do Império
As reflexões filosóficas associadas à prática docente e política de Silvestre
Pinheiro Ferreira, de certa forma, prepararam o terreno da corrente filosófica do
Ecletismo Espiritualista. No Brasil, esse pensador português representa um período de
transição do Empirismo Mitigado para o pensamento espiritualista eclético, estruturado
nas décadas de 1830 e 1840, dominante na década de 1850 e predominante até 1870,
época em que começou a ser contestado pelos líderes da Escola do Recife, com base no
pensamento Positivista.
A base inspiradora do pensamento eclético foi a filosofia de Victor Cousin,
professor de filosofia na Escola Normal de Paris desde 1814, filósofo oficial do reinado
de Luiz Filipe (1830-1848), reitor da universidade e ministro da Instrução Pública.
Quanto ao seu pensamento filosófico, Paim elucida sua busca de mediação entre o
empirismo e o idealismo:
Cousin parte da necessidade de empregar, na filosofia, os métodos da
observação e da experimentação, segundo o espírito do século.
Recusa, não obstante, as conclusões do sensualismo e,
simultaneamente, a possibilidade de uma intuição direta do absoluto,
afirmada pela filosofia alemã. Quer uma observação interior que
conduza ao estabelecimento de leis tão rigorosas como as formuladas
pela física (Paim, 1984, p. 285).
Da mesma forma, Paim ressalta a influência hegeliana no pensamento
cousianiano: “Cousin manteve relações pessoais com Hegel e foi por este influenciado,
compartilhando da opinião do filósofo alemão de que a história da filosofia
representaria etapas na formação do espírito” (Paim, 1984, p. 286).
No Brasil, o Ecletismo Espiritualista foi adotado como filosofia oficial no
Colégio Pedro II e, por isso, tornou-se obrigatório nas demais instituições de ensino
secundário e nos cursos anexos de faculdades, com a adesão de professores e de
45
intelectuais como Mont’Alverne e Gonçalves de Magalhães no Rio de Janeiro, Eduardo
Ferreira França na Bahia e Antonio Pedro de Figueiredo em Pernambuco (Cf. Saviani,
2007, p. 118)
Para Paim, “o ecletismo consiste na primeira corrente filosófica rigorosamente
estruturada no país, tendo logrado ganhar a adesão da maioria da intelectualidade e
manter uma situação de domínio absoluto da década de quarenta à de oitenta do século
passado” (Paim, 1985, p. 40). Mais especificamente de 1830 a 1880. Ou seja,
praticamente atravessa todo o período imperial. Paim divide o ecletismo em três
períodos: formação; apogeu; declínio e superação.
O período de formação é situado no período de 1833 a 1848. As duas figuras
marcantes na formação da escola eclética foram Salustiano Pedrosa e Domingos
Gonçalves Magalhães. Como a maioria, eles estudaram na França e eram discípulos de
Cousin. Salustiano Pedrosa era baiano e publicou dois livros, Esboço de história da
filosofia, de 1845, e Compêndio de filosofia elementar, de 1846. Domingos Gonçalves
de Magalhães, nasceu no Rio de Janeiro, e teve como sua obra mais significativa Fatos
do espírito humano.
Outros nomes importantes desse período foram Frei José do Espírito Santo,
franciscano da Bahia, foi o primeiro a difundir as ideias da escola eclética; Pedro de
Figueiredo que traduziu o curso de História da filosofia moderna, de Victor Cousin,
publicado em 1843 (vol. I) e 1844 (vol. II e III), em Recife; Eduardo Ferreira França e
seu marcante livro Investigações psicológicas de 1845; Monte Alverne e seu livro
Compêndio de filosofia, escrito em 1833.
No ciclo de formação do Ecletismo Espiritualista, ocorre animado debate
filosófico entre naturalistas e espiritualistas, e a busca da solução conciliatória do
problema da liberdade conquista a maioria da elite intelectual (Cf. Paim, 1985, p. 40).
Eduardo Ferreira França encabeça essa discussão e acrescenta as reflexões de Maine de
Biran18 ao pensamento de Cousin:
18
“Ao caracterizar como fato primitivo da consciência ao esforço voluntário – decorrente da iniciativa do
sujeito, sem que haja sido instado por estímulos externos – e assim se apreender como causa e como
liberdade, o espiritualismo eclético punha na balança um argumento que então se considerava como
correspondendo plenamente às exigências da observação científica. Como Biran nunca se propusera
refutar o empirismo, mas apenas torná-lo coerente, introduzia-se a psicologia no caminho da ciência
moderna. A afirmativa da realidade espiritual se fazia incorporando as conquistas da Época Moderna e, ao
mesmo tempo, ampliando o campo de aplicação do que se entendia como a metodologia de eficácia
comprovada. É certo que a passagem do que se poderia denominar, contemporaneamente, de capacidade
do espírito humano de criar sínteses ordenadoras do real, a exemplo da ideia de causalidade, para a
46
Na Bahia, na década de quarenta, à luz dos debates então travados,
entre os que tudo pretendiam explicar pela economia animal, e os que
não viam outra realidade além do espírito, é que descobre a obra de
Maine de Biran e elabora trabalho substancioso para evidenciar que o
aprofundamento da perspectiva empirista conduz a descoberta do
espírito e à fundamentação da liberdade. Seu livro – Investigações de
psicologia (1854) – corresponde a uma síntese magistral desse
momento de grande efervescência do debate filosófico em nosso país
(Paim, 1985, p. 41).
O debate filosófico suscitado pelo ecletismo espiritualista se deu em uma
circunstância política de ascensão do liberalismo moderado “dando início, no começo
dos anos quarenta, à reforma política que iria pôr fim ao ciclo das revoluções armadas”
(Paim, 1985, p. 44). Na Bahia, no início da década de quarenta do século XIX, essa
efervescência cultural, dada à flexibilidade política, possibilitou a fundação de várias
agremiações: Sociedade Instituto Literário, Sociedade Instrutiva e Sociedade Filosófica.
O debate filosófico dessa época sobre o ecletismo também foi acirrado pelo
aparecimento de vários periódicos: O Musaico, Periódico Mensal da Sociedade
Instrutiva da Bahia; O Crepúsculo, Periódico Instrutivo e Moral da Sociedade Instituto
Literário da Bahia. No Rio de Janeiro, a Revista Minerva Brasiliense, de 1845, teve
presença marcante. Em Recife fez sucesso outra revista, O Progresso, comandada por
Antônio Pedro de Figueiredo em 1848.
Para Paim, os ecléticos impulsionaram um animado debate filosófico, levando
uma novidade que os credenciou a granjear amplas adesões, até mesmo entre aqueles
que os hostilizavam. O que os ecléticos brasileiros traziam de novo não era tanto a
reflexão sobre a supremacia da ciência, mas sim como conciliar a liberdade na condição
empírica do homem:
A questão para o pensamento brasileiro não consistia no
reconhecimento da ciência, que se efetivara desde Pombal e até se vira
colocada numa posição hegemônica, equiparável à que desfrutara a
filosofia escolástica. O problema consistia em integrar a liberdade e
assim incorporar o liberalismo político num sistema empirista
coerente (Paim, 1985, p.46).
afirmativa da possibilidade de demonstrar racionalmente a existência da divindade não chega a ser
satisfatoriamente equacionada na filosofia de Cousin, mas essa dificuldade somente iria aparecer no ciclo
posterior de ascendência e maturidade da escola. No momento que se considera, sobressaía a integração
numa doutrina harmônica, dos momentos- afirmação do espírito e afirmação da ciência.” (Paim, 1985, p.
47).
47
O período de apogeu do Ecletismo Espiritualista se situa entre 1850-1880 e
corresponde à sua posição como filosofia oficial, tornada obrigatória no colégio Pedro II
e nos liceus estaduais. A sua posição é de prestígio inconteste no seio da
intelectualidade e da elite política (Cf. Paim, 1985, p. 48). Assim se refere Paim a esse
período e ao seu novo objeto de reflexão, a moral:
[...] nessa fase de maturidade, a problemática em discussão sofre
alteração significativa. Os pensadores ecléticos passam a colocar em
primeiro plano o problema da moral, que Biran não resolvera de forma
satisfatória e permanecia como um desafio para o espiritualismo em
seu conjunto, inclusive os intentos de restauração da escolástica.
Precisamente essa circunstância faz sobressair a importância do livro
Fatos do Espírito Humano (1885), de Gonçalves de Magalhães, logo
traduzido ao francês e recebido em Paris como contribuição relevante
à solução do problema que a todos preocupava (Paim,1985, p. 41).
Assim, no ciclo de apogeu, nas discussões filosóficas, o tema do conhecimento
perde posição para a busca dos fundamentos da moral. Para Pedro de Figueiredo, por
exemplo, é fundamental a problemática ético-política, apoiada no historicismo
cousiniano de inspiração hegeliana:
A estrada gloriosa do progresso, que a Época Moderna abriu à
humanidade, encontra seus fundamentos na circunstância de que se
trata de simples desabrochar do que estava em germe na mensagem
cristã. É um projeto de cunho pedagógico a serviço do aprimoramento
dos homens e da convivência social (Paim, 1985, p. 51).
Outro aspecto importante do período do Ecletismo Espiritualista para a cultura
brasileira é o que Roque Spencer Maciel de Barros chama no título de seu livro: A
significação educativa do romantismo brasileiro: Gonçalves de Magalhães. O
romantismo literário que acompanha o período eclético representou a consciência crítica
de uma nacionalidade nascente. Segundo Maciel de Barros, os românticos teriam sido
os educadores de uma consciência nacional, que existia mais como aspiração do que
como realidade. Tratava-se da construção de uma nacionalidade que era suprimida pela
assunção de ideias e sentimentos estrangeiros. Mais que uma tarefa política e
econômica, era também uma obra espiritual e um trabalho de formação, “que é obra de
poetas, de literatos e de ‘filósofos’, e tanto quanto de estadistas, e que tem, antes e
acima de tudo, um sentido eminentemente ‘pedagógico’, no mais alto significado dessa
expressão” (Paim, 1985, p. 52). Nessa perspectiva, Magalhães se dispunha “a lançar os
alicerces de uma forma nacional de sentir, de querer e de pensar” (Paim, 1985, p. 52).
48
a) Colégio Pedro II: a hegemonia da corrente eclética espiritualista
Em 1837, é instalado o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, voltado para a
formação das elites dirigentes do país e, como tal, oferecia um ensino de cunho
universalista, literário e enciclopédico, com alguma concessão aos estudos científicos.
Dessa forma, os estadistas do Império, inspirados no bacharelismo e “penetrados de
cultura europeia” criaram um instituto de ensino secundário aristocrático, afastado das
questões práticas da ciência e da vida prática, com o intuito de servir “como um
instrumento de seleção e de classificação social” (Cf. Azevedo, 1958, pp. 78-80).
Segundo Azevedo, essa educação elitista correspondia perfeitamente à estrutura
social de então, marcada fortemente pelas diferenças econômicas:
Essa educação de tipo aristocrático, destinada antes à preparação de
uma elite do que à educação do povo, desenvolveu-se no Império,
seguindo, sem desvio sensível, as linhas de sua evolução, fortemente
marcadas pelas tradições intelectuais do país, pelo regime de
economia patriarcal e pelo ideal correspondente de homem e de
cidadão. O tipo de cultura a que se propunha servir, não se explica
apenas pela tradição colonial. De fundo europeu, que de certo modo o
preparou, mas se liga estreitamente às formas e aos quadros da
estrutura social que persistiram por todo o Império. De fato, com a
mudança do estado político, de colônia para nação, e com a fundação,
em 1822, da monarquia constitucional, não se operou modificação na
estrutura da sociedade, que se manteve, como na Colônia, organizada
sobre a economia agrícola e patriarcal, de base escravocrata, desde os
engenhos de açúcar no Norte, até as fazendas de café no Sul, já pelos
meados do século XIX, em pleno desenvolvimento (Azevedo, 1958, p.
80).
É, precisamente, nessa estrutura econômica-social, marcada pelos grandes
atrasos liberais, que a filosofia Espiritualista Eclética cabia como uma luva ao Império,
e que, por seu caráter conciliador, se tornou a filosofia oficial do Império. Da mesma
forma que se tornou também a filosofia oficial do colégio imperial responsável pela
formação dos filhos das elites dirigentes. Conforme Paim, ao ciclo de apogeu da Escola
eclética corresponde sua condição de filosofia oficial, que se torna “obrigatória no
Pedro II e nos liceus estaduais. Desfruta de incontestável prestígio no seio da
intelectualidade e da elite politica” (Paim, 1985, p. 48).
O Colégio Pedro II formava bacharéis em humanidades, cujo diploma
dispensava os exames para ingresso nas Academias. Contudo, o programa de ensino de
filosofia adotado nesse Colégio, estabelecido pelos ecléticos, era obrigatório em todos
os exames gerais de preparatórios a que deveriam submeter-se os candidatos ao ensino
superior. Um dos pontos desse programa era: “Resumo de todos os sistemas de filosofia
49
contemporâneos e sua influência no Brasil”, o que denotava a necessidade de
conhecimento da própria doutrina eclética. Assim, pode-se asseverar que os ecléticos do
Pedro II foram os principais responsáveis pelo conteúdo do programa de filosofia em
nível nacional, pois:
Estruturaram o ensino de filosofia, ao nível do Colégio Pedro II e dos
Liceus Provinciais e também nos Cursos Anexos das escolas
superiores e mesmo nestas, ainda que não tivessem aquela
denominação, mas direito natural ou introdução às disciplinas físicas e
biológicas. O espírito geral desses cursos é o de que a filosofia
enfatiza problemas teóricos, de natureza permanente, sendo
transitórios os sistemas (Paim, 1999, p. 272).
Coube à Domingos de Magalhães a regência da primeira cadeira de filosofia do
Colégio Imperial Pedro II, mas o curso somente seria inaugurado no ano letivo de 1942,
com a aula inaugural intitulada Discurso sobre o objeto e importância da filosofia.
Quanto aos outros professores de orientação eclética, nos informa Paim:
Segundo os registros preservados no próprio colégio (Expediente do
externato. Ofícios do Reitor), a 24 de outubro de 1842 Magalhães foi
substituído por Santiago Nunes Ribeiro, chileno de nascimento que
veio para o Rio de Janeiro muito jovem, tendo falecido em 1847. Era
lente de Retórica e poética no mesmo colégio. Foi um dos principais
redatores da ‘Minerva Brasileira’, tendo lhe cabido redigir a notícia
do concurso para provimento da cadeira de filosofia, que regia
interinamente, no Pedro II, realizado em julho de 1844. O concurso
seria ganho por Francisco de Sales Torres Homem (1812-1876) que,
mais tarde, se tomaria panfletário famoso, e, posteriormente, político
influente. [...]. Magalhães, Nunes Ribeiro e Torres Homem
consagram, no Pedro II, a hegemonia da corrente eclética (Paim, 1999,
p. 36).
Para se ter uma ideia da prevalência prolongada do ecletismo no Colégio Pedro
II, ainda em 1874, foi adotado como manual de filosofia o livro A Moral de Paul Janet
(1823-1899), filósofo ao qual recorreram os ecléticos Antonio Pedro de Figueiredo e
Domingos Gonçalves de Magalhães para suprirem a fundamentação moral que não
encontraram em Biran e Cousin. Para Janet, a categoria ética fundamental seria a do
dever kantiano, admitindo-se que as pessoas poderiam tender para ele de forma
espontânea.
Em 1880, no Colégio Pedro II, houve concurso para provimento da Cadeira de
Filosofia “de que resulta a nomeação de Silvio Romero (1851-1914), interrompendo a
tradição de preenchê-la com partidários do ecletismo espiritualista. A mudança de
orientação não parece, entretanto, ter sido automática” (Paim, 1999, p. 30). Paim indica
50
que há indícios de que a orientação eclética do Pedro II e nos Liceus Estaduais tenha
prevalecido até a República19.
b) Escola do Recife: o surto de ideias novas do cientificismo
O período final do Ecletismo Espiritualista começa com o seu declínio a partir
de 1870, com o surgimento da Escola de Recife e a ascensão do Positivismo, até sua
posterior e total superação no início da República. Conforme Paim: “A fase final do
ecletismo confunde-se com o período de emergência das correntes cientificistas, a partir
do movimento que Sílvio Romero batizou de ‘surto de ideias novas’, iniciado na década
de setenta” (Paim, 1985, p. 42). Os espiritualistas-ecléticos, representantes da filosofia
oficial do Segundo Império, não se curvaram diante dessas novas ideias. Magalhães
chega mesmo a combatê-los: “Essa resistência não parece ter sido de todo infrutífera,
em que pese o completo abandono do espiritualismo no novo ciclo que se vai iniciar.
Ao menos a atitude valorativa da filosofia, que a animava, iria ser apropriada pela
Escola do Recife” (Paim, 1985, p. 54).
O movimento chamado Escola do Recife nasce do processo de crítica ao
Ecletismo Espiritualista, chamado ‘surto de ideias novas’ dos anos setenta do século
XIX. Inicialmente combateu a monarquia, tida como obstáculo ao progresso, a partir de
obras de Comte, Darwin, Taine, Renan e outros, compondo uma espécie de “frente”
cientificista. É nesse movimento que surge o positivismo como corrente filosófica
expressiva no Brasil (Cf. Paim, 1985, p. 86-87).
Entretanto, a Escola do Recife, foi multifacetada. Apesar de sua significativa
reflexão na área filosófica, fez incursões no Direito, na história da cultura brasileira, na
poesia, na política e muito contribuiu na modernização de instituições, como é o caso do
Código Civil. Mas “a filosofia é que se constituiu o elemento unificador de ação tão
variada e dispersa, precisamente o que faz sobressair a figura de Tobias Barreto” (Paim,
1985, p. 87).
19
A esse respeito, esclarece Ghiraldelli: “O destaque da época imperial foi, sem dúvida, a criação do
Colégio Pedro II. Inaugurado em 1838, seu destino era servir como modelo de ensino. Tal instituição
nunca se consolidou realmente como modelo de ensino secundário, mas como uma instituição
preparatória ao ensino superior. Ao longo do Império, ela sofreu várias reformas curriculares, que ora
acentuaram a formação literária dos alunos em detrimento da sua formação científica, ora agiram de
modo oposto, segundo as disputas entre o ideário positivista e o ideal humanista-jesuítico. Quando o
ideário positivista levava vantagem, na medida em que crescentemente tangenciava os gostos intelectuais
da época, o Colégio Pedro II passava a incorporar mais disciplinas científicas. Quando os positivistas
perdiam terreno, voltava-se a uma grade curricular de cunho mais literário” (Ghiraldelli, 2009, p. 7).
51
A produção filosófica do grupo teve início em 1875, quando Sílvio Romero
escreve o texto, até hoje desaparecido, “Deve a Metafísica ser considerada Morta?”. O
texto foi fruto de sua participação num Concurso da Faculdade de Direito, no qual
defendeu a morte da Metafísica pelo Positivismo20.
Tobias Barreto, juntamente com Silvio Romero e outros, estabeleceu os alicerces
de criação do grupo da Escola de Recife. Sua obra, tal qual a própria Escola, não
obedeceu somente a uma única orientação filosófica. Ao contrário, mudou de
referencial teórico ao longo de sua trajetória intelectual. Inicialmente se filiou à filosofia
monista de Ernest Haeckel, em seguida acaba por se opor ao caráter mecanicista do
monismo haeckeliano. Depois, ainda considerando válido alguns desses princípios,
“pretendeu que a filosofia devia limitar-se a uma inquirição sobre o conhecimento
científico, abdicando de qualquer pretensão de aumentar o saber operativo (científico),
já agora sob influência de representantes dos primórdios do neokantismo” (Paim, 1985,
p. 88), pois este não se distinguia do positivismo, na medida em que atribuía também à
filosofia a função de síntese das ciências21.
Por fim, a pesquisa que privilegiou nos últimos anos de sua vida foi em torno da
cultura. Conforme Paim, uma das ideias significativas no pensamento de Tobias Barreto
consistiu “na abordagem do homem como consciência, a seu ver a única forma de
retirá-lo do determinismo a que o havia cingido o positivismo. Tal é o tema central da
parcela última de sua obra filosófica” (Paim, 1985, p. 88). Nesse sentido, a cultura seria
a antítese da natureza, uma mudança do natural, tornando-o belo e bom (Cf. Paim, 1985,
p. 88). Enquanto tal, a natureza é algo originário que não se modifica nem pela
influência humana, já “a particularidade do mundo da cultura consiste no fato de que se
20
A metafísica que Sílvio Romero considerava morta em 1875 “era a metafísica dogmática, apriorística,
inatista, meramente racionalista, a metafísica velho estilo, feita à parte mentis , a pretensa ciência intuitiva
do absoluto, palácio de quimeras fundado em hipóteses transcendentes, construído dedutivamente de
princípios, imaginados como superiores a toda verificação.[...]. A metafísica que se pode considerar viva
é a que consiste na crítica do conhecimento, como a delineou Kant nos seus Prolegômenos, e, mais, a
generalização sintética de todo o saber, firmada nos processos de observação e construída por via
indutiva” (Romero apud Paim, 1985, p. 91).
21
“Assim, Tobias Barreto suscitou a hipótese do monismo e, sem abandoná-la, difundiu o conceito
neokantiano de filosofia. Artur Orlando é o único dos seguidores que se dá conta da incompatibilidade
das suas posições e busca aprofundar a ideia da filosofia como epistemologia. Os demais integrantes da
Escola não se dispuseram a abdicar da sua acepção como síntese das ciências e supunham que a disputa
era entre monismo mecanicista e monismo teleológico ou entre monismo e evolucionismo” (Paim, 1985,
p. 88).
52
subordina à ideia de finalidade, escapando a todo esquema que se proponha resolvê-lo
em termos de causas eficientes” (Paim, 1985, p. 89).
Pode-se afirmar que Tobias Barreto, na fase final de seu pensamento, buscava
um equilíbrio entre o espiritualismo dos ecléticos e a materialidade dos naturalistas,
principalmente no que diz respeito à liberdade humana. Para a liberdade humana existir
não é necessário que a ação seja imotivada, ela tem que ser compreendida a partir da
cultura, pois o exercício da liberdade requer motivos para tal:
A chave para a solução do problema será encontrada no entendimento
da cultura como um ‘sistema de forças combatentes contra o próprio
combate pela vida’, isto é, radicalizando a oposição entre o império
das causas finais e o império das causas eficientes, entre o mundo da
criação humana e o mundo natural. [...]. A natureza [...] pode ser
apontada como a fonte última de toda imoralidade e não foi
certamente inspirando-se nela que o homem criou a cultura. [...].
Nessa luta por erigir algo de independente da natureza, o homem criou
a sociedade (Paim,1985, p. 89-90).
Para o filósofo sergipano, a verdadeira característica humana é a capacidade de
conceber um fim e conduzir as suas ações na sua realização, mediante a submissão às
normas necessárias para tanto: “Trata-se, em síntese, de um animal que se prende, que
se doma a si mesmo: ‘Todos os deveres éticos e jurídicos, todas as regras da vida
acomodam-se a esta medida, que é a única exata para conferir ao homem o seu legítimo
valor’” (Paim,1985, p. 90).
Para Sílvio Romero, o conceito de cultura deixa de ser um problema filosófico,
pois é inadequada uma contraposição entre natureza e cultura. À antítese posta por
Tobias Barreto, propõe uma conciliação entre naturalismo e o espiritualismo, à luz do
evolucionismo monístico spenceriano (Cf. Paim, 1985, p. 91). Da mesma forma,
também, contrapõe ao culturalismo filosófico de Tobias Barreto seu culturalismo
sociológico:
Em contrapartida, Silvio Romero imaginou a possibilidade de uma
investigação da cultura segundo pressupostos científicos. Acreditava
que, partindo dos fatos, chegar-se-ia a uma visão totalizante, razão
pela qual recomendava que o método se aplicasse à cultura brasileira.
[...]. Tal é o culturalismo sociológico, que teve o mérito de facultar
diversos estudos e levantamentos sistemáticos sobre a cultura
brasileira [...] (Paim, 1985, p. 94).
A Escola do Recife revolucionou a Faculdade de Direito do Recife, de onde
surgiu, promovendo discussões acirradas em torno de disputas filosóficas e jurídicas
que iam desde a recusa do ecletismo espiritualista e a recepção do pensamento
53
cientificista, até o questionamento da influência filosófica francesa em prol da filosofia
alemã. Contudo, sua influência extrapolou as terras pernambucanas, tendo ramificações
em todo o Brasil, inclusive em Fortaleza, com o grupo denominado Academia Francesa
do Ceará, fundado em 1972, liderado por Raimundo Antônio da Rocha Lima, inspirado
na Escola do Recife, que conheceu ao viajar para Pernambuco no ano anterior 22.
4 - República (1889-2012): do Positivismo à Filosofia da Diferença
A organização de um sistema nacional de ensino foi a questão educacional que
predominou nos últimos anos do Império e continuou por toda a Primeira República.
Nesse âmbito, já no final de 1860, a discussão que interessava a todos era relativa à
substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalho livre, “atribuindo-se à educação a
tarefa de formar o novo tipo de trabalhador para assegurar que a passagem se desse de
forma gradual e segura, evitando-se eventuais prejuízos aos proprietários de terra e de
escravos que dominavam a economia do país” (Saviani, 2007, p. 159).
A educação foi chamada a participar do processo da substituição do trabalho
escravo pelo trabalho assalariado, no período que vai de 1868 até a Abolição e a
Proclamação da República, em virtude da ideia de que haveria uma ligação entre
emancipação e instrução. Dessa forma, era necessário educar as crianças negras,
nascidas dos ventres livres, para lhes inviabilizar uma indolência que seria natural: “a
emancipação do escravo exigia a difusão da instrução de modo que, diminuindo o
‘abismo da ignorância’, fosse afastado o ‘instinto da ociosidade’” (Bastos apud Saviani,
2007, p. 163).
No entanto, nem a discussão sobre o treinamento da mão-de-obra assalariada se
realizou na prática, nem a questão educacional sobre a necessidade de uma organização
nacional da educação teve desdobramentos. A imigração europeia fluiu normalmente
22
O grupo da Academia era composto pelos nomes de João Capistrano de Abreu, Tomás Pompeu de
Souza Filho, João Lopes Ferreira Filho, Xilderico Araripe de Faria e Araripe Júnior. Posteriormente,
figuras do porte de Clóvis Beviláqua, Joaquim Catunda, Farias Brito e outros se agregaram a esta
associação. Posteriormente, Alcântara Nogueira e João Alfredo Montenegro se tornaram grandes
estudiosos e divulgadores desse movimento. Em nível nacional, de diversos Estados, podem-se citar,
dentre outros, os seguintes nomes: Afonso Cláudio (1850-1889); Alcides Bezerra (1891-1938); Graça
Aranha (1868-1931); Fausto Cardoso (1864-1906); Artur Orlando (1858- 1916); Estelita Tapajós (1860).
54
para os cafezais, em substituição à mão-de-obra escrava que foi simplesmente sendo
posta a margem, tal qual a discussão sobre um sistema nacional de ensino23: “Seria
preciso esperar o período final da República Velha com a crise dos anos de 1920 para
retomarem-se as reformas estaduais da instrução pública e recolocar o problema do
sistema de ensino que passará a ter um tratamento em âmbito nacional após a Revolução
de 1930” (Saviani, 2007, p. 166).
É fato que o sistema nacional de ensino não foi implantado nessa época e o
resultado foi o acúmulo de um enorme déficit educacional. Contudo, assevera Saviani
(2007, p. 167), a não implantação do sistema nacional de ensino no Brasil não se deveu
somente pelas limitações materiais, como falta de verba ou insuficiência de
financiamento. A questão teve também justificativas relacionadas à “mentalidade
pedagógica” baseada em concepções filosófico-educativas então predominantes e que
impossibilitaram uma articulação nacional do sistema educativo:
[...] a mentalidade cientificista de orientação positivista, declarando-se
adepta da completa ‘desoficialização’ do ensino, acabou por
converter-se em mais um obstáculo à realização da ideia de sistema
nacional de ensino. Na mesma direção comportou-se a mentalidade
liberal que, em nome do princípio de que o Estado não tem doutrina,
chegava a advogar o seu afastamento do âmbito educacional (Saviani,
2007, p. 168).
4.1. - Primeira República (1889-1930): ciência, crença, prática e liberdade
Para Saviani, a Primeira República é atravessada, em seu pensamento
pedagógico e em sua política educacional, por uma tensão característica das diversas
vertentes do pensamento liberal presente naquele contexto histórico brasileiro, qual seja,
a importância do Estado no desenvolvimento da sociedade e sua simultânea recusa
desse papel (Saviani, 2007, pp. 168-169). Aqui se compreende que Saviani está se
referindo aos limites e impossibilidade da política burguesa em resolver as contradições
sociais de base do capitalismo.
23
“Do mesmo modo, também não produziram resultados práticos os debates sobre a importância da
educação e a necessidade de sua organização em âmbito nacional que se intensificaram nas duas últimas
décadas do Império. Pode-se dizer que a ideia de sistema nacional de ensino se fez presente em todos os
projetos de reforma apresentados desde o final da década de 1860 assim como nos textos preparados para
o Congresso de Instrução que deveria ser realizado em 1883, mas que por falta de verbas (o Senado negou
a concessão dos recursos) não se realizou” (Saviani, 2007, p. 164).
55
A não assunção da instrução pública como responsabilidade do governo central é
oficializada na primeira Constituição republicana, em 1891, quando incumbe o
Congresso Nacional, mas não exclusivamente, da criação do ensino superior e
secundário nos Estados e da instrução secundária no Distrito Federal. Houve omissão
quanto à responsabilidade do ensino primário, mas ao mesmo tempo delegou aos
Estados a função de legislar e oferecer a instrução primária (Saviani, 2007, p. 171).
Em 1892, São Paulo inicia esse ciclo de reformas estaduais com o objetivo de
promover uma reforma geral da instrução pública paulista, mas se concentrando
somente na escola primária, com a inovação da criação dos grupos escolares
substituindo as escolas isoladas que, “uma vez reunidas, deram origem, no interior dos
grupos escolares, às classes que, por sua vez, correspondiam às séries anuais. Portanto,
as escolas isoladas eram não-seriadas, ao passo que os grupos escolares eram seriados”
(Saviani, 2007, p. 172).
A partir de então, os grupos escolares foram sendo criados em todo o Estado de
São Paulo e, já no início do século XX, por todo o Brasil: “Trata-se, pois, de um modelo
que foi sendo disseminado por todo o país, tendo conformado a organização pedagógica
da escola elementar que se encontra em vigência, atualmente, nas quatro primeiras
séries do que hoje se denomina ensino fundamental” (Saviani, 2007, p. 174-175).
Contudo, a reforma paulista que teve um cunho educacional mais popular foi a
de 1920, realizada por Sampaio Dória. Mesmo que ela não tenha alcançado a maioria de
seus objetivos para a educação primária, como universalização, obrigatoriedade, etc.,
sua importância se dá em virtude de ter inaugurado o importante ciclo de reformas
estaduais24 na década de 1920 que iria promover mudanças significativas na educação
brasileira:
Esse processo alterou a instrução pública em variados aspectos como a
ampliação da rede de escolas; o aparelhamento técnico-administrativo;
a melhoria das condições de funcionamento; a reformulação
curricular; o início da profissionalização do magistério; a reorientação
24
“Cabe registrar, além da reforma paulista de 1920: a reforma cearense, em 1922, encabeçada por
Lourenço Filho; no Paraná a reforma de Lysimaco Ferreira da Costa e Prieto Martinez, em 1923; a
reforma de José Augusto iniciada em 1924 no Rio grande do Norte; a reforma baiana, dirigida por Anísio
Teixeira em 1925, que, segundo Nagle [...], fecha o primeiro ciclo das reformas da década de 1920,
representando ‘a consolidação das normas já estabelecidas’. Após essa reforma, abre-se um novo ciclo
marcado pela introdução mais sistemática das ideias renovadoras: a reforma mineira de 1927, realizada
por Francisco Campos e Mário Casasanta; a reforma do Distrito Federal, liderada por Fernando de
Azevedo em 1928; e a reforma pernambucana, em 1929, de iniciativa de Carneiro Leão” (Saviani, 2007,
p. 177).
56
das práticas de ensino; e, mais para o final da década, a penetração
do ideário escolanovista (Saviani, 2007, pp. 176-177). (Grifo nosso).
Nesse contexto educacional brasileiro, várias matrizes filosóficas foram
marcantes e determinaram certos aspectos institucionais ou teóricos da realidade
educacional brasileira. Salientemos aqui o Positivismo, o Catolicismo, o Pragmatismo e
o Anarquismo.
a) A matriz filosófica Positivista
Paim (1984, p. 375) relata que, no Brasil, o conhecimento das obras de Comte é
anterior aos anos de 1870, época de formação da Escola do Recife e da eclosão do
“bando de ideias novas”. Desde a década anterior, o Positivismo já respaldava a crítica à
politica imperialista, bem como à sua filosofia oficial, o Ecletismo Espiritualista. Nesse
período a Sociedade Positivista é fundada no Rio de Janeiro e “começam a aparecer as
primeiras obras daqueles que seriam mais tarde os líderes teóricos das duas alas de
comtismo, a ortodoxa e a dissidente: Miguel Lemos, Teixeira Mendes e Pereira Barreto”
(Paim, 1984, p. 376).
Nessa época, segundo Paim (1984, p. 377), no campo educacional, o Positivismo
oferece suporte para uma reforma do Colégio Pedro II; possibilita a organização da
Escola Politécnica e a fundação da Escola de Minas, em Ouro Preto; desencadeia a
contratação de um expressivo grupo de professores estrangeiros e, ainda, influencia na
estruturação da Biblioteca Nacional e do Museu Nacional.
Essa antessala da ascensão do Positivismo no Brasil, principalmente encarnada
na Escola do recife, não se caracterizava por uma unidade doutrinária, mas “havia,
talvez, unidade de objetivos: a crítica ao pensamento e às instituições vigentes” (Paim,
1984, p. 377).
A Escola Politécnica, por sua vez, surgiu do desdobramento da Real Academia
Militar, fundada em 1810 por Dom João VI, com o intuito de formar militares,
engenheiros, técnicos e viabilizar o ensino das ciências exatas. É precisamente nessa
Academia “que a intelectualidade brasileira toma contato com a obra de Comte” (Paim,
1984, p. 433). Contudo, “a peculiaridade essencial do pensamento brasileiro, no período
da denominada República Velha (1890/1930), corresponde à ascensão do positivismo”
(Paim, 1984, p. 437).
57
Pode-se caracterizar o Positivismo no Brasil, a partir da divisão feita por Paim
(1985, p. 112), em quatro vertentes: positivismo religioso; filosofia da ciência;
positivismo ilustrado; filosofia política. Os positivistas religiosos eram encabeçados por
Miguel Lemos e Teixeira Mendes e tinham na Igreja Positivista, cada vez mais próxima
ao catolicismo, seu centro de atuação, “tendo Comte se transformado em pai Supremo,
digno do mesmo respeito que os católicos devotavam a Cristo, erigiram barreira
intransponível entre a instituição e o meio social brasileiro” (Paim, 1985, p. 109).
A reflexão positivista sobre filosofia da ciência, por sua vez, era bastante
controversa. Paim ressalta dois dos seus aspectos: o primeiro diz respeito ao
entendimento da filosofia como síntese das ciências, ideia que se alastrou no Brasil
tanto pelo monismo quanto pelo evolucionismo, sendo superada quando o
neopositivismo avança como corrente filosófica; o segundo aspecto é referente à
compreensão da ciência. Para Comte, a sua construção teria se esgotado com a
explicação dada pela mecânica celeste, fim da sua evolução. No entanto, assevera Paim:
O desenvolvimento da matemática e da física iria contrariar
frontalmente essa hipótese. Ainda assim, a exemplo do que ocorria na
medicina, os positivistas brasileiros deram as costas à ciência, para
manter-se fieis à doutrina de Comte. E o faziam tendo em suas mãos
as cátedras de matemática e o ensino de engenharia, tanto civil como
militar. Em que pese a circunstância, acabaram fragorosamente
derrotados, segundo se comprovou, graças à reconstituição da
atividade do chamado grupo da Escola Politécnica do rio de Janeiro,
capitaneado por Oto de Alencar (1874/1912) e Amoroso Costa
(1885/1928) (Paim, 1985, p. 110).
Dessa forma, para Otto de Alencar, a concepção de ciência presente na obra de
Comte estava sendo refutada pela evolução da matemática. Criou-se, então, um grupo
de estudiosos de física que em duas décadas libertou o pensamento científico brasileiro
da influência comteana. O fechamento desse processo ocorreu em 1925, quando a
Academia de Ciências trouxe Albert Einstein ao Brasil, que com sua teoria da
relatividade isolou de vez os positivistas dos círculos científicos no país. Segundo Paim:
[...] a ascensão do positivismo não pode ter decorrido de uma situação
de prestígio nos círculos científicos. Se desfrutavam dessa posição nos
começos da República, vieram a perde-la logo nos primeiros decênios.
Precisamente a essa derrota do positivismo entre os cultores da ciência
no país deve-se a criação da Universidade, na década de trinta (Paim,
1985, p. 111).
O positivismo ilustrado, para Paim, se caracterizou pela ênfase dada ao aspecto
pedagógico do comtismo a partir da mudança das mentalidades. Fazia oposição ao
58
autoritarismo político e defendia as instituições liberais (Paim, 1984, p. 456). Seus
principais representantes foram Luís Pereira Barreto, Pedro Lessa e Ivan Lins que
“partiam de uma inspiração política fundamental. Seu afã de instruir, de ilustrar,
pedagógico, enfim, era o meio da conquista de um Estado em que a tônica consistisse na
racionalidade” (Paim, 1984, p. 467).
A quarta e última vertente do positivismo brasileiro, referida por Paim, é a da
filosofia política. A filosofia política de inspiração positivista “é a componente do
comtismo brasileiro que granjeou a adesão de parcela substancial da elite, impondo a
presença marcante de Augusto Comte na cultura brasileira do período republicano”
(Paim, 1985, p. 112). Essa corrente afirmava que o início da política científica
implicava o fim do sistema representativo e o começo do regime ditatorial, bem como
que o homem é determinado simplesmente pela alteração das condições sociais: “Neste
contexto, desaparece de todo a componente pedagógica que o positivismo ilustrado iria
reivindicar. Mais explicitamente, prescinde de ganhar as consciências desde que
incumbe, num primeiro momento, impor-se pela força” (Paim, 1985, p. 112).
Conforme Paim, a versão mais representativa da filosofia política de inspiração
positivista é o castilhismo, doutrina criada por Júlio de Castilhos (1860/1903) e por
líderes políticos do Rio Grande do sul, estando à frente Borges de Medeiros
(1864/1961), Pinheiro Machado (1851/1915) e Getúlio Vargas (1883/1954) 25.
Por outro lado, se aproximarmos Positivismo e educação, teremos que as
reformas de ensino primário e secundário, a permanência do ensino superior veiculado
ao nível profissional e a inviabilização da fundação de uma Universidade no Brasil
formam outro aspecto marcante do positivismo no período republicano.
A reforma mais importante do ensino primário e secundário na Primeira
República foi de autoria de Benjamin Constant, chefe militar do movimento republicano
e adepto do positivismo, do qual foi grande difusor no meio militar. Ao longo de toda a
República, essa reforma permaneceu praticamente intacta, sofrendo apenas pequenos
reajustes. O essencial dessa nova filosofia educacional consistia “na crença de que o real
25
“Castilhos manteve o poder até 1898, transmitindo-o a Borges de Medeiros que governou até 1928. Seu
afastamento deveu-se à guerra civil de 1923, terminada com a intervenção federal. Assegura-se, contudo,
a continuidade do sistema desde que o novo governante, Getúlio Vargas, havia dado sobejas provas de
fidelidade ao castilhismo. Com a Revolução de 1930, incumbe-lhe trazê-lo ao plano nacional, o que não
se lograra nos decênios anteriores” (Paim, 1985, p. 113).
59
se esgota nas ciências e que a própria organização social, por seus elementos básicos, a
política e a moral, pode ser estruturada em bases científicas” (Paim, 1984, p. 447).
O positivista Pereira Barreto defendia que uma das fórmulas para o progresso
era a instrução. Mas não se tratava do ensino pelo ensino, mas de uma educação de
caráter eminentemente científico e técnico, na qual a preparação para o nível secundário
era mais importante que o universitário:
A reforma essencial deveria incidir sobre o secundário, fazendo-o
repousar ‘nas noções positivas fornecidas pela astronomia, pela física,
pela química, pela biologia e pela ciência social positiva’. Semelhante
programa, de caráter enciclopédico, deveria ser ministrado
genericamente, deixando a parte concreta das ciências para os
especialistas. Constituir-se-ia, assim, uma base sólida e padronizada
para o ensino superior, a ser orientado no sentido técnico e
profissionalizante. Contam-se, entre os resultados a serem auferidos, o
desaparecimento dos títulos universitários como simples sucedâneos
da nobreza de sangue; a dissipação das ‘trevas teológicas e das ilusões
metafísicas’ e o encaminhamento do povo na direção de tais
problemas e interesses, substituindo a massa informe por uma
verdadeira população organizada (Paim, 1984, p. 461).
Contudo, Paim defendia a tese de que a valorização positivista do ensino
técnico-científico não correspondia a nenhuma novidade, pois significava, na verdade, a
retomada da tradição pombalina. Na reforma do ensino de Benjamin Constant as ideias
comteanas foram incorporadas a partir do ideário pombalino. Assim, “a elite
republicana preservou igualmente o desapreço que sua congênere pombalina nutria pela
Universidade e acentuou o sentido profissionalizante dos estabelecimentos de ensino
superior existentes no país” (Paim, 1984, p. 449).
A argumentação positivista contra a Universidade era extemporânea, pois
“dissociada tanto da realidade nacional como da época Moderna, na qual a
Universidade, nos mais importantes países do Ocidente, perdia as características de
instituição medieval para tornar-se centro de investigação científica, ao lado do preparo
de especialistas” (Paim, 1984, p. 450).
As teses positivistas contra a Universidade surgiram tanto dos positivistas
ilustrados, quanto dos positivistas religiosos. Luiz Pereira Barreto, por exemplo, às
vésperas da República, abordou especificamente o tema da Universidade, numa série de
artigos que, resumidamente, consistia no fato da Universidade ser uma instituição
“puramente nominal”, pois seria serva dos três estados de desenvolvimento da
60
humanidade - teológico, metafísico e científico – sem, no entanto, poder conciliar os
três estados em um só organismo, por serem antagônicos (Cf. Paim, 1984, p. 450).
Teixeira Mendes, da mesma forma, escreveu uma série de artigos, mais tarde
reunidos no folheto A Universidade, para combater a opinião popular que crescia em
favor da criação da Universidade. Para o chefe da Igreja positivista:
A grandeza nacional exige a Reforma do ensino. Mas a Universidade
não é a solução adequada para promover aquela grandeza, eis a
premissa maior. [...] a Universidade não se inclui entre os elementos
requeridos pela grandeza nacional. [...]. A grandeza nacional, [...],
depende da redução ao mínimo da massa de parasitas, que exploram o
trabalho proletário; da redução ao indispensável dos indivíduos úteis
que, mantidos pelo proletariado, colaboram para o bem-estar deste;
enfim, da educação e moralização deste mesmo proletariado, para que
possa possuir seu domicílio inviolável e uma verdadeira família, em
que a mulher não seja obrigada a descuidar dos filhos para cuidar do
sustento da casa. Portanto, a Universidade não é requerida pela
grandeza nacional (Paim, 1984, pp. 451-452).
Mendes aborda também outro aspecto importante, relativo ao posicionamento do
positivismo com relação à educação, o da implantação de um sistema nacional de
ensino. Segundo ele, somente os positivistas teriam a capacidade de implantar um
sistema nacional de ensino, mas na impossibilidade da realização dessa tarefa naquele
momento, o Estado deveria abandonar a ideia e se preocupar mais detidamente com a
instrução primária:
O governo brasileiro [...] deve renunciar ao estabelecimento de um
sistema de educação nacional, que só os positivistas seriam capazes de
empreender, no momento oportuno. Enquanto tal oportunidade não se
apresente, deve limitar-se a assegurar a instrução elementar, sem
compromisso com qualquer das ‘filosofias’ existentes, e a desenvolver
o ensino especial (profissional) sem conceder privilégios aos que o
cursaram (Paim, 1984, p. 452).
Dessa forma, segundo Paim, os positivistas também são responsabilizados
diretamente pelo abandono sistemático da implantação da Universidade, nos decênios
iniciais da república, e pela inviabilização do estabelecimento de um sistema nacional
de ensino, por terem influenciado a maioria dos componentes dos órgãos decisórios
(Paim, 1984, p. 452).
Mas o fato é que a adesão ao comtismo, na Primeira República, não se deu
somente pelos componentes dos órgãos decisórios. Os professores de matemática e de
ciências na escola Politécnica, no Colégio Pedro II, na Escola Militar, na Escola Naval,
61
etc., no Rio de Janeiro e em diversas outras capitais, também aderiram à doutrina
positivista (Paim, 1984, p. 454).
Assim, então, podem ser apontados os três aspectos mais marcantes da
influência positivista na educação brasileira: a realização de reformas do ensino
primário e secundário, norteadas pela hipótese comteana de que o real se esgota na
ciência, à qual também devem ser submetidas a política e a moral; a recusa pela elite
política da implantação da Universidade, desnecessária por não produzir saber prático, e
a conservação do ensino superior como formação profissional; e, por fim, a adesão do
professorado de ciências à compreensão positivista de que a ciência teria concluído sua
evolução (Paim, 1984, p. 456).
b) A matriz filosófica Católica
Para alguns estudiosos, a hegemonia católica no campo educacional em terras
brasileiras não ficou abalada nem pelo ideário iluminista, com a expulsão dos jesuítas
por Pombal, nem pelo conflito entre a Igreja e o Império. Até mesmo a exclusão do
ensino religioso nas escolas públicas, com a implantação do regime republicano que
previa a separação entre o Estado e Igreja, desencadeou uma reação espiritualista ao
longo da República (Cf. Saviani, 2007, p. 178-179).
Para Vilaça (Cf. Paim, 1985, p. 120), depois da expulsão dos jesuítas em 1759,
houve um momento de restauração da espiritualidade, com o Ecletismo Espiritualista e
um momento de dissolução da espiritualidade, representado pelo período da Escola do
Recife. Um terceiro momento seria representativo de uma nova restauração da
espiritualidade, em 1873, com a figura de Dom Vital e a chamada Questão Religiosa26.
Para Vilaça, esse episódio representou uma primeira afirmação antipombalina e católica
na história da espiritualidade no Brasil, pois “nunca antes o catolicismo reivindicara um
lugar ao sol, uma situação definida na paisagem brasileira. Nesse sentido, D. Vital é [...]
26
“O avanço das ideias laicas associado ao regime do padroado desembocou, no final do Império, numa
crise de hegemonia cuja expressão mais ruidosa foi a ‘questão religiosa’. Essa denominação reporta-se ao
episódio em que os bispos de Olinda, Dom Vital, e do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa,
determinaram, em 17 de janeiro de 1873, que em suas dioceses ‘os maçons fossem afastados dos quadros
das Irmandades, Ordens Terceiras e quaisquer Associações Religiosas’ [...]. Recusando-se a acatar essa
determinação, várias associações recorreram ao imperador, que acolheu o recurso e, diante do não
acatamento de sua decisão, determinou, em 1874, a prisão dos bispos que foram julgados e condenados
pelo Supremo Tribunal a quatro anos de reclusão, sendo anistiados depois de um ano” (Saviani, 2007,
pp.178-179).
62
o primeiro esforço para uma volta àquela unidade ideológica anterior à ruptura
pombalina” (Cf. Paim, 1985, p. 120).
Conforme Vilaça, essa terceira retomada da espiritualidade traz dois
desdobramentos significativos para o pensamento católico brasileiro. O primeiro é
representado pela Pastoral de 1916, liderada por Dom Sebastião Leme, na época
Arcebispo de Olinda, e, posteriormente, Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro. A
intervenção de Dom Leme consistia em denunciar a fragilidade da fé católica dos
brasileiros e conclamar para ações que visassem mais diretamente à cultura e à
inteligência. Paim afirma que o religioso reivindicava que a renovação se fizesse em
bases doutrinárias por intermédio de instrumentos pedagógicos: “nos sermões e nas
escolas, chegando inclusive a sugerir o tema da Universidade Católica. Os intelectuais
são instados a ocupar o seu lugar na busca da autenticidade” (Paim, 1985, p. 121).
O segundo desdobramento dessa terceira retomada espiritual é a realização das
grandes expectativas do primeiro, com a criação do Centro Dom Vital e a Revista A
Ordem, em 1922, por Jackson Figueiredo e, após a sua morte, a expansão do Centro sob
a liderança de Alceu Amoroso Lima, em novembro de 1928. Dessa forma, assevera
Paim, começava a fase cultural do movimento católico no Brasil. Assim, por exemplo,
em 1932, é fundado o Instituto Católico de Estudos Superiores no Rio de Janeiro, germe
da Universidade Católica criada em 1941 (Paim, 1985, p. 121):
Nesse Instituto Católico houve o primeiro núcleo de uma vida
universitária católica no Brasil. E a influência de Maritain e de
revistas como ‘Esprit’, ‘La Vie Intelectuelle’, ‘Revue Thomiste’ foi
enorme. O tomismo chegava através de Maritain. E através de um
conferencista brilhante, Leonel Franca, mestre e confessor de Alceu
durante vinte anos (Paim, 1984, p. 424).
Para Vilaça, a perspectiva filosófica predominante nesse período de restauração
católica é a do tomismo na versão mais modernizada de Jacques Maritain. Essa
perspectiva seria mais apropriada para os novos tempos, haja vista que o maritainismo
criava, “no sistema tomista, um lugar para a ciência moderna”, para a intervenção
política e para a valorização da cultura (Paim, 1985, p. 122).
Paim demonstra que outro aspecto filosófico importante, retomado por Vilaça, é
a chamada questão teórica da filosofia católica: “Trata-se, em suma, de saber se há de
fato – e até mesmo se pode haver – uma filosofia católica elaborada ou se consiste numa
simples perspectiva” (Paim, 1985, p. 123). Sem aprofundar essa questão, por
63
compreender que aqui não é relevante, será citado apenas um trecho elucidativo de
Paim, relativo a essa problemática:
Em relação à filosofia católica, suponho que Maritain teve o grande
mérito de suscitar um ponto de vista estreitamente filosófico ao propor
a distinção entre conhecimento noético (ontológico) e perenoético
(científico). Ao fazê-lo criou um espaço no seio do tomismo para a
ciência moderna, justamente o que permitiu que tantos intelectuais
brasileiros, nos anos trinta, se reconciliassem com a religião católica.
Mas é fora de dúvida que esse aspecto do maritainismo brasileiro
acabou sufocado pela relevância assumida por outros temas, em
especial os de caráter político (Paim, 1984, p. 357).
Apesar da propalada influência tomista, via Maritain, sobre esse grupo, Fontes
(1998) conclui em seus estudos que o grande articulador da renovação espiritualista
católica da primeira era republicana, Jakson de Figueiredo, teria, de fato, sofrido uma
influência maior de Santo Agostinho.
Jackson de Figueiredo nasceu em Aracaju, em 1891, e morreu no Rio de Janeiro,
em 1928. Foi advogado (bacharelou-se na Faculdade Livre de Direito da Bahia),
professor, jornalista, crítico, ensaísta, filósofo e político. Foi grande boêmio na
juventude, mas em 1918, em virtude de um grande vazio que lhe cingia a alma e
influenciado pela amizade de Farias Brito, converteu-se ao catolicismo e, a partir daí,
passou a organizar o movimento católico leigo no Brasil. Articulou essa atividade de
divulgação da doutrina católica a partir do Centro Dom Vital e também por intermédio
da Revista A Ordem, fundados por ele em 1922. Nessas trincheiras, combateu tanto o
liberalismo quanto o comunismo. Apoiou o governo Arthur Bernardes e opôs-se ao
tenentismo, colaborando na repressão desse movimento que desencadearia a Revolução
de 30. Entre 1922 e 1925, escreveu na Gazeta de Notícias e em O jornal contra
movimentos revolucionários e a favor da ordem pública e da legalidade. A sua proposta
era:
Reunir a elite intelectual cristã para as lutas apostólicas, defender a
Igreja e a ordem social e combater os pruridos revolucionários no
plano da inteligência e dos fatos. Estava-se no ano do Centenário, dos
18 do forte, do Modernismo, dos grandes surtos de transformação do
Brasil espiritual, literário e político (Fontes, 1998, p. 70).
Com relação à influência tomista, nos diz Fontes (1998): “Apesar das suas boas
intenções, Jackson de Figueiredo não era um tomista. Pertencia antes à linguagem
espiritual de Santo Agostinho, daquele filósofo de Hipona, cujo pensar era ambivalente,
dividido entre o essencialismo e a sede de experiência interior” (p. 88). Depois de
64
transitar certo tempo pela influência bergsoniana, Jackson se aproxima de Agostinho via
Pascal27. Fontes assegura que:
Para o pensador sergipano, Pascal era um símbolo da alma moderna,
distendida entre a dúvida e a afirmação. Encontrava certa afinidade
entre a sua evolução espiritual e a de Pascal. Dos prazeres à dúvida, da
dúvida à angústia – ou sofrimento – e daí à convicção de que o
homem é o maior problema para o homem: o ser precário e estéril,
diante de Deus absoluto e incognoscível. Esse mistério da queda do
espírito, que é reverberação de Deus, nas procelas deste mundo,
levou-o à seguinte situação: ‘Descrer de si, absolutamente, para só
crer em Deus, através de Jesus Cristo’ [...]. De modo semelhante,
Pascal é o ‘sistematizador da dúvida humana... procurava, mesmo
através do excesso e dúvida, a razão de descrer da razão, para sentir-se
mais seguro de sua fé, não o satisfazendo o gosto amargo de destruir
em si mesmo toda possível verdade. Entretanto, porque descreu da
razão não a abandonou jamais nem foi jamais abandonada por ela’
[...]. Já então, convertido, não professava concepção puramente
filosófica da fé. Acrescentava que à tomada de consciência do eterno
se ajuntava a graça divina. Mas a tarefa reflexiva de Pascal era vista
como um esforço para compelir ‘o espírito humano a confessar a sua
miséria, para que o coração ganhasse mais força de amor e fosse capaz
de maior caridade, único sinal do que é divino em nossa degradação,
pois só as correntes de dor nos ligam a todos, nós que nos
estraçalhamos, que nos combatemos, na febre de viver o mais possível
as loucuras de nosso egoísmo e da nossa sensualidade’ [...] (Fontes,
1998, p. 121-122).
Assim, foi com Pascal, inspirado em Agostinho, foi que o filósofo sergipano
definiu o amor e o coração humanos como a “percepção imediata do conhecimento
espontâneo, o que há de absoluto em nosso conhecimento, anterior a qualquer
construção filosófica” (Figueiredo apud Fontes, 1998, p. 122). Para ele, diante de um
Deus desconhecido e ignorado, mas pleno de bondade e misericórdia, só restava
assumir uma atitude de assombro e de submissão, para nos entregarmos aos
pensamentos e à vontade de Deus. Em consequência disso, a atitude própria do cristão
deveria ser de inteira submissão à Autoridade divina e, em decorrência, à autoridade da
Igreja do divino Jesus. Esse deveria ser o centro da vida humana, e por esse caminho se
criaria uma alma justa, para a qual todo o resto seria mera aparência a ser desprezada.
Quanto a esse propósito nos afirma Figueiredo:
Ao crente e ao filósofo pouco importa o mundo das aparências
sensíveis no que diz respeito ao que mais deseja conhecer. A voz
moral que nos guia, através deste mundo ilusório e passageiro, está no
fundo mesmo de nossa própria natureza, que, unicamente pode sentir
27
“Reflexão tão próxima a Sto. Agostinho, sem o perceber, que o levaria inevitavelmente a entregar-se ao
agostianiano Pascal e ao encontro de uma nova linha de platonismo” (Fontes, 1998, p. 121).
65
essa realidade imutável e imperativa, escondida no seu infinito
mistério (Figueiredo apud Fontes, 1998, p. 122).
Portanto, com Agostinho e Pascal, Figueiredo acredita que Deus, diante da
razão, é o Bem, pois de outra forma seria injusta a condenação eterna se não houvesse a
certeza do Deus que oferece salvação a todos. Essa salvação seria trilhada pelo caminho
do amor a Deus e aos homens, pela ordem do coração e das ações e pela submissão a
autoridade instituída por Deus, Jesus Cristo e sua Igreja, que ordena os raciocínios
vacilantes dos homens. À razão competia descobrir sua fragilidade e insuficiência e
sujeitar-se a Deus, presente na ordem do coração, para que pudéssemos amar aos
homens. Para Jackson:
Os sinais externos de credibilidade e a voz da Igreja e das Escrituras
teria o sentido de evocar aquilo que está impresso na alma, embora
vindo de Deus, por Jesus Cristo. Como em Santo Agostinho, isso
pressupunha a distinção não entre natureza e sobrenatureza, mas entre
um estado natural, próprio do homem decaído, e um estado
sobrenatural, próprio do homem restaurado pela graça de Deus
(Fontes, 1998, p. 150).
Ressalte-se, por fim, que Jackson foi mentor intelectual de Alceu Amoroso
Lima, que literariamente tinha o pseudônimo de Tristão de Athayde, o mais importante
pensador católico do Brasil no século XX e um dos fundadores do Instituto Católico de
Estudos Superiores (1932), da Universidade Católica do Rio de Janeiro (1941) e do
Movimento Democrata Cristão na América Latina (1948). Alceu Amoroso Lima
tornou-se herdeiro intelectual de Jackson de Figueiredo e também assumiu a presidência
do Centro Dom Vital, tornando-se um líder na condução do pensamento católico no
Brasil.
De forma mais ampla, é possível resumir a influência do pensamento católico e
suas matrizes filosóficas na educação, no período da Primeira República, afirmando
com Saviani (2007) que a mobilização da Igreja tomou uma forma de resistência ativa
através de atitudes práticas:
[...] a pressão para o restabelecimento do ensino religioso nas escolas
públicas e a difusão de seu ideário pedagógico mediante a publicação
de livros e artigos em revistas e jornais e, em especial, na forma de
livros didáticos para uso nas próprias escolas públicas assim como na
formação de professores, para o que ela dispunha de suas próprias
Escolas Normais (Saviani, 2007, p. 179).
Da mesma forma, por considerarem a educação uma área estratégica, os
católicos organizaram, em 1928, nas diversas unidades da federação, Associações de
66
Professores Católicos (APCs) que, posteriormente, comporiam a Confederação Católica
Brasileira de Educação. Assim, a partir dessas práticas políticas organizadas, “os
católicos constituíram-se no principal núcleo de ideias pedagógicas a resistir ao avanço
das ideias novas, disputando, palmo a palmo com os renovadores, herdeiros das ideias
liberais laicas, a hegemonia do campo educacional no Brasil a partir dos anos de 1930”
(Saviani, 2007, p. 181).
c) A matriz filosófica Pragmatista
Como foi visto anteriormente, o governo central não assumiu a instrução pública
como responsabilidade sua, explicitando esse fato já na primeira Constituição
republicana de 1891. Apesar dessa omissão, teve a preocupação de delegar aos Estados
a função de oferecer a instrução primária. Em 1892, São Paulo inicia esse ciclo de
reformas estaduais, promovendo uma reforma geral na instrução pública paulista, mas
se concentrando somente na escola primária e inovando com a criação dos grupos
escolares para substituir as escolas isoladas. Um dos fatores que justifica a importância
da reforma paulista é que ela inaugurou um importante ciclo de reformas estaduais na
década de 1920 que, por sua vez, promoveu expressivas mudanças na educação
brasileira. Entre essas mudanças, destacamos aqui a resultante da influência filosófica
pragmatista, que orientou todo o ideário escolanovista, no final da década de 20.
Dentre outros fatos que expressam essa influência pragmatista ou foram
marcados pelo pragmatismo, nesse período, pode-se indicar a publicação do livro
Introdução ao estudo da Escola Nova, de Lourenço Filho, em 1929; a fundação da ABE
(Associação Brasileira de Educação), em 1924; a primeira Conferência Nacional de
Educação, em 1927; as três principais reformas estaduais com Lourenço Filho, em
1922, Anísio Teixeira, em 1925 e Fernando Azevedo, em 1928.
Saviani (2007, p. 177) resume esse período das primeiras décadas do século XX,
pelo debate das ideias liberais, “sobre cuja base se advogou a extensão universal, por
meio do Estado, do processo de escolarização considerado o grande instrumento de
participação política”. Até a década de vinte teria predominado a concepção tradicional
do liberalismo, que busca a “transformação, pela escola, dos indivíduos ignorantes em
cidadãos esclarecidos, que esteve na base do movimento denominado por Nagle [...] de
‘entusiasmo pela educação’, o qual atingiu seu ponto culminante na efervescente década
de 1920” (Saviani, 2007, 177). Contudo, prossegue Saviani (2007, p. 177), essa
67
concepção tradicional do liberalismo foi suplantada pela concepção humanista moderna
do liberalismo, ainda nessa mesma década, com a criação da ABE. Essa Associação,
apesar de ter surgido com a intenção de congregar várias tendências da educação,
acabou se constituindo “num espaço propício em torno do qual se reuniram os adeptos
das novas ideias pedagógicas” que se propagaram ainda mais por intermédio da criação
da Conferência Nacional de Educação, em 1927 e em suas edições subsequentes.
O que está subjacente ao que Saviani chama de ideias liberais conservadoras é o
pensamento filosófico de Herbart. Da mesma forma, é a filosofia de Dewey que está na
base das chamadas ideias liberais modernas. Ghiraldelli (2009, p. 11-12) explicita esse
embate, de forma mais filosófica, ao afirmar que todo esse período foi marcado pela
disputa entre a influência filosófica de Herbart e Dewey, com o avanço da proposta do
filósofo americano sobre as ideias do filósofo alemão.
O avanço das ideias de Dewey se justifica em função das condições históricas da
época republicana: “expansão da lavoura cafeeira, fim do regime escravocrata, adoção
do trabalho assalariado, remodelação material do país, incluindo o surgimento da rede
telegráfica, novos portos e ferrovias. Além disso, havia a crescente absorção de ideias
mais democráticas vindas do exterior” (Ghiraldelli, 2009, p. 10). A industrialização
crescente era outro fator determinante do anseio e recepção de novas ideias.
Esses novos ventos trouxeram a urbanização do país e a ampliação da classe
média que, para evitar o trabalho braçal que tanto havia marcado o Império, buscava a
escolarização dos filhos como forma de ascensão social. Nessas circunstâncias,
apareceram dois grandes movimentos que apontavam para a necessidade de abertura e
aperfeiçoamento de escolas, “entusiasmo pela educação”, quantitativo e reivindicatório
da abertura de escolas, e “otimismo pedagógico”, quantitativo e preocupado com os
métodos e conteúdos do ensino
28
. Esses movimentos se alternaram ou se somaram no
transcorrer da Primeira República (Ghiraldelli, 2007, p.10).
Diante dos fracassos sociais da República, mais de 75% da população em idade
escolar era analfabeta, a década de 1920 trouxe uma forte movimentação de grupos
intelectuais a favor da efetivação do ensino público brasileiro. Nesse período, marcado
também pelo fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos da América emerge como
potência mundial, substituindo a Inglaterra em importância cultural-econômica:
28
Essas expressões foram consagradas na historiografia da educação brasileira por Jorge Nagle.
68
Nós, brasileiros, tínhamos como credores os ingleses, mas logo
passamos a ter como tais também os norte-americanos. Mas não só:
por intermédio da imprensa, do cinema, da literatura, das relações
comerciais etc., passamos a ter certo apreço pelo que veio a ser
conhecido mais tarde como American way life. Então, começamos a
absorver de modo mais intenso a literatura pedagógica norteamericana. Essa literatura foi, em parte, o conteúdo do movimento do
otimismo pedagógico (Ghiraldelli, 2009, p. 10).
Segundo Ghiraldelli (2009, p. 11), além da abertura de escolas, os livros norte
americanos nos despertaram para a necessidade de modificarmos os métodos
pedagógicos, a arquitetura e a administração escolares, a relação ensino-aprendizagem,
a forma de avaliação etc. A pedagogia que utilizávamos até esse período, conforme
Ghiraldelli,
Era uma espécie de fusão da pedagogia formalizada pelo alemão
Johann Friedrich Herbart (1776-1841) com a tradição deixada pela
pedagogia que vigorou no passado, na época da Companhia de Jesus,
a dos princípios do Ratio Studiorum. Junto a isso, passamos também a
ler livros de autores norte-americanos e europeus em geral e,
posteriormente, os escritos dos mais envolvidos ao movimento da
educação nova (Ghiraldelli, 2009, PP. 11-12).
Foi na metade dessa década de 1920 que os brasileiros puderam ler John Dewey
(1859-1952) e sua proposta de educação nova ou pedagogia nova, também conhecida
como pedagogia da escola nova, desenvolvida em 1896, nos Estados Unidos na
University Elementary School, criada por ele e acoplada à Universidade de Chicago.
Segundo Ghiraldelli (2009, p. 13), o termo pedagogia da escola nova “gerou entre nós o
termo escolanovismo, para identificar a doutrina dessa experiência e de outras,
semelhantes ou não”.
Herbart (1776-1841), por sua vez, centralizou os seus estudos no “cérebro” e
tentou compreender o funcionamento psicológico e empírico desse aparato intelectual
que tomou o lugar da “razão” moderna (Ghiraldelli, 2002, p. 13). Por isso é possível
afirmar que a posição filosófica de Herbart é neokantiana. O sujeito racional kantiano
era transcendental, com propriedades necessárias e universais, “agente ideal dotado de
sensibilidade (aparato preceptor e intuidor), entendimento (aparato já formado de
categorias e formador de conceitos) e razão (aparato formado e formador de ideias,
ideais e de vontade – vontade racional, [...] e não mero desejo)” (Ghiraldelli, 2002, p.
14). Diversamente, a ideia de sujeito que se inaugura no século XIX se cobre de uma
nova roupagem kantiana, tem-se ainda “um indivíduo com aparato sensível-perceptivo,
intelecto e razão, mas efetivamente um indivíduo empírico, corporal, passível de ser
69
estudado cientificamente através de metodologia empírica psicológica” (Ghiraldelli,
2002, p. 14).
Herbart foi tido como um “intelectualista”, pois compreendia que as percepções
e os conceitos eram guiados e unificados pela razão e comandavam a vida psíquica. As
motivações e os interesses eram dirigidos racionalmente em um aparato psíquico que
comandava o aprendizado e formação de conceitos no cérebro humano (Ghiraldelli,
2002, p. 15). Dessa forma, o ensino e o aprendizado seguiam essa vertente
intelectualista:
[...] segundo o esquema herbartiano, deveriam partir dos conceitos
morais e intelectuais, expostos e aprendidos segundo sua forma lógica
ou histórica (conforme o caso). Estes se incumbiriam de ir
despertando cada vez mais o cérebro para outros conceitos, por
atração das “massas intelectuais” movidas por esses conceitos. Enfim,
o que se dizia é que o intelecto era o carro-chefe dos interesses e
motivações no processo de aprendizagem e do conhecimento, em
geral e especificamente (Ghiraldelli, 2002, p. 15).
Contudo, se Herbart era um neokantiano, Dewey, ao contrário, era um crítico de
Kant, afirma Ghiraldelli (2002, p. 15). Assim, o projeto deweyano
Invertia o postulado básico de Herbart: não era o intelecto – em um
sentido estrito – o carro-chefe de funcionamento do aparato psíquico
humano, mas os “interesses”. Esses “interesses”, na teoria de Dewey,
eram de base psicológica. Mas gerados por situações da experiência
humana com o meio ambiente – a experiência da vida, ou seja, a
experiência psíquica e social diversificada (Ghiraldelli, 2002, p. 15).
Influenciado por Hegel e por Darwin, para Dewey, o homem era um ser
histórico em evolução, tanto em nível individual, quanto em nível coletivo, e, por isso,
concebia a criança como sendo uma etapa do adulto, que pensava diferente dele até se
transformar em um deles. Já a influência nietzschiana, marcou o pensamento de Dewey
com a desconfiança sobre a filosofia racionalista e a valorização da contingência e do
acaso (Ghiraldelli, 2002, p. 16). No entanto, “o que seria necessário para a criança e
para o adulto seria o aprendizado de como lidar com a mudança, com a mudança
constante. Assim, para Dewey o aprendizado da resolução de problemas valia mais do
que propriamente os problemas em si e cada uma de suas soluções” (Ghiraldelli, 2002,
p. 17).
Dessa forma, para o filósofo norte americano, a democracia era a forma política
que possibilitaria aquelas transformações humanas. Dessa forma, somente
Em um mundo natural e democrático, histórico e não teleológico,
onde as experiências humanas são alteradas continuamente, mais
70
valeria estar de posse de esquemas de solução de problemas do que ter
a ilusão de deter um conhecimento único de solução de problemas.
Dewey acreditava que o conhecimento que resolve problemas era o
conhecimento do conhecimento de resolver problemas (Ghiraldelli,
2002, p. 17).
As diferenças teóricas entre os dois filósofos repercutiam em suas posições
relativas à educação. Herbart esperava formar “pessoas capazes de dominar e reproduzir
um determinado saber – um saber intelectual e principalmente moral” (Ghiraldelli,
2002, p. 25). Em Dewey, ao contrário, “a educação era a organização de experiências de
crescimento em benefício da possibilidade de mais ricas experiências, aumentando a
diversidade e a capacidade de inventidade humana” (Ghiraldelli, 2002, p. 19).
d) As matrizes filosóficas Anarquista, Socialista e Comunista
Além das ideias filosóficas educacionais ligadas ao catolicismo e ao
escolanovismo, Saviani (2007) e Ghiraldelli (2009) enfatizam que, no período da
Primeira República, houve também experiências pedagógicas inspiradas nas filosofias
socialistas e anarquistas. A esse respeito, Ghiraldelli sintetiza o universo educacional
dessa época:
Cabe registrar a presença da literatura pedagógica do espanhol
Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909), de caráter libertário, e que
motivou vários professores de tendências anarquistas e socialistas,
ligados ou não às movimentações sociais operárias das décadas de
1910 e 1920. Tais professores estiveram à frente das chamadas escolas
modernas, que existiram em várias capitais do país, em um trabalho às
vezes associado a centros de cultura libertários de imigrantes italianos,
franceses e mesmo de brasileiros que haviam aderido ao anarquismo
ou formas deste (Ghiraldelli, 2009, p. 14).
Saviani (2007, p. 181) se reporta às ideias pedagógicas pautadas no socialismo e
no anarquismo como sendo não hegemônicas, pois “oriundas dos grupos socialmente
não dominantes, elaboradas a partir da perspectiva dos trabalhadores”. Tais ideias
filosóficas e pedagógicas, ligadas ao movimento operário, também marcaram a Velha
República: “Em termos gerais, cabe observar que o desenvolvimento do movimento
operário nesse período se deu sob a égide das ideias socialistas, na década de 1890,
anarquistas (libertárias) nas duas primeiras décadas do século XX, e comunistas, na
década de 1920” (Saviani, 2007, p. 181).
As ideias socialistas estavam presentes no Brasil desde a segunda metade do
século XIX, advindas do movimento operário europeu de raiz utópica e representado
71
por Saint Simon, Fourier, Owen e Proudhon. A sua presença na América Latina ocorreu
em função da queda da Comuna de Paris, que trouxe diversos foragidos para cá. Aqui,
encontraram uma nascente sociedade republicana e uma classe operária em formação,
que lhes possibilitava a expansão de suas ideias políticas através da criação de partido29
e centros socialistas, mas sem, contudo, terem marcado mais fortemente a educação. Em
torno dessas questões, Saviani afirma:
Os vários partidos operários, partidos socialistas, centros socialistas
assumiram a defesa do ensino popular gratuito, laico e técnicoprofissional. Reivindicando o ensino público, criticavam a inoperância
governamental no que se refere à instrução popular e fomentaram o
surgimento de escolas operárias e de bibliotecas populares. Mas não
chegaram a explicitar mais claramente a concepção pedagógica que
deveria orientar os procedimentos de ensino (Saviani, 2007, p. 182).
As ideias anarquistas também estavam presentes no Brasil desde o século XIX e
se materializaram em forma de publicações, colônias, sindicatos e ligas. As duas
principais correntes dos ideais libertários difundidos no Brasil foram: a anarquista, mais
próxima dos meios literários; a anarcossindicalista, mais identificada com o movimento
operário. A maioria dos seus integrantes eram imigrantes europeus. No centro dos ideais
libertários estava a educação que propunha uma “crítica à educação burguesa e a
formulação da própria concepção pedagógica que se materializava na criação de escolas
autônomas e autogeridas” (Saviani, 2007, p. 182).
Gallo (1990) afirma que, embora existam características tidas por anarquistas em
diversos períodos históricos, da Antiguidade Clássica ao século dezoito, só se pode falar
propriamente em Anarquismo como uma teoria conscientemente organizada a partir das
atividades e da obra de Proudhon. Para Piotr Kropotkin, um dos clássicos da teoria
anarquista, o Anarquismo tem origem no povo e na sua organização espontânea para a
construção da sociedade e da liberdade, “e os grandes teóricos que lhe deram o estofo
filosófico nada mais faziam do que sistematizar e racionalizar o que já estava implícito
na ação autodeterminante das massas que lutavam por sua libertação” (Gallo, 1990, p.
22).
Para Gallo (1990), o princípio básico do Anarquismo é a liberdade e é nele que
se estrutura a teoria anarquista: “sua concepção de homem, de mundo e da sociedade, a
identificação dos problemas econômicos e as formas de resolvê-los, seu método de luta
29
A fundação do Partido Socialista Brasileiro, por exemplo, data de 1902.
72
e a planificação de uma nova sociedade, estruturada sobre os princípios da liberdade e
da solidariedade” (Gallo, 1990, p. 23).
Assim, afirma Gallo (1990), é do seu princípio básico de liberdade, a ser
construído socialmente, que o Anarquismo se denomina Socialismo Libertário ou
Libertarismo e constata que historicamente o homem nunca foi livre, mas sim
escravizado pelo seu principal senhor, o Estado:
A teoria Anarquista passa então a fazer a genealogia da dominação,
procurando as bases da opressão, e encontra na máquina política e no
Estado a personificação máxima do algoz que mantém o homem em
seu histórico cativeiro. É o Estado que transforma a sociedade em uma
teia por onde se dissemina o poder, envolvendo a todos em um
sistema de desigualdade e injustiças. Deste modo, qualquer ação de
transformação social deve visar, antes de tudo, a destruição da
máquina estatal; qualquer processo revolucionário que se comprometa
com a tomada do Estado e sua gestão, do ponto de vista libertário
estaria na verdade garantindo a manutenção do sistema de dominação,
apenas mudando-lhes algumas características não essenciais, como a
classe que exerce o poder e as que a ele estão submetidas. Uma
revolução que não dissolvesse o Estado não criaria as condições
básicas para a conquista da liberdade, e não poderia, portanto,
construir uma sociedade justa. (Gallo, 1990, pp. 22).
Para complementar o Programa Anarquista redigido por Malatesta, no início de
1920, Gallo (1990) oferece uma visão dos princípios básicos do Anarquismo, resumidos
em seis pontos, sendo três princípios teóricos e três relativos às atitudes práticas. Os três
princípios teóricos são: autonomia individual, autogestão social e Internacionalismo.
Para o Anarquismo, a autonomia individual implica que a liberdade é
fundamental, “e uma sociedade que não seja a realização da liberdade plena dos
indivíduos não pode ser admitida; o socialismo libertário vê no indivíduo a célula
fundamental de qualquer grupo ou associação, e que não pode ser preterido em nome do
grupo” (Gallo, 1990, p. 25). Em virtude da supremacia do princípio da liberdade
individual, o Anarquismo se opõe a qualquer tipo de poder institucionalizado,
autoridade ou hierarquização. Assim, para os anarquistas, a autogestão social significa
que a gestão da sociedade deve ser direta, pois são contrários à democracia
representativa. Em seu lugar, “os libertários propõem uma democracia participativa, na
qual cada pessoa participe ativamente dos destinos políticos de sua comunidade” (Gallo,
1990, p. 27). O Internacionalismo, por sua vez, se coloca na perspectiva de que,
historicamente, todos os nacionalismos sempre estiveram ligados a projetos de
dominação e exploração, enquanto a liberdade deve ser para todos. Dessa forma,
73
“mesmo que uma sociedade anárquica fosse construída em um determinado país ela não
seria completa, em meio à opressão dos trabalhadores restantes do planeta” (Gallo,
1990, p. 27).
Já os três princípios anarquistas relativos à prática, são: a ação direta, as
associações operárias e a greve geral. A ação direta é a prática de luta anarquista, na
qual o processo revolucionário deve ser resultado das massas. As duas principais
atividades de ação direta são a propaganda e a educação, “destinadas a despertar nas
massas a consciência das contradições sociais a que são submetidas, fazendo com que o
desejo e a consciência pela necessidade da revolução surja em cada um dos indivíduos”
(Gallo, 1990, p. 28). As associações operárias, por sua vez, resultam do repúdio
anarquista ao partido político e às organizações que reproduzem a política estatal.
Assim, as associações e organizações operárias criadas pelos libertários procuravam ser
“a livre expressão da cooperação e solidariedade, sem autoridade e hierarquização, com
a participação e a gestão direta dos próprios operários” (Gallo, 1990, p. 30). Por fim, a
Greve geral coroava a luta anarquista “como a principal forma de luta do operariado
contra seus opressores, e como ótima tática de treinamento para a organização solidária
e a ação direta” (Gallo, 1990, p. 31).
Contudo, para Gallo (1990), o Anarquismo não podia ser visto como uma
doutrina ou como um sistema filosófico, compondo um sistema fechado de ideias, pois
o Anarquismo era, antes de tudo, uma atitude que negava a autoridade e afirmava a
liberdade. Transformar essa atitude radical em uma teoria com pressupostos universais e
doutrinários seria negar o princípio básico da liberdade, “negar sua principal força, a
afirmação da liberdade, e a negação radical da exploração” (Gallo, 1990, p. 36).
Passetti e Augusto (2008, p. 55) informam que quando os anarquistas chegaram
ao Brasil, em 1888, não havia escolas para pobres. Foi quando alguns anarquistas se
uniram e fundaram algumas escolas e colônias, na quais não havia uma preocupação
específica com a educação escolar, mas sim com as maneiras livres de viver e de
educar, com a superação das condições monogâmicas do amor e do sexo, com a
propriedade privada e com o deslocamento do poder central para autoridades em
assuntos e técnicas de produção. Contudo,
Foi com a propagação do ideário anarquista que as associações de
classe propuseram escolas para operários e seus filhos. Além das
experiências em colônias na zona rural, aconteciam as discussões
próprias à formação da classe operária. Saber ler e escrever passava a
ser a condição para conhecer, pressionar, modificar e expandir com
74
mais força o ideário e a luta anarquista. As associações de classe
foram as primeiras a organizar escolas para alfabetização. Já em 1895,
no Rio Grande do Sul, aparecia a Escola União Operária e, com a
passagem do geógrafo anarquista Elisée Reclus por Porto Alegre, era
fundada uma escola com seu nome. Desde o início do século 20, a
relação entre escola, associação de classes e jornais nas regiões sul e
sudeste, mas também no nordeste, principalmente no Ceará, foram
fortalecidas e seus idealizadores eram os articulistas mais presentes na
imprensa libertária (Passetti e Augusto, 2008, p. 55-56).
Foi então que, à revelia do estado, foram criadas as escolas populares no Brasil,
informam Passetti e Augusto (2008, p. 56). Essas primeiras escolas de trabalhadores
livres foram: Escola Libertária Germinal, fundada em 1903; Escola Livre, em
Campinas, criada pela Liga Operária, em 1908; as Escolas Modernas apareceram em
1910, inspiradas na proposta de escola racionalista de Ferrer i Guàrdia:
Em pouco tempo, a proposta da escola racionalista de Francesc Ferrer
i Guàrdia era incorporada por esses anarquistas com uma pequena
ressalva. Enquanto o educador catalão propunha um método de educar
que ele considerava neutro, pois se posicionava equidistante do Estado
monárquico e do clero espanhol, no Brasil um pensador anarquista
como Florentino de Carvalho estabelecia uma diferença marcante.
Para ele, as escolas do Estado e do clero moldavam as crianças; em
nenhuma escola havia ensino neutro; e, portanto, a educação
anarquista, dentro e fora da escola, devia preparar para a vida livre
(Passetti e Augusto, 2008, p. 56).
Os próprios jornais anarquistas da época, a outra ponta da educação libertária
além da escola, constatavam a forte influência da proposta da escola racionalista de
Francesc Ferrer i Guàrdia nas Escolas Modernas, que no início dos anos de 1920 “foram
identificadas pelo governo como escolas de terroristas dispostos a desestabilizar a
ordem” (Passetti e Augusto, 2008, p. 58). No entanto, essas Escolas se transformaram
em associações, ligas e sindicatos e, posteriormente, em centros culturais, intensificando
“os esforços na formação cultural e política dos trabalhadores anarquistas e
diferenciavam-se dos sindicalistas vinculados ao Estado e dos que aderiram ao comando
do partido Comunista, a partir de 1922” (Passetti e Augusto, 2008, p. 58).
Os anarquistas compreendiam a educação como um processo amplo. Assim, a
alfabetização deveria ser uma prática que deveria ir da escola à universidade, e não um
“mero domínio elementar da escrita e da leitura oferecido em nome da devoção à
desobediência, à integração econômica, à ascenção social e à adesão política no
processo de moldagem da criança para a vida conformista” (Passetti e Augusto, 2008, p.
56). Nessa perspectiva é que “fundaram em 24 de julho de 1904, no Rio de Janeiro, e
75
onze anos depois em São Paulo, a Universidade Popular, em companhia de outros
intelectuais simpatizantes, e avessos ao governo oligárquico” (Passetti e Augusto, 2008,
p. 56) e, assim, tentavam estabelecer uma relação mais estreita entre escola e anarcosindicalismo e doutrina e método de luta (Passetti e Augusto, 2008, p. 56).
O jornal, da mesma forma que a escola, era um importante instrumento de luta
libertária para os anarquistas brasileiros. Aqui, os trabalhadores muitas vezes eram
estrangeiros, analfabetos que “desconheciam minimamente as leis e eram os alvos
principais das medidas de deportação, repressão policial diária e da discriminação
social. Eram tratados como caso de polícia” (Passetti e Augusto, 2008, p. 57). Essa
situação de exploração e opressão geravam congressos operários, ligas, associações e
greves, apoiados pelos intelectuais. Todo esse movimento libertário foi acompanhado
da criação de uma imprensa própria, fundamental para dar sustentação ao próprio
movimento educacional no seu sentido amplo de formação cultural (Passetti e Augusto,
2008, p. 58). Assim,
A imprensa era a divulgadora da escola libertária e ao mesmo tempo o
seu material escolar, pois trazia, além de informações de ciência e
arte, notícias atuais sobre a situação dos trabalhadores, seus filhos,
habitações, saúde, e informava sobre as variadas sociabilidades
anarquistas. (Passetti e Augusto, 2008, p. 58).
Segundo Passetti e Augusto (2008), para os libertários, jornal e escola
compunham duas faces de uma mesma moeda educacional, na qual a escola era um
espaço físico de formação e informação e, também, de aglutinação de diversas ideiasforça libertárias. Assim, “educação, escola e revolução eram indissociáveis e
simultâneos; aconteciam no momento em que o jornal era escrito, quando era
distribuído, ao inflamar os leitores para a luta imediata, e ao sinalizar para a utopia
igualitária” (Passetti e Augusto, 2008, p. 64). Dessa forma, segundo os anarquistas, “a
escola estava nos jornais e nos jornais estava o mundo” (Passetti e Augusto, 2008, p.
59).
Os anos de 1920 trazem um declínio das ideias libertárias na condução do
movimento operário que, por sua vez, acaba seguindo as orientações comunistas. O
acontecimento histórico responsável por esse deslocamento é a experiência soviética,
que, no Brasil, determinou a fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), em
1922, com a participação dos anarcossindicalistas (Saviani, 2007, p. 183).
76
4.2. - Segunda República (1930-1937): missão francesa e pragmatismo versus
neotomismo
As matrizes filosóficas que marcaram as teorias e as instituições educacionais na
Segunda República foram praticamente as mesmas do primeiro período republicano.
Ou seja, Positivismo, Catolicismo, Pragmatismo e Anarquismo. Sendo que o
Positivismo teve um papel menos relevante e o marxismo ganhou um vulto maior no
panorama filosófico brasileiro.
Aqui, no entanto, optamos por enfatizar três matrizes filosóficas mais próximas
da presente pesquisa, por terem influenciado fortemente os seguintes acontecimentos da
educação brasileira: o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a fundação da USP e
o surgimento das PUCs. Com relação ao Manifesto, vamos averiguar em que medida
houve de fato uma influência decisiva do pensamento deweyano, sobre ele e a efetiva
marca do pensamento norte americano sobre um dos seus signatários, Anísio Teixeira.
A fundação da USP exige que se faça uma reflexão em torno da influência filosófica
francesa sobre os rumos do estudo da Filosofia no Brasil, a partir da criação dessa
instituição. As Pontifícias Católicas, por sua vez, são representativas da forte influência
do pensamento católico que se sustenta na tradição aristotélico-tomista e se tornaram
um forte instrumento educacional no Brasil.
a) A matriz filosófica deweyana e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
Uma das marcas do segundo período republicano foi o tratamento dado à
educação como sendo uma questão nacional, através de regulamentação do governo
central, que, por meio de diversos decretos, promoveu a Reforma Francisco Campos
(Saviani, 2007, p. 196). O momento inicial da Segunda República foi marcado pelo
conflito filosófico entre aristotélico-tomistas e pragmatistas, representados por católicos
e escolanovistas:
Eles participavam, lado a lado, na Associação Brasileira de Educação
(ABE). O conflito emergiu no apagar das luzes de 1931, na IV
Conferência Nacional de Educação, vindo a consumar-se a ruptura
com a publicação do “Manifesto da Educação Nova”, no início de
1932. Em consequência, os educadores católicos retiraram-se da ABE
e fundaram, em 1933, a Confederação Católica Brasileira de Educação
(Saviani, 2007, p. 197).
No Brasil, os escolanovistas foram responsáveis pelo desenvolvimento e
divulgação das ideias filosóficas pragmatistas e pedagógicas da Escola Nova. Lourenço
77
Filho, além de exercer diversas atividades institucionais ligadas à educação, foi um dos
primeiros brasileiros a escrever uma reflexão mais voltada para a Filosofia da Educação,
ao mesmo tempo em que divulgava o ideário renovador educacional, no seu livro
Introdução ao estudo da Escola Nova, publicado no início dos anos de 1930. Contudo,
suas preocupações teóricas foram mais representativas no âmbito das “bases
psicológicas do movimento renovador”, conforme Saviani (2007, p. 198 e ss.).
O jornalista, professor e homem público Fernando de Azevedo, por sua vez,
estava mais voltado em pensar as “bases sociológicas” das reformas produzidas pelo
movimento renovador da Escola Nova (Saviani, 2007, p. 206 e ss.). Ele não foi
propriamente um estudioso de Dewey e minimizava a influência da filosofia americana
sobre a Escola Nova, que teria sofrido outras influências teóricas (Saviani, 2007, p.
211). Para Saviani (2007, p. 214), os estudos de Azevedo acentuaram o “aspecto social,
o que está em consonância com sua condição de catedrático de sociologia que encontrou
em Durkheim sua inspiração principal, complementada por Mannheim”.
Anísio Teixeira, professor, escritor e homem público, foi quem efetivamente
mais se debruçou sobre as “bases filosóficas e políticas da renovação escolar” (Saviani,
p. 216) e esteve mais próximo do pensamento deweyano:
Na formação pedagógica de Anísio Teixeira, foram decisivas as duas
viagens que fez aos Estados Unidos. Da primeira, em 1927, resultou o
livro Aspectos americanos da educação, publicado em 1928, no qual
relata os resultados de sua viagem, apresentando comentários sobre
estabelecimentos de ensino, órgãos de administração, edifícios,
métodos práticos de ensino, currículo flexível e variado, vida
estudantil, além de uma primeira sistematização da concepção de
Dewey. Com certeza foi essa experiência que o motivou a retornar aos
Estados Unidos em 1929 para realizar o mestrado na Universidade de
Columbia, ocasião em que fez estudos com Dewey. Após seu retorno
ao Brasil, traduziu dois ensaios de John Dewey, “A criança e o
programa escolar” e “Interesse e esforço”, reunidos no livro Vida e
educação, publicado em 1930 com uma introdução por ele redigida. E
em 1933 publicou o livro Educação progressiva: uma introdução à
filosofia da educação, declaradamente filiado ao pensamento
pedagógico de Jonh Dewey. A partir da 5ª edição, publicada em 1968,
o título do livro foi invertido, passando a ser Pequena introdução à
filosofia da educação: a escola progressiva ou a transformação da
escola (Saviani, 2007, p. 227-228).
Em 1935, ano em que criou a Universidade do Distrito Federal, Anísio Teixeira
publicou Em marcha para a democracia: à margem dos Estados Unidos. Neste livro é
destacada a prosperidade material desse país e apresentada a adequação da filosofia
pragmática à nova ordem científica. São apresentadas, ainda, as sugestões de Dewey e
78
Walter Lippmann para a teoria democrática e a importância da educação pública para a
democracia (Saviani, 2007, p. 219).
Ao final de 1935, com o golpe do Estado Novo, Anísio se demitiu dos cargos
que ocupava e se afastou da vida pública, em protesto contra o autoritarismo político
que ia se estabelecendo com o governo Vargas. Em seguida publicou o livro Educação
para a democracia: introdução à administração educacional e prosseguiu fazendo a
divulgação da filosofia norte americana por intermédio de traduções, principalmente das
obras de Dewey. Contudo, esse trabalho de divulgação do pensamento democrático
norte americano foi interrompido em 1938, em função de ter sido considerado
subversivo pela Ditadura do Estado Novo (Saviani, 2007, p. 219-220).
A admiração de Anísio pela democracia estadunidense, não implicava em
simplesmente transportar as experiências americanas para as terras brasileiras. Ao
contrário, ele sempre procurou, “a partir das condições brasileiras, encaminhar a questão
da educação pública na direção da construção de um sistema articulado” (Saviani, 2007,
p. 226), inclusive em termos de reflexões teóricas presentes em suas diversas obras.
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito em 1932, por Fernando de
Azevedo, representou um marco na história da educação brasileira:
Apesar de representar tendências diversas de pensamento – como as
do filósofo John Dewey e a do sociólogo francês Émile Durkhein [...]
– compunha numa autêntica e sistematizada concepção pedagógica,
indo da filosofia da educação a formulações pedagógico-didáticas,
passando pela política educacional (Ghiraldelli, 2009, p. 22-23).
Como se pôde constatar na citação precedente, não havia uma influência
filosófica única a nortear o Manifesto de 32. A sua proposta mais abrangente, A
reconstrução educacional no Brasil, explicita os fundamentos filosóficos e sociais da
educação apresentando as “finalidades da educação” e os “valores mutáveis e valores
permanentes” de uma sociedade.
No primeiro tópico, é apresentado que “toda educação varia sempre em função
de uma ‘concepção de vida’” (Azevedo, 2006, p. 230), a qual é determinada pela
estrutura da sociedade. O mestre deve se orientar por um ideal que deve ser seguido
pelos educandos. Alguns consideram esse ideal abstrato e absoluto, outros o julgam
concreto e relativo, mas, na verdade, esse ideal sempre variou historicamente e foi
sempre inspirado na natureza da realidade social. Assim, a Educação Nova seria “uma
reação categórica, intencional e sistemática contra a velha estrutura do serviço
79
educacional, artificial e verbalista, montada para uma concepção vencida” (Azevedo,
2006, p. 231). Esta concepção tradicional, ligada a interesses de classes, deverá ser
substituída pela nova concepção fundada no caráter biológico, que permite ao indivíduo
se educar conforme suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica
e social. A educação Nova sustenta sua feição social na “hierarquia das capacidades”,
pela qual todos os grupos sociais teriam seus membros contemplados com as mesmas
oportunidades educacionais. Enquanto a escola tradicional concebia o indivíduo isolado,
a nova educação vincula a escola ao meio social, formando homens cooperativos e
solidários (Azevedo, 2006, p. 232).
O segundo tópico, “Valores mutáveis e valores permanentes”, afirma que foi a
partir das fábricas que se plasmou o trabalho como base da formação da personalidade
moral e também como único meio para tornar os indivíduos humanos seres cultivados e
úteis sob todos os aspectos (Azevedo, 2006, p. 232). É do trabalho, portanto, que advém
o equilíbrio entre os valores humanos mutáveis e permanentes, pois “se se quer servir à
humanidade, é preciso estar em comunhão com ela” (Azevedo, 2006, p. 232).
Saviani (2007) também é assertivo quanto ao teor múltiplo e até mesmo
contraditório das influências filosóficas do Manifesto:
Como documento doutrinário, o texto declara-se filiado à Escola
Nova. De fato, o conjunto do trabalho é atravessado implícita ou
explicitamente pela perspectiva escolanovistas. Implicitamente, na
medida em que se insere no movimento de renovação e que se propõe
a tarefa de reconstrução educacional. Explicitamente, quando se
empenha em enunciar as bases, princípios e procedimentos próprios
da Escola Nova, opondo-se à escola tradicional. No entanto, não se
trata de um texto homogêneo, sendo possível, mesmo, considera-lo
um tanto contraditório. Isso é explicável seja pelo caráter de manifesto
que procura angariar adeptos junto à opinião pública, o que
geralmente implica concessões em detrimento da pureza doutrinária;
seja pelo seu redator, Fernando de Azevedo, cuja adesão à Escola
Nova, [...], foi marcada por certa heterodoxia ou ecletismo (Saviani,
2007, p. 251).
Saviani também ressalta que, além da própria formação filosófica contraditória
de Fernando de Azevedo, havia a multiplicidade de diversas correntes filosóficas
próprias aos integrantes do movimento escolanovista, que, certamente, marcou as
influências filosóficas díspares que incidiram sobre o Manifesto (Saviani, 2007, p. 251 e
ss.).
80
b) A matriz filosófica francesa, a missão francesa filosófica e a criação da USP 30
Alguns estudiosos apontam a fundação da USP – Universidade de São Paulo –
em 1934, como sendo resultante da Revolução Constitucionalista de 1932,
consequência dos conflitos entre os tenentes ligados à ditadura getulista e a elite
intelectual paulista, que, derrotada, viu a necessidade da criação de uma universidade,
em São Paulo, para a formação de quadros dirigentes no Estado e no País. Outros
estudiosos apontam a fundação da USP como resultado da conciliação entre esses
grupos dominantes, com o objetivo de formar uma elite dirigente: “Segundo esta
concepção, só a elite devidamente esclarecida e formada teria condições de propor um
projeto para a nacionalidade que estivesse acima dos interesses partidários” (Cf. Costa
de Paula, 2002). Nesse sentido, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da
USP ocupava uma posição fundamental, pois a ela era delegada a função de organizar a
universidade e constituir um sentimento de nacionalidade.
Dessa forma, a criação de uma universidade em São Paulo deve ser
compreendida dentro de um contexto amplo de efervescência cultural que marcava a
década de 30 no Brasil e, mais particularmente, a capital paulista:
Em ensaio já clássico sobre o período, Antônio Cândido aponta para
as novidades que têm lugar na época, e que se aglutinam em torno de
um movimento de unificação cultural: “rotinização” dos ideais
estéticos modernistas; engajamento político, religioso e social dos
intelectuais e artistas; expansão da participação na instrução pública,
na vida artística e literária, ampliação de meios de difusão como o
livro e o rádio etc. Todos esses fatores contribuem, segundo ele, para a
configuração de uma mentalidade mais democrática em relação à
cultura (Peixoto, 2000, p. 159).
A participação da chamada missão francesa no Brasil, que veio com a fundação
da USP, foi decisiva, portanto, para a renovação e modernização dos estudos das
ciências humanas no país. A palavra “missão” era oficial e a explicação que Fernando
Novais oferece é que, possivelmente, éramos vistos como uma terra de índios que
deviam ser catequizados. A palavra traduziria certa atividade messiânica. Mas essa não
30
A temática uspiana aqui abordada, bem como o tópico também referente à USP na Quarta República,
consiste em uma adaptação de um artigo da autora com a seguinte referência de publicação: MARINHO,
Cristiane Maria. A importância da Missão Francesa para a Filosofia brasileira na fundação da USP. In:
Ressonâncias: a civilização francesa revisitada. Ana Cláudia Giraud [et al] (Orgs.). Fortaleza, CE:
EdUECE, 2009.
81
foi a única missão francesa que aportou no Brasil: a primeira missão francesa foi a
artística, vinda com Dom João VI; a segunda veio no período republicano para instruir
os oficiais do Exército; a terceira foi a dos professores que vieram auxiliar na
estruturação da USP e da Faculdade de Filosofia (Cf. Novais, 1994).
Os componentes dessa missão hoje são nomes reconhecidos, mas na década de
30, eram jovens de vinte e poucos anos e recém-formados. Entre eles estão nomes
como: Roger Bastide, Paul Arbousse-Bastide, Braudel, Levis-Strauss, Pierre Monbeig,
Jean Maugüé e outros. Fernando Novais relata que o critério para a seleção desses
professores foi um tanto quanto aleatório:
Lévi-Strauss conta, no primeiro capítulo de Tristes trópicos, que era
formado em filosofia, mas desejava ser antropólogo. Relembra que,
num certo dia, recebeu um telefonema de um filósofo, seu professor,
perguntando se continuava com a ideia de estudar índios. Diante da
confirmação, esse professor disse: “Então, você precisa falar com
Georges Dumas, pois ele está organizando uma missão que vai para
uma Universidade em São Paulo, recém-criada; e nos arredores dessa
cidade enxameiam índios” (Novais, 1994, p. 1).
Em 1934, era Georges Dumas, professor de Sociologia da Sorbonne, o
encarregado de enviar, anualmente, ao Brasil professores de várias universidades
francesas para compor o corpo docente da USP. Costa de Paula informa, ainda, que
Dumas foi responsável pela contratação de professores franceses para a Federal do Rio
de Janeiro: “a diferença é que, na Capital Federal, a contratação era feita através do
Ministro Capanema, após autorização de Getúlio Vargas, e obedecia fundamentalmente
a critérios ideológicos, sobretudo o vínculo com a Igreja Católica” (Costa de Paula,
2002, p. 155). Talvez por esse motivo, o impacto da missão francesa foi maior na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que na Faculdade Nacional de
Filosofia da URJ. Dessa forma, durante quarenta anos, o departamento de filosofia da
USP teve professores franceses com pagamento subsidiado pela França e com boa parte
das aulas ministradas em francês.
Renato Janine Ribeiro nos relata, no seu texto Filósofos franceses no Brasil: um
depoimento, que antes da fundação do departamento de filosofia da USP, a filosofia
brasileira era predominantemente tomista ou eclética. A predominância da formação
teológica, ou meramente erudita, no cenário filosófico brasileiro, impossibilitava uma
leitura científica e rigorosa dos textos clássicos. A missão francesa uspiana da filosofia
veio possibilitar uma sistematicidade aos estudos filosóficos:
82
O rigor se devia a mestres franceses, como Martial Guéroult e Victor
Goldschmidt, que haviam formado seus alunos brasileiros segundo
regras que, mais tarde, viriam a ser chamadas de estruturalistas. Um
cássico era o Descartes selon l’ordre des raisons, de Guéroult, que
efetuava uma leitura rigorosamente interna do texto e mostrava como
viável uma abordagem científica da filosofia. Daí que lêssemos os
clássicos e, bem pouco, os comentadores. Esse procedimento teve uma
grande vantagem, porque treinou bem os alunos (Ribeiro, 2007, p. 2).
Assim, podemos afirmar que o pensamento franco-uspiano veio inaugurar uma
nova fase nos estudos filosóficos brasileiros, prevalentemente, realizados em leituras de
segunda mão. Impõe-se um limite ao amadorismo e à mera erudição filosóficas, que são
substituídos pelo acesso aos clássicos em um primeiro período, década de 30, e em
seguida pela adesão ao método estrutural, em um segundo período, década de 60,
possibilitando uma leitura exegética das grandes obras.
A atuação dos professores franceses na USP pode ser dividida em dois períodos:
década de 30 e década de 60 do século XX. No primeiro período destacavam-se nomes
como os dos jovens Roger Bastide e Claude Lévi-Strauss no ensino das Ciências Sociais
e o de Jean Mangüé na Filosofia. O professor Mangüé predominou nessa primeira etapa,
de 35 a 44 e foi sucedido por João Cruz Costa, a qual teve características mais culturais
do que científicas. Segundo Ribeiro (2007), o professor Mangüé convidava seus
estudantes a uma imersão na cultura através de filmes, peças de teatro, romances e, por
isso, essa etapa, foi vital para a formação de uma geração extremamente criativa. No
depoimento de Gilda de Mello, aluna do mestre e depois professora de Estética da USP,
bem como grande estudiosa da cultura brasileira, também podemos observar algumas
particularidades das aulas de Mangüé:
[...] o mundo que então nos foi revelado não se insinuou apenas por
meio das aulas e dos livros, mas de uma infinidade de pequenas
brechas: os intervalos dos cursos, a troca de opiniões, a confissão
mútua de projetos e dúvidas, tudo o que foi cimentando o respeito e a
amizade que nos fez tão companheiros pelos anos afora [...]. Essa
sociabilidade não tinha propriamente um perfil. Era uma figura de
muitas faces, complexa, muita rica... Começava a se desenrolar na
frequência dos cursos, sobretudo nas aulas do professor Mangüé, em
que todo o mundo se encontrava, calouros, veteranos, ouvintes
interessados na matéria e senhoras da sociedade. Foi ali que nasceu
espontaneamente o nosso grupo [Clima] 31, fruto de um conjunto de
31
O grupo tinha uma vasta atividade cultural que envolvia cinema, teatro, filosofia, mas levou adiante,
como carro chefe, a Revista Clima no início dos anos 40 que foi um dos marcos da vida intelectual
brasileira. Antônio Cândido, um dos ícones posteriores da intelectualidade brasileira, também fazia parte
do grupo e da revista, tendo sido também marido de Gilda de Mello e Souza. Essa filósofa também
83
afinidades e circunstâncias. Em primeiro lugar, éramos todos
discípulos de Mangüé [...] (Gilda de Mello e Souza apud Peixoto,
2000, p.163)
Em fevereiro de 1935, o navio Mendoza, da Compagnie des Transports
Maritimes, trouxe a bordo o jovem normalien Jean Mangüé para substituir Etienne
Borne, primeiro professor responsável pelo curso de Filosofia da recém fundada USP:
Convidado a fixar as condições do ensino filosófico na recém fundada
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo, Mangüé resumiu-as numa fórmula cujo aspecto paradoxal
pareceria além do mais involuntariamente talhado para desarmar
desde logo o futuro requisitório das vocações municipais contra os
professores oficiais e diplomados de Filosofia: filosofia não se ensina,
quando muito ensina-se a filosofar (Arantes, 2000, p. 63).
Essas diretrizes para o ensino da Filosofia vão determinar todo o posterior modo
de ensino filosófico uspiano, sendo levadas a uma radicalização no período seguinte da
década de 60, por intermédio dos adeptos do método estrutural. Por isso, costuma-se
falar que Mangüé teria feito a “certidão de nascimento” do modo de ensinar filosofia no
Brasil.
Assim, ficou abolida, no país, a forma de estudar filosofia a partir dos manuais
que costumavam oferecer visões panorâmicas de sistemas de pensamentos e que nem
sempre eram feitos a partir dos clássicos ou de uma boa tradução. Mangüé instituiu os
chamados cursos monográficos como diretriz imprescindível nos estudos filosóficos.
Ou seja, agora deveriam fazer estudos que contemplassem as próprias obras dos autores
clássicos. Por tudo isso, Arantes (2000) reputa Mangüé como tendo desenvolvido um
papel decisivo na nossa formação filosófica.
O velho mestre teve o reconhecimento declarado de grandes expoentes da
cultura brasileira, principalmente pelo modo irreverente de se comportar dentro da
academia. Oswald de Andrade, por exemplo, crítico confesso do mundo acadêmico, o
achava brilhante. Antônio Cândido, aluno e discípulo, reconhece a importância do antiacademicismo do mestre que: “[...] utilizava largamente reflexões e análises sobre
literatura, pintura, cinema. As suas aulas eram extraordinárias como expressão e
criação, sendo assistidas por várias turmas sucessivas de estudantes já formados que não
conseguiam se desprender do seu fascínio” (Arantes, 2000, p. 65).
participou da criação da Revista Discurso na década de 70 que se constituiu uma referência dos estudos
filosóficos brasileiros.
84
Com a missão francesa, encarnada na figura de Mangüé, veio então uma
“transformação capital em nossos hábitos intelectuais. Pela primeira vez estávamos
aprendendo a estudar, a começar pela descoberta do que vinha a ser uma aula de
verdade” (Arantes, 2000, p. 67). Nesse sentido, é precioso outro depoimento de Gilda
de Mello Souza a respeito das aulas do grande mestre:
Não mais a repetição mecânica de um texto, vazio e inatual, cujas
fontes eram cuidadosamente escamoteadas da classe, mas a exposição
de um assunto preciso, apoiado numa bibliografia moderna, fornecida
com lealdade ao aluno. Ao contrário da tradição romântica de ensino,
baseada na improvisação e no brilho fácil, que ainda imperava na
Faculdade de Direito, por exemplo, o professor consultava
disciplinadamente as suas anotações, aumentando com isso a
confiança dos alunos na seriedade do ensino (Arantes, 2000, p. 67).
Essa etapa da década de 30 é muito pouco lembrada, prevalecendo a memória da
década de 60, na qual predominaram características mais científicas na formação
propiciada pelos mestres franceses, como veremos adiante, bem como sua decisiva
marca com a método estrutural, tido como o “mais adequado” para se estudar filosofia.
c) A matriz filosófica aristotélico-tomista e a criação das Pontifícias Universidades
Católicas
Como visto acima, a partir da divulgação do Manifesto de 1932, ocorre uma
ruptura entre os renovadores escolanovistas e os católicos: “A Igreja católica armou
uma trincheira e centrou fogo na filosofia do pragmatismo americano e nos teóricos do
movimento da Escola Nova no Brasil, principalmente nos que haviam incorporado
alguma coisa das leituras que fizeram de John Dewey” (Ghiraldelli, 2009, p. 41).
Em virtude do rompimento, os católicos saem da ABE e fundam a CCBE
(Confederação Católica Brasileira de Educação), em 1933. Essa Confederação se
espalha em uma rede nacional através de Congressos, Associações, Colégios e Revistas,
multiplicando seguidores e fortalecendo o poderio político e educativo da Igreja
Católica32.
32
Miceli (1979, p. 53), citado por Saviani, informa que no campo religioso a Ação Católica desenvolveu
uma militância para aglutinar a juventude que abarcava as cinco vogais: Juventude Agrária Católica
(JAC); Juventude Estudantil Católica (JEC), para estudantes secundaristas; Juventude Independente
Católica (JIC); Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Universitária Católica (JUC). Além dessas
associações havia outras tantas para cada seguimento da sociedade.
85
À frente dessa movimentação estava Alceu Amoroso Lima que, como visto,
substituiu Jackson de Figueiredo na liderança do pensamento católico, em 1928, em
virtude de sua morte. Juntamente com Amoroso Lima, estavam também Padre Leonel
Franca e o Cardeal Leme, na liderança católica.
A preocupação e necessidade da Igreja em formar líderes intelectuais nos moldes
do espírito católico levou à fundação da Associação dos Universitários Católicos que
desembocaria na criação do Instituto Católico de Estudos Superiores, em 1932, que, por
sua vez, daria surgimento às Faculdades Católicas e às Pontifícias Universidades
Católicas 33 (Saviani, 2007, p. 256).
A bandeira da luta dos católicos contra os renovadores escolanovistas consistia,
principalmente, no combate à laicização do ensino. Para a Igreja, religião e pedagogia
são inseparáveis. Esta ideia fica plenamente explicitada na seguinte passagem do livro
do Padre Leonel Franca: “Se a educação não pode deixar de ser religiosa, a escola leiga
que, por princípio, ignora a religião, é essencialmente incapaz de educar. Tal é o
veredicto irrecusável de toda sã pedagogia” (Franca apud Saviani, 2007, p. 257).
Portanto, a escola leiga, defendida pelos escolanovistas, não educava, pois “somente a
escola católica seria capaz de reformar espiritualmente as pessoas como condição e base
indispensável à reforma da sociedade” (Saviani, 2007, p. 257).
Para os católicos haveria um “naturalismo pedagógico”, expresso na encíclica do
papa Pio XI, Divini illius magistri, de 1929, que estabeleceu a hierarquia Família, Igreja
e Estado como responsáveis pela educação. Haveria, portanto, uma precedência da
Família e da Igreja sobre o Estado, ou seja, a naturalidade e a sobrenaturalidade
deveriam prevalecer sobre a instituição do Estado, criada culturalmente, tanto em
termos filosóficos quanto em termos históricos. Assim,
[...] para os católicos, tanto a laicidade como o monopólio estatal do
ensino atentam contra a ordem natural e divina. Eles reconhecem a
importância do Estado, mas entendem que seu papel, no interesse do
bem comum, é o de orientar, articular e coordenar ações da Igreja e da
família no exercício da tarefa educativa. E justificam sua posição com
duas ordens de argumento. A primeira ordem era de caráter
filosófico-teológico, tendo, pois, sentido universal, fundamentado
na filosofia perene sistematizada, a partir de Aristóteles, por
Santo Tomás de Aquino. A segunda ordem de argumento é de
caráter empírico e histórico: a laicidade e o monopólio estatal do
33
A primeira PUC a ser criada foi a do Rio de Janeiro em 1947; a PUC-SP em 1947; a PUC Rio Grande
do sul em 1948; PUC Campinas em 1941; PUC-MG em 1958; dentre outras.
86
ensino chocam-se com a moral e os sentimentos católicos da maioria
do povo brasileiro (Saviani, 2007, p. 258) (Grifo nosso).
Ghiraldelli (2009, p. 44) afirma que os intelectuais católicos brasileiros seguiam
o que se convencionou chamar de tomismo, ou neotomismo, que tem na filosofia de
Tomas de Aquino a filosofia oficial da Igreja, como ficou decidido após a Encíclica
Aeterni Patris, do papa Leão XIII em 1879. Assim, pode-se observar que os
neotomistas brasileiros tiveram um peso decisivo na organização do ensino superior
particular, principalmente a partir dos anos 1930, apesar de terem começado esse
trabalho desde 1910:
Do ponto de vista histórico, data do início deste século a explicação
mais sistemática do neotomismo como modelo filosófico autônomo,
rompendo os círculos restritamente eclesiásticos e adquirindo
expressão acadêmica e cultural mais consistente. Com efeito, em
1908, os beneditinos fundaram em São Paulo a Faculdade de Filosofia
São Bento – por sinal, o primeiro curso regular de filosofia no Brasil e
embrião da futura Universidade Católica de São Paulo – que se tornou
um vigoroso centro de cultivo e de irradiação da filosofia neotomista,
sobre a influência direta da Universidade de Louvaina, na Bélgica
(Severino apud Ghiraldelli, 2009, p. 44).
O belga Leonardo Van Acker e o brasileiro Alexandre Correia, que estudaram
em Louvaina, “se tornaram reconhecidos expoentes do neotomismo em São Paulo.
Passariam a integrar, depois, o corpo docente da PUC-SP, marcando o curso de filosofia
dessa Universidade com essa orientação teórica, até praticamente a reforma
universitária de 1970” (Severino apud Ghiraldelli, 2009, p. 44). Mas o grande “iniciador
da renovação tomista no Brasil” foi o Pe. Leonel Franca, tido como “um dos grandes
sistematizadores da escolástica tomista no Brasil” (Acerboni apud Ghiraldelli, 2009, p.
44).
No entanto, adverte Ghiraldelli (2009, p. 41-42), havia uma diferença entre o
combate dos educadores católicos contra os educadores escolanovistas e a “fúria da
hierarquia católica contra as pedagogias libertárias dos anos 1910, aqueles grupos
seguidores de Ferrer e outras formas de pedagogias ligadas ao anarquismo e afins”
(Ghiraldelli, 2009, p. 41- 42). Nesse ano, a Igreja Católica procurou, radicalmente,
inviabilizar a disseminação das pedagogias libertárias ou qualquer outra tendência
pedagógica de cunho socialista, mas na década de 30 o combate à proposta
escolanovista arrefeceu a partir de determinada altura: “Não a rechaçaram em bloco.
Disputaram com a intelectualidade laica o que começaram a ver como possíveis virtudes
87
do ideário da escola nova que, afinal, ganhava adeptos velozmente na vanguarda do
professorado” (Ghiraldelli, 2009, p. 42). O que acabou criando um escolanovismo
católico.
É necessário ressaltar que a condução pedagógica do emergente escolanovismo
católico seguia a tradição do aparato filosófico do pensamento católico tradicional. Ou
seja, “com uma visão hierarquizada, buscando restaurar o princípio de autoridade e
privilegiando a ordem sobre o progresso, a visão católica considerava o povo como
elemento a ser conduzido por uma elite responsável, formada segundo princípios da
‘reta moral cristã’” (Saviani, 2009, p. 259). Essa elite responsável pela condução das
massas teria seu locus privilegiado de formação nas PUCs, criadas precisamente com
essa finalidade. É uma das facetas que constituiu o que ficou conhecido como
“modernização conservadora”. Contudo, Leonardo Van Acker, mesmo reconhecendo a
validade dos princípios da escola nova, afirmava que “tais princípios já estavam
presentes na concepção pedagógica de Santo Tomás de Aquino” (Saviani, 2007, p.
299).
4.3. - Quarta República (1945-1964): liberalismo e socialismo cristão
O período inicial da segunda metade do século XX foi marcado pela polêmica
entre a primazia da escola pública ou da escola particular. A polêmica teve início a
partir da Conferência “A escola pública, universal e gratuita”, proferida por Anísio
Teixeira, então diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP, no
Primeiro Congresso Estadual de Educação Primária, em 1956. Os católicos, que tiveram
interesses contrariados no Congresso, deturparam o teor do discurso com a acusação de
comunismo, tentando “aproximar o pragmatismo de Dewey do marxismo” (Saviani,
2007, p. 287).
A ABE saiu em defesa de Anísio Teixeira, argumentando que as colocações
feitas na exposição foram, primeiro, compatíveis com os ideais democráticos ocidentais
e, segundo, extremamente relevantes em virtude de seu teor inovador, expresso nos
princípios e métodos deweyanos. A Igreja contra atacou com o Memorial dos Bispos, no
qual reiterou as acusações de comunismo contra o palestrante. Contudo, em resposta a
esse memorial, “529 intelectuais educadores, cientistas e professores reconhecidos em
todo o país lançaram um abaixo-assinado protestando contra o memorial e em defesa de
Anísio Teixeira, que foi mantido no cargo por Juscelino Kubitschek” (Saviani, 2007, p.
88
287). Anísio Teixeira, por sua vez, realizou inúmeras declarações demonstrando o seu
distanciamento da filosofia marxista:
Mostrando a diferença entre sua visão de educação e a dos marxistas;
evidenciando suas convicções contrárias às diferentes formas de
violência na vida social e política; manifestando sua discordância do
postulado da luta de classes; reiterando à exaustão que jamais
defendeu o monopólio estatal da educação; insistindo em seu respeito
pela escola particular (Saviani, 2007, p. 287).
Em 1958, a tramitação do Substitutivo Lacerda, no Congresso Nacional, que
contemplava os interesses da escola particular, tornou a polêmica entre escola particular
e escola pública ainda mais acirrada. O fato é que a discussão tomou proporções
nacionais: de um lado, os defensores da escola particular: a Igreja e os proprietários de
escolas privadas; de outro, os defensores da escola pública: intelectuais das mais
diversas formações teóricas e ligados às mais diferentes instituições.
a) As matrizes filosóficas da polêmica entre escola pública e escola particular
O grupo de intelectuais defensores da escola pública pode ser identificado em
suas posições diferenciadas a partir da aproximação com três correntes filosóficas
(Saviani, 2007; Ghiraldelli, 2009):
Do ponto de vista da filosofia da educação, podemos dizer que três
grupos dirigiram a Campanha de Defesa da Escola Pública. Esses
grupos, que no desenrolar do processo se interpenetraram e souberam
trabalhar em consonância, em nenhum momento deixaram de manter
intactas suas fronteiras teóricas. O primeiro grupo girou em torno de
Anísio Teixeira e inspirava-se no ideário liberal e na filosofia
pragmatistas americana de John Dewey. O segundo grupo, de Roque
Spencer Maciel de Barros, Laerte Ramos de Carvalho, João Villa
Lobos e outros, pautava-se pelas diretrizes de um ideário liberal de
cunho mais conservador, cuja filosofia da educação filiava-se a
tendências idealistas – com Roque Spencer Maciel de Barros como
leitor do filósofo alemão Immanuel Kant [...].
Para o terceiro grupo – os socialistas – tratava-se apenas de instituir
uma escola capaz de “socializar a cultura para as classes
trabalhadoras”. O próprio Florestan Fernandes, em 1960, colocou de
público que a luta não era por princípios socialistas, mas apenas por
conquistas já alcançadas nos “países capitalistas avançados”
(Ghiraldelli, 2009, pp. 79 a 81).
Saviani (2007) se estende de forma mais demorada na análise filosófica dessas
vertentes que nortearam esses três grupos defensores da escola pública frente à Igreja e
aos proprietários das escolas privadas. Ele se refere ao grupo inspirado na filosofia de
Dewey como sendo liberal-pragmatista, filiados aos educadores do movimento
89
renovador dos Pioneiros da Educação Nova. Dentre eles destacam-se: Anísio Teixeira,
Fernando Azevedo, Almeida Júnior e Lourenço Filho. Este grupo aglutinou diversas
forças favoráveis ao movimento em defesa da escola pública, no manifesto Mais uma
vez convocados, redigido por Fernando de Azevedo, em 1959, escrito quase trinta anos
depois do Manifesto da Educação Nova, e com o mesmo teor de resistência política.
Com relação às questões filosóficas, Saviani assim analisa esse grupo:
Essa corrente abstém-se de considerar o homem como um valor
absoluto. Situa-se no terreno das necessidades práticas, seguindo o
princípio enunciado por William James: para o pragmatismo o “único
teste de verdade provável é o que trabalha melhor no sentido de
conduzir-nos, o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina
com a coletividade dos reclamos da experiência” [...]. No campo da
educação essa concepção tem como um de seus maiores formuladores
John Dewey, que teve em Anísio Teixeira o seu principal divulgador
no Brasil (Saviani, 2007, p. 290).
Saviani (2007, p. 289) denomina um segundo grupo de liberal-idealista,
representado pelo jornal O Estado de S. Paulo, sob a direção de Júlio de Mesquita
Filho, e por professores da área de filosofia e história da educação da USP, como Roque
Spencer Maciel de Barros, Laerte Ramos de Carvalho e João Eduardo Rodrigues
Villalobos. Na perspectiva filosófica kantiana, pela qual esse grupo se orientava, o
homem, a educação e liberdade eram definidas da seguinte forma:
[...] o homem é entendido como um ser racional e livre. A liberdade é
concebida como ausência de constrangimento, tendo por fim a
autonomia ética. A base dessa concepção remonta à ética kantiana, em
que o homem é definido pela moralidade. A tarefa da educação
consiste, pois, em converter o homem num ser moral, transformando
sua animalidade em humanidade. O homem é considerado um valor
supremo que se afirma na sua individualidade e originalidade,
independentemente de suas condições sociais e históricas em que vive
(Saviani, 2007, p. 289).
Em conformidade com o pensamento kantiano, Roque Spencer Maciel de Barros
afirma que o homem é sagrado, seja por sua origem divina, seja por sua própria
liberdade; é divino e é fundamento do mundo. A ordem política que possibilita a
realização dessa supremacia do indivíduo é o liberalismo, a única capaz de realizar a sua
ordem moral. Isso ocorre porque na ordem liberal, os indivíduos valem por serem
indivíduos, independentemente do coletivo, seja ele sociedade, Estado, partido, Igreja,
seita ou classe. Dessa forma, os indivíduos devem ser tratados como pessoas morais e
não como instrumentos de um todo; os indivíduos devem ser fins em si mesmos. Para
90
Roque Spencer, “a igualdade social é uma falácia; deve restringir-se aos limites
jurídicos. E mais: a igualdade, isto é, a ausência de uma hierarquia, é perversa, pois
acaba com a diversidade e leva à desarticulação da vida social e à autodestruição’ (Orso
apud Saviani, 2007, p. 289).
A terceira corrente que compôs a frente de defesa da educação pública era de
tendência socialista e teve como seu principal líder o professor Florestan Fernandes.
Segundo Saviani (2007, p. 290), esse grupo se diferenciava tanto da visão liberalidealista kantiana, para quem a educação formava o indivíduo autônomo sem considerar
as suas condições sociais; quanto da visão liberal-pragmatista deweyana, que tinha
como principal missão da educação ajustar os indivíduos à realidade social em
mudança. Diversamente, “a tendência socialista procura compreender a educação a
partir de seus determinantes sociais, considerando-a um fator de transformação social
provocada” (Saviani, 2007, p. 290).
Ghiraldelli (2009) arremata com muita clareza a explicação das bases filosóficas
que nortearam a polêmica na educação brasileira desse período entre escola pública e
escola particular:
De ponto de vista da filosofia da educação, o que estava em jogo era
uma visão kantiana de educação e uma visão pragmatista. Em suma,
do lado kantiano, havia a busca de legitimidade da educação a partir
da ideia de que o homem se torna homem, no sentido pleno da
palavra, isto é, sujeito – ser consciente de sua fala e responsável por
seus atos –, pelo esclarecimento (o iluminismo), em termos práticos
modernos, em uma sociedade de massas, pela escolarização. Do lado
pragmatista, essa necessidade de encontrar a legitimidade da
escolarização em uma filosofia que diga que o homem se torna
homem pela educação é secundária, pois o que basta é saber que
historicamente as democracias são lugares de convivência social e os
lugares de convivência social são convencer os outros de que ela é
uma peça da democracia ou, melhor dizendo, uma peça insubstituível
da vida moderna (Ghiraldelli, 2009, p. 80).
b) As matrizes filosóficas da Educação Popular de Paulo Freire
No campo educacional, entre a Revolução de 1930 e o final do Estado Novo,
predominou um equilíbrio entre as influências filosóficas do aristotelismo-tomista e o
pensamento de Dewey, representadas, por um lado, pelos católicos e seu humanismo
tradicional e, por outro lado, pelos Pioneiros da Educação Nova e seu humanismo
moderno, que passa a predominar. No final da década de 1950 e início dos anos 1960,
em função do incremento da industrialização, da aglomeração urbana, do direito de voto
91
condicionado à alfabetização, dentre outros elementos, há um aumento da mobilização
popular, principalmente no que diz respeito à cultura e educação populares.
Os movimentos mais expressivos da educação popular foram o Movimento de
Educação de Base (MEB) e o Movimento Paulo Freire de Educação de Adultos, que é
muito próximo do ideário da pedagogia nova. O MEB foi criado e dirigido pela Igreja
católica e o Movimento Paulo freire, mesmo sendo um movimento laico, tinha uma
orientação fortemente católica, a maioria de seus componentes vinha do movimento
estudantil vinculada à JUC. Mas nesse âmbito, pode-se afirmar que houve uma espécie
de modernização dos referenciais filosóficos da Igreja:
Se o movimento escolanovista se inspira fortemente no pragmatismo,
o MEB e o Movimento Paulo Freire buscam inspiração
predominantemente no personalismo cristão e na fenomenologia
existencial. Entretanto, pragmatismo e personalismo, assim como
existencialismo e fenomenologia, são diferentes correntes filosóficas
que expressam diferentes manifestações da concepção humanista
moderna, situando-se, pois, em seu interior. É lícito, portanto, afirmar
que sob a égide da concepção humanista moderna de filosofia da
educação acabou por surgir também uma espécie de ‘Escola Nova
Popular’, como um outro aspecto do processo mais amplo de
renovação da pedagogia católica que manteve afinidades com a
corrente denominada ‘teologia da libertação’ (Saviani, 2007, p. 302).
Nesse período, para boa parte da Igreja, a educação não era mais sinônimo de
catequese, mas de conscientização e politização do povo, ou seja, de educação popular.
Esta expressão não mais significava, como nos períodos anteriores da história brasileira,
uma preocupação com o desenvolvimento da instrução pública como implantação de
um sistema nacional de ensino, universalização da educação elementar e erradicação do
analfabetismo. Agora, educação popular passava a significar e abarcar outras questões:
A mobilização que toma vulto na primeira metade dos anos 1960
assume outra significação. Em seu centro emerge a preocupação com
a participação política das massas a partir da tomada de consciência da
realidade brasileira. E a educação passa a ser vista como instrumento
de conscientização. A expressão ‘educação popular’ assume, então, o
sentido de uma educação do povo, pelo povo e para o povo,
pretendendo-se superar o sentido anterior, criticado como sendo uma
educação das elites, dos grupos dirigentes e dominante, para o povo,
visando a controla-lo, manipulá-lo, ajustá-lo à ordem existente
(Saviani, 2007, p. 315).
O clima político que possibilitou essa mobilização popular e essas mudanças de
referenciais filosóficos foi possível devido, principalmente, a três fatores: análises da
realidade brasileira efetuadas pelo ISEB e CBPE; reflexões desenvolvidas por
92
pensadores cristãos e marxistas no pós-guerra europeu; mudanças no ideário do
Concílio Vaticano II mais próximo a uma doutrina social da Igreja. As iniciativas mais
representativas dessa nova proposta político-filosófico-educacional foram os Centros
Populares de Cultura (CPCs), os Movimentos de Culturas Popular (MCPs) e o MEB
(Saviani, 2007, p. 315). Dessa forma, a educação popular, a nova Igreja e os aparelhos
culturais pretendiam:
[...] desenvolver uma educação genuinamente brasileira visando à
conscientização das massas por meio da alfabetização centrada na
própria cultura do povo. A prática que se buscou implementar visava a
aproximar a intelectualidade da população, travando um diálogo em
que a disposição do intelectual era a de aprender com o povo,
despindo-se de todo espírito assistencialista (Saviani, 2007, p. 316).
Foi nesse cenário que emergiu e floresceu o pensamento de Paulo Freire que
propõe a educação como uma prática da liberdade, que pode libertar o homem oprimido
através de um processo de conscientização, seguido de uma práxis libertadora. A
transformação de uma consciência ingênua em consciência crítica, que possibilita essa
práxis transformadora, implica necessariamente uma comunicação dialógica de respeito
e igualdade, na qual educando e educador estão no mesmo nível. Respeitar o educando,
tê-lo em pé de igualdade, é respeitar sua cultura. Esse procedimento tem uma força
libertadora e transformadora e se constitui em uma pedagogia como prática de
liberdade.
Vários estudiosos (Saviani, 2007; Severino, 1997; Paiva, 1980) são unânimes em
afirmar que uma grande diversidade de correntes filosóficas influenciou o pensamento
freiriano, mas que há uma prevalência do existencialismo cristão.
Para Severino (1997, p. 132), a questão dos fundamentos filosóficos da obra
freiriana é complexa e polêmica em virtude do contexto de sua formação, do caráter
prático de sua proposta pedagógica e da multiplicidade de influência que sofreu.
Contudo,
Sem dúvida, é na esfera de influência do humanismo existencialista
que se encontra a matriz filosófico-educacional do pensador educador
Paulo Reglus Freire [...].
No entanto, a linha matriz dessa inspiração parece mesmo proveniente
do existencialismo cristão, sob as formulações de Jaspers e Marcel, à
luz do qual recebe e reelabora elementos inspiradores provenientes de
outras vertentes – personalismo mounierista, vitalismo orteguiano,
culturalismo,
sociologismo
mannheimiano,
nacionaldesenvolvimentismo isebiano, fenomenologia e hegelianismo.
(Severino, 1997, p. 132). (Grifo nosso).
93
Dessas diversas vertentes filosóficas, surge o que Severino chama de “síntese
humanista, no plano filosófico-educacional, que serve de base para a prática
pedagógica” (Severino, 1997, p. 132). Ou o que Vanilda Paiva (1980) denomina de
“‘síntese pedagógica existencial-culturalista’ que articula as ideias filosóficas do
personalismo cristão com as análises sóciopolíticas do isebianismo” (Paiva, 1980, p.
28).
Contudo, é necessário observar que houve certa mudança de referencial
filosófico ao longo de sua reflexão. Enquanto as referências teóricas do livro Educação
como prática da liberdade remetem, filosoficamente, ao existencialismo cristão
personalista (Karl Jaspers; Erich Fromm; Tristão de Ataíde (Alceu Amoroso Lima);
Gabriel Marcel; Jacques Maritain; Emmanuel Mounier) (Saviani, 2007, p. 323), as
referências teóricas de Pedagogia do Oprimido se aproximam da filosofia dialética e do
marxismo, ausentes nas obras anteriores (Saviani, 2007, p. 328). Todavia, a
aproximação aos referenciais filosóficos marxistas, segundo Saviani (2007), não
significa adesão ao marxismo:
Vê-se que em Pedagogia do Oprimido os autores que integram, de
algum modo, a tradição marxista constituem maioria. Além de Marx,
Engels e Lênin, temos Rosa Luxemburgo, Lukács, Mao Tse-Tung,
Lucien Goldmann, Althusser, Kosik, Marcuse, Debret, Guevara, Fidel
Castro, Sartre. No entanto, isso não significa que Paulo Freire tenha
aderido ao marxismo ou, mesmo, tenha incorporado em sua visão
teórica de análise da questão pedagógica a perspectiva do marxismo.
Na verdade, é possível reconhecer a matriz hegeliana em sua análise
da relação opressor-oprimido, calcada na dialética do senhor e do
escravo que Hegel explicita na Fenomenologia do espírito. Quanto aos
autores marxistas, eles são citados incidentalmente, apenas para
reforçar aspectos da explanação levada a efeito por Freire, sem
nenhum compromisso com a sua perspectiva teórica. Se algum
conceito é apropriado, isso ocorre deslocando-o da concepção de
origem e dissolvendo-o num outro referencial (Saviani, 2007, pp. 328329).
Apesar do grande número de referências a autores marxistas, a concepção
freiriana permanece sendo a filosofia personalista na versão política do solidarismo
cristão (Saviani, 2007, pp. 329). Um solidarismo próximo ao radicalismo católico que
se transformou na ‘teologia da libertação’, correlata, em termos educacionais, a
pedagogia libertadora de Freire (Saviani, 2007, pp. 330). Para Saviani, o método de
Paulo freire “é apenas um aspecto de uma proposta pedagógica mais ampla enraizada na
94
tradição mais autêntica do existencialismo cristão, em diálogo com algumas
contribuições do marxismo” (Saviani, 2007, p. 332).
4.4. Regime militar (1964-1985): metodologismo, tecnicismo, reprodutivismocrítico e anarquismo
Em função da ditadura militar, o período de 1960-70 foi marcado por um
arrefecimento do debate propriamente filosófico no campo educacional. No lugar do
debate filosófico sobre a educação, predominou uma discussão mais psicologizada e
pedagogizada, no campo da educação. Ghiraldelli se pronuncia de forma esclarecedora
sobre esse período:
O debate Skinner vs Rogers ou Skinner vs Piaget centralizou as
atenções do professorado. Na medida em que transcorria a década de
1970, os escritos em psicopedagogia foram se tornando menos
filosóficos. Ganharam um sentido menos aberto às dúvidas filosóficas
e mais diretamente articulado ao que se deveria fazer no campo da
metodologia do ensino-aprendizagem. Em determinado momento,
esse tipo de literatura pedagógica – com características bastante
próprias – passou a ser adotado como uma espécie de pedagogia
oficial, compondo a maior parte das bibliografias dos concursos
públicos para o ingresso na carreira do magistério em diversos níveis
(Ghiraldelli, 2009, p. 120).
Nos anos de 1980, o debate entre filosofia da educação e psicologia da educação
prossegue nessa tendência psicologizante. Só que agora “os debates Rogers vs Piaget e
Skinner vs Piaget foram substituídos pelos debates Vygotsky vs Piaget” (Ghiraldelli,
2009, p. 155). Mas essa tendência não era especificamente brasileira, já vinha se
pronunciando na Europa e nos Estados Unidos. Mario Aliguiero Manacorda, historiador
italiano marxista, retoma esse debate em seu livro História da educação, publicado no
Brasil em 1989, com enorme repercussão entre nossos educadores (Ghiraldelli, 2009, p.
155).
Nesse mesmo período dos anos 1980, paralela à tendência psicologizante, ocorre
também um predomínio de uma reflexão marxista norteada por uma tendência
sociologizante e de crítica à ideologia. Dessa forma, nos anos 1970, por um lado, a
vertente psicológica predominou no debate sobre educação, “quase abafando a própria
existência da filosofia da educação como polo articulador do debate entre teorias
educacionais” (Ghiraldelli, 2009, p. 155), por outro lado, nos anos de 1980, a crítica
95
marxista teve um espaço quase hegemônico em alguns centros de estudo articuladores
da filosofia com a educação.
Aqui serão mostradas as influências filosóficas relativas à missão francesa
filosófica uspiana na década de 60; à educação tecnicista; à Teoria críticoreprodutivista; e à Pedagogia libertária de A.S. Neill e Maurício Tragtenberg.
a) A matriz filosófica francesa da missão francesa filosófica uspiana na década de
1960
Os grandes expoentes da missão francesa filosófica uspiana do período de 60 foram:
Martial Guéroult, Victor Goldschmidt, Gilles-Gaston Granger e Gérard Lebrun, que
trouxeram novas convicções sobre a forma de estudar Filosofia: o estudo da Filosofia
devia ser rigorosamente o estudo da História da Filosofia e o procedimento
metodológico devia se guiar pelo método estrutural, que primava pela explicitação
rigorosa da estrutura dos textos clássicos. Essa foi uma das grandes contribuições da
missão francesa desse período, haja vista que, até a sua chegada, predominava certo
amadorismo e impressionismo no estudo e no ensino da Filosofia no Brasil, com a
utilização dos comentadores ao invés dos textos originais:
Na perspectiva estruturalista de Guéroult e Goldschmidt, não cabia
mais o enveredar por um caminho filosófico original; o importante era
conhecer as estruturas do pensamento filosófico, e o conhecimento das
estruturas não pode ser conseguido senão pelo estudo das obras dos
filósofos e pela descoberta das lógicas que as estruturam (Porchat,
2000, p. 122).
Muitos professores franco-uspianos também tiveram uma expressiva atuação
cultural na vida paulistana, contribuindo inclusive para as discussões sobre os limites da
vida política do país, inaugurados pelo golpe militar de 64. Outro resultado da presença
desses intelectuais foi a viabilização de visitas ao país de figuras exponenciais da
Filosofia da época: Sartre e Simone de Beauvoir vieram e pronunciaram a famosa
Conferência de Araraquara, tendo a companhia de Fernando Henrique Cardoso e Ruth
Cardoso; em 1966, veio o então jovem professor Michel Foucault para ministrar um
curso sobre um livro que seria lançado no ano seguinte, As palavras e as coisas, e que,
posteriormente, se tornaria um clássico do pensamento foucaultiano. Sobre esse
episódio, nos relata Ribeiro (2007, p. 5): “Dessa época, data a sua [de Foucault]
definição do curso da USP como um ‘bom departamento francês de ultramar’, que seria
o título (sem o bom) de um livro de Paulo Arantes, publicado em 1994”. Esse livro,
96
aliás, independente de toda a controvérsia e a polêmica que tenha causado, tornou-se
uma referência para os estudos sobre a influência francesa na USP e sobre a própria
Filosofia Brasileira.
Em conformidade com o balanço feito por Ribeiro, podemos ressaltar que os
professores franceses cumpriram um papel muito importante, a partir da USP, na
formação filosófica brasileira em dois planos: “O primeiro foi o da formação técnica de
alunos capacitados a lidar com textos difíceis. O segundo foi o de uma idéia ou ideal de
intelectual, que exige dele a presença na cena pública, numa ágora que faz deles
cidadãos em contato com sua sociedade” (Cf. Ribeiro, 2007, p. 6).
Podemos ressaltar, ainda, como desdobramento do que precede, que a missão
francesa foi, também, a responsável pela formação dos futuros formadores do
pensamento filosófico no Brasil. Trata-se da formação de quadros, compostos pelos
primeiros alunos da USP, que posteriormente marcaram a cena filosófica brasileira,
desenvolvendo atividades tais como: traduções, publicações de originais clássicos, e
articulações sociais. Enfim, uma enorme gama de atividades que possibilitam o estudo,
a pesquisa e a divulgação da Filosofia no Brasil. Arantes se refere à iniciativa de
Pessanha em publicar a Coleção Os pensadores, por exemplo, como um dos grandes
resultados dessa formação de quadros:
Pessanha fez a coleção e arregimentou praticamente todo o
Departamento de Filosofia da USP para traduzir, compilar e prefaciar
os fascículos. Esta foi a primeira manifestação pública de hegemonia
da USP. (...). Ele veio para São Paulo e recorreu aos uspianos, ou seja,
foi o reconhecimento tácito que tinha se formado ali algo de
importante. Pessanha recorreu a esses professores para realizar um
empreendimento industrial, porém como garantia do bom nível dos
fascículos, das traduções, das antologias e assim por diante. Imagine o
salto que foi dado com essa coleção, principalmente em relação ao
acesso a traduções de qualidade, bem feitas e bem anotadas. O
Rubinho [Rubens Rodrigues Torres Filho] “inventou” um Nietzsche
no Brasil, pela primeira vez ao alcance de um público que não
conhecia mais língua estrangeira, e ao alcance da massa de estudantes
que os militares estavam colocando nas universidades. E o que iria
fazer com essa massa? Filosofia em grego não dava. Foi preciso
colocar Platão e Aristóteles na Abril. E isto foi uma revolução (2000,
p. 342).
É inquestionável a importância de todos os aspectos elencados até aqui, mas
compreendemos, contudo, que uma das influências mais marcantes e polêmicas das
ressonâncias francesas no estudo da filosofia no Brasil, a partir do pensamento franco-
97
uspiano, foi a prevalência do método estrutural. Por isso, nos deteremos, mesmo que
rapidamente, na explicitação desse método.
A obra de referência da metodologia estruturalista, trazida para a USP pelos
franceses da década de 60, é o texto Tempo lógico e tempo histórico na interpretação
dos sistemas filosóficos, de Victor Goldschmidt, apresentada originalmente em
Bruxelas, em um Congresso Internacional de Filosofia e publicado no Brasil como
apêndice no livro Platão e a religião, do mesmo autor. As palavras-chaves do
estruturalismo filosófico são: estrutura interna, interpretação, movimento do
pensamento na obra, tempo lógico, tempo histórico, sistema filosófico.
Para Goldschmidt existiriam dois métodos diferentes para se interpretar um
sistema filosófico: o método dogmático, que pergunta sobre suas verdades e razões,
busca abordar uma doutrina conforme a intenção do autor e prioriza o problema da
verdade. É considerado filosófico por ser regido por um tempo próprio, interno, que
Goldschmidt chama de “tempo lógico”; o método genético, que investiga as origens e
as causas, prioriza a etiologia do objeto e o seu contexto exterior. É considerado um
método científico que se rege pelo tempo externo.
No entanto, nenhum desses dois métodos, isoladamente, atenderia às exigências
hegelianas,
que
defendiam
um
método
que
fosse
filosófico
e
científico
simultaneamente. Por isso, com o intuito de atender a essa exigência hegeliana, foi que
Bréhier, Guéroult e Goldschmidt, historiadores de filosofia, desenvolveram a ideia de
“estrutura” nos métodos para leitura e estudo filosóficos. Trata-se de efetivar uma
aproximação entre a filosofia e sua história, prevalecendo, portanto, uma historiografia
filosófica:
É para atender a exigência de cientificidade e relevância filosófica que
Goldschmidt propõe então uma terceira opção: um método filosófico e
ao mesmo tempo científico, dogmático e genético ao mesmo tempo,
não regido pelo tempo histórico, mas por um tempo ‘lógico’. Um
método, diz Goldschmidt, que leva em conta as razões e verdades
apresentadas pelo autor, mas também suas origens e causas no interior
da própria obra. Dessa forma, supõe o historiador francês, o intérprete
estaria menos vulnerável a interpretar um sistema pelo seu tempo e
origem, a compreendê-lo passando por cima da intenção e
estruturação que o autor deu a ela. É na ideia de estrutura que
Goldschmidt estrutura a concepção do seu método. Partindo do
princípio de que “filosofia é explicitação e discurso”, Goldschmidt se
rende ao fato de que a explicitação principia numa intuição original –
que chama também de “motor primeiro de um sistema”. Para se tornar
explícita, a intuição original passa por uma série de movimentos
sucessivos, onde o autor “produz, abandona e ultrapassa teses ligadas
98
umas às outras numa ordem de razões” [...], até que se transforme em
um raciocínio encadeado ou em tese ou pensamento explícito. São
esses movimentos que devem ser pesquisados porque são eles que dão
à ‘obra escrita sua estrutura’ [...]. Compreender uma obra segundo a
estrutura que o autor deu a ela, significa, então, que o pesquisador ou
intérprete refaça o caminho dos movimentos que o autor percorreu até
chegar à tese (Dumas, 2006, p. 19).
Mas, a ideia de estrutura como sendo central no estudo das obras filosóficas não
se encontrava presente somente na reflexão de Goldschmidt. Já estava presente na
tradição francesa e no pensamento filosófico francês de sua época, principalmente em
Bréhier e Guéroult, para quem compreender uma obra filosófica implicava em refazer
sua estrutura para lhe compreender as razões. Em outras palavras, fazer filosofia é
estudar a História da Filosofia.
Oswaldo Porchat, aluno e futuro professor da USP, foi o principal incentivador
da adesão ao método estrutural. Ele traduziu, prefaciou e publicou, em 1963, o já
referido estudo de Goldschmidt, que já se encontrava ensinando na Universidade
paulista. Porchat viabilizou, também, a divulgação do material de Guéroult, referente ao
tema do método da História da Filosofia. A ideia que norteava esse método, de que
fazer filosofia é estudar a história da Filosofia, tornou-se dominante na época entre os
discípulos paulistas, como sendo “o momento mais alto da metodologia científica em
História da Filosofia, uma jovem disciplina que o método dito ‘estrutural’ afinal elevara
à real objetividade das ciências rigorosas e em torno da qual gravitaria o ensino da
filosofia entre nós” (Arantes, 2000, p. 17).
É precisamente sobre essa predominância do método estrutural no ensino da
Filosofia no Brasil, como herança da missão francesa filosófica uspiana, que se
desenvolverá diversas críticas por toda a História da Filosofia no Brasil.
É importante ressaltar que, apesar da grande importância da influência da missão
francesa no que diz respeito à seriedade, criatividade, brilhantismo e profissionalismo
das aulas ministradas por Mangüé, na década de 30, e da importância do método
estrutural, trazido pela missão francesa, composta pela geração da década de 60,
relativamente à instauração de um rigor na leitura e interpretação dos textos filosóficos,
é imperativo dizer que existe toda uma leitura crítica em torno dessa influência.
Principalmente com relação ao método estrutural.
Com relação à influência filosófica francesa, há críticas que indicam que ela
teria sido mais uma das influências estrangeiras sobre o nosso modo de filosofar.
99
Mudamos somente de senhores intelectuais, de fontes filosóficas, mas permanece a
subserviência de repetir os grandes filósofos vindos de fora. Sílvio Romero foi um dos
primeiros pensadores brasileiros a fazer essa crítica, mas essa reflexão continua até hoje
na figura de nomes como Roberto Machado, Roberto Gomes, Renato Janine Ribeiro,
Oswaldo Porchat, Paulo Arantes, entre outros. Como expressão dessas reflexões
críticas, há um grande número de material produzido no país. Um dos mais expressivos
e que se tornou antológico é o livro de Roberto Gomes, intitulado sugestivamente
Crítica da razão tupiniquim.
Para esses filósofos brasileiros (denominação severamente discutida pela
academia) teríamos nos moldado ao método estrutural trazido pela missão francesa e
faríamos filosofia somente se estudássemos História da Filosofia, inibindo: a
criatividade, a autonomia de pensamento, os objetos de reflexão, o material filosófico,
etc., o que transforma a Filosofia em uma mera repetição dos pensamentos filosóficos
trazidos do exterior e, entre eles, o pensamento francês, que teria decretado o método
por excelência para estudar filosofia e que nós, de bom grado, devido à cabeça
colonizada, teríamos tomado como a única forma de fazer filosofia.
Essa subserviência se mostraria na precária produção acadêmica que consiste em
repetir ad infinitum sempre os mesmos temas nas monografias, dissertações e teses. A
recusa a uma forma de fazer filosofia que não siga o método estrutural determina a
repressão acadêmica à escolha de temáticas não-convencionais, o que empobreceria em
demasia as pesquisas filosóficas que, seguindo o método estrutural, compreendem que
fazer filosofia é estudar história da filosofia.
Há que se considerar a inegável contribuição da missão francesa filosófica não
só na USP, mas também em toda a cultura brasileira. A filosofia muito ganhou em rigor,
em método, no acesso aos clássicos, em formação de quadros que posteriormente
fizeram todo um trabalho de ensino e divulgação da filosofia que norteou várias
gerações de diversas áreas do conhecimento.
Hoje, se é possível falar em centros de excelência de pesquisa filosófica, muito
se deve tributar à contribuição da missão francesa no Brasil desde a década de 30,
mormente no que diz respeito à criação da USP. Grandes nomes que foram e são
representativos da Filosofia no nosso país foram gestados no ensino uspiano, tais como:
Cruz Costa, Lívio Teixeira, Gilda de Mello Souza, José Arthur Giannotti, Oswaldo
100
Porchat, Ruy Fausto, Bento Prado Júnior, Paulo Eduardo Arantes, Marilena Chauí, entre
outros, de geração mais recente, mas que também são fruto dessa missão francesa.
Até mesmo aqueles que fazem a crítica ao fazer filosofia como História da
Filosofia, questionando a centralidade do método estrutural, também são crias da USP e
de toda a sua história relativamente à missão francesa filosófica que determinou a
prevalência desse método no estudo da Filosofia no Brasil.
b) A matriz filosófica cientificista liberal da educação tecnicista
O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) foi fundado em novembro de
1961, por empresários ligados à Escola Superior de Guerra (ESG) e ao Instituto
Brasileiro de Ação democrática (IBAD), com o objetivo de combater a mobilização
popular e suas organizações culturais e esteve atuante durante quase dez anos do
Regime Militar. Outro objetivo era, também, o de fazer oposição às propostas mais
avançadas do governo Goulart. Para tanto, o IPES atuou em diversas áreas:
Em suas ações ideológicas, social e político-militar, o IPES
desenvolvia doutrinação por meio de guerra psicológica fazendo uso
dos meios de comunicação de massa como o rádio, a televisão, cartuns
e filmes em articulação com órgãos da imprensa, entidades sindicais
dos industriais e entidades de representação feminina, agindo no meio
estudantil, entre os trabalhadores da indústria, junto aos camponeses,
nos partidos e no Congresso, visando a desagregar, em todos esses
domínios, as organizações que assumiam a defesa dos interesses
populares (Saviani, 2007, p. 339).
Contudo, a atuação mais decisiva e de maior repercussão desse instituto foi no
âmbito da educação, com a proposta pedagógica em uma perspectiva Tecnicista. Os
dois grandes eventos em que foram pensados e propostos os novos rumos educacionais
brasileiros, para atender às expectativas dos militares, foram o Simpósio sobre a reforma
educacional e o Fórum intitulado “A educação que nos convém”.
O Simpósio sobre a reforma educacional, realizado em 1964, tinha o objetivo de
discutir uma política educacional que viabilizasse o desenvolvimento econômico e
social do país. A partir do documento “Delineamento geral de um plano de educação
para a democracia no Brasil”, as discussões foram pensadas a partir do desenvolvimento
econômico, tendo por suporte teórico a economia da educação que compreende o
investimento no ensino, voltado para o aumento da produtividade e da renda:
101
O texto considerava, então, que a própria escola primária deveria
capacitar para a realização de determinada atividade prática. Na
sequencia, o ensino médio teria como objetivo a preparação dos
profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e social do
país, de acordo com um diagnóstico da demanda efetiva de mão-deobra qualificada. E, finalmente, ao ensino superior eram atribuídas
duas funções básicas: formar a mão-de-obra especializada requerida
pelas empresas e preparar os quadros dirigentes do país (Saviani,
2007, p. 340).
O Fórum, por sua vez, foi “uma resposta da entidade empresarial à crise
educacional escancarada com a tomada das escolas superiores pelos estudantes, em
junho de 1968” (Saviani, 2007, p. 341). Nele prevaleceram as mesmas propostas do
Simpósio, ou seja, a subordinação da educação aos interesses do desenvolvimento
econômico do capital.
Outro aspecto importante é a ligação que os empresários brasileiros, via IPES,
estabeleceram com os norte-americanos, tanto em termos financeiros quanto
ideológicos. Daí os Estados Unidos celebrarem acordo de financiamento da educação
brasileira, por intermédio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), que ficou conhecido como o acordo MEC-USAID, balizado
pelas diretrizes da economia da educação.
Mas o fato é que a grande teoria econômico-filosófica, que norteava todos esses
acontecimentos a favor de uma educação tecnicista, era a Teoria do Capital Humano de
Theodore Schultz, um liberalismo que se pautava pelos princípios de racionalidade e
eficiência com um mínimo de dispêndio e o máximo de produtividade. Os livros de
Schultz que traziam essas ideias foram O valor econômico da educação (1963) e O
capital humano: investimento em educação e pesquisa (1971), que logo em seguida
foram traduzidos no Brasil. Aranha (2006) caracteriza a educação tecnicista defendida
no capital humano da seguinte forma:
[...] a educação tecnicista encontrava-se imbuída dos ideais de
racionalidade, organização, objetividade, eficiência e produtividade.
As reuniões de planejamento deveriam definir objetivos instrucionais
e operacionais rigorosamente esmiuçados, estabelecendo o
ordenamento sequencial das metas a serem atingidas a fim de evitar
‘objetivos vagos’, que dessem margem a interpretações diversas.
Nessa perspectiva, o professor é um técnico que, assessorado por
outros técnicos e intermediado por recursos técnicos, transmite um
conhecimento técnico e objetivo (Aranha, 2006, p. 317).
Aranha (2006, p. 316) ressalta, ainda, que também “os pressupostos teóricos do
tecnicismo podem ser encontrados na filosofia positivista e na psicologia behaviorista”.
102
Tanto o positivismo quanto o behaviorismo superestimam o valor do conhecimento
científico, por ser um conhecimento objetivo e, por isso, passível de verificação,
observação e experimentação e quando aplicados à educação, visam ao comportamento.
Assim, “coerente com esse princípio, o ensino tecnicista buscava a mudança do
comportamento do aluno mediante treinamento, a fim de desenvolver suas habilidades”
(Aranha, 2006, p. 316), privilegiando os recursos da tecnologia e as técnicas
behavioristas de condicionamento.
Segundo Saviani (2007), essa tendência produtivista se alastrou por toda a
década de 1970, a todas as escolas do país, por meio da pedagogia tecnicista,
“convertida em pedagogia oficial. Já a partir da segunda metade dos anos de 1970,
adentrando pelos anos 1980, essa orientação esteve na mira das tendências críticas, mas
manteve-se como referência da política educacional” (Saviani, 2007, p. 363). Prossegue
vigorando ainda na década de 1990 e, segundo Saviani, marcou profundamente a LDB
(Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional), bem como o Plano Nacional de
educação (PNE), de janeiro de 2001.
c) A matriz filosófica marxista da Teoria crítico-reprodutivista
Na década de 1970, foi criada, no Brasil, a pós-graduação, dentro dos
parâmetros da pedagogia tecnicista e do modelo norte americano, com o objetivo de
formação de quadros que viabilizassem as metas econômicas e científicas do governo
militar. Contudo, por influência dos seus professores originários da Europa e de sua
formação mais teórica que técnica, como os americanos, a pós-graduação brasileira
conseguiu formar um pensamento mais crítico do que operativo. Dessa forma, “[...] a
pós-graduação, refletindo as contradições da sociedade brasileira, acabou constituindose num espaço importante para o desenvolvimento de uma tendência crítica que, embora
não predominante, gerou estudos consistentes e significativos sobre a educação”
(Saviani, 2007, p. 391).
Assim, em plena Ditadura Militar, a tendência hegemônica pedagógica
tecnicista, marcada pela vertente filosófica liberal, era acompanhada de uma tendência
pedagógica crítica, influenciada pela filosofia e sociologia34 marxistas francesas. Era a
34
“O pensamento pedagógico brasileiro, se é que podemos usar tal expressão, nunca foi dominado pela
psicologia ou pela filosofia. O pensamento pedagógico brasileiro sempre foi (da maneira que deve mesmo
ser o caso de uma área aplicada como é a educação) o campo de confluência de saberes. Assim é que a
sociologia, que já no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, pela influência de Durkheim,
103
tendência crítico-reprodutivista, que teve seu locus privilegiado de reflexão na pósgraduação. Essa denominação foi dada por Saviani, que assim a descreve:
Tal denominação se justifica nos seguintes termos: trata-se de uma
tendência crítica porque as teorias que a integram postulam não ser
possível compreender a educação senão a partir dos seus
condicionantes sociais. Empenham-se, pois, em explicar a
problemática educacional remetendo-a sempre a seus determinantes
objetivos, isto é, à estrutura socioeconômica que condiciona a forma
de manifestação do fenômeno educativo. Mas é reprodutivista porque
suas análises chegam invariavelmente à conclusão que a função básica
da educação é reproduzir as condições sociais vigentes (Saviani, 2007,
p. 391).
As teorias crítico-reprodutivistas são: teoria do sistema de ensino enquanto
violência simbólica; teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado; e
teoria da escola dualista.
A teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica se encontra na
obra A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino, de Pierre
Bourdieu e Jean-Claude Passeron, de 1970, traduzido no Brasil em 1975.
A teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado está presente no
texto do filósofo marxista francês Louis Althusser, também de 1970, intitulado
Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado.
A teoria da escola dualista, por sua vez, se encontra no livro L’école capitaliste
em France, de autoria de Christian Baudelot e Roger Establet, de 1971, com tradução
parcial brasileira em 1974.
Essas teorias inspiraram muitos intelectuais da época que trabalhavam com a
educação brasileira. A partir delas foram feitas denúncias de como o regime autoritário
manobrava a educação para inculcar a ideologia dominante e reproduzir a estrutura
social capitalista. Portanto, (Saviani, 2007; Ghiraldelli, 2009) o mérito da tendência
crítico-reprodutivista foi oferecer suporte teórico para a resistência ao autoritarismo,
para a crítica à pedagogia tecnicista e para demonstrar a inserção da educação nas
relações sociais.
Outro grande mérito da tendência crítico-reprodutivista foi, a partir da segunda
metade dos anos de 1970, ter referenciado análises críticas da política educacional
estava tão presente quanto a filosofia, representada por John Dewey, reapareceu no debate dos anos 1960
e 70. Tratava-se, como no passado, da sociologia francesa e, como no passado, ela surgiu diretamente
envolvida com o campo educacional” (Ghiraldelli, 2009, p. 130).
104
brasileira, concebidas em forma de artigos, dissertações de mestrado e teses de
doutorado:
A visão crítico-reprodutivista desempenhou, pois, um papel
importante na década de 1970. Suas análises constituíram-se em armas
teóricas utilizadas para fustigar a política educacional do regime
militar, que era uma política de ajustamento da escola utilizada como
instrumento de controle da sociedade visando a perpetuar as relações
de dominação vigentes. Aquelas teorias foram assimiladas com essa
finalidade de caráter prático-político. (Saviani, 2007, p. 395).
Apesar da importância dessa teoria, ela sofreu algumas críticas por parte de
estudiosos. A mais significativa delas foi a de Luiz Antônio Cunha, que também era um
estudioso da tendência crítico-reprodutivista. Para Cunha, o aspecto de reprodutivismo
da teoria foi fortemente salientado por Saviani, o que “teria levado os educadores ao
sentimento de impotência” (Ghiraldelli, 2009, p. 131). Para além das críticas à educação
vigente, não eram apresentadas alternativas e a teoria se apresentou como sendo
insuficiente.
d) A matriz filosófica anarquista de Maurício Tragtenberg
Nas décadas de 1970-80, ressurge no Brasil o interesse pela pedagogia libertária
que, como visto, deixou uma marca expressiva na Primeira República. A proposta
anarquista ressurge com a intenção de criticar e se contrapor à escola formal existente.
A grande receptividade dessa oposição teórica também se justificava devido ao fato dela
servir para protestar contra o autoritarismo do regime militar, bem como se opor à
educação tecnicista.
O não-diretivismo de A. S. Neill e o seu livro Liberdade sem medo tiveram uma
boa aceitação na comunidade educacional brasileira desse período. A obra relatava a
experiência autogestionária da escola-comunidade Summerhill, na Inglaterra, onde os
alunos é quem decidiam sobre as regras de seu funcionamento.
Segundo Ghiraldelli (2009, p. 125), Erich Fromm externa, em um dos prefácios
escrito para aquele livro, o que teria de essencial na experiência não-diretiva daquela
experiência educacional: “a escola deveria estar mais voltada para o cuidado com as
relações interpessoais e menos preocupada com a problemática da apreensão desta ou
aquela matéria escolar em específico”. Nesse sentido, para Neill, a educação deveria ter
um só objetivo: a cura da infelicidade (Ghiraldelli, 2009, p. 125).
105
Outro indicador da retomada das ideias libertárias no Brasil foi a publicação, em
1978, do texto Francisco Ferrer e a pedagogia libertária, de autoria de Maurício
Tragtenberg, que foi reeditado em 1982, como parte do seu livro Sobre educação,
Política e sindicalismo (Gallo, 2007, p. 102). Para Ghiraldelli (2009, p. 133), essa obra
“se constituiu em peça-chave para a rearticulação, ou mesmo reconstrução, de uma linha
libertária no pensamento pedagógico brasileiro”.
Dentre outras questões, o pensamento de Tragtenberg dinamizou críticas à
burocratização da escola; promoveu o fortalecimento do marxismo heterodoxo; inseriu a
discussão sobre a pedagogia libertária no meio acadêmico, revitalizando, assim, o
universo das discussões em torno da liberdade humana, base primordial do anarquismo.
Bem como trouxe à luz a discussão em torno de princípios tais como: “autogestão,
autonomia do indivíduo, solidariedade operária, autogestão do ensino; tais princípios
deveriam se acoplar com educação gratuita e total liberdade sindical” (Ghiraldelli, 2009,
p. 134).
4.5. Décadas de 1980-2010: Capital, Razão Instrumental, Redescrição e Diferença
De uma forma ampla e generalizada, podemos caracterizar esses paradigmas
filosóficos contemporâneos da educação no Brasil como filosofias que põem em xeque
algumas das grandes conquistas da modernidade, fazem críticas à modernidade
iluminista. Alguns teóricos o fazem de forma mais radical, outros nem tanto. O fato é
que a herança iluminista ora é contestada pela sua pretensão universalista, ora é
questionada pelos resultados intrumentalizadores da razão.
Fonte (2003), em seu artigo Filosofia da educação e “agenda pós-moderna”,
coloca algumas indagações centrais que mobilizam a pesquisa educacional na atualidade
brasileira a partir desses parâmetros filosóficos:
A prática educativa pode se guiar por valores com pretensão de
validade universal? É legítimo aspirar uma fundamentação racional
para a educação? Quais princípios devem nortear a seleção de
conteúdos e métodos de ensino? O discurso pedagógico encontra
sentido na malha de crenças de uma cultura ou na realidade objetiva?
O projeto de formação de um sujeito livre, responsável e autônomo
ainda se sustenta como ideal educativo? (Fonte, 2003, p. 1).
No centro dessas perguntas está o questionamento sobre os valores modernos.
Para Fonte (2003), uma “parcela significativa do debate contemporâneo na área
106
educacional tangencia, de alguma maneira, o tema da modernidade e da herança
iluminista e, não raramente, respostas são dadas em uma perspectiva de educação ‘pós’
moderna”.
Para a autora, a “agenda pós-moderna/pós-condição” não se reduz ao
pensamento pós-moderno clássico, o Lyotard do final dos anos de 1970 e o Baudrillard
de 1990. A questão pós-moderna inclui a perspectiva desses filósofos, mas não se
restringem a eles, pois “abarcam outras diferentes perspectivas (multiculturalismo,
neopragmatismo, construcionismo social...) que, apesar de suas diferenças [...], são
perpassadas por motivações e matrizes filosóficas convergentes e/ou aproximadas”
(Fonte, 2003, p. 5).
A perspectiva questionadora da modernidade enfatiza a importância da categoria
da “diferença”, trabalha com a noção de sujeito descentrado e fragmentado, identifica
que as identidades são locais e contingentes. Ou seja, contrariamente ao conhecimento
moderno totalizante e universal, afirma a identidade do sujeito em termos de etnia, sexo,
representação, etc. (Cf. Fonte, 2003).
Severino (1997, 2007), também como um estudioso da filosofia na educação no
Brasil, compartilha da mesma posição de Fonte (2003). Nesse sentido, em um artigo
intitulado A filosofia da educação no Brasil: círculos hermenêuticos (2007), o autor
assevera:
Sem dúvida, parece estar superada, na reflexão filosófica mais recente
sobre a educação, a visão essencialista da mesma, tanto sob sua versão
metafísica quanto sob suas versões teológicas, que estiveram marcando,
de modo subjacente, a prática educacional nos períodos colonial e
imperial do Brasil. O pensamento filosófico-educacional, que vem se
construindo neste século entre nós, se exerce numa perspectiva geral,
de fundo antropológico, numa visão totalmente dessacralizada e
imanente à realidade humana. Mesmo as concepções ainda
influenciadas por suas raizes religiosas ou metafísicas, buscam se
expressar atualmente numa perspectiva mais antropológica, retirando
de suas coordenadas teóricas as referências ao providencialismo divino
ou ao apriorismo metafísico abstrato e idealista. Ninguém mais
pretende estar falando de transcendências que norteariam a história real
da humanidade, todas as abordagens filosóficas da educação assumem a
condição histórica e social da existência humana. Agora a construção
da história é responsabilidade exclusiva dos homens: não se trata mais
de construir a Cidade de Deus, mas a pólis, a cidade dos homens
(Severino, 2007).
Para Severino (2007), a produção filosófica sobre educação no Brasil tem se
caracterizado por uma crítica desconstrutivista, questionadora dos modelos e paradigmas
107
do conhecimento científico e filosófico fundados na razão. Segundo o autor, os principais
pensadores, nos quais essa crítica se apoia, são: Michel Foucault, Derrida, Barthes,
Lyotard, Baudrillard, Deleuze e Guattari, “pensadores que são considerados pósmodernos, ou pós-estruturalistas, no sentido que vêm questionando o projeto iluminista
da modernidade” (Severino, 2007).
Severino (1997) denominou essas correntes filosóficas de arqueogenealógicas, as
quais norteiam suas pesquisas filosófico-educacionais em torno dos seguintes temas: a
valorização da imanência e do estar no mundo; a desvalorização das questões
epistemológicas e antropológicas; a ênfase na denúncia do caráter sistêmico e repressivo
dos saberes e aparelhos sociais; a busca da expansão dos afetos e da diluição dos
poderes; a revalorização do singular concreto contra a dominação do universal abstrato,
normativo e legislador; o questionamento da subjetividade iluminista excessivamente
racionalista e a busca de uma subjetividade que privilegie o imaginário, o emocional e o
corporal.
Dessa forma, pode-se afirmar que os anos de 1990 inauguram novos referenciais
filosóficos para a abordagem da questão educacional, mas que não se tornam unânimes,
pois continuam a vigorar outros referenciais filosóficos que não eles, como, por
exemplo, os da década de 1980, como o marxismo, que aqui, dentre outros, será focado
em Saviani. Diversos estudiosos (Ghiraldelli, 2009; Severino, 1997, 2007; Silva, 2002;
Pagni & Cavalcanti, 2007; Paraíso, 2004) concordam que as vertentes filosóficas mais
expressivas que passaram a influenciar o pensamento educacional brasileiro, a partir da
década de 1990 do século XX, e entrando pela primeira década do século XXI, foram: a
Escola de Frankfurt; os neopragmatistas norte americanos, principalmente Rorty; e os
contemporâneos franceses Foucault e Deleuze.
a) A matriz filosófica marxista da Filosofia da Educação de Saviani
Para os marxistas da década de 1980, “o papel da filosofia na educação era o
de criar uma passagem, através de algo nem sempre bem definido – o ‘método dialético’
– do pensamento do ‘senso comum’ a uma possível ‘consciência filosófica’, que seria
capaz de pensar a educação de modo ‘mais concreto’” (Ghiraldelli, 2009, p. 158). (Grifo
nosso). O grupo representativo dessa tendência teórica marxista era, e continua com
muito vigor até hoje, capitaneado por Dermeval Saviani.
108
O final dos anos 1970 foi marcado por vários fatores que irão consolidar o longo
processo de redemocratização do Brasil, que teve início com a chamada Abertura, em
1985. Dentre outros fatores pode-se ressaltar: a Anistia Política; a volta das eleições
diretas em 1982, em alguns Estados da federação; a denúncia das atrocidades do
autoritarismo militar; o fortalecimento da pós-graduação, criada no início da década de
1970, com a fundação de várias associações, centros de estudo, encontros e o aumento
considerável de publicações acadêmicas, inclusive na área da educação35.
Foi nesse quadro marcado por fortes contradições políticas que o pensamento
marxista no Brasil, no campo da educação, teve uma enorme efervescência, com o nome
de Saviani mostrando-se expressivo nesse segmento:
O pensamento marxista no Brasil, especificamente no campo
pedagógico, ganhou espaço especial e estilo próprio. Não é exagero
dizer que ele obteve nos escritos do professor Dermeval Saviani um
polo de aglutinação bastante significativo, de modo que podemos até
falar de Saviani, pelo menos durante um determinado período, como
um criador de escola de pensamento pedagógico (Ghiraldelli, 2009, p.
135).
Inicialmente influenciado pela fenomenologia existencialista, Saviani acaba
migrando para o marxismo, por considerar esta teoria mais adequada para analisar o
momento sócio-político do país. Da mesma maneira, o clima da abertura democrática,
em marcha no Brasil, propiciou o desenvolvimento das suas reflexões marxistas. Além
da aproximação aos referenciais clássicos do marxismo, Saviani tinha também a
preocupação de compreender a realidade brasileira a partir desses parâmetros:
Reinterpretando para o caso brasileiro as teorizações do educador
francês Georges Snyders e do italiano Mário Manacorda (ambos
ligados ao movimento do Eurocomunismo) e, concomitantemente,
desenvolvendo uma análise própria da política educacional, da
filosofia da educação, da teoria didática e da economia da educação,
Saviani provocou um impacto no pensamento pedagógico nacional
(Ghiraldelli, 2009, p. 136).
Para Saviani, as pedagogias liberais, que ele chamava de não-críticas, e as
teorias denominadas por ele de crítico-reprodutivistas estavam distantes de uma
educação democrática, sendo necessário recorrer à categoria de luta de classes para uma
35
Dentre outras, pode-se citar: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped),
em 1977; Centro de Estudos & Educação (Cedes), em 1978; Associação Nacional de Educação (Ande),
em 1979. Todas essas três entidades tinham suas respectivas revistas e encontros anuais.
109
compreensão efetiva dos fenômenos educacionais, pois a luta de classes existia também
na escola.
Segundo Ghiraldelli (2009, p. 136), Saviani redimensionou o trabalho do
magistério ao entender a escola como um campo de batalhas político-pedagógicas pela
socialização da cultura operária subordinada à cultura hegemônica burguesa. Era
necessário, portanto, lutar a favor da hegemonia operária. Inicialmente, Saviani chamou
essa proposta de pedagogia revolucionária, e depois passou a ser denominada pedagogia
histórico-crítica, tal como apresentada pela primeira vez no livro Escola e democracia.
A sua filiação era ao que ele denominou de concepção dialética de Filosofia da
Educação brasileira, a partir da qual ela passou a examinar outras áreas da reflexão
educacional. Assim, na introdução de seu livro Educação: do senso comum à
consciência filosófica, de 1980, Saviani “desenvolveu o que ele entendia ser os
fundamentos epistemológicos implícitos na concepção histórico-crítica, seguindo de um
modo particular as diretrizes do texto de Karl Marx [...], O método da economia
política” (Ghiraldelli, 2009, p. 138). Saviani (2007) relata com as suas próprias palavras
o surgimento da sua pedagogia histórico-crítica:
As ideias que vieram a constituir a proposta contra-hegemônica
denominada “pedagogia histórico-crítica” remontam às discussões
travadas na primeira turma do doutorado em educação da PUC-SP em
1979. A primeira tentativa de sistematização deu-se no artigo
“Escola e democracia: para além da teoria da curvatura da vara”,
publicado no número 3 da Revista da Ande, em 1982, que, em
1983, veio a integrar o livro Escola e democracia. Esse livro,
conforme foi assinalado no prefácio à 35ª edição [...], redigido em
agosto de 2002, pode ser lido como o manifesto de lançamento de
uma nova teoria pedagógica, uma teoria crítica não-reprodutivista
ou, como foi nomeada no ano seguinte após seu lançamento,
pedagogia histórico-crítica, proposta em 1984 (Saviani, 2007, p.
418). (Grifo nosso).
Saviani (2007) especifica o teor de manifesto do livro Escola e democracia a
partir das seguintes ideias centrais: diagnóstico das principais teorias pedagógicas, suas
contribuições, limites e a necessidade de uma nova teoria; denúncia do conservadorismo
da Escola Nova e a indispensabilidade de uma alternativa superadora; apresentação das
características
básicas
e
o
encaminhamento
metodológico
da
nova
teoria;
esclarecimento das condições de sua produção e operação em sociedades em que a
política predomina sobre a educação (Saviani, 2007, p. 419).
110
No processo de maturação dessa teoria, outros trabalhos foram sendo gestados e
publicados, até que, em 1991, eles apareceram reunidos no livro intitulado Pedagogia
histórico-crítica: primeiras aproximações. A apresentação dessa obra esclarece que
aqueles estudos constituíam uma primeira aproximação ao significado da pedagogia
histórico-crítica, em plena elaboração processual e coletiva.
Numa síntese bastante apertada, pode-se considerar que a pedagogia
histórico-crítica
é
tributária
da
concepção
dialética,
especificamente na versão do materialismo histórico, tendo fortes
afinidades, no que se refere às suas bases psicológicas, com a
psicologia histórico-cultural desenvolvida pela escola de Vigotski. A
educação é entendida como o ato de produzir, direta e
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que
é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.
Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como
mediação no seio da prática social global. A prática social põe-se,
portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da
prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte
da prática social em que professor e aluno se encontram
igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas,
condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e
no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática
social. Aos momentos intermediários do método cabe identificar as
questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor os
instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução
(instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos
integrantes da própria vida dos alunos (catarse) (Saviani, 2007, pp.
419-420) (Grifos nossos).
Dessa forma, fica muito clara a fundamentação teórica da pedagogia históricocrítica. Saviani afirma que: “nos aspectos filosóficos, históricos, econômicos e políticosociais propõe-se explicitamente a seguir as trilhas abertas pelas agudas investigações
desenvolvidas por Marx sobre as condições históricas de produção da existência
humana que resultaram na forma da sociedade atual dominada pelo capital” (Saviani,
2007, p. 420). Sua proposta é a elaboração de uma concepção pedagógica em
consonância com a concepção de mundo e de homem inerente ao materialismo histórico
marxista.
b) A Escola de Frankfurt no Brasil
O questionamento da hegemonia da racionalidade e dos valores da modernidade
já estava presente na reflexão crítica dos pensadores da Escola de Frankfurt. Nessa
perspectiva, para Freitag (1986, p. 32), três temas são recorrentes na Teoria Crítica: a
dialética da razão iluminista e a crítica à ciência; a dupla face da cultura e a discussão da
111
indústria cultural; e a questão do Estado e suas formas de legitimação na moderna
sociedade de consumo.
No Brasil, a influência da Teoria Crítica vem deste o final da década de 1960,
com Marcuse e a contracultura, na perspectiva de que “a herança cultural iluminista da
modernidade, fundada na razão e na ciência, se transformava em força de opressão e de
alienação” (Severino, 1997, 181). Nos anos de 1970 e 1980, a vertente da Escola de
Frankfurt a influenciar o pensamento brasileiro vem diretamente de Adorno,
Horkheimer e Benjamin com a questão da produção cultural numa sociedade de massas
(Severino, 1997, 183).
O terceiro momento da influência frankfurtiana brasileira é da retomada e
incorporação da dialética negativa, a partir da perspectiva habermasiana, na qual “se
impõe superar o ‘modelo unilateral de racionalidade, comportando unicamente uma
dimensão cognitivo-instrumental’” (Severino, 1997, p. 184). É nesse terceiro momento
que se encontra uma interface significativa de produção bibliográfica na área de
filosofia da educação:
“[...] as categorias e perspectivas de abordagem filosófica da Teoria
Crítica [...] têm contribuído também para o surgimento de abordagens
filosófico-educacionais próprias sobre a condição da educação como
prática inserida numa sociedade marcada por profundas mudanças na
sua constituição política, econômica e cultural” (Severino, 2007, p. 7).
Dentre outros, pode-se citar os seguintes estudiosos brasileiros de Filosofia da
Educação que tem tomado o pensamento frankfurtiano como referência: Bruno Pucci;
Antônio Alvaro Zuin; Newton-Ramos de Oliveira; Nadja Hermann Prestes; Marilu
Fontoura de Medeiros; José Pedro Boufleuer (Ghiraldelli, 2009; Severino, 1997).
c) O neopragmatistas rortyana de Paulo Ghiraldelli 36
Paulo Ghiraldelli vem se destacando no cenário brasileiro de estudiosos da
Filosofia da Educação com o objetivo acadêmico de aproximar filosofia e educação que,
segundo ele, andavam distanciadas desde 1960. Após identificar uma série de limitações
dos movimentos marxistas na abordagem filosófica da educação, bem como do
36
Esse trecho é uma parte de um artigo que tem a seguinte referência de publicação: MARINHO, C. M.;
ROCHA, V. T. S. A filosofia da educação em Rorty através dos textos de Ghiraldelli. In: Redescrições
Revista on-line do GT Pragmatismo e Filosofia Norte-Americana da ANPOF. Ano 1, n. 3. Suplemento:
Memória do 1º. Colóquio Internacional Richard Rorty – 2009. Disponível em: www.redescrições.com
112
pedagogismo que predominava no Brasil, depois de ter feito a crítica à abordagem
marxista de Saviani da filosofia da Educação e sua recusa infundada à pósmodernidade, Ghiraldelli se volta para a filosofia que havia marcado seu período inicial
de formação, Horkheimer e Adorno e a crítica à metafísica. Essa empreitada foi
inspirada por Foucault e por alguns conceitos centrais em seu pensamento: importância
do corpo, crítica à subjetividade moderna. Nietzsche, Heidegger e Wittgenstein também
cunharam esse período principalmente pelo antifundacionismo e pela centralidade da
linguagem.
Contudo, a Velha Escola de Frankfurt via a crise da subjetividade moderna como
um subproduto da reificação capitalista, o que fez Ghiraldelli se aproximar da posição
do neopragmatismo, que via a crise da noção moderna de indivíduo de forma mais
ampla e menos conservadora. Nas palavras do próprio Ghiraldelli:
Interessei-me pela literatura filosófica neopragmatista na medida em
que ela conseguiu abrir meus olhos para o naturalismo, até então
demasiadamente presos a uma teoria social que, dando importância
excessiva à noção de reificação, me impedia de um melhor
aprofundamento nos problemas metafísicos que, desde o começo dos
meus estudos filosóficos, nos anos 1970, eu queria ver equacionados
de um modo mais elegante do que até então eles me haviam sido
apresentados. O neopragmatismo me possibilitou traçar um quadro
mais plausível de um problema intelectual com o qual a Velha Escola
de Frankfurt nunca conseguiu lidar de modo razoável, a saber: se não
confiamos mais no “sujeito moderno”, se não nos consideramos mais
como indivíduos (que é a expressão da filosofia social para a ideia de
sujeito moderno), o que devemos colocar no lugar? Que nova
descrição das relações entre “nós” e o “mundo” poderia ser assumida,
sem deixar de respeitar essa naturalização inevitável de toda e
qualquer descrição filosófica que os nossos tempos, a época pósmetafísica, nos vinha solicitando? (2001, pp. 77-78).
E foi dessa forma que o neopragmatismo chegou a Ghiraldelli: trazido pelas
mãos de Rorty e sem qualquer pretensão de reconstruir o sujeito como ponto
arquimediano metafísico. O neopragmatismo se propunha a tratar da subjetividade não
por uma “metafísica da subjetividade” com predomínio epistemológico e fundacionista,
mas o sujeito “como uma auto-imagem de nós mesmos na relação com o mundo” (2001,
p. 78). Ou seja, uma redescrição do sujeito metafísico moderno que possibilite uma
“imagem de como acontece a interação entre ‘nós’ e o ‘mundo’” (idem).
Esse procedimento redescritivo neopragmático, diz Ghiraldelli, foi um enorme
ganho filosófico, pois possibilitou mais coerência à filosofia contemporânea em crise
113
depois das críticas feitas à metafísica pela ciência, por Nietzsche, por Wittgenstein e por
Quine à filosofia analítica:
Além disso, para a satisfação de meu gosto pessoal – e isto me
impulsionou a voltar com mais motivação à filosofia da educação – o
neopragamatismo, em sua visão “fisicalista não-redutivista”, ofereceu
impulso para novas teorias educacionais – teorias que eu via como
mais condizentes com os nossos tempos e, talvez, mais capazes de
desafiar os problemas postos por um mundo que, de alguns anos para
cá, às vezes, temos chamado mundo pós-moderno, atendendo à
denominação de Lyotard para uma época de “descrença nas
metanarrativas modernas” (Ghiraldelli, 2001, p. 80).
Outro conceito central presente no neopragamtismo rortyano e utilizado por
Ghiraldelli para as reflexões filosófico-educacionais é o conceito deflacionista de
verdade. Essa concepção de verdade neopragmática rortyana é holística, naturalista,
anti-representacional e historicista.
A descrição holística rortyana possibilita ao
filósofo político prescindir do fundacionismo iluminista presente no liberalismo
naturalista. Ou seja, ficamos libertos de qualquer teoria que nos impõe sermos liberais
ou conservadores devido a uma certa Verdade que nos constitui:
Não temos de ser conservadores. Seremos apenas aquilo que
conseguirmos ser a partir das nossas descrições do mundo e de nós
mesmos. [...]. Não tendo mais nenhuma noção de natureza de caráter
essencialista, finalmente podemos usar nosso comportamento
linguístico livremente (Ghiraldelli, 2001, pp. 123-124).
Para Rorty, portanto, há uma fusão entre filosofia e filosofia política. Assim,
“fazer filosofia é promover redescrições da filosofia. Fazer filosofia política é promover
redescrições das relações sociais e políticas” (Ghiraldelli, 2001, p. 125). Nesse sentido,
os novos movimentos sociais e as suas novas metáforas (“black is beautiful” e “gay is
good”) são representativos dessas redescrições relacionais e antiessencialistas
(Ghiraldelli, 2001, p. 126 e ss). É dessa forma que a teoria naturalista não-reducionista
do neopragamatismo explica como o homem se relaciona com o meio ambiente sem
recorrer a essencialismos, e, por isso, pode-se pensar que:
[o] homem, não tendo essência, é aquilo que ele se dispuser a ser, e
que sua capacidade de criar linguagens e posturas adequadas a essas
linguagens é infinita. Assim, podemos nos motivar a acreditar que na
Terra, se tivermos sorte, encontraremos sempre muitas pessoas
suficientemente motiváveis e motivadas a alterar suas crenças e
comportamentos a partir de convencimentos racionais, em vez de pela
força (Ghiraldelli, 2001, p. 127).
114
É essa perspectiva que acentua o caráter íntimo da filosofia rortyana com a
educação: “O homem assim visto é infinitamente educável” (2001, p. 127). Há uma
simbiose da filosofia rortyana com a filosofia da educação:
A filosofia, para Rorty, torna-se, no máximo, um instrumento para
sugerir soluções para problemas contingentes, e no geral a confecção
de narrativas que se envolvem na solução de novos problemas –
gerando outros, inclusive! E ela é uma filosofia da educação, em um
sentido lato, na medida em que, a cada problema que enfrenta, o faz a
partir da crença de que, se tivermos sorte, muita gente há de se
convencer da nossa solução através de educação (convencimento
racional) e não através da força (convencimento não racional) (2001,
p. 128) (Grifos nossos).
As reflexões de Paulo Ghiraldelli em torno da influência rortyana na teoria da
educação teve um papel central aqui, não por ele ser o único no cenário brasileiro, mas
por ser uma figura extremamente expressiva na sua produção intelectual e se mostrar, de
fato, um grande divulgador das ideias rortyanas no Brasil. Assim, além desse filósofo,
merece destaque a filósofa Suzana de Castro, com uma expressiva produção
bibliográfica e uma atividade significativa de divulgação do pensamento neopragmático
norte americano, sendo atualmente coordenadora do GT-Pragmatismo da ANPOF e
editora da revista Redescrições, juntamente com Paulo Ghiraldelli. Os nomes de Altair
Alberto Fávero e Etinete A. do Nascimento Gonçalves também tem se projetado na
pesquisa do pensamento rortyano em torno da educação.
d) A Filosofia da Diferença francesa deleuzeana e foucaulteana no Brasil
Os filósofos brasileiros se referem com diversas denominações à filosofia
francesa contemporânea de Foucault e Deleuze, dentre outros, pode-se apontar as
seguintes: arquegenealógica (Severino, 1997); pós-moderna (Fonte, 2003); pós-crítica,
pós-estruturalista (Silva, 2002); filosofia da diferença (Gallo, 2003); neo-estruturalista
(Ghiraldelli, 2009). Contudo, todas essas denominações são sinônimas e, apesar de
diferenciações conceituais, significam uma recusa à identidade e do universal abstrato e
uma busca da multiplicidade do singular.
Paraíso (2004), no artigo intitulado Pesquisas pós-críticas em educação no
Brasil: esboço de um mapa, oferece uma ideia bastante clara do início da intercessão
Foucault/Deleuze e educação:
Tracei um marco: o início de apresentação de trabalhos que adotam
perspectivas pós-críticas na ANPEd em 1993, e analisei todo o
115
percurso até 2003. Até 1992 não encontrei nas programações da
ANPEd referências às questões colocadas pelas teorias pós-críticas.
Em 1993, na 16ª Reunião Anual da Associação, dois trabalhos são
apresentados (Silva, [...]; Santos [...]). O primeiro, discute as questões
centrais do pensamento pós-moderno e pós-estruturalista, mostrando
as continuidades e as rupturas em relação à pedagogia e à sociologia
críticas. O segundo, por sua vez, discute as relações entre poder e
conhecimento com base na noção poder-saber de Michel Foucault
(Paraíso, 2004, p. 285).
Os trabalhos aos quais a autora faz referencia são: “Sociologia da educação e
pedagogia crítica em tempos pós-modernos”, apresentado por Tomaz Tadeu da Silva e
baseado em Deleuze, e “Poder e conhecimento: a constituição do saber pedagógico”,
apresentado por Lucíola Licínio de C. P. Santos e baseado em Foucault. Da mesma
forma, o artigo “Construtivismo pedagógico como significado transcendental do
currículo”, de 1994, de Sandra Corazza e inspirado em Derrida, é também um marco na
emergência dos estudos pós-críticos no Brasil. E no dizer de Paraíso (2004): “Desde
então, trabalhos que adotam perspectivas pós-críticas expandiram, contagiaram,
proliferam”.
Paraíso (2004) identifica outro marco para o momento inaugural da filosofia
pós-crítica e sua influência no pensamento educacional brasileiro. Trata-se da
publicação do livro Teorias educacionais críticas em tempos pós-modernos, em 1994,
organizado por Tomaz Tadeu da Silva. O livro se constituiu de oito ensaios versando
sobre o debate das relações entre o pós-modernismo e a teoria educacional e revisa “as
contribuições de autores como Baudrilhard, Derrida, Foucault, Lyotard, Rorty, entre
outros, os ensaios mapearam as diferentes formas pelas quais o questionamento pósmoderno e pós-estrutural afeta o pensamento crítico em educação” (Paraíso, 2004, p.
285).
No ensaio de Tomaz Tadeu, entre outras coisas, ele avalia os limites e um
considerável esgotamento da teoria crítica, principalmente a de viés marxista, o que
implicaria na necessidade de novos paradigmas filosóficos para a interpretação dos
processos educacionais. É, então, que aponta os princípios da teoria pós-crítica e da
filosofia da diferença deleuziana como novos referenciais contra-hegemônicos para se
pensar a educação.
Alfredo Veiga-Neto é outro nome importante no surgimento desses novos
referenciais teóricos pós-modernos na educação. É um estudioso de Foucault e do neoestruturalismo. O seu artigo “Foucault e Educação: outros estudos foucaultianos” é
116
representativo no Brasil. Tal artigo foi publicado em uma coletânea expressiva do
pensamento filosófico educacional baseado em Foucault, O sujeito da educação,
organizada por Tomaz Tadeu da Silva, de 1994.
Dois nomes cearenses também são significativos na recepção e divulgação e
produção de ideias deleuzianas: Daniel Lins e Sylvio Gadelha. Daniel Lins é estudioso
de Nietzsche e Deleuze, tem diversas obras publicadas nessa área, fez seu pósdoutorado com Jaques Ranciére, na França e, através do Simpósio Internacional de
Filosofia Nietzsche e Deleuze, tem atuado de forma expressiva na divulgação desses
referenciais teóricos. O artigo “Mangue’s school ou por uma pedagogia rizomática”,
segundo o autor, traz a seguinte proposta:
Uma pedagogia rizomática, que tem como axioma primordial uma
ciência nômade ou itinerante está inserida na ética e na estética da
existência, na imanência, pois como vida emerge como pura
resistência, puro devir. Eis um dos eixos do projeto de uma escola
inserida numa dinâmica do rizoma: resistir, infectar e vitalizar o
instituído (Lins, 2005, p. 1229).
Sylvio Gadelha, por sua vez, recentemente é que tem se dedicado às conexões
entre a filosofia deleuziana e a educação. Seus escritos anteriores seguiram a trilha
foucaultiana nessa intercessão. Na sua tese de doutorado, na Universidade Federal do
Ceará, já se dedicou a pesquisar essa vertente: Educação e subjetivação: elementos para
uma escuta extemporânea. Sua produção bibliográfica também é substantiva nesse
aspecto: Subjetividade e menor-idade: acompanhando o devir dos profissionais do
social (1998); Biopolítica, Governamenalidade e Educação: introduções e conexões a
partir de Michel Foucault (2009). Nos últimos tempos, o autor tem se dedicado a
pesquisar sobre a cultura do empreendedorismo na educação, tomando conceitos
foucaultianos e deleuzianos, tais como governamentalidade, biopolítica e sociedade do
controle.
Walter Omar Kohan, argentino naturalizado brasileiro, trabalha principalmente
nas áreas de filosofia da educação, filosofia para crianças e ensino de filosofia. Dedicase também a vários projetos voltados para a formação de professores de filosofia. Seus
principais referenciais filosóficos são Deleuze, Foucault e Ranciére e as categorias mais
presentes em seus escritos são as categorias da Diferença, infância, subjetivação e
ensino/aprendizagem, que recebem uma abordagem filosófica a partir da postura crítica
sobre a modernidade racionalista. Tem uma vasta produção bibliográfica, entre livros,
artigos e coletâneas organizadas por ele, da qual ressaltamos a Coleção Filosofia na
117
Escola, com seis títulos37, organizados por ele em parceria com outros estudiosos, que
muito tem contribuído para os professores de filosofia no Brasil nessa nova perspectiva
pós-crítica de abordagem do ensino de Filosofia. Salientamos que a importância dessa
coleção se dá, primeiro, pela abordagem filosófica da categoria da infância, e, segundo,
com a teorização sobre o ensino da filosofia, dois assuntos praticamente ausente na cena
brasileira da Filosofia da Educação.
Silvio Gallo é outro filósofo de peso e imprescindível nesse universo de
teorizações pós-modernas ligadas à educação. Inicialmente, enveredou pelas trilhas do
anarquismo, depois seguiu o caminho de Foucault e atualmente investiga o ideário
deleuziano, sempre na perspectiva de relacionar essas filosofias com a educação. Como
publicações significativas desses marcos filosóficos por quais passou, pode-se indicar:
O livro Pedagogia Libertária: anarquistas, anarquismos e educação (2007); o artigo
“Repensar a Educação: Foucault”, publicado no número 1 da revista Filosofia,
Sociedade e Educação,” ; e mais recentemente Deleuze & a educação (2003). Em todos
os seus escritos há uma preocupação com o aprofundamento do diálogo entre a Filosofia
e a Educação, principalmente as filosofias de Foucault, Nietzsche e Deleuze e os
conceitos diferença, poder, verdade, saber e suas interferências no universo pedagógico.
Esse breve traçado de mapeamento da influência filosófica sobre a educação no
Brasil contemporâneo é, obviamente, delimitado pelos objetivos da pesquisa aqui em
curso, portanto, ele é maleável e processual. Nesse sentido, deleuzianamente, roubo aqui
as palavras de Paraíso (2004) ao abrir seu artigo Pesquisas pós-críticas em educação no
Brasil: esboço de um mapa, no qual a autora expressa tão bem esse devir:
Um mapa, segundo Deleuze [...], é aberto, conectável, composto de
diferentes linhas, suscetível de receber modificações constantemente.
Isso significa dizer que um campo que está sendo mapeado não se
encontra fechado, acabado. Ele está sempre aberto a outras
construções e significações. Nesse sentido, enquanto faço esse esboço
de mapa, as pesquisas pós-críticas em educação no Brasil estão
movimentando-se, e podem estar fazendo outros contornos e
atribuindo outros sentidos às questões educacionais brasileiras
(Paraíso, 2004, p. 284).
37
Os títulos que compõe essa coleção são os seguintes: Filosofia para crianças: A tentativa pioneira de
Matthew Lipman, Walter Omar Kohan e Ana Míriam Wuensch (orgs.); Filosofia para criança na prática
escolar, Walter Omar Kohan e Vera Waksman (orgs.); Filosofia e infância: Possibilidade de um
encontro, Walter Omar Kohan e David Kennedy (orgs.); Filosofia para criança em debate, Walter Omar
Kohan e Bernardina Leal (orgs); Filosofia na escola pública, Walter Omar Kohan, Bernardina Leal e
Álvaro Ribeiro (orgs); Filosofia no ensino médio, Walter Omar Kohan e Silvio Gallo (orgs);
118
Dessa forma, esse breve mapeamento da influência filosófica sobre a educação
no Brasil é, obviamente, delimitado, portanto, maleável e processual, mas cumpre o
objetivo de realçar os contornos, nem sempre reconhecidos, das matrizes filosóficas na
educação brasileira a partir de sua multiplicidade, heterogeneidade e força de animação
das práticas e teorias educativas.
As matrizes filosóficas da educação brasileira não fizeram um percurso linear e
progressivo. Pelo contrário, variaram em seu movimento entre idas e vindas,
fortalecimentos e fragilidades, recuperações e perdas definitivas, simultaneidades e
solidões. Assim, esse breve histórico não se pretende definitivo e muito menos
exaustivo, pois tanto a influência recebida é transformada quanto o seu fluxo é contínuo.
A trajetória continua. Nesse contexto, se a Filosofia sempre foi uma influência presente na
prática e na teoria educacionais brasileiras desde o século XVI, a Filosofia da Educação, por sua
vez, como um campo de saber específico somente foi se delineando, no Brasil, no início do
século XX, como veremos a seguir.
119
CAPÍTULO 2 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
A influência das matrizes filosóficas na educação em terras brasileiras não
representou ou produziu, desde o seu início, uma Filosofia da Educação como
pensamento
sistematizado,
o
que
só
aconteceu
muito
tardiamente.
Mais
especificamente, na década de 1930. Dessa forma, o presente capítulo se propõe a fazer
uma breve exposição dessa trajetória de constituição da Filosofia da Educação como
campo de saber específico em terras brasileiras, a partir de uma retomada do histórico
europeu, bem como apresentar três obras consideradas representativas da Filosofia da
Educação, no Brasil, em seu percurso constitutivo: Pequena introdução à filosofia da
educação – a escola progressiva ou a transformação da escola, de Anísio Teixeira;
Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire; Escola e democracia, de Dermeval Saviani.
1. Breve histórico da Filosofia da Educação no Brasil
A educação esteve presente como objeto de reflexão desde o início da Filosofia.
Por vezes como reflexão central, por vezes como categoria subjacente. Segundo
Tomazetti (2003, p. 15), “a relação da Filosofia com a educação é, portanto, muito
antiga. Ela nasce com a própria filosofia, enquanto uma preocupação com a formação
do homem – paidéia”. Este conceito vai se modificando historicamente e se reveste de
várias denominações que expressam as respectivas épocas e as reflexões filosóficas aí
constituídas. Assim, além da paidéia grega, temos a humanitas, na Renascença, a
Bildung, no Iluminismo e um novo conceito contemporâneo ainda não definido, mas
que questiona a ideia central presente nesses outros conceitos, o de formação humana.
Ao longo desse processo histórico, diversos filósofos imprimiram sua marca
reflexiva nesses conceitos, através de diversas obras que marcaram a trajetória do
conceito de formação humana, nas quais foram se desdobrando e dando origem a outros
conceitos filosóficos educacionais. Contudo, por muito tempo, a Filosofia da Educação
não foi tida como uma reflexão mais sistematizada e de composição mais autônoma.
Para o filósofo alemão Herbart (1776-1841), por exemplo, a pedagogia seria uma
ciência filosófica voltada para a formação integral do homem harmônico e responsável.
A Pedagogia, assim, estaria pautada em uma cientificidade filosófica que conjuga teoria,
120
prática, ciência e arte em uma reflexão filosófica voltada para uma filosofia prática
(Tomazetti, 2003, p. 22). Da mesma forma,
Na França, até o final do século XIX e início do século XX, a filosofia
da Educação esteve associada à Pedagogia geral; o saber filosófico
sobre educação era parte integrante dos estudos de Pedagogia. Para
exemplificar, Nanine Charbonell afirma que Marion, em sua lição de
abertura em 1883, na Sorbonne, utilizou, indiferentemente de uma
linha a outra, expressões: filosofia da educação, ciência da educação,
pedagogia, pedagogia geral, pedagogia filosófica. Da mesma forma
Compayré, em suas obras, utilizava como sinônimos as expressões
teoria racional da educação, pedagogia científica, Filosofia da
Educação (Tomazetti, 2003, p. 21).
Tomazetti, em seu excelente estudo Filosofia da Educação – um estudo sobre a
História da Disciplina no Brasil (2003, p. 21), acrescenta, ainda, que na França, durante
o século XX, até a década de 1970, a expressão Pedagogia Geral era utilizada como
sinônimo de Filosofia da Educação.
Para Lorenzo Luzuriaga, importante educador espanhol, a Filosofia da Educação
era uma pedagogia teórica que poderia ser chamada de pedagogia Filosófica e que se
configurava como uma continuidade da tradição filosófico-pedagógica do final do
século XVIII e início do século XIX, a partir das reflexões de filósofos como Kant,
Fichte, Scheling, Schleiermacher, Herbart, Nietzsche, Schopenhauer e Dilthey. Assim,
para Luzuriaga, a pedagogia, enquanto filosofia da educação, toma da filosofia geral os
fundamentos últimos da vida, do homem, do conhecimento e do saber e procura realizálos na prática educativa. Na Itália, também, o filósofo neo-hegeliano Giovanni Gentile,
reagindo à concepção naturalista, também compreendia e defendia o primado da
Filosofia na pedagogia (Tomazetti, 2003, p. 23).
Dessa forma, foi a importância que teve os fundamentos da Filosofia para a
constituição da Pedagogia que aproximou estes dois universos teóricos e deixou para a
Filosofia da Educação o legado de um conjunto de saberes relacionados à prática
educativa. Somente quando a Pedagogia deixa de se sustentar nos fundamentos
filosóficos, em uma busca de totalidade científica, é que a Filosofia da Educação se
torna autônoma como pensamento mais sistematizado:
A filosofia era considerada um saber fundamental na constituição dos
estudos pedagógicos e, mesmo, da ciência pedagógica, entendendo-se
ciência como a expressão máxima da Filosofia. Por isso a indistinção
gerada com o uso dos termos filosofia pedagógica, pedagogia teórica e
pedagogia deixaria, como herança, à Filosofia da educação, a
característica de saber-síntese, no conjunto dos diferentes saberes
considerados importantes para a reflexão sobre a educação e para a
121
formação de professores. Quando a Pedagogia, enquanto resultado de
um conjunto de saberes, se extinguiu, a expressão Filosofia da
Educação passou a ser utilizada (Tomazetti, 2003, p. 24).
Ou seja, foi o abandono do discurso filosófico como fundamento principal do
saber pedagógico que possibilitou a constituição das ciências da educação e fez com que
a Filosofia da Educação se sistematizasse com um discurso próprio, mas inferior. Essa
hierarquia se impõe no século XX, quando o Positivismo inaugura uma diferenciação
entre “um discurso científico sobre a educação, representado pela Pedagogia
(científica), e um discurso generalista/totalizante sobre a educação: o discurso filosófico
sobre a educação” (Tomazetti, 2003, pp. 25, 28). Dessa forma, a Pedagogia tornou-se
uma ciência experimental orientada pelas disciplinas humanas e sociais empíricas, e se
distanciou da filosofia normativa da educação e da pedagogia tradicional. A partir daí,
“a reflexão filosófica, considerada até então como uma Pedagogia Geral, começava a
ser classificada como menos importante que uma reflexão científica sobre a educação, a
partir da emergência das ciências da educação como a Biologia, a Psicologia, e a
Sociologia” (Tomazetti, 2003, p. 28).
O resultado foi a separação entre o discurso pedagógico e o discurso filosófico,
bem como o rebaixamento deste último a discurso pré-científico, lugar inferior para
quem já tinha sido fundamento do primeiro. Durkheim foi, em grande parte, o
responsável pela cientificização sociológica do discurso da educação e do rebaixamento
do conhecimento filosófico. Para ele haveria uma hierarquia nos campos de saber, na
qual História da Educação, Psicologia da Educação e Sociologia da Educação são
consideradas ciências da Educação, mas Filosofia não é considerada como ciência.
Dessa forma, a Sociologia seria o saber legítimo para se pensar a educação, pois esta é
obra da sociedade.
Assim, “ao situar o discurso pedagógico no campo sociológico, um campo
científico e, por isso, qualificado e competente, Durkheim retira da Filosofia a condição
de saber-fundamento da educação” (Tomazetti, 2003, p. 28). Para esse pensador, as
teorias pedagógicas baseadas na reflexão filosófica seriam especulativas e sem
objetividade, pois visavam como deveria ser a educação e não como a educação é. A
Sociologia é que era a ciência legítima para a análise da educação, com a Psicologia e a
História como ciências auxiliares. Nesse âmbito,
[...] a Filosofia foi excluída do discurso educacional ou considerada
saber de menor importância. As temáticas da educação, a partir de
122
então, seriam objetos das diferentes ciências da educação e a Filosofia,
com a perda de sua hegemonia, passaria a disputar espaço para
proferir o seu discurso sobre a educação (Tomazetti, 2003, p. 30).
A valorização da Filosofia da Educação, segundo Tomazetti (2003, p. 34),
juntamente com a Psicologia, a Sociologia e a História da Educação, ocorreu na década
de 1960, na Inglaterra, onde professores, premidos pela sobrecarga do ensino de todo o
conteúdo dessas disciplinas desde o início do século XX, se articularam na defesa de um
ensino mais específico de cada uma dessas matérias. Dessa luta resultou um enorme
desenvolvimento da Filosofia e da Sociologia da Educação no campo da Filosofia
Analítica. A Filosofia da Educação, por sua vez, “abandonou o estudo do pensamento e
da vida dos grandes educadores para se fixar de maneira metódica e meticulosa, [...],
sobre o exame dos conceitos e das questões éticas e epistemológicas no coração da
empresa educativa” (Tomazetti, 2003, p. 35).
Contudo, posteriormente, nos meios educacionais ingleses, houve um forte
movimento de crítica sobre os desdobramentos dessa abordagem analítica da Filosofia
da Educação, posto que ela teria se tornado extremamente distanciada da prática
educativa e docente. Dessa nova realidade, resultou um movimento que reivindicava
uma volta às questões mais ligadas à prática educativa (Conf. Tomazetti, 2003, pp. 34 a
37).
No Brasil, na perspectiva de uma construção disciplinar da Filosofia da
Educação, a relação da Filosofia com a Educação faz o mesmo percurso europeu, ou
seja, primeiramente apresenta-se como “um saber conjugado com a Pedagogia Geral e,
mais tarde, enquanto disciplina autônoma, vinculada à cadeira História e Filosofia da
Educação” (Tomazetti, 2003, p. 42). Em nosso país, a Revista de Ensino (1902 a 1918),
da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, é considerada por
Tomazetti como representativa dos “debates acerca da cientificidade do discurso
educacional e a relação entre as ciências da educação e a Filosofia da Educação” (2003,
p. 38).
Por um lado, a Pedagogia científica criticava na Pedagogia tradicional a falta de
fundamentação científica, a ausência de atividades práticas, a erudição supérflua e o
enciclopedismo inútil. Pode-se afirmar que a temática sobre a cientificidade pedagógica
estava ligada ao surgimento das ideias de formação para a vida e do aprendizado a partir
da prática que caracterizavam a Escola Nova. Por sua vez, aqueles “conhecimentos que
123
sustentavam a cientificidade do discurso pedagógico provinham do conhecimento físico
propiciado pela Biologia e do conhecimento psicológico propiciado pela Psicologia,
todos voltados para a criança” (Tomazetti, 2003, p. 39). Por outro lado, a Filosofia da
Educação tornou-se um saber independente com a consolidação das ciências da
educação, deixando de se identificar com a Pedagogia teórica ou Pedagogia filosófica,
mas trazendo como herança algumas de suas principais características, tais como a
preocupação com a história das ideias da educação dos grandes filósofos e suas
concepções de homem, de conhecimento e de valor. Assim,
caberia, então, à Filosofia da Educação a reflexão sobre os fins e os
valores da educação, a partir de uma determinada teoria filosóficopedagógica. Permaneceria sua caracterização como um saber teórico e
especulativo, de menor importância em relação ao saber científico da
educação (Tomazetti, 2003, p. 41).
No contexto do avanço das ciências da educação, o interesse da Filosofia da
Educação eram as ideias sobre educação dos filósofos como, por exemplo, Platão,
Locke, Rousseau, Kant, e o conhecimento dos principais sistemas filosóficos, dos quais
se deduziam os conceitos de educação, de homem, de escola etc. Já o objetivo principal
da disciplina Filosofia da Educação, nesse contexto, passou a ser “a definição dos fins
que deveriam ser alcançados pelo processo educativo e os valores que deveriam ser
transmitidos aos alunos” (Tomazetti, 2003, p. 191). Dessa forma, a disciplina se
transformou em uma reflexão abrangente sobre educação, indo muito além da instrução
das teorias psicológicas e da moralização social proposta pela Sociologia (Cf.
Tomazetti, 2003, p. 191).
Quanto ao ensino da Filosofia da Educação na tradição educacional brasileira, é
possível afirmar que transcorreu, prioritariamente, a partir do estudo das ideias sobre
educação de importantes filósofos no contexto da história da Filosofia. O professor,
partindo de seus conhecimentos em História e Filosofia, aproximava as duas áreas e
definia os conteúdos a serem ensinados a partir de uma dimensão histórica da Filosofia
que, por sua vez, era complementada pelo estudo de pensadores clássicos e das
principais correntes filosóficas. Assim, a Filosofia da Educação era a apresentação do
pensamento dos filósofos e suas ideias acerca da educação e ensinar Filosofia da
Educação era descrever a história desse pensamento educacional/filosófico, extraindo
daí as temáticas características do saber filosófico da educação (a ética, a estética, o
124
homem, o conhecimento, os valores e os fins) e sua relação com a educação (Cf.
Tomazetti, 2003, pp. 196-197). Assim, assevera Tomazetti:
[...] conceitos clássicos de educação, educação e ciência, natureza do
ato pedagógico, fins e valores da educação, possibilidades da
educação e correntes da Filosofia da Educação, entre outros,
marcaram, em grande medida, a tradição dos estudos de Filosofia da
Educação [no Brasil] (Tomazetti, p. 249).
Já o perfil que foi se delineando na constituição da cadeira de História e
Filosofia da Educação mostrou que saber filosófico e saber histórico eram
indissociáveis na compreensão das questões educacionais e da concepção de educação
como formação geral do homem e da cultura, mas não dos métodos e técnicas para a
eficiência do ensino (Cf. Tomazetti, 2003, p. 197-198). A Filosofia da Educação, por
sua vez, era um estudo sobre as ideias dos grandes filósofos da educação, situadas na
História da Educação e na Pedagogia, demonstrando que os limites entre um saber e
outro eram muito tênues. Atualmente houve um redimensionamento desses estudos,
ficando mais demarcados os limites entre História da Educação e Filosofia da Educação
(Cf. Tomazetti, 2003, p. 196).
As disciplinas Filosofia da Educação e História da Educação eram tidas como
estruturantes do curso de Pedagogia, no qual a História da Filosofia acompanhava a
História da Educação e vice versa:
A justificativa para tal complementariedade de saberes estava na
compreensão de que a ideia de formação era a espinha dorsal dos
cursos de Pedagogia. Concebia-se formação nos moldes da Paideia
grega ou da Bildung, no modelo alemão. A História da Educação era
concebida como história da cultura, história dos grandes ideais da
formação humana (Tomazetti, 2003, p. 198).
Por muito tempo a disciplina Filosofia da Educação não teve autonomia de
existência, pois pertencia à cadeira de História e Filosofia da Educação. Somente a
partir dos anos 30, com o escolanovismo, passou a integrar o currículo da escola normal
como disciplina independente: em 1932, na reforma do sistema educacional do Distrito
Federal; em 1933, na reforma do Instituto de Educação de São Paulo; em 1943 no
Instituto de Educação Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Para Tomazetti (2003, p.
64), deve-se esse pioneirismo a Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, grandes
expoentes do movimento renovador. Assim:
O ideário escolanovista, em sentido amplo, possibilitou e sustentou o
surgimento e a institucionalização da disciplina Filosofia da Educação
no contexto das reformas das escolas normais, a partir dos anos 30 e
125
de uma nova concepção de educação, de escola, de aluno, de
conhecimento, etc. Ganhava espaço, gradativamente, o campo da
Filosofia da Educação. Em seu interior passaram a ocorrer as disputas
entre filósofos da educação de orientação pragmática, norte-americana
e os filósofos da educação com tradição católica/tomista e, de forma
geral, francesa/alemã, pela definição e orientação de teorias e práticas
educacionais (Tomazetti, 2003, p. 90-91).
Contudo, se o objetivo de Tomazetti é compreender historicamente “o percurso
do saber filosófico sobre educação no campo educacional, mais tarde institucionalizado
como disciplina denominada Filosofia da Educação, no ensino normal e no curso de
Pedagogia de universidades brasileiras” (Tomazetti, 2003, p. 145), o objetivo do
presente capítulo é destacar três obras brasileiras que, segundo a nossa compreensão,
simbolizam o período de sistematização de um pensamento filosófico educacional no
Brasil.
Assim, dentre as diversas fases da trajetória da construção disciplinar da
Filosofia da Educação no Brasil analisadas por Tomazetti, destacamos três importantes
momentos que são significativos para o desenvolvimento da presente pesquisa, com o
objetivo refletir sobre a Filosofia da Educação, em sua análise e produção filosóficas.
São eles: institucionalização na universidade com os estudos de Filosofia da Educação
feitos pela Escola Nova, com Anísio Teixeira, nas décadas de 1920-30; predominância
da relação entre História e Filosofia na disciplina e produção bibliográfica da Filosofia
da Educação, entre os anos 1940-1960; problematização da identidade da Filosofia da
Educação e seu objeto de estudo a partir da fragilização do marxismo, em virtude das
reordenações mundiais, como referencial dominante no final dos anos 1980 e durante os
anos de 1990 (Cf. Tomazetti, 2003, pp. 42,43 e 196).
Esses momentos são importantes e fundamentais para o percurso do presente
trabalho, considerando que houve três pensadores e três grandes obras que foram
fundamentais na elaboração de um pensamento sobre Filosofia da Educação no Brasil:
Anísio Teixeira, com Pequena introdução à filosofia da educação – a escola
progressiva ou a transformação da escola (1934); Paulo Freire, com Pedagogia do
oprimido (1968); e Dermeval Saviani, com Escola e democracia (1983).
A produção filosófica dos três pensadores citados foi norteada por distintas
orientações filosóficas: Anísio Teixeira foi marcadamente inspirado pelo pragmatismo
norte americano de Dewey; Paulo Freire teve uma variada influência filosófica, fruto de
uma confluência de diversos pensadores, mas nitidamente marcado pelo existencialismo
126
cristão e uma aproximação da filosofia dialética e do marxismo sem, contudo, significar
adesão ao marxismo; Dermeval Saviani, por sua vez, assume explicitamente que seu
referencial filosófico é a dialética marxista.
2. Anísio Teixeira: pioneirismo e modernidade na Filosofia da Educação
Nos anos 1930, por intermédio de educadores e intelectuais, principalmente,
Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, a Filosofia da Educação se institucionalizou como
disciplina de formação pedagógica. Assim, quando esta disciplina entrou no currículo
dos cursos normais, através das Reformas, as temáticas mais presentes eram as que
faziam parte do universo filosófico escolanovista: “experiência, vida, democracia, auto
atividade, liberdade, autoridade, as quais tinham o sentido de possibilitar a
compreensão, em última instância, dos fins e dos valores da educação nova” (Tomazetti,
2003, p. 75).
Todavia, não é possível generalizar que todos os programas de Filosofia da
Educação de escola normal do país, na época, seguiram a orientação pragmatista de
estudos da escola nova e as questões relativas à sua filosofia. Tomazetti averiguou que
em outros institutos ocorria uma orientação nos moldes da História da Filosofia
tradicional/europeia, bem como a inexistência de conteúdos relativos à filosofia da
escola nova, do pragmatismo de Dewey ou mesmo de temáticas escolanovistas (Cf.
Tomazetti, 2003, p. 76). Dessa forma,
A institucionalização da disciplina Filosofia da Educação no ensino
normal, portanto, ocorreu somente nos anos 30 do século XX por
conta das reformas inspiradas no ideário escolanovistas que se
afirmava no período. Disso não decorre, entretanto, que a orientação
dada à disciplina tenha sido essencialmente pragmatista. Variando as
instituições e a formação recebida pelos professores responsáveis pela
disciplina, oscilou, também, a sua orientação (Tomazetti, 2003, p. 79).
Da mesma forma, afirma Tomazetti, a partir da análise dos programas de
Filosofia da Educação das universidades da década de 1930 (USP, UFRGS, UB e
PUCRS), também no ensino superior era muito “modesta a presença de conteúdos
referentes às temáticas da ‘escola nova’ e raros, também, os estudos de obras de Dewey
ou sobre ele, escritas e divulgadas, principalmente, por Anísio Teixeira” (Tomazetti,
2003, p. 80). Segundo a pesquisadora, só foi possível constatar mais fortemente a
presença de conteúdos próprios da Filosofia da escola nova no contexto da disciplina
Filosofia da Educação em décadas mais recentes (Tomazetti, 2003, p. 80). Contudo,
127
mesmo não sendo majoritária a presença do ideário pragmatista da escola nova nos
programas de Filosofia da Educação no Brasil, há que se enfatizar a sua enorme
influência na constituição e disseminação dessa disciplina “que, embora parcialmente
institucionalizada, foi muito importante no contexto político-educacional a partir dos
anos 20” (Tomazetti, 2003, p. 81).
A relevância da nova orientação filosófica da educação do escolanovismo no
processo de constituição do campo da Filosofia da Educação no Brasil ficou visível nas
ideias e diretrizes norteadoras de outra forma de organização escolar, na nova maneira
de ensinar e de conceber a criança a ser educada, as quais já vinham sendo defendidas
por educadores e políticos brasileiros, mesmo que de forma muito tímida, desde o final
do período imperial (Cf. Tomazetti, 2003, p. 81). Além da Escola Nova se basear em
novos conceitos filosóficos educacionais a partir do pragmatismo (atividade, vitalidade,
liberdade, individualidade, sociabilidade, interesse, espontaneidade, autonomia e
infância), as reformas também
priorizaram a questão metodológica, enfatizando o processo do
ensinar-aprender, do concreto, da observação e da atividade do aluno.
Consequentemente, a escola normal também passou a sofrer o impacto
renovador, uma vez que era a responsável pela formação dos
professores primários, aos quais cabia imprimir uma nova concepção
de ensino, de escola e de aluno (Tomazetti, 2003, p. 83).
A consequência mais geral da influência da concepção filosófica de educação e
de sociedade, sustentada pelo ideário escolanovista e caracterizada por um humanismo
científico-tecnológico, foi a ruptura com a tradição filosófica humanista/católica que
marcava a tradição filosófica educacional brasileira. Os fundamentos pragmáticos dessa
nova educação e dessa nova escola se pautavam na Filosofia de John Dewey e na
Sociologia de Durkheim. Dessa forma,
As ideias destes dois autores possibilitaram aos intelectuais e
educadores renovadores compreender o processo de modernização da
sociedade brasileira da época e, consequentemente, a necessidade de
um novo ensino e de uma nova escola. À democracia, à liberdade e à
ciência como valores da sociedade moderna correspondia um estudo
científico dos problemas educacionais brasileiros, abandonados até
então, a sua própria sorte (Tomazetti, 2003, p. 84).
É possível, então, afirmar que a nova concepção de educação propunha novos
métodos educacionais, novos princípios filosóficos e uma nova Filosofia da Educação.
Conforme Tomazetti (2003, p. 84), Lourenço Filho se refere à proposta de revisão dos
128
meios de educar, dos fins da escola, e da problemática da educação ou Filosofia
educacional da nova educação em um contexto social que buscava se modernizar.
A Filosofia da Educação proposta pelos renovadores, principalmente por Anísio
Teixeira, o que mais pensou sobre a importância da Filosofia para a educação, pode ser
rastreada no Manifesto dos Pioneiros da Educação.
Nele estão expressas, com muita clareza, a consciência dos
renovadores de que a educação era um problema fundamental e de
cuja mudança dependia a modernização de toda a sociedade; a
constatação da inexistência de um sistema de organização escolar
brasileiro e a falta de uma Filosofia da Educação que determinasse os
seus fins, juntamente como uma forma de operacionaliza-los.
Referindo-se à inexistência de um sistema de organização escolar que
estivesse à altura das necessidades modernas do país e enfatizando sua
característica de fragmentação e desarticulação, o Manifesto apontava
como causa a falta “em quase todos os planos e iniciativas, da
determinação dos fins da educação (aspecto filosófico e social) e da
aplicação (aspecto técnico) dos métodos científicos aos problemas de
educação. Ou, em poucas palavras, na falta de espírito filosófico e
científico, na resolução dos problemas da administração escolar”
(Tomazetti, 2003, p. 85).
Dessa forma, para os renovadores da educação era necessário oferecer um
tratamento científico para a educação brasileira, algo que nunca havia existido em nossa
história da educação. O Manifesto também defendia a educação pública e uma escola
única, laica, gratuita e obrigatória para todos os brasileiros. No entanto, os educadores
descartavam o monopólio da educação pelo Estado, que deveria agir para organizar e
estabelecer as diretrizes da educação, desde que não fosse de forma centralizadora e
uniformizadora (Cf. Tomazetti, 2003, p. 86).
Diante da constatação da falta de uma organização da educação brasileira em um
sistema, os renovadores propunham uma base comum de cultura geral durante três anos,
seguida de duas seções, intelectual e manual. A seção intelectual era composta de
humanidades modernas, ciências físicas e matemáticas e ciências físicas e químicas. A
seção manual abrangia as escolas agrícolas, de mineração e de pesca, as escolas
industriais e profissionais e a escola de comunicações e transportes (Cf. Tomazetti,
2003, p. 86). Nessa proposta, o ensino superior brasileiro deveria estar a serviço das
profissões liberais, tais como Engenharia, Direito e Medicina, pois “o espírito
universitário” deveria ultrapassar a formação apenas profissional e ampliar-se aos
campos de saber desenvolvidos na sociedade moderna e vinculados ao universo da
129
pesquisa científica desinteressada. Assim, afirmavam os renovadores, “a pesquisa
deveria ser o sistema nervoso da universidade” (Tomazetti, 2003, p. 87).
Outro aspecto decisivo nas reflexões filosófico educacionais do Manifesto era
com “a preocupação com os cursos de formação de professores por conta de uma
coerência com toda a ideologia liberal que aqui se enraizava: a educação como alavanca
do ingresso da sociedade brasileira em um processo de modernização” (Tomazetti,
2003, p. 88), haja vista que o Estado não tinha uma política voltada para a formação de
professores. Nesse sentido, os escolanovistas foram extremamente inovadores e
previdentes, pois como desenvolver o sistema educacional se não há professores? Como
universalizar a educação se não há quem ensine?
Anísio Teixeira foi um dos renovadores que mais esteve atento para a
importância da Filosofia para a educação nos seus diversos aspectos. Segundo
Tomazetti (2003, p. 43):
Destaca-se a importância que os estudos de Filosofia da Educação, na
vertente da Escola Nova, tiveram para a consolidação do campo da
Filosofia da Educação e de sua institucionalização na universidade, a
partir da figura expressiva da Anísio Teixeira.
Portanto, um estudo da Filosofia da Educação no Brasil não pode deixar de
mencionar o pensamento e a prática de Anísio Teixeira, pois são fundamentais na
história educacional brasileira, tanto como aproximação da identidade cultural com as
ideias pragmatistas norte-americanas, principalmente do filósofo John Dewey, quanto
como na sistematização do pensamento filosófico educacional brasileiro (Tomazetti,
2003, p. 90).
Teixeira foi reconhecido por Fernando Azevedo como o primeiro brasileiro a
sistematizar um pensamento no âmbito da Filosofia da Educação, mesmo com um
exercício profissional bem maior como administrador educacional, que como professor
daquela disciplina. Conforme Tomazetti:
Em um artigo sobre os estudos pedagógicos no Brasil, Lourenço Filho
afirmou que depois de 1930 os estudos educacionais adquiriram maior
sentido de especialização e aprofundamento. Surgiam nesse período
os primeiros trabalhos de Biologia, Psicologia Educacional, bem como
os primeiros ensaios de História e Filosofia Educacional. Como
exemplo da literatura na área da Filosofia Educacional ele assinalava a
obra Educação Progressiva: uma introdução à filosofia da educação,
de Anísio Teixeira, publicada em 1934 e Educação para a
democracia, do mesmo autor, de 1937. Tais obras inauguraram,
segundo ele, a constituição dos estudos filosóficos sobre educação no
Brasil de forma sistemática (Tomazetti, 2003, pp. 70-71).
130
Contudo, para Tomazetti, “a importância da nova orientação dada à Filosofia da
Educação por Anísio Teixeira, no contexto de constituição do campo da Filosofia da
Educação no Brasil, deve ser compreendida dentro de uma perspectiva ampla”
(Tomazetti, 2003, pp. 105). Assim, apesar de ter exercido por pouco tempo o magistério
de Filosofia da Educação,
muito contribuiu no âmbito da produção editorial, da
tradução e da divulgação do pensamento e da obra de John Dewey e da filosofia
pragmatista. Através da administração pública educacional, disseminou novas ideias
acerca da escola, do ensino e de suas relações com a sociedade, contribuindo para a
divulgação e popularização da expressão “Filosofia da Educação” e do próprio campo
de saber, até então restrito a um pequeno grupo de intelectuais (Cf. Tomazetti, 2003, p.
106). Todavia, a influência propriamente dita do pensamento e da obra de Anísio
Teixeira, na disciplina de Filosofia da Educação, foi moderada. Ghiraldelli (2000, p. 20)
ressalta que:
o discurso de filosofia da educação de Anísio Teixeira era simples e
direto. Em geral ele parafraseava Dewey, mas de modo inédito, pois
filtrava seu deweyanismo para as condições locais. Anísio Teixeira
tinha clara consciência de que a força de seu discurso vinha da retórica
democrática, e não de qualquer teoria científica. Seu lema era: mais
política e menos ciência.
Porém, Tomazetti ressalta que, mesmo com a inovação no pensamento filosófico
educacional brasileiro, trazida por Teixeira, o pragmatismo era apenas um item a mais
no programa da disciplina, pois o que de fato predominou, até os anos 1960, foi a
tradição clássica europeia, tanto na Filosofia da Educação quanto na Filosofia pura.
Assim, a importância da Filosofia da Educação nova “representou muito mais uma
ruptura em termos de concepção geral de educação e de ensino, que passou a dominar o
discurso pedagógico da época, do que propriamente a reorientação dos conteúdos e
autores a serem estudados na disciplina” (Tomazetti, 2003, pp. 105-106). E tudo isso
aconteceu em um universo político e cultural de “tentativas de modernização da
sociedade brasileira” (Cf. Tomazetti, 2003, p. 90).
Para Anísio Teixeira, a Filosofia e a Filosofia da Educação tinham “o papel de
refletir sobre o tipo de educação que melhor conduziria a uma sociedade democrática e
sobre quais seriam os valores necessários à construção dessa sociedade” (Tomazetti,
2003, p. 195). Tendo por referencial teórico a Filosofia pragmatista, para Anísio a
função da Filosofia na sociedade moderna era a de:
131
contribuir para a solução dos embates sociais e morais que o homem
moderno enfrentava e que, portanto, a tarefa de todo pensador deveria
ser exercida no sentido de mergulhar nas preocupações e temas
correntes de sua época e daí extrair, através de uma cuidadosa e
sistemática análise, um programa de ação capaz de aprimorar o estado
de coisas do aqui e agora (Teixeira apud Tomazetti, 2003, p. 195).
Para Teixeira, somente o estudo dos grandes pensadores da educação e de suas
teorias educacionais e suas concepções de homem, de conhecimento e de educação era
insuficiente. Era necessário, portanto, pensar sobre a educação do tempo presente e sua
relação com a sociedade. E o filósofo da educação, por sua vez, deveria constantemente
revisar o processo de construção da sociedade democrática sem se aferrar aos modelos
dominantes do sistema educacional brasileiro.
As ideias de Anísio no campo da Filosofia da Educação foram inspiradas em
John Dewey, e marcaram profundamente sua conduta de educador, administrador e
escritor. O seu livro Pequena introdução à Filosofia da Educação: escola progressiva
ou transformação da escola, publicado pela primeira vez em 1934, é uma coletânea de
textos escritos anteriormente, conferências e textos de aula para o ensino de Filosofia da
Educação (Cf. Tomazetti, 2003, p. 96):
No livro Anísio apresenta o quadro de transformações da sociedade
conseguido pelo avanço da ciência e da tecnologia e a necessidade de
a escola se colocar ao tempo de tais transformações. A constatação de
uma civilização em mudança e a exigência de homens esclarecidos
encaminha o autor para determinar a necessidade de um estudo
científico da educação e, consequentemente, da reconstrução
educacional do nosso tempo. Tal reconstrução deveria ser realizada a
partir da consolidação de uma escola progressiva e democrática
(Tomazetti, 2003, p. 96).
O livro citado retrata, também, a compreensão de Anísio sobre as
transformações que estavam ocorrendo e as que ainda viriam a ocorrer no Brasil, bem
como as suas consequências éticas e sociais. Para Tomazetti (2003, p. 97), Anísio
vislumbrou, antecipadamente, novos tempos, nova sociedade e uma nova escola no
Brasil. O principal fator dessa transformação era a ciência, a partir da qual Anísio tinha
grandes e otimistas expectativas de uma vida melhor. O otimismo com a ciência, com o
método científico e com suas aplicações técnicas o conduziu a um otimismo, também,
em relação a essa nova escola. À mudança da sociedade deveria implicar,
necessariamente, uma mudança na escola para que se preparasse o novo homem, o
homem moderno que iria viver na sociedade democrática, fruto dessa nova realidade
científica (Cf. Tomazetti, 2003, p. 97).
132
Essa nova escola era a escola progressiva, que pressupunha um novo conceito
de aprendizagem, na qual aprender significava ganhar um modo de agir, pois para
Anísio, “o ato de aprender depende profundamente de uma situação real de experiência
onde se possa praticar tal qual na vida” (Teixeira apud Tomazetti, 2003, p. 98), mas não
aprendemos tudo que praticamos, mas somente o que nos dá prazer ou satisfação (Cf.
Tomazetti, 2003, p. 98).
Para Anísio, se, por um lado, a ciência moderna representou um grande salto de
desenvolvimento humano, ao conciliar saber prático ou empírico e saber racional ou
especulativo, por outro, a ciência não responde pelos fins considerados superiores,
como a liberdade, a fraternidade, a felicidade pessoal e coletiva (Tomazetti, 2003, p.
99). O saber capaz de unir essas duas dimensões seria a nova filosofia do pragmatismo,
com Dewey e William James (Tomazetti, 2003, p. 100).
A filosofia de Dewey, mesmo apresentando questões entre corpo e alma, espírito
e matéria, por exemplo, sempre partia da prática social dos homens em uma época
determinada. Foi a partir da filosofia deweyana que Anísio compreendeu que a filosofia
deveria se ater à solução dos conflitos sociais e morais do homem moderno e propor um
programa de ação para melhorar o aqui e o agora: “Deixando de lado ‘a vã metafísica e
a inútil epistemologia’, dizia Dewey, devia a filosofia dedicar-se à mais importante e
fundamental tarefa de cooperar, ativa e deliberadamente, no desenrolar dos
acontecimentos humanos’” (Tomazetti, 2003, p. 101).
Assim, para Anísio, que seguia Peirce, James e Dewey, o pragmatismo era a
filosofia adequada aos tempos modernos, “pois partindo de estudos científicos da
realidade social o filósofo apresentaria as soluções possíveis, do pensar chegava-se à
ação” (Tomazetti, 2003, p. 101). Para Dewey, a concepção de conhecimento e de
homem derivada da tradição grega, devido ao seu afastamento da vida prática, devia ser
superada. Bacon teria sido o primeiro a elaborar uma revolta contra o conhecimento
racional/especulativo, lançando as bases da experimentação científica (Cf. Tomazetti,
2003, p. 103). Para Anísio, aquela tradição especulativa filosófica, que também
influenciava a educação, estava presente em Descarte e em Kant, filósofos, que:
[...] se mantiveram atrelados à posição plantonista/cristã, pois
permaneceram fiéis ao dualismo dos mundos. Kant manteve sua
convicção pelo dualismo entre a coisa em si e o fenômeno e Descartes
entre a alma e o corpo, embora todas as contribuições e rompimentos
realizados com a tradição metafísica. Para Anísio, “toda essa tradição
133
se reflete na educação, com sua organização intelectualista e a sua
prevenção contra o técnico” (Tomazetti, 2003, pp. 103-104).
Segundo Anísio, essa divisão prevaleceu na hierarquia de saberes na escola até o
fim do século XIX, nas formas de saber contemplativo/saber científico-experimental e
ensino prático/ensino teórico. Só recentemente houve um avanço da nova concepção,
mas ainda não generalizado e sem a incorporação dos novos conceitos pela escola:
(Tomazetti, 2003, p. 104). Foi com a Filosofia da Educação de John Dewey, conforme
Anísio, que aconteceu uma conciliação entre os velhos dualismos e, assim, a educação
foi levada a um constante movimento de revisão e reconstrução. Dessa forma,
Ante a nova realidade propiciada pelos conhecimentos científicos
seria necessário uma nova filosofia capaz de determinar “a educação
adequada à nova sociedade democrática em processo de formação”.
No entanto esse pensamento, constatava Anísio, ainda não fora aceito
e implantado nas escolas. A educação institucionalizada nas escolas
“resiste, de todos os modos, à ação das novas ideias e novas teorias, e
só lentamente se irá transformando até chegar a constituir verdadeira
aplicação da nova filosofia democrática da sociedade moderna”. A
educação no Brasil ainda refletia os modelos dos quais havia se
originado; a filosofia da Educação dominante permanecia, em grande
medida, atrelada a valores pré-científicos (Tomazetti, 2003, p. 105).
Assim, apesar da pouca influência de Dewey e do pragmatismo norte-americano
nos programas de ensino de Filosofia da Educação durante o escolanovismo, é inegável
a sua influência na educação desse período. Da mesma forma, Anísio Teixeira é
vinculado, no campo educacional, a uma concepção nova de Filosofia, de educação e de
sociedade, tornando-se um nome expressivo da Filosofia da Educação no Brasil. Nesse
contexto, de um lado, houve a consolidação da Filosofia da Educação como disciplina e
campo de saber. De outro lado, ocorreu uma enorme influência da Filosofia da
Educação pragmática no direcionamento de um novo projeto educacional na sociedade
brasileira que se modernizava.
2.1. Pequena introdução à filosofia da educação – a escola progressiva ou a
transformação da escola
O livro Pequena introdução à filosofia da educação: a escola progressiva ou a
transformação da escola foi publicado pela primeira vez em 1934, com o título
Educação progressiva: uma introdução à filosofia da educação. A nova edição com o
título modificado é de 1967 e traz uma nota introdutória que explica, dentre outras
134
coisas, o motivo da inversão na ordem do título. Anísio argumenta que na época da
reedição, a designação de progressiva havia perdido a prioridade no título porque
deixara de ser novidade, pois toda a educação moderna havia adotado a teoria da
experiência como base filosófica. Contudo, a referência ao termo escola progressiva
continuou como registro histórico do período inicial de implantação das novas
concepções que transformaram a escola e fizeram da educação do século XX uma
educação em mudança permanente, que buscava acompanhar a dinamicidade da vida
moderna (Teixeira, 2007, pp. 25-26).
Ainda na apresentação do livro, Anísio indica que seu objetivo é “expor em
forma simples, quase coloquial, os fundamentos da teoria da educação baseada na
experiência” que dirige todo o movimento de reconstrução educacional de seu tempo
(Teixeira, 2007, p 25). Confessa não ter nenhuma preocupação com originalidade de
pensamento, pois está explicitamente filiado ao pensamento do filósofo John Dewey,
bem como se sente profundamente devedor de Kilpatrick.
A obra é composta de seis capítulos: Reacionários e renovadores; A
transformação da escola; Diretrizes da educação e elementos de sua técnica; A educação
e a sociedade; A conduta humana; Filosofia e educação. A seguir serão apresentados os
capítulos, para que possamos melhor aquilatar a contribuição da Anísio Teixeira para o
pensamento da Filosofia da educação no Brasil, através de seu livro.
No capítulo 1, Reacionários e renovadores, Anísio reflete sobre o período de
transição da época, constituído de crises e inquietações que trazem transformações
sociais e mudanças de valores. Nessa insegurança, o homem, que é um animal de
hábitos, busca culpados que, quase sempre, localiza nas escolas. Essas, segundo os
conservadores, é que seriam as responsáveis pela decadência dos valores e, por isso, era
necessário reformá-las.
No âmbito da recepção dessas mudanças, Anísio identifica três grupos de
pessoas: os reacionários, os falsos renovadores e os renovadores. Para os reacionários, a
transformação da juventude é uma crise de caráter promovida pela escola, que não sabe
mais ensinar disciplina, obediência e cumprimento do dever, características das
gerações anteriores, que deveriam ser seguidas. Assim, comentam os reacionários:
“estranhas teorias percorrem as escolas – de autodisciplina e autogoverno, de programas
voluntários, de liberdade de escolha e de recusa, de expressão das próprias
135
personalidades, de respeito por essas personalidades e de subordinação dos interesses
reais da vida” (Teixeira, 2007, p. 28).
Os falsos renovadores, que propõem uma falsa escola nova, vão para o extremo
da repressão dos reacionários com sua escola tradicional. Para eles, tudo seria permitido
de forma indiscriminada, mas “seria substituir o regime do compulsório, desagradável e
deseducativo da escola tradicional pelo regime do caprichoso, extravagante e
igualmente deseducativo de uma falsa escola nova” (Teixeira, 2007, p. 30). Os alunos
ficariam a mercê de si mesmos, sem nenhuma autoridade que os conduzisse, o que,
certamente, conduzirá a uma educação desastrosa.
Contudo, os reacionários e os falsos renovadores têm em comum o conceito
errôneo de natureza humana, ambos acreditam que a natureza humana é:
Refratária à disciplina, ao progresso, à marcha normal do saber e do
aperfeiçoamento pessoal. Ou impomos tudo isso, mal e
compulsoriamente, ou largamos a brida ao homem para que ele se
entregue aos seus caprichos, suas desordens, sua ignorância e sua
indisciplina (Teixeira, 2007, p. 31).
Os renovadores, por sua vez, com a sua teoria da educação nova, buscam
orientar a escola para a mudança social e para a revisão de velhos conceitos que
predominavam na sociedade: “a teoria dos educadores busca ajustar a escola às
necessidades
dessas
transformações,
procurando
retificá-las
e
harmonizá-las
mutuamente” (Teixeira, 2007, p. 29). Essa revisão de conceitos, adverte Teixeira, não
representa concessão a uma vida menos séria ou menos forte, mas sim a busca de novos
conceitos mais condizentes com a nova sociedade. Nesse sentido, é modificada a ideia
de educação. Agora, é mais correto falar de uma autoeducação, que resulta na assunção
direta e integral da responsabilidade dos próprios atos e experiências, pois só a própria
pessoa se educa (Cf. Teixeira, 2007, p. 30).
Não se trata, porém, de propor gratuitamente uma liberdade pela liberdade, pois
ao final da proposta de livre escolha de atividades, de planejamento e de execução está a
preocupação com a disciplina e a responsabilidade. Somente a livre escolha estimula a
disciplina:
É porque o educador veio a verificar que só por esse meio eles
[alunos] se disciplinarão, só por esse meio eles ganharão o hábito do
esforço tenaz e continuado, só por esse meio assumirão a plena
responsabilidade dos seus atos, só por esse meio terão caráter e
integridade, habituando-se à unidade de propósitos, retidão de vontade
e leal aceitação das limitações e sacrifícios da vida (Teixeira, 2007, p.
30).
136
Então, é fácil compreender que a teoria moderna em educação tem também uma
posição diferenciada com relação à natureza humana que, para os renovadores, tem uma
forte tendência a se realizar a si mesma. Por sua vez, essa realização “exige disciplina,
controle de si mesmo e do meio ambiente – e para isso esforço, tenacidade, paciência,
coragem e sacrifício -, o homem tende a essas virtudes pelas próprias características de
sua natureza” (Teixeira, 2007, p. 31). Segundo Teixeira, para realizar essa natureza
humana, para além de ser uma tendência natural, o homem precisa também de um meio
favorável no qual se desenvolverá de forma correta e harmônica.
Por tudo, assevera Teixeira, essa realização da natureza humana é uma tendência
e não uma fatalidade: “E tender é inclinar-se, é ter disposição para alguma coisa, mas de
que se pode ser desviado, como se é pelo regime de licença e desordem de uma falsa
escola nova” (Teixeira, 2007, p. 32). A verdadeira escola nova busca formar homens
esforçados e resistentes:
[...] os homens formados nessa escola provaram, em sua plenitude, o
prazer de conquistar, passo a passo, o caminho de sua emancipação.
Emancipação do desordenado, do incerto, do não planejado, da
ignorância, da prisão dos seus desejos e de suas paixões, para a
liberdade da disciplina e si mesmos e para a força e o poder de
execução e realização que lhes deu o hábito de controlar o meio
externo, subordinando-o aos seus fins e aos planos lúcidos e
voluntários (Teixeira, 2007, p. 32).
Por isso, a escola progressiva é, exatamente, aquela que oferece atividades
contínuas que propiciem o crescimento e o desenvolvimento do homem, a partir da
coordenação, direção e comando das próprias forças do desejo, do pensamento e do
corpo. Em um crescente, sairemos das origens primitivas até o homem educado, aquele
que “sabe ir e vir com segurança, pensar com clareza, querer com firmeza e executar
com tenacidade, o homem que perdeu tudo que era desordenado, informe, impreciso,
secundário em sua personalidade, para tê-la definida, nítida, disciplinada e lúcida”
(Teixeira, 2007, p. 33). E a escola renovada e eficiente é que deve ser a grande
promotora dessa transformação.
Anísio inicia o segundo capítulo, A transformação da escola, com um
esclarecimento em torno do nome da escola, nova ou progressiva. Explica que a
designação escola nova já estaria ultrapassada, pois teria sido necessária no início do
movimento para demarcar uma fronteira, mas agora deveria ser chamada de escola
progressiva como o é nos Estados Unidos. E a adjetivação progressiva é “porque se
137
destina a ser a escola de uma civilização em mudança permanente (Kilpatrick) e porque,
ela mesma, como essa civilização, está trabalhada pelos instrumentos de uma ciência
que ininterruptamente se refaz” (Teixeira, 2007, p. 35).
Mas todo avanço e desenvolvimento desse instrumento que é a ciência ainda não
alcançou a reconstrução escolar. Por isso, é necessário lutar por uma escola nova que se
transforme também em função dos progressos científicos, tal qual aconteceu com a
sociedade. Dessa forma, pondera Anísio: “Transforma-se a sociedade nos seus aspectos
econômicos e sociais, graças ao desenvolvimento da ciência, e com ela se transforma a
escola, instituição fundamental que lhe serve, ao mesmo tempo, de base para sua
estabilidade, como de ponto de apoio para a sua projeção” (Teixeira, 2007, p. 37).
A partir da aplicação da ciência à civilização humana, ocorreu o progresso
espiritual, da mentalidade, que trouxe uma nova ordem de coisas, mais dinâmica que a
anterior, imprimindo transformações mais rápidas tanto no mundo material quanto no
mundo espiritual. E são as transformações nesse mundo espiritual que Anísio reputa
como as mais importantes da época:
Com a nova civilização material, [...], começou a velha ordem social e
moral a se abalar. Muda a família. Muda a comunidade. Mudam os
hábitos do homem e seus costumes. E raciocina-se. Se em ciência tudo
tem o seu porquê e a sua prova, prova e porquê que se encontram nos
resultados e nas consequências dessa ou daquela aplicação; se em
ciência tudo se subordina à experiência, para, à sua luz, se resolver,
por que também não subordinar o mundo moral e social à mesma
prova? (Teixeira, 2007, p. 39).
Assim, o homem que reconstrói continuamente o ambiente material deve
também reconstruir o ambiente moral e social em que vive, tomando como parâmetro os
mesmos processos da experiência científica. Essa nova ordem, continuamente em
transformação, findou por apontar dois aspectos que necessitam de revisão na escola
tradicional: “a) precisamos preparar o homem para indagar e resolver por si os seus
problemas; b) temos que construir a nossa escola, não como preparação para um futuro
conhecido, mas para um futuro rigorosamente imprevisível” (Teixeira, 2007, p. 40).
Dessa forma, apesar da transformação contínua resultante da experimentação
científica, é possível traçar diretrizes e tendências do mundo e do homem modernos
pelos quais estão se processando a nossa evolução. Assim, Anísio distingue três
diretrizes da vida moderna. A primeira está relacionada com a nova atitude espiritual
do homem: “A velha atitude de submissão, de medo e de desconfiança na natureza
138
humana foi substituída por uma atitude de segurança, de otimismo e de coragem diante
da vida. O método científico experimental reivindicou a eficácia do pensamento
humano” (Teixeira, 2007, p. 40). Ou seja, a ciência tornou possível o progresso humano
e temos a responsabilidade de promovê-lo, esse novo homem, independente e
responsável, será preparado pela escola progressiva.
A segunda diretriz da vida moderna é a expansão da indústria, que promove
riqueza e miséria, potencializa o trabalho e altera a família, promove uma unidade
planetária e torna o trabalhador um especialista. Assim,
Dessa desintegração das pequenas unidades anteriores – o trabalho
individual, o lar, a cidade e a própria nação – até a vinda da grande
integração da ‘grande sociedade’, muitos problemas têm de ser
resolvidos e mais uma vez se há de exigir do homem mais liberdade,
mais inteligência, mais compreensão, se é que não queremos ficar em
uma simples interdependência mecânica e degradante. [...]. E todos
esses problemas são problemas para a educação resolver (Teixeira,
2007, p. 43).
A terceira diretriz da vida moderna é a tendência democrática e sua ideia central
de respeito à pessoa que, segundo Anísio, se aproxima fortemente da ciência e reflete
profundamente na educação: “o homem deve ser capaz, deve ser uma individualidade, e
o homem deve sentir-se responsável pelo bem social. Personalidade e cooperação são os
dois polos dessa nova formação humana que a democracia exige” (Teixeira, 2007, p.
44).
Na nova civilização não há mais espaço para autoritarismos exteriores, a
autoridade interna é que resolve os conflitos do indivíduo, que agora deve se nortear
pelas luzes da razão. Assim sendo, há necessidade de uma nova escola, que é a
progressiva, pois a escola tradicional não mais se coaduna com o novo espírito da
civilização.
A escola tradicional partia da ideia de que a educação era algo suplementar à
formação familiar; era uma educação para uma ordem estática do mundo. A escola
deveria defender os valores estabelecidos; não deveria se preocupar em ensinar coisas
inovadoras, pois o futuro já era conhecido. Nessa escola tradicional, aprender era
decorar, memorizar, ensinar era doutrinar em alguns fatos e conceitos.
Na escola progressiva, pelo contrário, a criança se educa vivendo na família e na
vida social. No mundo contemporâneo, a escola deve trazer a vida para a escola, diz
Anísio, e tornar a escola um lugar de vida plena e integral. Somente a vivência pode
139
possibilitar a aquisição de novos hábitos necessários ao novo mundo dinâmico e
flexível:
A escola precisa dar à criança não somente um mundo de informações
singularmente maior do que o da velha escola – só a absoluta
necessidade de ensinar ciência fora bastante para transformá-la –
como ainda lhe cabe o dever de aparelhar a criança para ter uma
atitude crítica de inteligência, para saber julgar e pesar as coisas, com
hospitalidade, mas sem credulidade excessiva; para saber discernir na
formidável complexidade da integração industrial moderna as
tendências dominadoras, discernimento que há de habituá-la a não
perder a sua individualidade e a ter consciência do que vai passando
sobre ela pelo mundo afora; e, ainda, para sentir, com lúcida
objetividade, a interdependência geral do mundo e a necessidade de
conciliar o nacionalismo com a concepção mais vigorosa da unidade
econômica e social de todo o mundo (Teixeira, 2007, p. 48).
Outro aspecto da escola progressiva é a sua missão de promover a prática da
democracia, da independência, da tolerância, da individualidade, da liberdade, enfim,
“ajudar os nossos jovens, em um meio social liberal, a resolver os seus problemas
morais e humanos” (Teixeira, 2007, p. 49).
O último ponto que compõe esse segundo capítulo da Pequena introdução à
filosofia da educação se refere aos fundamentos psicológicos de transformação
escolar, no qual Anísio aborda uma nova visão do ato de aprender que se distancia da
escola tradicional. Aprender era memorizar, decorar e depois passou a ser também
repetição com as próprias palavras do que foi aprendido. Contudo,
A nova psicologia veio provar não ser isso suficiente. Aprender é
alguma coisa mais. Fixar, compreender e exprimir verbalmente um
conhecimento não é tê-lo aprendido. Aprender significa ganhar um
modo de agir. [...]. Aprendemos quando assimilamos uma coisa de tal
jeito que, chegado o momento oportuno, sabemos agir de acordo como
o aprendido (Teixeira, 2007, p. 50).
Anísio insiste que o aprendizado depende de uma situação real de experiência:
“Logo, não se aprende senão aquilo que se pratica. Aprender é um processo ativo de
reagir a certas coisas, selecionar reações apropriadas e fixa-las depois no organismo.
Não se prende por simples absorção” (Teixeira, 2007, p. 51). Dessa forma, essa nova
psicologia de aprendizagem faz da escola um centro onde se vive, e não um centro onde
se prepara para viver, em que é fundamental que se tenha interesse ou prazer no que é
feito (Cf. Teixeira, 2007, p. 52).
A educação progressiva acredita em uma vida cada vez melhor e busca mais
liberdade e mais felicidade. É essa a filosofia que norteia o movimento progressivo da
140
educação como “processo de assegurar a continuidade do lado bom da vida e de
enriquecê-lo, alargá-lo e ampliá-lo cada vez mais” (Teixeira, 2007, p. 57). Dessa forma,
na escola progressiva “não se busca outra coisa senão a permanente reconstrução da
vida para maior riqueza, maior harmonia e maior liberdade, dentro do ambiente de
transformação e de progresso que a era industrial inaugurou” (Teixeira, 2007, p. 57).
O terceiro capítulo, Diretrizes da educação e elementos de sua técnica, é
subdivido em três tópicos. O primeiro trata da criança como centro da escola e aborda a
importância da liberdade na escola e na sociedade a partir da visão kantiana:
Percorreu a escola o mesmo sopro impetuoso de filosofia
individualista que varreu da sociedade restrições religiosas espirituais
e políticas opostas à liberdade dos homens. Considerai, dizia Kant,
toda a pessoa sempre como um fim em si mesma e nunca como um
meio. Esse velho princípio caracteriza uma das diretrizes mais
essenciais do movimento de reconstrução escolar. A criança não mais
como um meio, mas como um fim em si mesma. A personalidade
infantil aceita, respeitada, ouvida, e não mais ignorada ou
conscientemente, reprimida (Teixeira, 2007, pp. 59-60).
Assim, diversamente da escola tradicional, a escola progressiva tem como uma
de suas diretrizes centrais a criança como origem e centro da atividade escolar. E com a
perspectiva da liberdade conduzindo essa formação, acredita fortemente que “o homem
se desenvolve naturalmente para um ajustamento social perfeito” (Teixeira, 2007, p.
60).
O segundo item faz uma reflexão sobre a necessidade da reconstrução dos
programas escolares, criticando o intelectualismo dos programas da escola tradicional e
o distanciamento dos seus conteúdos da vida da criança:
Foi esse isolamento da atividade escolar que a veio perverter e
inutilizar. Nem se aprendia realmente na escola, nem, muito menos, se
transferiam posteriormente para a vida os resultados laboriosamente
ganhos naquele trabalho. Daí condenar-se a orientação de preparação
especializada e artificial para a vida. E condenar-se a orientação
puramente informativa e intelectualista (Teixeira, 2007, p. 65).
Contrariamente, a escola progressiva propõe um programa que seja integrado às
atividades da vida, ou se, “o currículo ou o programa deve ser, assim, a série de
atividades educativas em que a criança se vai empenhar para progredir mais
rapidamente, de acordo com a sabedoria da experiência humana, em sua capacidade de
viver” (Teixeira, 2007, p. 68). Outro aspecto fundamental na composição do novo
programa é que ele deve ser estruturado a partir de atividades que sejam aceitas,
141
desejadas e planejadas pelos alunos. Atividades essas que “levem os alunos à
aprendizagem dos conhecimentos, hábitos e atitudes para resolver os problemas de sua
própria vida” (Teixeira, 2007, p. 70).
O último item que compõe o terceiro capítulo traça outra diretriz fundamental
para a educação, segundo Anísio, a organização psicológica das matérias escolares. A
apresentação desse tópico é feita a partir de uma reconstituição do pensamento de
Dewey e de Kilpatrick sobre a relação da criança e o programa escolar.
A proposta da escola progressiva é de uma organização psicológica, ao invés de
uma organização lógica das matérias escolares, a qual representa o último estágio de
aperfeiçoamento do aprendizado infantil. A educação da criança atravessa três fases
distintas: primeiro, a criança aprende a fazer as coisas; segundo, a criança aprende
através das experiências alheias; e, por último, esses conhecimentos são enriquecidos e
aprofundados até receberem uma organização lógica, racional e sistemática (Cf.
Teixeira, 2007, pp. 73-74).
A escola tradicional desconhece a progressão desse processo e vai diretamente à
última fase que é a organização lógica do que foi aprendido. Assim, as matérias
escolares devem passar “do seu lugar de honra para o de simples servas do crescimento
infantil, contribuindo para ele quando chamadas. A organização lógica dará lugar à
organizações psicológicas pessoais dos conhecimentos adquiridos” (Teixeira, 2007, p.
85).
No quarto capítulo, A educação e a sociedade, Anísio desenvolve uma reflexão
mais filosófica em torno dessas temáticas. Primeiramente, analisa a educação e a
sociedade como dois processos fundamentais da vida humana que se influenciam
mutuamente. Há uma ênfase na palavra processo para indicar as suas contínuas
transformações: “Não existe sociedade. Existe um processo de sociedade. Não existe
educação. Existe um processo de educação” (Teixeira, 2007, p. 87). Portanto, existem
sociedades e educações, sobre as quais ele quer pensar filosoficamente.
Essa percepção filosófica da sociedade e da educação visa compreender a
processualidade das contínuas transformações, nas quais os fins se convertem em meios
que, por sua vez, se transformam em novos fins, incessantemente. Muitas das confusões
e obscuridades contemporâneas são devido à não compreensão do caráter processual da
sociedade e da educação. Mas a ciência moderna, que tem mostrado a dinamicidade da
natureza, tem ajudado na percepção dessa processualidade.
142
Conceber o movimento das coisas não tornará a vida humana um mar de
incertezas e de infelicitações. Quando dermos adeus às “velhas certezas de quatro pés,
sólidas e inflexíveis” (Teixeira, 2007, p. 88) surgirão novas capacidades criativas e
novas formas de lidar com as certezas.
A processualidade físico-química da natureza produziu os seres inanimados e
depois os seres biológicos. Adiante produziu os seres com estrutura psicofísica e, rumo
a um estágio mais complexo, fez surgir os organismos psicofísico com atividade mental,
como Dewey os denomina (Cf. Teixeira, 2007, p. 89).
Entre as gradações desses organismos, afirma Teixeira, não há nenhum mistério,
a não ser seus graus de complexidade que dificultam as suas respectivas investigações.
Todas as gradações têm mais ou menos as mesmas reações, mas “é só no nível mental
que surge essa nova qualidade: o homem não somente sente e age, mas sente, age e sabe
que sente e age” (Teixeira, 2007, p. 90).
Esse fato novo redimensiona a realidade. Há uma autopercepção dos organismos
psicofísicos, na qual eles acompanham a própria atividade, possibilitando uma
condução de si mesmos. Assim, arremata Anísio, “o esforço da natureza para se
governar outra coisa não é senão educação, no sentido mais amplo do termo” (Teixeira,
2007, p. 90).
Nas fases anteriores à fase mental, nos diversos graus de evolução da natureza,
não havia como a própria natureza se conduzir e as coisas, então, aconteciam ao acaso e
de forma acidental. Será, portanto, essa autopercepção inteligente que possibilitará a
existência da educação:
Educação é, com efeito, o nome que recebe a série de fenômenos
decorrentes do aparecimento da inteligência no universo. E
inteligência é a qualidade que assumem certas ações e reações de se
verem a si mesmas, acompanhando a própria história ou processo,
percebendo os seus termos e relações e tornando-se, deste modo,
capazes de reproduzi-los em novas combinações, para novos ou
idênticos resultados. As experiências dos animais, que eram apenas
tidas e sentidas, podem agora ser conhecidas” (Teixeira, 2007, pp. 9091).
Foi o surgimento do fato mental que permitiu as transformações da natureza e,
assim, uma condução mais racional e planejada da realidade, uma ação menos precária e
acidental. A educação seria o coroamento dessa condução consciente do mundo:
“Educação é o permanente esforço de redireção da própria natureza. É a natureza na sua
143
grande aventura de ordem, de utilidade e de beleza, em uma permanente reconstrução
de si mesma. Educação é a natureza que se faz arte” (Teixeira, 2007, p. 92).
Após analisar a educação e a sociedade como dois processos fundamentais da
vida humana que se influenciam mutuamente, Anísio prossegue sua análise filosófica
abordando a educação como um fenômeno individual e social. A educação inicia sendo
um processo individual e pessoal, mas transborda para a coletividade em um processo
social. Assim o é porque os resultados da educação, como pensamento e experiência, se
concretizam em instrumentos e conhecimentos que se objetivam no meio social, nas
instituições, às quais o homem se adapta sempre por um processo de educação, de
reconstrução das próprias experiências: “o ato do pensamento perde, então, toda a sua
qualidade individual para se tornar, a essa altura, eminentemente social. Social é, de tal
jeito, o seu conteúdo; sociais, os seus modelos; sociais, os seus objetivos e resultados”
(Teixeira, 2007, p. 94).
Depois de ter refletido sobre a educação como um fenômeno natural e social,
Anísio reflete sobre a especificidade da educação escolar e suas modificações frente ao
desenvolvimento científico. Antes a escola era “a instituição que velava para que se não
perdessem os esforços de conhecimento e de cultura, que não podiam facilmente ser
transmitidos na vida direta imediata dos homens” (Teixeira, 2007, p. 99). Agora, com as
aceleradas mudanças do mundo moderno, “a escola teve que deixar de ser a instituição
isolada, tranquila, do outro mundo, que era, para se impregnar do ritmo ambiente e
assumir a consciência de suas funções. Se depressa marcha a vida, mais depressa há de
marchar a escola” (Teixeira, 2007, p. 100).
A escola não pode permanecer como era antes, perpetuadora de um presente
estagnado. A transformação da escola no mundo moderno impõe que ela se transforme
em um “instrumento consciente, inteligente do aperfeiçoamento social”. A sua tarefa é
“preparar o homem novo para o mundo novo que a máquina e a ciência estão exigindo”
(Teixeira, 2007, p. 101), pois “a ciência está em vésperas de resolver os problemas
econômicos, os problemas sociais, e o homem pode ser educado de modo a evitar a
maior parte dos seus problemas de desajustamento moral e social” (Teixeira, 2007, p.
102).
A ciência trouxe e trará mais ainda a riqueza material e o progresso, mas o
progresso não consiste somente nesse avanço econômico e sim, também, em um
progresso espiritual baseado no conhecimento e em novas experiências. Dessa forma,
144
diz Anísio: “Esse progresso é possível por meio da educação, e só por ela, desde que
nos utilizemos da escola como uma instituição inteligentemente planejada com o fim de
preparar o homem para uma existência em permanente mudança da qual ele fará
permanente progresso” (Teixeira, 2007, p. 102).
A abordagem realizada no quinto capítulo, A conduta humana, é referente à
temática ética e desenvolve, primeiro, uma análise da moral científica e moral
tradicional; segundo, uma análise de três premissas fundamentais da moral tradicional;
e, terceiro, uma reflexão sobre a alternativa à moral tradicional.
Na análise da moral científica e moral tradicional, Anísio afirma, inicialmente,
que a nova ciência da moral, baseada no estudo objetivo da natureza humana, deve
influenciar também a escola, que desenvolve papel fundamental na formação humana.
Até então, devido a preconceitos e pressupostos falsos, a conduta humana não pôde se
basear nos novos conceitos positivos e experimentais, impossibilitando um maior
progresso humano e uma maior felicidade. Esse preconceito com a ciência é uma perda
imensurável, pois “é o estudo recente da natureza biológica e social do homem, em
bases positivas e científicas, que nos deverá dar, afinal, uma ciência da saúde, da
eficiência e da felicidade do homem” (Teixeira, 2007, p. 109).
Mas Anísio adverte que não se trata de uma suposição ingênua de que acreditar
que todos os problemas serão resolvidos. Trata-se simplesmente de substituir a moral
“espiritual”, marcada por preconceitos imutáveis e eternos, por uma moral experimental
baseada na ciência do homem:
A grande transformação estará em fazer da conduta moral do homem
uma consequência dos conhecimentos positivos a que o homem vai
chegando em fisiologia e em psicologia. Quando chegarmos a
conceber o mal como um simples funcionamento anormal dos órgãos
biossociais do homem – digamos assim –, e tivermos para com ele a
mesma atitude experimental que temos para com os males físicos,
teremos dado o primeiro passo para uma ciência moral (Teixeira,
2007, p. 109).
A não incorporação dos avanços da ciência à conduta moral implica, segundo
Anísio, em uma prática tradicional de costumes divididos em quadro grupos que
compõe o panorama moral do mundo: o primeiro grupo é o “grande rebanho humano
servido por uma moral convencional”, baseada em aparências e preconceitos; o segundo
grupo é o dos homens de ação, que utilizam essa moral convencional para realizar seus
objetivos e, por isso, defendem uma “moral cômoda”; o terceiro grupo é composto pelos
145
rebeldes “que buscam numa forma inferior de libertação a revelação de suas
individualidades”; o quarto grupo é formado pelos “idealistas inumanos que desprezam
a ‘natureza’ e a ‘ação’ e se fecham em um egoísmo espiritual, fanático e ardente” (Conf.
Teixeira, 2007, p. 113).
Para Anísio, os quatro grupos cometem o mesmo erro, qual seja, consideram a
“moral como um domínio estranho à natureza, e governado por princípios, em essência,
inadaptáveis às nossas condições de vida” (Teixeira, 2007, p. 113). A grande saída,
portanto, estaria na moral científica que tem como fundamento a experiência humana
(Cf. Teixeira, p. 128).
Na sequencia do texto se encontra a análise dos erros contidos nas três premissas
fundamentais da moral tradicional. A primeira premissa é relativa à ideia de que “a
natureza humana é corrompida e indigna de nossa confiança”; a segunda premissa dos
moralistas “considera a atividade humana, em si, como simples meio de atingir o bem”;
e a terceira premissa tem em seus princípios “um caráter extra-humano ou, pelo menos,
puramente espiritual ou ideal” (Teixeira, 2007, pp. 115,119 e127).
Ao final desse quinto capítulo, Anísio desenvolve uma reflexão sobre a
alternativa à moral tradicional, a moral científica que se baseia no avanço da ciência e
na experiência humana: “Os princípios que regulam a conduta têm de ser refeitos à luz
dessa nova realidade. Tenhamos a coragem de refazê-los, fundando a moral nas mesmas
bases experimentais que permitiram o progresso de todas as demais ciências” (Teixeira,
2007, p. 129).
A consequência dessa adesão será “a de que a vida será boa ou má, conforme a
vontade humana”, ou seja, a vida será boa se a nossa atividade for agradável ou
satisfatória. A vida tem que valer no presente e não depender de objetivos futuros,
longínquos e abstratos: “A atividade não será [...] uma preparação para um bem futuro e
remoto, mas, ela mesma, esse bem. Não vamos ser felizes no futuro. Ou seremos
felizes agora ou não o seremos nunca. Vivemos no presente e só no presente podemos
governar a vida” (Teixeira, 2007, p. 128). (Grifo nosso).
No sexto e último capítulo, Filosofia e educação, Anísio prossegue sua análise
de cunho mais filosófico sobre essas duas temáticas. Em um primeiro momento,
apresenta a origem da filosofia; em seguida se reporta a aspectos modernos da filosofia
e conclui o capitulo e o livro demonstrando a relação entre filosofia e educação, sempre
na perspectiva deweyana.
146
Ao abordar a origem da Filosofia, seguindo as pegadas de Dewey, o autor parte
do princípio de que o homem não é meramente um animal especulativo, não é um
animal racional, mas sim “o homem é um animal capaz de ser racional” (Teixeira,
2007, p. 132). Ao invés de ser natural, a especulação filosófica foi algo inventado e
aprendido e alguns homens se disciplinaram nessa forma de pensar.
Diversamente, “de modo geral, o homem é uma criatura de desejos, de receios e
esperanças, de ódios e afeições. O homem primitivo, mais ainda do que o
semidisciplinado homem moderno, era esse animal de emoções e fantasias” (Teixeira,
2007, p. 131). A memória era o que o distinguia substancialmente dos outros animais,
ampliava o seu universo e o levava para além do mundo material. Essa, assim chamada,
quarta dimensão no homem primitivo tinha a capacidade de preservar as experiências
passadas de forma mística e fantasiosa, com drama e poesia. Este homem, quando não
estava empenhado na luta pela sobrevivência ou envolto pela vida prática, recordava os
seus feitos como se fossem sonhos (Cf. Teixeira, 2007, p. 132).
Dessa forma, diz Anísio baseado em Dewey, a tradição, com suas mitologias,
religiões e superstições, não era, inicialmente, “ensaios de análise filosófica do
universo, mas o resíduo consolidado das histórias que os homens de imaginação
contavam aos companheiros, nos momentos amáveis de lazer e folguedo” (Teixeira,
2007, p. 132). Portanto, não havia na época primitiva o hábito escolástico de considerar
o homem um animal racional que buscava em suas lendas e mitologias a interpretação
do universo. Não havia aí uma interpretação filosófica, mas sim poética (Conf. Teixeira,
2007, p. 132).
Paralelo a essas atividades ligadas aos ritos, às lendas e à poesia, subsistia
também um mundo de homens mais práticos, mais ligados à sobrevivência e com
conhecimentos mais empíricos e positivos. Através de uma contínua distinção social
histórica, os dois grupos não se misturavam e os conflitos entre eles tendiam a se
acirrar. Enquanto os homens práticos promoviam as modificações, a ação e o progresso,
os homens poéticos promoviam a conservação das crenças, dos costumes e dos modos
de viver. É esse o cenário da origem da filosofia, segundo Dewey: “O filósofo surgiu
para reconciliar os dois mundos distintos, o do conhecimento empírico e positivo e o do
conhecimento tradicional e religioso – em essência poético – da humanidade” (Teixeira,
2007, p. 134).
147
Contudo, à revelia da existência da filosofia que tentou a conciliação, o conflito
continuou existindo, representado pelo lado prático, racional dos homens e o lado
poético, religioso, místico, tradicional humano. A filosofia, assim, ao tentar resolver o
conflito e não conseguindo, acabou por “justificar e racionalizar crenças e preceitos
intrinsecamente desprovidos de fundamentos racionais” via um formalismo lógico,
explicações universalistas e verdades últimas e totalizantes (Cf. Teixeira, 2007, p. 137) .
Vem daí o seu caráter obscuro, enigmático e ambicioso.
Portanto, para Anísio, apoiado em Dewey, a filosofia não teve uma origem
desinteressada e sem preconceito. Nem tampouco “a filosofia não se iniciou para a
busca pura e simples da verdade, fosse ela qual fosse. A filosofia se iniciou para
reconciliar produtos mentais já existentes” (Teixeira, 2007, p. 136).
Depois da exposição sobre a origem da filosofia, Anísio prossegue sua análise
apresentando agora alguns aspectos modernos da filosofia, também sob a mesma
perspectiva deweyana.
Desde que o método experimental da ciência moderna demonstrou a sua eficácia
e foi adotado pelo homem, tornou-se sem sentido que a filosofia seja a busca e o
conhecimento das causas últimas e finais. Além disso, a própria contingência das coisas
e dos homens inviabiliza a existência das grandes verdades definitivas (Cf. Teixeira,
2007, p. 138). Aliás, essas verdades e essências imutáveis e fixas foram criadas pela
filosofia para suprir a insegurança das incertezas de um universo em permanente
mudança, transformação e movimento. Advém daí o velho conflito entre ser (não
movimento) e não ser (movimento), no qual se estabeleceu uma hierarquia de valores
entre imutável, sendo superior, e mutável, sendo inferior. Esse dualismo espalha-se por
várias
instâncias da
nossa cultura moderna:
corpo/alma, intelectual/manual,
homem/natureza, etc. O fato é que a atitude moderna da experimentação e da
valorização das contingências desbancou a atitude do antigo filósofo:
A velha atitude do filósofo, fundador do último sistema, e esse, afinal
certo e permanente, deu lugar à atitude muito mais razoável e modesta
do filósofo moderno que busca auxiliar a estabelecer o mais
compreensivo método de julgar, com integridade e coerência, os
valores reais da vida atual, para o efeito de dirigi-la para uma vida
cada vez melhor e mais rica (Teixeira, 2007, p. 140).
Os conceitos de totalidade, universalidade e causalidade última não foram
descartados, mas sim reinterpretados à luz da modernidade e da existência da ciência.
Na modernidade, filosofia e ciência se distinguem. A ciência investiga a verdade no
148
sentido da sua objetividade verificável e a filosofia busca o sentido íntimo e profundo
das coisas, ou seja, “a filosofia não busca verdades no sentido estritamente científico do
termo, mas valores, sentido, interpretações mais ou menos ricas da vida” (Teixeira,
2007, p. 141).
Anísio, citando Dewey, reafirma que atualmente a filosofia é a investigação
sobre o conjunto de conhecimentos que temos e remete esse pensamento ao conceito de
filosofia de William James, qual seja, filosofia é a busca do significado da vida e todo
mundo tem uma filosofia. Segundo Anísio, com esse conceito de filosofia jamesoniano
é possível “mostrar a relação íntima e profunda entre a filosofia e a educação” (Teixeira,
2007, p. 142). Nesse sentido, a própria filosofia educa para a vida e, por isso,
precisamos dela: “Se a filosofia é a indagação da atitude que devemos tomar diante das
incertezas e conflitos da vida, filosofia é, realmente, como o queriam os antigos, a
mestra da vida. É exatamente porque há dúvidas e incertezas e perplexidades que
temos necessidade de uma filosofia” (Teixeira, 2007, p. 142). (Grifo nosso). Mas
filosofia sempre no sentido de um conjunto de pensamentos que norteiam a vida prática
da experiência e não a filosofia das causas últimas. A relação entre filosofia e educação
deve ser pensada dessa mesma forma imanente.
Para Anísio, no mundo moderno, transformado continuamente pela ciência, a
falta de interesse pela filosofia denota uma vida à margem da própria vida, “sem
interesses e sem paixões, sem amores e sem ódios”, pois somente uma vida superficial
não levaria em conta tanta riqueza das “solicitações diversas e antagônicas das
diferentes fases do conhecimento humano, e os conflitos e perplexidades atordoantes da
hora presente” (Teixeira, 2007, p. 142).
Nessa perspectiva, construímos uma filosofia e nos amoldamos a ela. São
filosofias individuais que não cabem nos sistemas filosóficos que são “criações pedantes
de gabinete”, mas filosofia “no sentido realístico” que expressa a experiência de cada
um. Assim, o que esperamos da filosofia é que ela nos “dê um programa de ação e de
conduta, isto é, uma interpretação harmoniosa da vida e das suas perplexidades” (Cf.
Teixeira, 2007, p. 143). É essa, precisamente, a proximidade existente entre filosofia e
educação, afirma Anísio citando expressamente Dewey:
Está aí a grande intimidade entre filosofia e educação. “Se educação é
o processo pelo qual se formam as disposições essenciais do homem –
emocionais e intelectuais – para com a natureza e para com os demais
homens, filosofia pode ser definida como a teoria geral da educação”,
diz Dewey (Teixeira, 2007, p. 143).
149
Anísio continua citando Dewey e mostrando seu pensamento de que a filosofia
deve servir para nortear a vida prática dos homens e que esse processo tem a sua
culminância na educação. Para Dewey, se a filosofia não for simples oratória, mera
predileção ou um dogma arbitrário, “o seu julgamento da experiência e o seu programa
de valores deve concretizar-se na conduta e, portanto, em educação” (Dewey apud
Teixeira, 2007, p. 143).
Da mesma forma, a educação não pode prescindir da filosofia, pois se a
educação não se pretende rotina ou mera empiria, “deve permitir que os seus fins e os
seus métodos se deixem animar pelo inquérito largo e construtivo da sua função e lugar
na vida contemporânea, que à filosofia compete prover” (Dewey apud Teixeira, 2007, p.
143).
Nesse sentido, filosofia e educação não podem ser separadas. Anísio retoma
uma citação de Dewey para melhor explicitar essa forte ligação já apontada acima e
reforçar a ideia deweyana que a filosofia pode ser definida como a teoria geral da educação:
Filosofia se traduz, assim, “em educação, e educação só é digna desse
nome quando está percorrida de uma larga visão filosófica. Filosofia
da educação não é, pois, senão o estudo dos problemas que se referem
à formação dos melhores hábitos mentais e morais em relação às
dificuldades da vida social contemporânea” (Dewey apud Teixeira,
2007, p. 143-144).
Anísio relembra que devido à importância da filosofia na compreensão da vida
contemporânea, ela, tal qual a educação, dependerá da sociedade que tiver em vista.
Como a sociedade que modernamente se pretende alcançar é a sociedade democrática, a
filosofia e a educação, elaboradas para tal sociedade, também deverão ser democráticas.
Assim, quanto a essa filosofia, diz Anísio: “A filosofia de uma sociedade em
permanente transformação, que aceita essa transformação e deseja torná-la um
instrumento do próprio progresso, é uma filosofia de hipóteses e soluções provisórias”
(Teixeira, 2007, p. 144). E da mesma forma, a educação dessa sociedade democrática
deverá ter uma escola que ouça a todos e sirva a todos, mas “essas aspirações e esses
ideais serão, porém, uma farsa, se não os fizermos dominar profundamente o sistema
publico de educação” (Teixeira, 2007, p. 144).
Dessa forma, o método filosófico deverá ser experimental, para que sempre
possa questionar as conclusões a que cheguem as investigações e se preserve a
provisoriedade delas; o sistema social democrático almejado deve promover a
150
felicidade, a igualdade de oportunidades para todos e o fim das desigualdades sociais; a
escola, peça fundamental nessa paisagem filosófica e social, deve se transformar
acompanhando e promovendo, assim, as mudanças sociais, bem como deve também
envolver seus pares nessa transformação, o servidor e o professor (Cf. Teixeira, 2007, p.
144-145).
O professor é uma peça chave em todo esse processo. No entanto ele não poderá
ser um mero técnico, e sim um estudioso dos problemas modernos, da civilização, da
sociedade e do homem. O professor “tem que ser, enfim, um filósofo...” (Teixeira, 2007,
p. 145). Dessa forma, assevera conclusivamente Anísio: “o educador não pode ser
equiparado a nenhum técnico, no sentido usual e restrito da palavra. Ao lado da
informação e da técnica, deve possuir uma clara filosofia da vida humana, e uma visão
delicada e aguda da natureza do homem” (Teixeira, 2007, p. 145). Ficando reafirmada a
relação estreita entre filosofia e educação.
3. A Filosofia da Educação de Paulo Freire: o diálogo da educação como prática da
liberdade
Severino (1997) e outros estudiosos (Saviani, 2009, p. 61; Ghiraldelli, 2000 a)
são unânimes em afirmar que o humanismo existencialista cristão se encontra na matriz
filosófico-educacional do pensador e educador Paulo Reglus Freire. Contudo, também é
consenso que a questão dos fundamentos filosóficos da obra freiriana é complexa e
polêmica, pois não existiria uma única corrente filosófica na base de suas reflexões e
sim multiplicidade de influências, dado ao próprio contexto de sua formação e ao
caráter prático de sua proposta pedagógica (Cf. Severino, 1997, p. 132). Todavia, além
de outras vertentes, a linha central filosófica inspiradora de Freire teria sido mesmo o
humanismo existencialista cristão, com Karl Jaspers e Gabriel Marcel nas fontes
principais.
A partir dessas vertentes teóricas, Paulo Freire elabora uma “síntese humanista,
no plano filosófico-educacional, que serve de base para a prática pedagógica”
(Severino, 1997, p. 132). Esta educação, por sua vez, é proposta como prática de
liberdade, uma práxis para libertar o homem oprimido de sua opressão. Essa prática de
liberdade é uma libertação precedida de um processo de conscientização da opressão.
151
Há uma exigência de consciência e prática, teoria e ação, para que se construa a
liberdade, tanto na situação existencial quanto na práxis social coletiva.
Trata-se da superação da consciência ingênua para a consciência crítica, que ao
se vincular com a prática, transforma a realidade. Para tanto, é imprescindível a
comunicação dialógica, em uma relação horizontal entre educando e educador. Somente
dessa forma a cultura se transformará em potencial libertador com uma pedagogia
também libertadora e comprometida com a transformação social (Cf. Severino, 1997, p.
132). Para Saviani (2009), é nesse âmbito que surgem tentativas de constituição de uma
espécie de Escola Nova Popular, tais como a Pedagogia Freinet na França e o
Movimento Paulo Freire de Educação no Brasil:
Com efeito, de modo especial no caso de Paulo Freire, é nítida a
inspiração da “concepção ‘humanista’ moderna de filosofia da
educação”, através da corrente personalista (existencialismo cristão).
Na fase de constituição e implantação de sua pedagogia no Brasil
(1959-1964), suas fontes de referência são principalmente Mounier,
G. Marcel, Jaspers [...]. Parte-se da crítica à pedagogia tradicional
(pedagogia bancária) caracterizada pela passividade, transmissão de
conteúdos, memorização, verbalismo etc. e advoga-se uma pedagogia
ativa, centrada na iniciativa dos alunos, no diálogo (relação dialógica),
na troca de conhecimentos. A diferença, entretanto, em relação à
Escola Nova propriamente dita, consiste no fato de que Paulo Freire se
empenhou em colocar essa concepção pedagógica a serviço dos
interesses populares. Seu alvo inicial foi, com efeito, os adultos
analfabetos (Saviani, 2009, p. 61)
Para Ghiraldelli (2000 a, p. 41), no final do século XX, Paulo Freire teria
substituído John Dewey, “tanto no pertencimento às diretrizes da sociedade do trabalho
quanto nas críticas a esta”, sempre voltado para os povos pobres, os desenraizados e o
fim do neocolonialismo. Enfim, a partir de um discurso humanista, Freire seguiu
falando do que se chamou de Terceiro Mundo e assim foi ouvido em todo o Ocidente.
Dessa forma, Freire ao enfatizar a educação como ato político,
Teria sido mais herdeiro de Dewey do que ele mesmo quis admitir em
alguns momentos de sua vida, principalmente naqueles em que o
liberalismo e a postura democrática de Dewey estavam em baixa, no
Brasil. Mas Paulo Freire, no final da vida, declarando-se seguidor de
Anísio Teixeira, redimiu-se e mostrou uma face mais justa de sua
teoria educacional: sua herança em relação ao pragmatismo norteamericano (Ghiraldelli, 2000 a, p. 49-50).
Conforme Ghiraldelli, a influência deweyana em Freire implica a perspectiva da
educação imbricada na política e os pressupostos do ensino ativo em termos didáticos.
Contudo, diversamente de Dewey, Freire pensou uma teoria educacional não a partir de
152
um Welfare State keynesiano, “mas a partir de um descaminho de um possível Welfare
State que se insinuou em vários países do Terceiro Mundo, mas que, até hoje, não se
tornou realidade” (Ghiraldelli, 2000 a, p. 50). Por isso, a teoria educacional freiriana foi
extremamente crítica do industrialismo e da sociedade do trabalho. E é nesse sentido
social que os passos didáticos da teoria educacional freiriana devem ser entendidos, pois
a educação bancária talvez tenha sido “uma primeira tentativa, depois de Dewey, de
identificar o que estaria ocorrendo com a pedagogia e a didática na derrocada do
humanismo e na emergência da sociedade do trabalho” (Ghiraldelli, 2000 a, p. 50).
Para Freire, o homem possuía uma vocação para sujeito da história e não para
objeto, mas as condições de exploração do Terceiro Mundo inviabilizavam esta
vocação, inclusive pela manipulação das consciências das populações pobres, vítimas de
paternalismo, autoritaritarismo, colonialismo e escravismo. Por tudo isso, era necessário
ultrapassar essa condição de servilismo e libertar o homem popular de seu mutismo. A
educação deveria ser responsável pela construção de uma nova consciência nos homens
do Terceiro Mundo, visando seu engajamento na luta política:
Tal concepção denunciou a educação vigente como colaboradora do
mutismo do povo. A escola oficial, além de autoritária, estaria a
serviço de uma estrutura excessivamente burocratizada e anacrônica
incapaz de colocar-se “ao lado dos oprimidos”. Procurando
identificar-se com os oprimidos – aqueles que “não têm voz” na
sociedade, mas que, obviamente, ao contrário do que diziam as elites,
“também produzem cultura” –, Freire buscava uma educação
comprometida com a solução dos problemas da comunidade. A ideia
de comunidade permaneceu, então, como um ponto de partida e um
ponto de chegada da teoria educacional freireana (como em Dewey e
Anísio Teixeira). Daí as teses do ensino articulado aos regionalismos,
ao comunitarismo, aos costumes e à cultura do local de vida da
população a ser educada (Ghiraldelli, 2000 a, p. 51).
Paulo Freire compreendia que os povos oprimidos, vitimados pela demagogia
dos políticos e pela manipulação dos meios de comunicação de massa, deveriam se
libertar, se desalienar da sua condição de exploração. Para tanto, segundo Freire, era
necessário uma pedagogia do diálogo, que deveria seguir uma relação horizontal entre
educador e educando, ambos educando e sendo educados. Esse diálogo seria amoroso,
um encontro de homens que amam e desejam transformar o mundo. O ponto de partida
desse diálogo deveria ser as situações vividas pelo educador e pelo educando, que
depois seriam aprofundadas em problematizações, visando à construção de uma visão
crítica da realidade, em um processo contínuo de conscientização. Esta conscientização
153
para uma educação libertadora seria o antídoto da educação bancária, opressora, que
desqualificava qualquer saber do aluno e, por isso mesmo, só serviria como depósito de
outros saberes do professor: “Assim, como Dewey, Paulo freire visou à educação contra
o dogmatismo. Também como Dewey, recusou a ideia de uma educação onde os alunos
fossem passivos diante da ação pedagógica” (Ghiraldelli, 2000 a, p. 53).
Severino (2002), por sua vez, situa a grande influência filosófica de Paulo Freire
no enfoque hermenêutico, específico de uma marcante tendência da prática da Filosofia
da Educação no Brasil, cuja característica é buscar “o sentido total da educação,
compreendendo-a como processo de formação do humano no homem, mediante a
transformação pessoal do próprio sujeito” (Severino, 2002, p. 297). Nessa perspectiva,
afirma Severino, a filosofia é processo de conhecimento que articula a mediação entre
interioridade e a exterioridade, entre o íntimo e o público. O exercício do filosofar
hermenêutico consiste em um exercício de interpretação, descoberta e compreensão,
mas não manipulação (Cf. Severino, 2002, p. 297).
A tradição hermenêutica da educação valoriza a autonomia subjetiva, que é
sempre feita pelos próprios sujeitos, a partir da exterioridade, visando o
desenvolvimento da interioridade subjetiva. Por isso, é que a fenomenologia tem tanta
repercussão na discussão filosófica da temática educacional, a qual se desdobra em
epistemologia, discutindo a presença da ciência na cultura contemporânea e o seu
alcance nas ciências humanas, e em metodologia filosófica de correntes neo-humanistas
existencialistas, subsidiando a reflexão ético-antropológica das mesmas (Cf. Severino,
2002, p. 298). É mais precisamente nessa vertente fenomenológica existencialista que
Severino situa a reflexão filosófico educacional freiriana:
É também sob marcante influência do existencialismo que se pode
compreender a filosofia da educação de Paulo Reglus Freire para
quem a educação é prática da liberdade e a pedagogia, processo de
conscientização. Vê a educação também como um ato político, uma
vez que nunca é neutra: ou ela desvela ou esconde as relações sociais.
Por isso, a educação deve promover a conscientização, investindo na
construção da autonomia intelectual do educando. A reflexão e seu
aprendizado devem ocorrer exercendo-se sobre a prática, retornandose os resultados do conhecimento para ela, com vistas a sua
transformação. Assim, o filosofar deve voltar-se sobre o concreto,
sobre o real, não se fazendo pensamento sobre pensamento (Severino,
2002, p. 303).
É também nessa perspectiva de uma posição filosófica voltada para o concreto
que Zitkoski (2010) situa Paulo Freire, o qual teria submetido “à análise e reflexão
154
crítica, ao longo de sua trajetória enquanto educador e filósofo da educação, [...] a
problemática da concreta libertação das pessoas de suas vidas desumanizadas pela
opressão e pela dominação social” (Zitkoski, 2010, p. 15). Essa foi a grande luta de
Freire, traduzida em sua proposta pedagógica e que marcou sua vida e sua atuação
prática como educador e intelectual, bem como a humanização do mundo, da sociedade
e da cultura, por meio da ação cultural libertadora. Um projeto humanista e libertador da
sociedade para que repensemos a cultura e os modelos de racionalidade que cultivamos
até hoje (Cf. Zitkoski, 2010, p. 15).
Zitkoski chama a atenção para a afirmação histórica do ser humano como ser
esperançoso e em busca de liberdade, em Paulo Freire, bem como para a sua visão ética
e política indispensável ao projeto de transformação social e à reinvenção do paradigma
emancipatório de sociedade (Zitkoski, 2010, p. 15), mas é muito importante também o
aspecto da renovação das bases marxistas que Zitkoski aponta:
A revisão das teses marxistas partindo da proposta freiriana inaugura,
então, a concepção de uma nova antropologia que supere a
cosmovisão mecanicista muito presente nas análises da vida em
sociedade na segunda metade do século XX. [...] Freire avança por
meio de uma visão antropológica inovadora, ao valorizar a
subjetividade, o papel da conscientização, a problematização da
consciência crítica nas relações de poder e interesses de classe, a
interação do sujeito na realidade social e o sentido da educação e da
transformação cultural (Zitkoski, 2010, p. 19).
Com esse suporte marxiano, em Freire, é possível compreender que a
dialogicidade, a ação dialógica ou a ação cultural para a liberdade é um caminho de
reconstrução da vida em sociedade, na defesa de um projeto maior, articulado com uma
visão de sociedade igualitária. Assim, a realização de uma concepção de vida humana
dialógica e dialética é viável, através de uma proposta de educação radicalmente
libertadora, pautada em uma racionalidade dialógica que, por sua vez, desafia a
realidade sociocultural que desumaniza e coisifica (Cf. Zitkoski, 2010, p. 23). Há em
freire a defesa radical da relação entre educação e política e transformação da
sociedade: “A necessária e indispensável posição política do educador, para ser coerente
com sua ética profissional, é um dos grandes princípios fundantes da pedagogia
freiriana e perpassa toda sua obra como educador e filósofo da educação” (Zitkoski,
2010, p. 42).
155
3.1. Pedagogia do oprimido
O livro Pedagogia do oprimido foi publicado em 1968, no exílio chileno,
período precedido por uma intensa atuação política e educacional de Paulo Freire, até o
golpe militar de 1964 no Brasil, de onde partiu inicialmente para Bolívia e, depois do
golpe militar boliviano, posteriormente para o Chile. Segundo Freire, Pedagogia do
oprimido foi escrito de maneira artesanal e estruturado a partir de fichas, bilhetes e
anotações, fruto de quatro anos de trabalho no exílio chileno. Foi esse livro que tornou
o trabalho de Paulo Freire mundialmente conhecido, mas que só obteve a permissão de
ser publicado no Brasil em 1975 (Cf. Zitkoski, 2010, pp. 73-74).
Na apresentação do livro, Freire se apoia em Hegel para falar do medo da
liberdade que é necessário ultrapassar por meio da conscientização que possibilita a
inserção do homem no processo histórico e no exercício da liberdade. Freire lembra,
ainda, que o conteúdo desse ensaio não é resultado de meros devaneios intelectuais ou
de leituras, apesar da importância dessas. O ensaio, ao contrário, está ancorado em
situações concretas: “Expressam reações de proletários, camponeses ou urbanos, e de
homens de classe média, que vimos observando, diretamente ou indiretamente, em
nosso trabalho educativo” (Freire, 2001, p. 33). A sua intenção é dar continuidade a
essas observações, refletindo sobre a libertação dos homens.
Pretende-se um ensaio aproximativo e não conclusivo, destinado a homens
radicais, sejam cristãos ou marxistas, mas sem serem sectários, pois enquanto o
radicalismo liberta, o sectarismo é um obstáculo à emancipação dos homens.
A
radicalização é revolucionária, a sectarização é reacionária. Seja o sectarismo de direita,
seja o sectarismo de esquerda.
O livro Pedagogia do oprimido se compõe de quatro capítulos: Justificativa da
pedagogia do oprimido; A concepção “bancária” da educação como instrumento da
opressão. Seus pressupostos, sua crítica; A Dialogicidade: essência da educação como
prática da liberdade; A teoria da ação antidialógica. Cada título é acompanhado de
subitens que desdobram a ideia central. Em seguida, passaremos a expor as ideias
centrais de cada um dos capítulos desse livro para fazermos uma apreciação dessa nova
reflexão filosófica educacional que Paulo Freire trouxe para o pensamento da Filosofia
da Educação no Brasil.
156
No primeiro capítulo, Justificativa da pedagogia do oprimido, Freire já alerta
que pretende aprofundar, dada a importância e amplitude do tema, aspectos que já
estavam presentes de forma introdutória em Educação como prática da liberdade, sua
obra anterior.
A humanização é posta como preocupação e problema central a ser discutido,
pois a desumanização é uma realidade histórica e, por isso, ambas perfazem um
processo em constante movimento: “Humanização e desumanização, dentro da história,
num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres
inconclusos e conscientes de sua inconclusão” (Freire, 2011, p. 40). Mas a
humanização, além de ser possibilidade, é também uma vocação dos homens, por vezes
afirmada na liberdade, por vezes negada na opressão. A desumanização, presente
também no opressor, é distorção da vocação de ser mais do homem, “não é, porém,
destino dado, mas resultado de uma ‘ordem’ injusta que gera a violência dos opressores
e esta, o ser menos” (Freire, 2011, p. 41), tanto de opressores quanto de oprimidos.
A contradição entre opressores e oprimidos leva esses últimos a buscar a
superação da condição de ser menos, tanto deles quanto dos opressores, em busca da
restauração da humanidade de todos, como um ato de amor que se opõe ao desamor da
violência dos opressores. Essa generosidade, segundo Freire, só é possível de ser
realizada pelos “condenados da terra”, “oprimidos”, “esfarrapados do mundo”, sejam
povos ou homens, juntamente com aqueles que lhes são solidários. É essa luta que o
livro busca mostrar, como assegura Freire:
A nossa preocupação, neste trabalho, é apenas apresentar alguns
aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de
pedagogia do oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele e não
para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de
recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de
suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu
engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta
pedagogia se fará e refará (Freire, 2011, p. 43).
Outra questão importante a ser tratada no ensaio é a reflexão sobre as
dificuldades de se realizar a pedagogia da libertação diante do problema do
“hospedeiro” do opressor no oprimido. Mas é a própria pedagogia da libertação que
possibilita a descoberta crítica pelos oprimidos desse “hospedeiro” e sua desumanidade,
mesmo que seu reconhecimento não signifique uma luta concreta pela superação dessa
contradição. Pois, dessa forma, o oprimido liberto ou consciente pode se transformar em
157
um novo opressor e isso não lhe possibilita “a consciência de si como pessoa, nem a
consciência de classe oprimida” (Conf. Freire, 2011, p. 44-45).
Nessa estrutura, há que se pensar também sobre o “medo da liberdade” que se
apodera dos oprimidos, “que tanto pode conduzi-los a pretender ser opressores também
quanto pode mantê-los atados ao status de oprimidos” (Freire, 2011, p. 46). Esse medo
da liberdade é determinado e imposto ao oprimido pelo opressor como uma prescrição,
“imposição da opção de uma consciência a outra” (Freire, 2011, p. 46), a partir da qual
os oprimidos introjetam a figura do opressor e passam a temer a liberdade. Faz-se
necessário, portanto, superar concretamente a situação opressora: “Isto implica o
reconhecimento crítico, a ‘razão’ desta situação, para que, através de uma ação
transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca
do ser mais” (Freire, 2011, p. 46).
Apoiado em Hegel, Freire afirma que o simples reconhecimento da condição de
oprimido não significa a sua libertação, para tanto é necessário a práxis libertadora.
Algo que vale também para o opressor, o qual não deixa essa condição somente através
da solidariedade com os oprimidos:
Se o que caracteriza os oprimidos como ‘consciência servil’ em
relação à consciência do senhor, é fazer-se quase ‘coisa’ e
transformar-se, como salienta Hegel, em ‘consciência para o outro’, a
solidariedade verdadeira com eles está em com eles lutar para a
transformação da realidade objetiva que os faz ser este ‘ser para outro’
(Freire, 2011, p. 49).
No entanto, a ênfase na necessidade da transformação da realidade objetiva não
significa negar o papel da subjetividade na luta pela libertação, pois “não se pode pensar
em objetividade sem subjetividade” (Freire, 2011, p. 50). Apoiado em Marx, Freire
condena tanto o subjetivismo, quanto o objetivismo, e defende uma relação dialética
entre ambas. Assim, compreende que “a realidade social, objetiva, que não existe por
acaso, mas como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso”
(Freire, 2011, p. 51). Dessa forma, pondera Freire apoiado em Lukács, a consciência
crítica da opressão desempenha papel fundamental na transformação dessa realidade
objetiva. Ou seja, a práxis, como reflexão e ação humanas na transformação do mundo e
na superação da contradição opressor-oprimido (Cf. Freire, p. 52).
Segundo Freire, a relação opressora inaugura a violência, o desamor, o terror, a
tirania, o ódio, a negação humana e a força que são de total responsabilidade dos
opressores e jamais dos oprimidos. É assim que “na superação da contradição
158
opressores-oprimidos, que somente pode ser tentada e realizada por estes, está implícito
o desaparecimento dos primeiros, enquanto classe que oprime” e não simplesmente a
troca de papéis que estabelece um novo poder (Conf. Freire, 2011, p. 60).
A segunda parte do primeiro capítulo trata da situação concreta da opressão e
dos opressores. Freire se detém em uma análise sobre a condição dos opressores em
uma situação revolucionária concreta, que não se reconhecem livres e sim oprimidos. A
explicação para tal fato é a herança de sua experiência de opressores, e de que nada que
lembre “o seu direito antigo de oprimir significa opressão a eles” (Freire, 2011, p. 61).
Esses antigos opressores herdaram também a ideia de que as únicas pessoas são eles
próprios, e os antigos oprimidos são meras coisas, o que os leva a querer transformar
tudo em objeto de seu domínio, como antigamente. Freire constata, nessa herança, a
permanência de uma “concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é a
medida de todas as coisas. E o lucro, seu objetivo principal” (Freire, 2011, p. 63). A
desapropriação de suas riquezas teria sido uma injustiça, pois muito teriam trabalhado
para tê-la. Da mesma forma, os antigos oprimidos são injustos por terem direito à
riqueza, pois o povo não a merece, na medida em que não é capaz de pensar, querer ou
saber.
A terceira parte do primeiro capítulo trata, por sua vez, da opressão e dos
oprimidos em uma situação concreta. As dificuldades que eles teriam em uma situação
revolucionária são diversas. Uma delas já foi abordada e se refere à introjeção das ideias
dos opressores. Outra dificuldade decorre dessa, e se trata do fato de, ao não conseguir
identificar o opressor exteriormente, acaba compreendendo a realidade a partir de certo
fatalismo que, muitas vezes, é acompanhado de certa docilidade. Uma terceira
dificuldade consiste em tratar os companheiros como era tratado antigamente pelos
opressores, em uma nítida denúncia da atração que sente por estes, bem como uma
vontade de se parecer com eles. Todas essas dificuldades são representativas de uma
“consciência colonizada” que se reveste de uma auto repulsa: “A autodesvalia é outra
característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles
têm os opressores” (Freire, 2011, p. 69). O desconhecimento do seu valor, segundo
freire, é fruto do seu pensamento baseado na opinião (doxa) e em uma crença mágica no
poder do opressor. Daí, então, a importância para os oprimidos da tomada de
consciência das causas da opressão, para que se possa praticar uma ação para a
liberdade.
159
A quarta e última parte do primeiro capitulo se refere ao fato de que ninguém
liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, pois os homens se libertam em comunhão.
Para tanto, é necessário: a consciência da existência do opressor; a ação prática para
essa libertação; o diálogo crítico e libertador com os oprimidos; e o auto
reconhecimento do valor do oprimido como homem. É necessário, ainda, estar atento ao
conteúdo desse diálogo para que não seja domesticação e imposição, principalmente por
parte das lideranças revolucionárias. Assim, a reflexão deve conduzir à prática e à ação
política como “ação cultural” para a liberdade (Cf. Freire, 2011, pp. 71 a 78).
O segundo capítulo, intitulado A concepção “bancária” da educação como
instrumento da opressão. Seus pressupostos, sua crítica, trata sobre o caráter
“narrador”, “dissertador” da educação, seja escolar ou não.
O traço marcante e
preponderante da educação tem sido a narração de conteúdos “que implica um sujeito –
o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os educandos” (Freire, 2011, p. 79). Esses
conteúdos falam da realidade “como algo parado, estático, compartimentado e bemcomportado” ou como alheia à experiência existencial do educando.
Nessa educação narradora, o educador ocupa papel central como único sujeito
que “enche” os alunos através das narrações, como se eles fossem vasos a serem
preenchidos. Na “educação dissertadora” interessa mais a sonoridade das palavras que
a sua força transformadora: “o educando fixa, memoriza, repete, sem perceber o que
realmente significam quatro vezes quatro” (Freire, 2011, p. 80). A narração feita pelo
sujeito educador só leva à memorização mecânica pelos educandos do conteúdo
narrado. Estes são transformados em “‘vasilhas’, em recipientes a serem ‘enchidos’ pelo
educador. Quanto mais vai ‘enchendo’ os recipientes com seus ‘depósitos’, tanto melhor
educador será. Quanto mais se deixem docilmente ‘encher’, tanto melhores educandos
serão” (Freire, 2011, p. 80). Esta é, precisamente, a concepção “bancária” de educação.
O mais cruel, diz Freire, é que esse contínuo depósito de narrações, realizado
pelos educadores nos educandos, vai matando a criatividade, o saber e o processo de
busca que deveriam nortear a verdadeira educação, pois “na visão ‘bancária’ da
educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber”
(Freire, 2011, p. 81). Como se a ignorância se encontrasse sempre no outro.
Assim, em contraposição, a proposta da educação libertadora é superar a
contradição educador-educandos, de forma que todos sejam educadores e educandos,
todos aprendam e ensinem simultaneamente.
160
Na educação bancária, o educador tem as seguintes prerrogativas: educa; sabe;
pensa; diz a palavra; disciplina; opta e prescreve a opção; atua; escolhe o conteúdo
programático; tem a autoridade do saber; e é o único sujeito do processo educativo. Os
educandos, na educação bancária, sofrem as seguintes ações: são educados; não sabem;
são pensados; escutam docilmente; são disciplinados; seguem as prescrições do
educador; acomodam-se a um programa do qual não participaram na elaboração;
adaptam-se ao saber do educador; são meros objetos (Cf. Freire, 2011, p. 83).
O resultado dessa educação “bancária”, portanto, é a simples adaptação e
ajustamento dos educandos que, por isso, não desenvolvem sua consciência crítica,
fruto da ação de sujeitos inseridos no mundo. Assim, diz Freire, a propósito dos alunos
da educação bancária: “Quanto mais se lhes imponha passividade, em lugar de
transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos
recebidos” (Freire, 2011, p. 83). Esse estímulo à ingenuidade no lugar da criticidade é
favorável aos interesses dos opressores, na busca da manutenção da situação de
opressão. Por isso, jamais essa educação pode se orientar no sentido da conscientização,
objetivo da educação libertadora.
Na primeira parte desse segundo capítulo, Freire fala sobre os pressupostos da
concepção problematizadora e libertadora da educação. Dessa forma, a educação
libertadora parte do princípio de que os oprimidos sempre podem se libertar, pois sua
condição de “ser que busca” e sua “vocação ontológica para a humanização” permitem
que os oprimidos percebam as contradições da educação “bancária” e lutem pela sua
própria libertação. Assim, o educador humanista e revolucionário deve buscar a
humanização de si e dos educandos, orientar a ação educativa para um pensar autêntico
no lugar da doação de conhecimento e inspirar sua ação em profunda crença nos
homens (Conf. Freire, 2011, p. 86).
A segunda parte desse segundo capítulo trata sobre a concepção bancária e a
contradição educador-educando. Às características já referidas dessa educação freire
acrescenta outras, tais como: dicotomia entre homem-mundo; a consciência como algo
apartado do homem, como mero depósito; o papel do educador é disciplinar o
educando, torná-lo ainda mais passivo para melhor adaptá-lo ao mundo; dificultar o
pensamento autêntico; ministrar aulas verbalistas.
Baseado em Fromm, Freire aponta que existe na educação bancária uma
necrofilia, contrária a uma biofilia, pois os homens são coisificados com a concepção
161
mecânica de consciência em que se funda. Esta educação “não se deixa mover pelo
ânimo de libertar o pensamento pela ação dos homens uns com os outros na tarefa
comum de refazerem o mundo e de torna-lo mais e mais humano” (Freire, 2011, p. 91).
O seu objetivo é precisamente o contrário: “[...] controlar o pensar e a ação, levando os
homens ao ajustamento ao mundo. É inibir o poder de criar, de atuar” (Freire, 2011, p.
91).
Freire acrescenta, ainda, que o seu objetivo ao denunciar a educação “bancária”
e o seu anti-humanismo é, em primeiro lugar, “chamar a atenção dos verdadeiros
humanistas para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se da
concepção ‘bancária’, sob pena de se contradizerem em sua busca” (Freire, 2011, p. 92).
Em segundo lugar, é necessário evitar que esta concepção se torne um legado da
sociedade opressora à sociedade revolucionária.
Na terceira parte do segundo capítulo, Freire trata sobre o fato de que “ninguém
educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo” (Freire, 2011, p. 95). Nesse aspecto, Freire salienta a
dimensão coletiva do conhecimento e da educação que tem o diálogo como base: “É
através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo: não mais
educador do educando, não mais educando do educador, mas educador-educando com
educando-educador” (Freire, 2011, p. 95).
Ou seja, a educação não é algo dirigido a alguém ou recebido de alguém, mas
sim um processo que é construído na simultaneidade do encontro educacional mediado
pelas relações concretas do mundo. Nesse sentido, os argumentos de autoridade perdem
seu valor, pois “para ser-se, funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com
as liberdades e não contra elas” (Freire, 2011, p. 96). Dessa forma, reafirma Freire: “Já
agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os
homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (Freire, 2011, p. 96).
Nesse contexto, é destacado também que a prática educativa libertadora constitui
uma situação gnosiológica, onde o papel do educador é proporcionar, juntamente com
os educandos, “as condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da
doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do logos” (Freire, 2011, p.
97) (Grifo nosso). Enquanto a prática bancária cerceia a criatividade dos educandos, “a
educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante
ato de desvelamento da realidade” (Freire, 2011, p. 97) (Grifo nosso).
162
A reflexão proporcionada pela educação libertadora, e que se exerce sobre o
mundo, os homens e a relação entre eles, implica em uma consciência que se dá
simultaneamente ao desvelamento do mundo. Merece que se destaque que as referências
à consciência são de cunho existencialista e fenomenológico embasadas em Sartre e
Husserl:
Na verdade, não há eu que se constitua sem um não eu. Por sua vez, o
não eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu
constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência, um
percebido objetivo seu, ao qual se intenciona. Daí, a afirmação de
Sartre, [...]: ‘consciência e mundo se dão ao mesmo tempo’ (Freire,
2011, p. 99).
Dessa forma, enquanto os homens vão refletindo simultaneamente sobre si e
sobre o mundo, diz Freire em uma perspectiva husserliana: “Vão aumentado o campo de
sua percepção, vão também dirigindo sua ‘mirada’ a ‘percebidos’ que, até então, ainda
que presentes ao que Husserl chama de ‘visões de fundo’, não se destacavam, ‘não
estavam postos por si’” (Freire, 2011, p. 99).
Ou seja, “as visões de fundo” ressaltam coisas antes não percebidas que são
agregadas à reflexão do eu constituinte que vai se exercendo sobre a relação entre o
mundo e os homens: “O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido
em suas implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era percebido, se ‘destaca’
e assume o caráter de problemas, portanto, de desafio” (Freire, 2011, p. 100). O
resultado desse processo cognoscitivo e reflexivo faz da educação problematizadora
“um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como
estão sendo no mundo com que e em que se acham” (Freire, 2011, p. 100).
Na última parte do segundo capítulo, Freire trata, a partir do critério da
historicidade, do homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu
permanente movimento de busca de ser mais. Diversamente dos animais, que são
também seres inacabados, mas não se sabem inacabados, o homem tem consciência do
inacabamento. E é exatamente a consciência dessa inconclusão que o faz um ser
histórico e o único a ser educado em um processo permanente:
Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados.
Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da
educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é,
na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí que
seja a educação um quefazer permanente. Permanentemente, na razão
163
da inconclusão dos homens e do devenir da realidade (Feire, 2011, p.
102).
A educação libertadora, no entanto, é a única capaz de promover a realização da
busca do ser mais, de possibilitar o aprofundamento da tomada de consciência rumo a
uma práxis transformadora e de oferecer a visão do mundo como mediador dos sujeitos
da educação e sua consequente humanização.
O terceiro capítulo, intitulado A Dialogicidade: essência da educação como
prática da liberdade, aborda a importância fundamental da dialogicidade para a
educação transformadora, em contraposição à educação bancária que é antidialógica.
Freire inicia fazendo considerações mais universais em torno da essência do
diálogo, retomando e aprofundando alguns pontos que teriam sido já abordados na obra
Educação como prática da liberdade. O diálogo como fenômeno humano tem na
palavra não só seu meio de existência, mas um dos seus elementos constitutivos
centrais. A palavra tem as dimensões da ação e da reflexão radicalmente solidárias e em
interação radical entre si, ao ponto de a ausência de uma dessas dimensões comprometer
a outra: “Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra
verdadeira seja transformar o mundo” (Freire, 2011, p. 107). Ou seja, a palavra é
constituída da ação e da reflexão que, por sua vez, resultam na práxis.
A palavra inautêntica não transforma o mundo e é resultado da cisão entre a ação
e a reflexão. O sacrifício da ação na palavra resulta em verbalismo. O sacrifício da
reflexão na palavra resulta em ativismo. Em ambos os casos, respectivamente, a palavra
não denuncia o mundo e impede a ação transformadora, bem como a palavra é negadora
da práxis verdadeira que tem por base o diálogo. Dessa forma, não há pronúncia do
mundo:
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir,
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (Freire, 2011, p. 108).
Os componentes do fazer-se homem, segundo Freire, são a palavra, o trabalho e
a ação-reflexão que não são privilégio de alguns poucos homens, mas sim direito de
todos os homens: “Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira
sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra
164
aos demais” (Freire, 2011, p. 109). O diálogo, portanto, é o encontro entre os homens
dialógicos mediatizados pelo mundo buscando a libertação deles.
Na primeira parte deste terceiro capítulo, Freire trata da educação dialógica e do
diálogo. O diálogo, que se baseia no amor e possibilita pronunciar o mundo, não é
encontrado na relação de dominação. Por isso, a única educação dialógica é a
libertadora e não a bancária. A educação dialógica traz um diálogo baseado na
humildade, na consciência de que todos sabem e não somente alguns iluminados, na fé
nos homens e na sua vocação de ser mais, na crença de que toda relação deve ser
horizontal e baseada na confiança e na esperança.
A segunda parte traz o fato de o diálogo começar na busca do conteúdo
programático. Para a educação como prática da liberdade, a dialogicidade não começa
somente “quando o educador-educando se encontra com os educandos-educadores em
uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai
dialogar com estes” (Freire, 2011, p. 115). Assim, para o educador-educando dialógico
o conteúdo programático da educação não é doado, imposto ou depositado, mas sim “a
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que
este lhe entregou de forma desestruturada” (Freire, 2011, p. 116).
Na terceira parte são abordados as relações homens-mundo, os temas geradores
e o conteúdo programático da educação libertadora. Uma questão crucial a ser
evidenciada é que o conteúdo programático da educação ou da ação política deve partir
da situação concreta das aspirações do povo de forma problematizante e desafiadora na
busca de resposta teórica e prática: “Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhe
conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, com suas dúvidas, com
suas esperanças, com seus temores” (Freire, 2011, p. 120).
Assim, a escolha do conteúdo programático não pode ser feita somente pelos
políticos e educadores, mas também pelo povo e a partir da realidade mediatizadora e da
consciência que se tem dela. É a partir desse exercício democrático que se descobre o
universo temático com seus temas geradores: “O momento deste buscar é o que
inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É o momento em que se
realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto de
seus temas geradores” (Freire, 2011, p. 121).
Só é possível compreender a existência e o significado de universo temático a
partir da condição histórica do homem que, diversamente do animal, tem consciência
165
das coisas e de si, transforma a natureza pelo trabalho e cria ideias e instituições sociais.
O conjunto dessas atividades históricas dos homens e seus resultados constituem o que
Freire chama de temas da época que, por sua vez, são constitutivos do universo
temático. Podemos ver essa explicação nas palavras de Freire:
Estes [os temas da época], não somente implicam outros que são seus
contrários, às vezes antagônicos, mas também indicam tarefas a serem
realizadas e cumpridas. Desta forma, não há como surpreender os
temas históricos isolados, soltos, desconectados, coisificados, parados,
mas em relação dialética com outros, seus opostos. Como também
não há outro lugar para encontra-los que não seja nas relações
homens-mundo. O conjunto dos temas em interação constitui o
‘universo temático’ da época (Freire, 2011, p. 129).
Diante desse universo de temas contraditoriamente dialéticos, expressões da
realidade, os homens conduzem suas práticas também contraditoriamente dialéticas, às
vezes transformadoras, às vezes conservadoras. Os temas constitutivos desse universo
temático podem ser chamados de temas geradores porque “contêm em si a
possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez, provocam novas
tarefas que devem ser cumpridas” (Freire, 2011, p. 130).
Podem-se localizar os temas geradores em círculos concêntricos, que partem do
mais geral ao mais particular, do geral ao particular, em conjuntos de unidades e
subunidades. Mas, segundo Freire, o tema fundamental de uma unidade mais ampla da
nossa época é a libertação, que traz implícita o contrário da dominação. Assim,
É este tema angustiante que vem dando à nossa época o caráter
antropológico [...]. para alcançar a meta da humanização, que não se
consegue sem o desaparecimento da opressão desumanizante, é
imprescindível a superação das ‘situações-limite’ em que os homens
se acham quase coisificados (Freire, 2011, p. 131).
Nesse contexto, Freire salienta que a “situação-limite” do subdesenvolvimento e
da dependência caracteriza o Terceiro Mundo. Sendo assim, a tarefa principal sugerida
por este universo temático e pelo tema gerador é a superação dessa desumanidade e
exploração.
Tendo localizado o tema gerador e definido o que ele é, Freire segue na quarta
parte investigando os temas geradores e sua metodologia de forma mais específica.
Então, explica que a consciência dominada tem dificuldade de apreender a “situaçãolimite” em sua globalidade, ficando somente na captura de suas manifestações
periféricas e confundindo o que é principal por secundário:
166
A questão fundamental, neste caso, está em que, faltando aos homens
uma compreensão crítica da totalidade em que estão, captando-a em
pedaços nos quais não reconhecem a interação constituinte da mesma
totalidade, não podem conhecê-la. E não podem porque, para conhecêla, seria necessário partir do ponto inverso. Isto é, lhes seria
indispensável ter antes a visão totalizada do contexto para, em
seguida, separarem ou isolarem os elementos ou as parcialidades do
contexto, através de cuja cisão voltariam com mais claridade à
totalidade analisada (Freire, 2011, p. 133).
Esta é, portanto, a metodologia da investigação temática conscientizadora que
norteia a educação problematizadora. Trata-se de descodificar uma realidade codificada,
em um movimento que conduz do abstrato ao concreto. A análise crítica e a
consequente compreensão da realidade advinda daí possibilita uma postura crítica diante
das “situações-limite”. Os homens são levados a perceber que eles, o mundo e a
compreensão do mundo formam um todo que pode ser transformado rumo à liberdade e
à humanização. Assim, diz Freire, “investigar o tema gerador é investigar [...] o pensar
dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua
práxis” (Freire, 2011, p. 136).
A quinta e última parte do terceiro capítulo reflete sobre a significação
conscientizadora da investigação dos temas geradores e seus vários momentos
constitutivos. Serão ressaltados aqui alguns aspectos centrais dessa reflexão freiriana.
Além de ser importante seguir o movimento do abstrato ao concreto no
desvelamento a realidade, enfatizado anteriormente, é necessário ter atenção para que
não se caia no erro de “elaborar roteiros de pesquisa do universo temático a partir de
pontos prefixados pelos investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos
da investigação” (Freire, 2011, p. 139). É imprescindível que investigadores
profissionais e povo sejam sujeitos deste processo, pois a investigação temática implica
na própria investigação da forma de pensar do povo e “educação e investigação
temática, na concepção problematizadora da educação, se tornam momentos de um
mesmo processo” (Freire, 2011, p. 142), bem como, a tarefa do educador dialógico é
problematizar as questões do universo temático e não dissertar ou narrar como o faz a
educação bancária.
Freire finaliza o capítulo fazendo uma longa reflexão e sugestões para um
exemplo prático de coordenar um plano de educação para adultos em uma área
camponesa com um alto índice de analfabetismo.
167
O quarto e último capítulo, A teoria da ação antidialógica, se compõe somente
de duas partes, antecedidas de uma pequena introdução mais geral. A introdução
estabelece, inicialmente, que o objetivo é analisar as teorias da ação cultural que se
desenvolvem a partir da matriz antidialógica e da dialógica para depois se deter
longamente em torno de uma reflexão sobre a necessidade da liderança revolucionária
se pautar na dialogicidade, pois uma liderança revolucionária “que não seja dialógica
com as massas, ou mantém a ‘sombra’ do dominador ‘dentro’ de si e não é
revolucionária, ou está redondamente equivocada e, presa de uma sectarização
indiscutivelmente mórbida, também não é revolucionária” (freire, 2011, p. 170). A
liderança revolucionária não pode repetir os procedimentos da elite opressora, por isso
urge ser dialógica.
A primeira parte do último capítulo do Pedagogia do oprimido investiga a teoria
da ação antidialógica e suas características que são: a conquista, o ato de dividir para
oprimir, a manipulação e a invasão cultural.
A conquista é uma ação antidialógica movida por um sujeito que conquista um
objeto conquistado, determinando suas finalidades a esse objeto que passa a ser
simplesmente um objeto possuído pelo conquistador. Freire (2011, p. 186) define a
conquista como algo reificante, necrófilo e mitificador, pois torna os homens coisas,
lhes tira vida e sua capacidade de crítica.
Desta feita, a antidialogicidade da conquista não se baseia na “comunicação” e
sim nos “comunicados” que, por sua vez, se sustentam na criação de mitos (todos são
livres, todos podem ficar ricos trabalhando, direito de todos à educação, igualdade de
classes, heroísmo, bondade e caridade das classes opressoras, rebelião da classe
trabalhadora ser pecado contra Deus, propriedade privada, operosidade dos opressores,
inferioridade ontológica dos oprimidos) que são introjetados pela massa oprimida como
se fossem verdades, resultando no fortalecimento da opressão.
Na verdade, o ato de dividir para oprimir, a manipulação e a invasão cultural são
instrumentos de efetivação e perpetuação da conquista. O ato de dividir para oprimir
implica na fragilização da massa que se torna, assim, vulnerável à conquista: “O que
interessa ao poder opressor é enfraquecer os oprimidos mais do que já estão, ilhando-os,
criando e aprofundando cisões entre eles, através de uma gama variada de métodos e
processos” (Freire, 2011, p. 190).
168
A manipulação, por sua vez, é utilizada pelas elites dominadoras para
conformar as massas populares a seus objetivos e é realizada de forma satisfatória
através da criação de mitos. Assim, “quanto mais imaturas, politicamente, estejam [as
massas] (rurais ou urbanas), tanto mais facilmente se deixam manipular pelas elites
dominadoras que não podem querer que se esgote seu poder” (Freire, 2011, p. 198). O
antídoto da manipulação, segundo Freire (2011, p. 200), seria a organização
criticamente consciente que poderia evitar a anestesia das massas que lhes impossibilita
de pensar.
Já a invasão cultural, como característica da ação antidialógica e instrumento da
conquista, “é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos,
impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem
sua expansão” (Freire, 2011, p. 205). Assim, a invasão cultural é alienante e violenta
com a cultura invadida que perde sua originalidade, ou se acha na iminência de perder.
Os invasores culturais são atores e sujeitos do processo, e os invadidos sofrem
simplesmente a ação e se tornam seus objetos.
A segunda parte do quarto capítulo trata da teoria da ação dialógica e suas
características, que são: a co-laboração, a união, a organização e a síntese cultural. A colaboração implica, na teoria dialógica da ação, no encontro dos sujeitos para a
transformação do mundo tendo a frente um sujeito dialógico:
O eu dialógico [...] sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe
também que, constituído por um tu – um não eu –, esse tu que o
constitui se constitui, por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu.
Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética destas relações
constitutivas, dois tu que se fazem dois eu (Freire, 2011, p. 227).
Na teoria da ação dialógica é necessário unir para libertar. Os líderes
revolucionários devem se unir à massa e a massa deve ser unida entre si, no âmbito da
práxis. Um dos passos mais importantes para que a união se realize autenticamente é a
desmistificação da falsa unidade manipulada e imposta pela ação antidialógica. Outro
passo fundamental é a existência de “uma forma de ação cultural através da qual
conheçam o porquê e o como de sua ‘aderência’ à realidade que lhes dá um
conhecimento falso de si mesmos e dela. É necessário desideologizar” (Freire, 2011, p.
237).
Por um lado, se a teoria da ação dialógica necessita da união dos oprimidos para
a realização da liberdade, por outro a organização das massas populares é
169
imprescindível para essa união: “[...] ao buscar a unidade, a liderança já busca,
igualmente, a organização das massas populares, o que implica o testemunho que deve
dar a elas de que o esforço de libertação é uma tarefa comum a ambas” (Freire, 2011, p.
240).
Segundo Freire, o testemunho da liderança revolucionária é fundamental na
organização das massas, pois “este testemunho constante, humilde e corajoso do
exercício de uma tarefa comum – a da libertação dos homens – evita o risco dos
dirigismos antidialógicos” (Freire, 2011, p. 240). Para tanto, o testemunho da liderança
deve ser ousado, radical, amoroso, autêntico e crítico, posto que a liderança deve
comandar com as massas e não para as massas, sua autoridade não pode ser autoritária
(Cf. Freire, 2011, p. 241 a 245).
A ação cultural é sempre uma forma de intervenção sobre uma estrutura social,
ou para conservá-la ou para transformá-la. A invasão cultural, como visto, não se baseia
no diálogo e não busca a libertação dos homens. A síntese cultural, ao contrário, é uma
ação cultural baseada no diálogo e busca “superar as contradições antagônicas de que
resulte a libertação dos homens” (Freire, 2011, p. 246).
Na síntese cultural, os atores vêm conhecer com o povo e não ensinar, transmitir,
entregar ou depositar. Ou seja, “na síntese cultural, os atores se integram com os
homens do povo, atores, também, da ação que ambos exercem sobre o mundo”, “como
ação histórica, se apresenta como instrumento de superação da própria cultura alienada
e alienante” (Freire, 2011, p. 247).
4. Dermeval Saviani e Filosofia da Educação: os condicionamentos sociais da
educação
Como foi exposto no primeiro capítulo deste trabalho, o final dos anos 1970, no
Brasil, foi marcado por vários fatores que consolidaram o longo processo de
redemocratização do Brasil. Foi nesse ambiente político que o pensamento marxista no
Brasil, no campo da educação, teve uma enorme agitação, com Saviani na liderança
desse movimento. Conforme recordação de Saviani: “No plano político nacional,
havíamos conquistado a anistia, as eleições diretas para governadores dos estados e
estávamos às vésperas da campanha das Diretas Já para a presidência da República e do
fim formal da ditadura militar” (2009, p. XI).
170
Lançando mão do ideário marxista, Saviani concluiu que as pedagogias liberais
não-críticas e as teorias crítico-reprodutivistas estavam distantes de uma educação
democrática, sendo necessário recorrer à categoria de luta de classes para uma
compreensão efetiva dos fenômenos educacionais, pois a luta de classes existia também
na escola.
Para Saviani o trabalho do magistério e a escola deveriam ser compreendidos no
campo das batalhas político-pedagógicas visando à socialização da cultura burguesa
através da escola, elemento fundamental nessa transmissão. Inicialmente, Saviani
chamou essa proposta de pedagogia revolucionária, pedagogia dialética e depois a
denominou de pedagogia histórico-crítica, tal como apresentada em suas linhas básicas
no capítulo III – “Escola e democracia II: para além da teoria da curvatura da vara” – do
livro Escola e democracia, tendo suas reflexões sido aprofundadas posteriormente no
livro Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.
A origem da pedagogia histórico-crítica é do ano de 1979 (Saviani, 2011, p.
IX), mas somente a partir de 1984 é que Saviani, de fato, denominou essa pedagogia de
histórico-crítica (Saviani, 2011, p. 1). O seu surgimento aconteceu
Como uma resposta à necessidade amplamente sentida entre os
educadores brasileiros de superação dos limites tanto das pedagogias
não críticas, representadas pelas concepções tradicional, escolanovista
e tecnicista, como das visões crítico-reprodutivistas, expressas na
teoria da escola como aparelho ideológico de Estado, na teoria da
reprodução e na teoria da escola dualista (Saviani, 2011, p. XV-XVI).
O contexto histórico da pedagogia histórico-crítica foi o período militar
brasileiro, de 1964 a 1984, no qual o governo implantava reformas do ensino e os
educadores progressistas desenvolviam críticas a essas reformas, apoiados nas
formulações das teorias crítico-reprodutivistas. Teorias essas muito limitadas por não
serem propositivas e se apegarem ao âmbito reprodutivista da educação, apesar de
fazerem a sua crítica, mas uma crítica somente contestadora, segundo Saviani. No final
dos anos de 1970 e começo dos anos 1980, surge uma tendência para substituir o caráter
de contestação da crítica por um caráter de superação, em virtude dos altos índices de
desigualdade que marcavam o Brasil, inclusive no campo educacional:
É nesse contexto que emerge a pedagogia histórico-crítica como uma
teoria que procura compreender os limites da educação vigente e, ao
mesmo tempo, superá-los por meio da formulação dos princípios,
métodos e procedimentos práticos ligados tanto à organização do
sistema de ensino quanto ao desenvolvimento dos processos
171
pedagógicos que põem em movimento a relação professor-alunos no
interior das escolas (Saviani, 2011, p. 101).
A crítica vinda da visão crítico-reprodutivista foi, então, substituída pela
compreensão de que a questão educacional deveria ser pensada a partir dos
condicionantes sociais, por uma análise crítica consciente da determinação exercida pela
sociedade sobre a educação. Surge, assim, a pedagogia histórico-crítica, que se firmava
como uma análise crítico-dialética e não crítico-mecanicista (Cf. Saviani, 2011, p. 79).
Ignorava-se a reciprocidade das determinações, ou seja, que “a educação é, sim,
determinada pela sociedade, mas que essa determinação é relativa e na forma da ação
recíproca – o que significa que o determinado também reage sobre o determinante.
Consequentemente a educação também interfere sobre a sociedade” (Saviani, 2011, p.
80).
Dessa forma, Saviani propôs “a passagem da visão crítico-mecanicista, crítico-ahistórica para uma visão crítico-dialética, portanto histórico-crítica, da educação”,
traduzida na expressão pedagogia histórico-crítica. Essa proposta compreende a
educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo e tem um projeto pedagógico
compromissado com a transformação da sociedade e não com a sua manutenção:
Esse é o sentido básico da expressão pedagogia histórico-crítica. Seus
pressupostos, portanto, são os da concepção dialética da história. Isso
envolve a possibilidade de se compreender a educação escolar tal
como ela se manifesta no presente, mas entendida essa manifestação
presente como resultado de um longo processo de transformação
histórica (Saviani, 2011, p. 80).
E a marca distintiva da pedagogia histórico-crítica é “explicitar as relações entre
a educação e seus condicionamentos sociais, evidenciando a determinação recíproca
entre a prática social e a prática educativa, entendida, ela própria, como uma
modalidade específica da prática social” (Saviani, 2011, p. XVI). Na época, essa marca
foi fundamental, pois ao longo da década de 1980, os debates teóricos que expressavam
a hegemonia do pensamento progressista de esquerda não chegavam à prática educativa.
Além disso, estes debates teóricos marxistas se transformaram em modismo, levando a
adesões acríticas, e até mesmo sectárias, no campo da teoria educacional. A luta de
Saviani contra esse modismo acarretou a própria expressão de sua pedagogia:
Situei-me, pois, explicitamente no terreno do materialismo histórico,
afirmando-o como base teórica de minha concepção educacional
contra as interpretações reducionistas e dogmáticas que a moda
172
estimulava.[...]. A própria expressão pedagogia histórico-crítica
insere-se no referido clima, já que foi uma forma de evitar a adesão
fácil e ambígua que a noção de “concepção dialética” ensejava
(Saviani, 2011, p. XIX).
A pedagogia histórico-crítica, afirma Saviani, tem sua fundamentação
filosófica, histórica, econômica e político-social no materialismo histórico de Marx,
buscando compreender a educação a partir das condições históricas de produção da
existência humana que resultaram na forma da sociedade atual dominada pelo capital:
Quanto às bases teóricas da pedagogia histórico-crítica, é óbvio que a
contribuição de Marx é fundamental. Quando se pensam os
fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, está a questão da
dialética, essa relação do movimento e das transformações; e, de
outro, que não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre
conceitos, mas de uma dialética do movimento real. Portanto, trata-se
de uma dialética histórica expressa no materialismo histórico, que é
justamente a concepção que procura compreender e explicar o todo
desse processo, abrangendo desde a forma como são produzidas as
relações sociais e suas condições de existência até a inserção da
educação nesse processo (Saviani, 2011, p. 120).
Apoiando-se em Sánchez Vazquez, Saviani elabora o significado da práxis como
um conceito sintético que articula a teoria e a prática, ou seja, a prática fundamentada
teoricamente, pois “se a teoria desvinculada da prática se configura como contemplação,
a prática desvinculada da teoria é puro espontaneísmo. É o fazer por fazer” (Saviani,
2011, p. 120). Assim, nem o idealismo, primado da teoria sobre a prática, nem o
pragmatismo, primado da prática sobre a teoria, e sim a práxis, conforme Saviani
(2011).
Gramsci é outro filósofo ao qual Saviani recorre para sustentar a defesa da práxis
como interação entre teoria e prática:
Já a filosofia da práxis, tal como Gramsci chamava o marxismo, é
justamente a teoria que está empenhada em articular a teoria e a
prática, unificando-as na práxis. É um movimento prioritariamente
prático, mas que se fundamenta teoricamente, alimenta-se da teoria
para esclarecer o sentido, para dar direção à prática. Então, a prática
tem primado sobre a teoria, na medida em que é originante. A teoria é
derivada. Isso significa que a prática é, ao mesmo tempo, fundamento,
critério de verdade e finalidade da teoria. A prática, para desenvolverse e produzir suas consequências, necessita da teoria e precisa ser por
ela iluminada (Saviani, 2011, p. 120).
Além do materialismo histórico marxiano, a pedagogia histórico-crítica tem
fontes teóricas que remetem a outros clássicos, inclusive porque Marx não trabalhou
173
diretamente as questões pedagógicas. Assim, “somente será possível formular algo
consistente na relação e com a presença dos clássicos. Não somente com os clássicos da
cultura, de modo geral, e da filosofia, em particular, mas também da pedagogia”.
(Saviani, 2011, p. 124).
Para Saviani, é necessário compreender o processo de
formação das pedagogias e suas correntes, incluindo os brasileiros, que os alunos tem
deixado de lado desde os anos 1970, tais como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho,
Anísio Teixeira, Paulo Freire (Cf. Saviani, 2011, p. 125).
Saviani ressalta, ainda, como fontes específicas da pedagogia histórico-crítica,
os seguintes autores que procuraram abordar os problemas pedagógicos a partir das
matrizes teóricas do materialismo histórico, representadas basicamente, por Marx e
Gramsci: Bogdan Suchodolski; Mario Alighiero Manacorda; e Georges Snyders. Além
desses autores, situados mais propriamente no âmbito da filosofia da educação, Saviani
faz referência a nomes no campo da psicopedagogia, como os integrantes da Escola de
Vigotsky, e da pedagogia, como Pistrak, Makarenko, e os intérpretes das ideias
pedagógicas de Gramsci como Manacorda, Brocoli, Betti e Ragazzini (Cf. Saviani,
2011, p. 125).
A pedagogia histórico-crítica busca compreender a questão educacional com
base no desenvolvimento histórico objetivo, pressupondo, assim, o materialismo
histórico, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da
determinação das condições materiais da existência humana (Cf. Saviani, 2011, p. 88).
Nesse universo social, “a prática é o fundamento, o critério de verdade e a finalidade da
teoria, uma vez que são as condições materiais que determinam a consciência e não o
contrário” (Saviani, 2011, p. 103).
A expressão histórico-crítica traduzia esse enraizamento histórico, ao contrário
das teorias crítico-reprodutivistas que não apreendiam o movimento histórico que se
desenvolve dialeticamente em suas contradições. O compromisso histórico da época era
dar conta desse movimento e ver como a pedagogia se inseria no processo da sociedade
e de suas transformações. Por isso, a expressão histórico-crítica contrapunha-se a
expressão crítico-reprodutivista e a suas ideias, e também o porquê da escolha da
denominação (Cf. Saviani, 2011, p. 119).
Outro elemento central que deve ser destacado na pedagogia histórico-crítica é
sua concepção sobre a educação escolar como componente fundamental no processo
educativo. Para a pedagogia histórico-crítica “o trabalho educativo é o ato de produzir,
174
direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida
histórica e coletivamente pelo conjunto de homens” (Saviani, 2011, p. 13). E a escola
existe para “propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber
elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (Saviani,
2011, p. 14). Assim, o objetivo final da escola é a transmissão-assimilação do saber
sistematizado pela humanidade e que foi produzido coletivamente (Cf. Saviani, 2011, p.
17).
A educação, incluindo conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes,
hábitos, símbolos etc., constitui uma atividade imprescindível para a formação da
humanidade e que se exerce a partir de cada indivíduo singular, como uma segunda
natureza, produzida intencionalmente através de relações pedagógicas historicamente
determinadas entre os homens (Cf. Saviani, 2011, p. 20). Dessa forma, “o problema da
pedagogia é justamente permitir que as novas gerações se apropriem, sem necessidade
de refazer o processo, do patrimônio da humanidade, isto é, daqueles elementos que a
humanidade já produziu e elaborou” (Saviani, 2011, p. 68).
Nessas bases históricas, a pedagogia histórico-crítica se empenha na defesa da
especificidade da escola. Conforme Saviani, a escola exerce uma função
especificamente educativa, pedagógica, ligada à questão do conhecimento. Por isso, é
preciso “resgatar a importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando
em conta o problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade
da educação escolar” (Saviani, 2011, p. 84).
É preciso, então, observar que a tendência a secundarizar a escola expressa a
própria contradição da sociedade de classes constituída de interesses opostos, na qual a
instrução generalizada da população contraria esses interesses de classes. Segundo a
pedagogia histórico-crítica, que faz a ferrenha defesa da escola, essa tentativa de
desvalorização da escola objetiva diminuir o seu impacto na transformação da sociedade
(Cf. Saviani, 2011, p. 84). Assim, “não é possível compreender a educação sem a
escola, porque a escola é a forma dominante e principal de educação” (Saviani, 2011, p.
88). Para Saviani, só é possível compreender as diferentes modalidades de educação a
partir da compreensão da escola, mas é possível compreender a escola
independentemente das demais modalidades de educação (Cf. Saviani, 2011, p. 88).
175
Assim, para a pedagogia histórico-crítica, a questão escolar, a defesa da
especificidade da escola e a importância do trabalho escolar são elementos necessários
ao desenvolvimento cultural que constituem o desenvolvimento humano em geral:
A escola é, pois, compreendida com base no desenvolvimento
histórico da sociedade; assim compreendida, torna-se possível a sua
articulação com a superação da sociedade vigente em direção a uma
sociedade sem classes, a uma sociedade socialista. É dessa forma que
se articula a concepção política socialista com a concepção
pedagógica histórico-crítica, ambas fundadas no mesmo conceito geral
de realidade, que envolve a compreensão da realidade humana como
sendo construída pelos próprios homens, a partir do processo de
trabalho, ou seja, da produção das condições materiais ao longo do
tempo (Saviani, 2011, p. 88).
Dessa forma, a opção política assumida pela pedagogia histórico-crítica é que a
questão educacional é sempre referida ao problema do desenvolvimento social e das
classes sociais e, nesse âmbito, ela assume a defesa dos interesses populares na
educação visando à transformação da sociedade. Por isso, “a proposta de socialização
do saber elaborado é a tradução pedagógica do princípio mais geral da socialização dos
meios de produção. Ou seja, do ponto de vista pedagógico, também se trata de socializar
o saber elaborado, pois este é um meio de produção” (Saviani, 2011, p. 72).
Saviani pondera que toda essa questão dos fundamentos filosóficos remetem à
questão do método. Para tanto, o autor afirma se apoiar em um texto que lhe é basilar, o
“Método da economia política”, parte do livro Contribuição à crítica da economia
política, de Marx: “Nele explicita-se o movimento do conhecimento como a passagem
do empírico ao concreto, pela mediação do abstrato. Ou a passagem da síncrese à
síntese, pela mediação da análise. Procurei, de algum modo, compreender o método
pedagógico com base nesses pressupostos” (Saviani, 2011, p. 120).
4.1. Escola e democracia
Segundo Saviani (2011), o livro Escola e democracia pode ser considerado uma
introdução preliminar à pedagogia histórico-crítica. Mas, inicialmente, ele foi fruto da
organização, em um só volume, de vários artigos que giravam em torno de temáticas
afins. Textos que, por sua vez, foram material de artigos publicados em diversas
revistas38. No prefácio à 36ª edição, Saviani define o livro da seguinte forma:
38
Saviani, no prefácio à 34ª edição de Escola e democracia, se refere da seguinte forma à publicação
dessa obra: “Com efeito, embora a publicação do livro date de setembro de 1983, o primeiro capítulo foi
176
Escola e democracia inseriu-se no debate pelo seu conteúdo polêmico
e, além da denúncia das nossas mazelas educacionais, trouxe também
não apenas o anúncio de novas perspectivas, mas contribuiu
igualmente para uma melhor compreensão das questões pedagógicas,
propiciando aos leitores uma sistematização sucinta das principais
teorias educacionais (Saviani, 2009, p. XI).
O primeiro capítulo, As teorias da educação e o problema da marginalidade,
apresenta uma síntese das principais teorias não críticas: pedagogia tradicional,
pedagogia nova e pedagogia tecnicista; bem como das teorias crítico-reprodutivistas:
teoria da escola enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho
ideológico de Estado e teoria da escola dualista. A análise dessas teorias aponta para a
necessidade de sua superação, o que já é anunciado no item “Para uma teoria crítica da
educação”, o último desse capítulo (Cf. Saviani, 2011, p. 5).
O segundo capítulo, Escola e democracia I – A teoria da curvatura da vara,
leva adiante o caminho de aproximação da pedagogia histórico-crítica através de uma
apreciação radical da pedagogia liberal burguesa e denuncia a escola nova e sua
pedagogia burguesa de inspiração liberal para melhor demarcar a pedagogia socialista
de inspiração marxista (Cf. Saviani, 2011, p. 5).
O terceiro capítulo de Escola e democracia, Escola e democracia II – Para
além da curvatura da vara, é um esboço de formulação da pedagogia histórico-crítica.
Contrapõe-se às pedagogias tradicional e nova, expõe os pressupostos filosóficos, a
proposta pedagógico-metodológica e o significado político da pedagogia históricocrítica (Cf. Saviani, 2011, p. 6).
Por fim, o quarto capítulo, Onze teses sobre educação e política, caracteriza a
especificidade da prática educativa no confronto com a prática política. Aí se encontra
afirmada a sua tese central: a especificidade da educação está no desenvolvimento do
fenômeno educativo escolar (Cf. Saviani, 2011, p. 6). A seguir, passemos em revista
cada um desses capítulos.
escrito e publicado originalmente em 1982 como artigo no número 42 de Cadernos de Pesquisa, revista de
estudo e pesquisas em educação da Fundação Carlos Chagas. O segundo capítulo resultou da exposição
oral ocorrida no simpósio ‘Abordagem política do funcionamento interno da escola de 1º grau’ que
integrou a programação da I Conferência Brasileira de Educação, realizada em São Paulo, de 31 de março
a 3 de abril de 1980. A referida exposição, uma vez transcrita, foi publicada como artigo no número 1 de
ANDE, Revista da Associação Nacional de Educação, em 1981. O terceiro capítulo foi escrito e publicado
em 1982, no número 3, também da revista da ANDE. Finalmente, o quarto capítulo foi escrito em 1983
especialmente para integrar o presente livro. Portanto, o conteúdo desta obra foi produzido e divulgado
entre 1980 e 1983” (Saviani, 2009, p. XVII).
177
No primeiro capítulo, As teorias da educação e o problema da marginalidade,
Saviani inicia delimitando o problema a ser tematizado pelas teorias da educação: o
problema da marginalidade relativamente ao fenômeno educativo como, por exemplo, o
analfabetismo, semianalfabetismo e o contingente de criança em idade escolar fora da
escola, objetivando explicar como as teorias educacionais se posicionam diante dessa
situação de marginalidade escolar (Cf. Saviani, 2009, p. 3).
Para o autor, existiria dois grupos com explicações e posições diversas. O
primeiro grupo abrange “aquelas teorias que entendem ser a educação um instrumento
de equalização social, portanto, de superação da marginalidade” (Saviani, 2009, p. 3).
Essa compreensão da marginalidade escolar, segundo Saviani, reflete a compreensão de
cada teoria, relativamente ao entendimento das relações entre educação e sociedade.
Sendo assim, o primeiro grupo de teorias percebe a sociedade como sendo harmoniosa,
e tendente à integração dos seus membros. Dessa forma, a marginalidade é acidental,
um desvio que pode e deve ser corrigido pela própria educação, que é um instrumento
de correção dessas distorções. A educação, então, é uma força homogeneizadora que
reforça os laços sociais, promove e garante a integração de todos os indivíduos no corpo
social. Ou seja, ela ajuda a superar a marginalidade escolar (Cf. Saviani, 2009, p. 4). A
esse primeiro grupo Saviani denomina de “teorias não-críticas”, pois “encaram a
educação como autônoma e buscam compreendê-la a partir dela mesmo” (Saviani,
2009, p. 5), desconhecendo seus condicionantes sociais.
No segundo grupo “estão as teorias que entendem ser a educação um
instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização” (Cf. Saviani,
2009, p. 3). Essa compreensão da educação também reflete uma dada percepção entre
educação e sociedade que, nesse caso, compreende a divisão antagônica de classes
sociais que constitui a sociedade e as suas condições correspondentes da produção da
vida material. A marginalidade, portanto, é um fenômeno da própria estrutura social:
“Isso porque o grupo ou classes que detém maior força se converte em dominante se
apropriando dos resultados da produção social, tendendo, em consequência, a relegar os
demais à condição de marginalizados” (Saviani, 2009, p. 4). A educação, por sua vez,
sendo dependente da estrutura social que gera a marginalidade, reforça a
marginalização. Ao invés de ser um instrumento de superação, reforça a marginalidade
social e cultural, inclusive a escolar (Saviani, 2009, p. 4). As teorias desse segundo
grupo são reconhecidas por Saviani como sendo críticas, pois reconhecem na educação
178
seus condicionantes sociais, mas também são reprodutivistas, por compreenderem a
educação somente como um elemento de reprodução social. Assim, são tidas como
“crítico-reprodutivistas” (Cf. Saviani, 2009, p. 5).
Para Saviani, as principais teorias não críticas são: pedagogia tradicional,
pedagogia nova e pedagogia tecnicista. A pedagogia tradicional é fruto da burguesia
ascendente que, em busca da consolidação da democracia burguesa e do combate à
opressão do Antigo Regime, acredita ser necessário vencer a ignorância dos súditos para
transformá-los em cidadãos esclarecidos e ilustrados, através do ensino. Por isso, para
essa teoria da educação, a marginalidade é sinônimo de ignorância:
Nesse quadro, a causa da marginalidade é identificada com a
ignorância. É marginalizado da nova sociedade quem não é
esclarecido. A escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um
instrumento para equacionar o problema da marginalidade. Seu papel
é difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela
humanidade e sistematizados logicamente (Saviani, 2009, p. 5).
A pedagogia tradicional tem sua centralidade na figura do professor e no
ambiente escolar, os quais representavam a grande esperança do progresso do
conhecimento. Contudo, a não universalização do ensino proposta pela escola
tradicional trouxe uma grande decepção a toda a sociedade, juntamente com as críticas à
sua proposta (Cf. Saviani, 2009, p. 6).
A pedagogia nova, por sua vez, é uma teoria da educação oriunda das críticas
feitas à pedagogia tradicional no final do século XIX. Ela conserva a convicção de que a
escola corrige as desigualdades sociais, bem como a distorção expressa no fenômeno da
marginalidade: “Se a escola não vinha cumprindo essa função, tal fato devia-se a que o
tipo de escola implantado – a Escola Tradicional – se revelara inadequado. Toma corpo,
então, um amplo movimento de reforma, cuja expressão mais típica ficou conhecida
pelo nome de ‘escolanovismo’” (Saviani, 2009, p. 6).
Nessa nova teoria da educação, a marginalidade já não significa ignorância ou
falta de conhecimento e sim rejeição: “O marginalizado já não é, propriamente, o
ignorante, mas o rejeitado. Alguém está integrado não quando é ilustrado. Mas quando
se sente aceito pelo grupo e, por meio dele, pela sociedade em seu conjunto” (Saviani,
2009, p. 7). Essa rejeição, em que se centrou inicialmente a escola nova, era referente às
“anormalidades” psico e biológicas (Decroly, Montessori, etc.), mas ao longo do tempo
se fixou nas diferenças individuais (Cf. Saviani, 2009, p. 7).
179
Dessa forma, a educação promoverá a harmonia social ao corrigir a
marginalidade através da adaptação dos indivíduos “diferentes” à sociedade, ou seja,
“incutindo neles o sentimento de aceitação dos demais e pelos demais” (Saviani, 2009,
p. 8). Assim,
Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, por
referência à pedagogia tradicional, tenha deslocado o eixo da questão
pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o
psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse;
da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o nãodiretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de
inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia
de inspiração experimental baseada principalmente nas contribuições
da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria
pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas
aprender a aprender (Saviani, 2009, p. 8).
Contudo, a proposta da escola nova não conseguiu modificar de forma
significativa o sistema educacional, inclusive pelo seu alto custo. Em virtude disso, a
escola nova resultou na formação de núcleos experimentais de acesso restrito somente a
pequenos grupos de elite. Contudo, o ideário escolanovista se disseminou entre os
educadores, modificando suas mentalidades muito próximas, ainda, às ideias da escola
tradicional. Conforme Saviani, essas ideias não foram de todo benéficas, pois acabaram
por favorecer aos interesses dominantes e por rebaixar o nível do ensino das camadas
populares, pois eram: afrouxamento da disciplina; despreocupação com a transmissão
de conhecimentos; deslocamento educacional do eixo político para o técnicopedagógico; valorização do interior da escola no lugar da exterioridade da sociedade.
Assim, em vista de todo esse complexo teórico-prático, Saviani é enfático ao afirmar
que “em lugar de resolver o problema da marginalidade, a ‘Escola Nova’ o agravou”
(Cf. Saviani, 2009, p. 9).
Como resultado da desilusão com a escola nova e a frustração de seus
resultados, surge a pedagogia tecnicista, uma nova teoria educacional. Por um lado,
havia a tentativa de desenvolver uma “Escola Nova Popular”, representada pelas
propostas pedagógicas de Freinet e Paulo Freire, por outro lado, surgia a pedagogia
tecnicista, fruto da preocupação excessiva com os métodos pedagógicos presentes na
escola nova, que findou por resultar na centralidade da eficiência instrumental (Cf.
Saviani, 2009, p. 10): “A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos
princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a
180
reordenação do processo educativo de maneira a torna-lo objetivo e operacional”
(Saviani, 2009, p. 11).
A pedagogia tecnicista foi pensada de modo a planejar a educação a partir de
uma organização racional, minimizando ao máximo as interferências subjetivas que
colocassem em risco a eficiência da operação educativa. Por isso, passou-se a falar em
operacionalização do sistema; mecanização do processo; enfoque sistêmico;
microensino; telensino; instrução programada; máquinas de ensinar; formulários; etc.:
Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor – que era,
ao mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e
decisório – e se na pedagogia nova a iniciativa se desloca para o aluno
– situando-se o nervo da ação educativa na relação professor-aluno,
portanto, relação interpessoal, intersubjetiva –, na pedagogia
tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos
meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados
que são à condição de executores de um processo cuja concepção,
planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas
supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A
organização do processo converte-se na garantia da eficiência,
compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando
os efeitos de sua intervenção (Saviani, 2009, p. 11-12).
Assim, então, para a pedagogia tecnicista a marginalidade não é a ignorância
nem o sentimento de rejeição. Aqui, o marginalizado é o incompetentemente técnico, o
ineficiente e improdutivo. A educação ajudará a superar a marginalidade formando
indivíduos eficientes para o aumento da produtividade social. Dessa forma, corrigir as
deficiências da sociedade é equilibrar o sistema, formando tecnicamente os indivíduos
para que não haja improdutividade e ameaças à estabilidade do sistema (Cf. Saviani,
2009, p. 12).
Portanto, “a educação será concebida, pois, como um subsistema, cujo
funcionamento eficaz é essencial ao equilíbrio do sistema social de que faz parte”
(Saviani, 2009, p. 13). Conforme Saviani, essa eficiência operacional em que se pauta a
escola tecnicista se sustenta teoricamente nos seguintes conhecimentos: psicologia
behaviorista;
engenharia comportamental;
ergonomia;
informática;
cibernética;
filosoficamente ela se apoia no neopositivismo e no método funcionalista. Já
pedagogicamente falando, afirma o autor: “se para a pedagogia tradicional a questão é
aprender e para a pedagogia nova, aprender a aprender, para a pedagogia tecnicista o
que importa é aprender a fazer” (Saviani, 2009, p. 13). Assim, com essa burocratização
e tecnização da educação, a pedagogia tecnicista só conseguiu agravar ainda mais o
181
problema da marginalidade escolar: “o conteúdo do ensino tornou-se rarefeito e a
relativa ampliação das vagas tornou-se irrelevante em face dos altos índices de evasão e
repetência” (Saviani, 2009, p. 14).
Contudo, por um lado, podemos chamar a esse primeiro grupo de “teorias nãocríticas”, por conceberem a marginalidade escolar como um desvio a ser corrigido pela
educação e por desconhecerem as determinações sociais do fenômeno educativo. Por
outro lado, as teorias do segundo grupo são críticas, pois compreendem a educação a
partir dos seus condicionantes sociais, mas concluem que a função da educação consiste
na reprodução da sociedade e, por isso, são denominadas de “teorias críticoreprodutivistas” (Cf. Saviani, 2009, p. 14).
As teorias que são enfeixadas como crítico-reprodutivistas são: teoria do
sistema de ensino enquanto violência simbólica; teoria da escola enquanto aparelho
ideológico de Estado; e teoria da escola dualista.
A teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica se encontra na
obra A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino, de Pierre
Bourdieu e Jean-Claude Passeron, de 1970 e traduzido no Brasil em 1975. Saviani
(1995) ressalta a ideia central do axioma da teoria da seguinte forma:
Por que violência simbólica? Os autores tomam como ponto de partida
que toda e qualquer sociedade estrutura-se como um sistema de
relações de força material entre grupos ou classes. Sobre a base da
força material e sob sua determinação erige-se um sistema de relações
de força simbólica cujo papel é reforçar, por dissimulação, as relações
de força material (Saviani, 1995, p. 29).
A teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado está presente no
texto de 1970, intitulado Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, do filósofo
marxista francês Louis Althusser. A questão central ligada aos AIE pode ser
compreendida do seguinte modo:
Ao analisar a reprodução das condições de produção que implica a
reprodução das forças produtivas e das relações de produção
existentes, Althusser distingue, no Estado, os aparelhos repressivos e
os aparelhos ideológicos. Os primeiros funcionam massivamente pela
violência e secundariamente pela ideologia. Inversamente, os
segundos funcionam massivamente pela ideologia e secundariamente
pela repressão (Saviani, 2007, p. 393).
Althusser conclui que no capitalismo, dentre os Aparelhos Ideológicos de estado
(AIE) (religioso, familiar, jurídico, sindical, da informação, cultural), o aparelho
ideológico de Estado escolar se transformou em aparelho ideológico dominante, pois a
182
escola tornou-se o instrumento mais eficaz para a reprodução das relações de produção
capitalista.
A teoria da escola dualista, por sua vez, se encontra no livro L’école capitaliste
em France, de autoria de Christian Baudelot e Roger Establet, de 1971, que teve
tradução parcial brasileira em 1974. Para essa teoria, a principal função da escola é a
inculcação da ideologia burguesa. Isto acontece pela inculcação explícita da ideologia
burguesa e pelo recalcamento da ideologia proletária. Assim, a escola, mesmo
aparentando ser “unitária e unificadora, é uma escola divida em duas [...] grandes redes,
as quais correspondem à divisão da sociedade capitalista em duas classes fundamentais:
a burguesia e o proletariado” (Saviani, 1995, p. 35). Mas para a teoria da escola
dualista, a ideologia do proletariado tem origem e existência fora da escola, nas massas
operárias e em suas organizações, e a escola é somente um aparelho ideológico da
burguesia a serviço de seus interesses.
No item Para uma teoria crítica da educação, Saviani aponta para o fato de
que nem as teorias não-críticas e nem as teorias crítico-reprodutivistas captam
“criticamente a escola como um instrumento capaz de contribuir para a superação do
problema da marginalidade” (Saviani, 2009, p. 28). Por isso elas precisam ser superadas
por uma teoria crítica que não caia no reprodutivismo, mas essa teoria “só poderá ser
formulada do ponto de vista dos interesses dos dominados” (Saviani, 2009, p. 28),
articulando a escola com estes interesses. Dessa forma, uma teoria crítica deve: “superar
tanto o poder ilusório (que caracteriza as teorias não-críticas) como a impotência
(decorrente das teorias crítico-reprodutivistas), colocando nas mãos dos educadores uma
arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado”
(Saviani, 2009, p. 28).
Na elaboração de uma teoria crítica, para melhor se proceder na defesa dos
interesses populares, é necessário evitar que os interesses dos dominados sejam
confundidos com os interesses dos dominantes. Por isso, é preciso captar a natureza
específica da educação para se compreender suas complexas mediações de inserção
contraditória na sociedade capitalista. Saviani chama a atenção para o fato de que “o
leitor encontrará um esboço dessa teoria no texto Escola e Democracia: para além da
curvatura da vara’, neste livro” (Saviani, 2009, p. 29) que, como já enfatizamos
anteriormente, se trata do esboço inicial da pedagogia histórico-crítica, chamada nesse
183
momento somente de teoria crítica, que tem como principais bandeiras de luta as
seguintes posições:
Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta
contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das
camadas populares. Lutar contra a marginalidade por meio da escola
significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um
ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O
papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a
essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e
articulada com os interesses dominantes (Saviani, 2009, p. 29).
O segundo capítulo, Escola e democracia I – A teoria da curvatura da vara,
traz uma crítica radical da pedagogia liberal burguesa, representada pela escola nova,
para apresentar suas fronteiras com a pedagogia socialista de inspiração marxista, já
indicada na referência inicial à teoria crítica. O capítulo se desenvolve em cima de três
teses: a primeira tese é filosófico-histórica e defende o caráter revolucionário da
pedagogia da essência e o caráter reacionário da pedagogia da existência; a segunda tese
é pedagógico-metodológica e enuncia o caráter científico do método tradicional e o
caráter pseudocientífico dos métodos novos; a terceira tese é politico-educacional e
assevera que “quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos
democrática foi a escola; e [...] quando menos se falou em democracia, mais a escola
esteve articulada com a construção de uma ordem democrática” (Saviani, 2009, p. 34).
É explicada também nesse segundo capítulo a expressão “teoria da curvatura da
vara” que compõe o seu título. Saviani explicita que, conforme Althusser, essa
expressão foi utilizada por Lênin ao ser criticado por suas posições radicais: “quando a
vara está torta, ela fica curva de um lado e se você quiser endireita-la, não basta colocala na posição correta. É preciso curvá-la para o lado oposto” (Lênin apud Saviani, 2009,
p. 34). Com isso, Saviani espera amenizar a excessiva valorização da pedagogia da
existência, representada pela escola nova, e fortalecer a fragilização que sofreu a
pedagogia da essência, representada pela pedagogia tradicional. Assim, é necessário
curvar a vara para o lado oposto, reconhecendo a potencialidade com a qual a pedagogia
da essência pode contribuir na criação da teoria crítica:
A minha expectativa é justamente que com essa inflexão a vara atinja
o seu ponto correto, o qual não está também na pedagogia tradicional,
mas na valorização dos conteúdos que apontam para uma pedagogia
revolucionária. Esta identifica as propostas burguesas como elementos
de recomposição de mecanismos hegemônicos e dispõe-se a lutar
concretamente contra a recomposição desses mecanismos de
184
hegemonia, no sentido de abrir espaço para as forças emergentes da
sociedade, para as forças populares, para que a escola se insira no
processo mais amplo de construção de uma nova sociedade (Saviani,
2009, p. 52).
As três teses propostas, que norteiam o presente capítulo, são desenvolvidas ao
longo de seis tópicos intitulados: O homem livre; A mudança de interesses; A falsa
crença na Escola Nova; O ensino não é pesquisa; A Escola Nova não é
democrática; e Escola Nova: a hegemonia da classe dominante.
A primeira tese filosófico-histórica defende o caráter revolucionário da
pedagogia da essência e o caráter reacionário da pedagogia da existência, argumentando
o caráter histórico e filosófico do homem livre. Na antiguidade grega, a essência livre
do homem só se realizava nos homens livres porque o escravo não era identificado
como homem; na Idade Média, a concepção essencialista de homem é concebida como
resultado da criação divina, portanto servos e senhores já nasciam sob o signo da
liberdade ou não, conforme sua posição social; na Idade Moderna, a burguesia em
ascenção como classe revolucionária defende a igualdade dos homens como algo que
lhes é essencial, obviamente para ganhar adeptos para a sua luta pelo poder.
A postura filosófica da burguesia é de defesa da filosofia da essência, que
implica a igualdade universal entre os homens. Posteriormente, a pedagogia da essência
é deduzida desse princípio filosófico: “Sobre essa base da igualdade dos homens, de
todos os homens, é que se funda então a liberdade, e é sobre, justamente, a liberdade
que se vai postular a reforma da sociedade” (Saviani, 2009, p. 36). Dessa forma, a
burguesia revolucionária estruturou os sistemas nacionais de ensino e advogou a
escolarização para todos, somente assim é que os servos medievais iriam se transformar
em cidadãos e se poderia concretizar o processo político de consolidação da democracia
burguesa e, consequentemente, seu poder de classe. Contudo, na medida em que a
burguesia se estabeleceu no poder e deixou de ser classe revolucionária, a bandeira da
igualdade essencial dos homens deixou de servir aos seus interesses:
É nesse momento que a Escola Tradicional, a pedagogia da essência,
já não vai servir e a burguesia vai propor a pedagogia da existência.
Ora, [...], o que é a pedagogia da existência senão diferentemente da
pedagogia da essência, que é uma pedagogia que se fundava no
igualitarismo, uma pedagogia da legitimação das desigualdades? Com
base nesse tipo de pedagogia, considera-se que os homens não são
essencialmente iguais; os homens são essencialmente diferentes, e nós
temos de respeitar as diferenças entre os homens. Então, há aqueles
que têm mais capacidade; há aqueles que aprendem mais devagar; há
185
aqueles que se interessam por isso e os que se interessam por aquilo
(Saviani, 2009, p. 38).
Dessa forma, conforme Saviani, a pedagogia da existência é reacionária, pois ao
legitimar as desigualdades, a dominação, a sujeição e os privilégios “vai contrapor-se ao
movimento de libertação da humanidade em seu conjunto” (Saviani, 2009, p. 38)
(Grifo nosso).
Inversamente, nesse contexto, a pedagogia da essência passa a ser
revolucionária ao defender a igualdade essencial entre os homens e, por isso, promover
a eliminação de privilégios que impedem a realização humana. Mas agora o papel
revolucionário não é mais da burguesia, como no início da modernidade, mas da classe
que a burguesia explora (Cf. Saviani, 2009, p. 38).
A segunda tese defendida nesse segundo capítulo tem o caráter pedagógicometodológico e enuncia o caráter científico do método tradicional e o caráter
pseudocientífico dos métodos novos.
Para Saviani, o movimento da Escola Nova apresentou, equivocadamente, o
método tradicional como um método pré-científico, dogmático e medieval. Na verdade,
diz o autor, nem o método tradicional é pré-científico, nem muito menos o ensino
tradicional que lhe acompanha. Assim,
[o] método tradicional foi constituído após a Revolução Industrial,
contrariamente, portanto, ao argumento que os escolanovistas
comumente levantam de que a Revolução Industrial transformou a
sociedade, determinou uma sociedade não mais estática, em mudança
contínua, que essa Revolução Industrial, que tem seu fundamento na
ciência, não teve sua contrapartida na educação, que continuou sendo
pré-científica, seguindo lemas medievais (Saviani, 2009, p. 39).
Da mesma maneira, o ensino tradicional, predominante ainda hoje nas escolas,
se constituiu após a Revolução Industrial e foi implantado nos sistemas nacionais de
ensino a partir de meados do século XIX, “no momento em que, consolidado o poder
burguês, se aciona a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória,
como um instrumento de consolidação da ordem democrática” (Saviani, 2009, p. 3839). E, segundo Saviani, o ensino tradicional é, precisamente, e contrariando os
escolanovistas, a contrapartida da Revolução Industrial na educação. Portanto, um
ensino com bases científicas e não medieval.
Para Saviani, o método pedagógico do ensino tradicional é o método expositivo,
o qual tem sua matriz teórica nos cinco passos formais de Herbart (preparação,
apresentação, comparação e assimilação, generalização e aplicação) que correspondem
186
ao esquema do método científico indutivo formulado por Bacon, constituído de três
momentos: observação, generalização e confirmação. “Trata-se, portanto, daquele
mesmo método formulado no interior do movimento filosófico do empirismo, que foi a
base do desenvolvimento da ciência moderna” (Saviani, 2009, p. 40), afirma Saviani,
reforçando a cientificidade do método expositivo do ensino tradicional.
Quanto à afirmação do caráter pseudocientífico dos métodos novos da segunda
tese, Saviani o atribui ao fato da Escola Nova confundir ensino com pesquisa:
[...] o que o movimento da Escola Nova fez foi tentar articular o
ensino com o processo de desenvolvimento da ciência, ao passo que o
chamado método tradicional o articulava com o produto da ciência.
Em outros termos, a Escola Nova buscou considerar o ensino como
um processo de pesquisa; daí por que ela se assenta no pressuposto de
que os assuntos de que trata o ensino são problemas, isto é, são
assuntos desconhecidos não apenas pelo aluno, como também pelo
professor. Nesse sentido, o ensino seria o desenvolvimento de uma
espécie de projeto de pesquisa (Saviani, 2009, p. 42).
Assim, nos métodos novos, são privilegiados os processos de obtenção dos
conhecimentos, enquanto nos métodos tradicionais, são privilegiados os métodos de
transmissão dos conhecimentos (Cf. Saviani, 2009, p. 43). Para Saviani, uma grande
fragilidade dos métodos novos é desprezar o fato de que “sem o domínio do conhecido,
não é possível incursionar no desconhecido. E aí também a grande força do ensino
tradicional: a incursão no desconhecido fazia-se sempre por meio do conhecido”
(Saviani, 2009, p. 43).
Dessa forma, a Escola Nova dissolveu a diferença entre pesquisa e ensino,
empobrecendo o ensino e inviabilizando também a pesquisa, pois o ensino não é um
processo de pesquisa, conforme Saviani. Transformar o ensino em um processo de
pesquisa é torná-lo artificial: “Daí o meu prefixo ‘pseudo’ ao científico dos métodos
novos” (Saviani, 2009, p. 43), diz o autor.
A terceira tese defendida nesse segundo capítulo é de cunho politico-educacional
e afirma que quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos ela foi
democrática e, inversamente, quando menos se falou em democracia, mais a escola
contribuiu para a construção da ordem democrática (Cf. Saviani, 2009, p. 34).
Saviani tem por objetivo demonstrar que a Escola Nova, que fazia a defesa da
democracia no seu discurso, se mostrou elitista em função da sua preocupação com as
diferenças e, inversamente, a escola tradicional, tida como conservadora e elitista, foi
187
quem mais contribuiu para a proposta democrática com a bandeira da transmissão do
conhecimento.
Para Saviani, a Escola Nova, ao priorizar o tratamento diferencial, abandonou a
busca de igualdade em nome da democracia, da mesma forma que introduziu no interior
da escola procedimentos ditos democráticos. Para o autor, hoje é possível saber a quem
serviu essa democracia e quem se beneficiou dela: “Não foi o povo, não foram os
operários, não foi o proletariado. Essas experiências ficaram restritas a pequenos
grupos, e nesse sentido elas constituíram-se, em geral, em privilégios para os
privilegiados, legitimando as diferenças” (Saviani, 2009, p. 44).
Da mesma forma, para Saviani, com o escolanovismo, a preocupação política
em relação à escola refluiu, a iniciativa em articular a escola com a participação política
e democrática transformou-se em mero cuidado com o aspecto técnico-pedagógico:
Passou-se do ‘entusiasmo pela educação’, quando se acreditava que a
educação poderia ser um instrumento de participação das massas no
processo político, para o ‘otimismo pedagógico’, em que se acredita
que as coisas vão bem e se resolvem nesse plano interno das técnicas
pedagógicas (Saviani, 2009, p. 47).
A Escola Nova, ao invés de favorecer a educação do povo, recompôs os
mecanismos de hegemonia da classe dominante: “se na fase do ‘entusiasmo pela
educação’ o lema era ‘escola para todos’, [...], agora a Escola Nova vem transferir a
preocupação dos objetivos e dos conteúdos para os métodos e da quantidade para a
qualidade” (Saviani, 2009, p. 47). Com isso, a Escola Nova possibilitou o
aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do nível de ensino
destinado às camadas populares (Cf. Saviani, 2009, p. 48):
Em suma, o movimento de 1930, no Brasil, devido à ascensão do
escolanovismo, correspondeu a um refluxo e até a um
desaparecimento daqueles movimentos populares que advogavam uma
escola mais adequada aos seus interesses. E por que isso? A partir de
1930, ser progressista passou a significar ser escolanovista. E aqueles
movimentos sociais, de origem, por exemplo, anarquista, socialista,
marxista, que conclamavam o povo a se organizar e reivindicar a
criação de escolas para os trabalhadores, perderam a vez, e todos os
progressistas em educação tenderam a endossar o credo escolanovista
(Saviani, 2009, p. 49).
Diversamente do “aligeiramento” do ensino destinado às camadas populares,
presente na proposta escolanovista, Saviani defende o aprimoramento do ensino
destinado às camadas populares através da priorização de conteúdo. Para o autor, os
188
conteúdos são fundamentais e sem conteúdos relevantes não existe aprendizagem e ela
se transforma em farsa. Assim, deve haver “a prioridade de conteúdos, que é a única
forma de lutar contra a farsa do ensino. [...] Justamente porque o domínio da
cultura constitui instrumento indispensável para a participação politica das
massas” (Saviani, 2009, p. 50) (Grifos meus).
Conforme Saviani, se as camadas populares não dominam os conteúdos
culturais, elas não têm o instrumento principal para fazer valer os seus interesses e,
assim, ficam desarmadas diante dos dominadores, que usam os conteúdos culturais para
legitimar e consolidar a sua dominação: “o dominado não se liberta se ele não vier a
dominar aquilo que os dominantes dominam. Então dominar o que os dominantes
dominam é condição de libertação” (Saviani, 2009, p. 51). (Grifos nossos).
Contudo, somente a prioridade de conteúdo não basta, pois é “fundamental
que se esteja atento para a importância da disciplina, quer dizer, sem disciplina
esses conteúdos relevantes não são assimilados” (Saviani, 2009, p. 51). Dessa forma,
Saviani acredita ser possível fazer uma profunda reforma na escola, partindo de seu
interior, se começássemos “a atuar segundo esses pressupostos e mantivéssemos
uma preocupação constante com o conteúdo e desenvolvêssemos aquelas fórmulas
disciplinares, aqueles procedimentos que garantissem que esses conteúdos fossem
realmente assimilados” (Saviani, 2009, p. 51) (Grifo nosso). Esse seria, efetivamente,
o procedimento democrático e democratizante do ensino, para o autor.
O terceiro capítulo de Escola e democracia, Escola e democracia II – Para
além da curvatura da vara, consiste no esboço da pedagogia histórico-crítica. A
proposta inicial da construção de uma teoria crítica é contraposta às pedagogias
tradicional e nova, bem como seus pressupostos filosóficos, sua proposta pedagógicometodológica e o seu significado político que Saviani vai desenvolvendo ao longo da
retomada dialética das três teses defendidas no capítulo anterior (Cf. Saviani, 2011, p.
6).
No item Pedagogia nova e pedagogia da existência, Saviani indica e explica a
equivalência e a diferença das expressões “pedagogia nova” e “pedagogia da
existência”, visando desfazer um mal entendido criado por alguns críticos de seu
trabalho que teriam compreendido que o autor afirmara que a pedagogia nova
equivaleria à pedagogia da existência (Saviani, 2009, p. 56).
189
O autor esclarece que ambas as pedagogias pertencem à concepção humanista
moderna de Filosofia da Educação que, por sua vez, se baseia “na vida, na existência, na
atividade”, em oposição à concepção tradicional que se baseava “no intelecto, na
essência, no conhecimento”. Contudo, a concepção humanista moderna de Filosofia da
Educação é bastante abrangente e se compõe de diversas escolas filosóficas, tais como:
o pragmatismo, o vitalismo, o historicismo, o existencialismo e a fenomenologia (Cf.
Saviani, 2009, p. 55). Contudo, o pertencimento dessas pedagogias àquela concepção
humanista de Filosofia da Educação, não retira as suas diferenças específicas:
Em outros termos: as expressões ‘pedagogia nova’ e ‘pedagogia da
existência’ equivalem-se sob a condição de não reduzir a primeira à
pedagogia escolanovista e a segunda, à pedagogia existencialista. Esse
esclarecimento faz-se necessário uma vez que a concepção
‘humanista’ moderna se manifesta na educação predominantemente na
forma do movimento escolanovista cuja inspiração filosófica principal
se situa na corrente do pragmatismo (Saviani, 2009, p. 55-56).
No item Para além das pedagogias da essência e da existência, retomando a
primeira tese do capítulo anterior, Saviani demonstra os pontos em que sua proposta de
uma pedagogia revolucionária supera as pedagogias da essência e da existência.
Para Saviani, nas pedagogias da essência e da existência não se encontra uma
perspectiva histórica dos condicionamentos sociais da educação. Por isso, são ingênuas
e não-críticas, pois não apreendem as determinações objetivas e materiais do processo
educacional. Esse desconhecimento faz com que a consciência ingênua acredite ser
superior aos fatos, imaginando ser capaz de determinar e alterar a realidade a partir dela
mesma:
Eis por que tanto a pedagogia tradicional como a pedagogia nova
entendiam a escola como ‘redentora da humanidade’. Acreditavam
que era possível modificar a sociedade por meio da educação. Nesse
sentido, podemos afirmar que ambas são ingênuas e idealistas. Caem
na armadilha da ‘inversão idealista’, já que, de elemento determinado
pela estrutura social, a educação é convertida em elemento
determinante, reduzindo-se o elemento determinante à condição de
determinado. A relação entre educação e estrutura social é, portanto,
representada de modo invertido (Saviani, 2009, p. 57).
Diversamente, a pedagogia revolucionária crê na igualdade essencial entre os
homens, mas em termos reais e não apenas formais; busca se articular com as forças
emergentes da sociedade na luta por uma sociedade igualitária; ao invés de secundarizar
os conhecimentos e sua transmissão, considera a difusão de conteúdos uma das tarefas
190
primordiais do processo educativo em geral e da escola em particular (Cf. Saviani,
2009, p. 59).
Em suma: a pedagogia revolucionária não vê necessidade de negar a
essência para admitir o caráter dinâmico da realidade como o faz a
pedagogia da existência, inspirada na concepção ‘humanista’ moderna
de filosofia da educação. Também não vê necessidade de negar o
movimento para captar a essência do processo histórico como o faz a
pedagogia da essência inspirada na concepção ‘humanista’ tradicional
de filosofia da educação (Saviani, 2009, p. 59).
A pedagogia revolucionária é crítica exatamente por se saber historicamente
condicionada e entender a educação como sendo determinada pelas transformações
sociais. Contudo, diversamente da concepção crítico-reprodutivista, para quem a
educação é determinada unidirecionalmente pela estrutura social, entende que a
educação se relaciona dialeticamente com a sociedade, ou seja, é também um elemento
determinante na transformação da sociedade (Cf. Saviani, 2009, p. 59). Assim, afirma
Saviani:
A pedagogia revolucionária situa-se além das pedagogias da essência
e da existência. Supera-as, incorporando suas críticas recíprocas numa
proposta radicalmente nova. O cerne dessa novidade radical consiste
na superação da crença na autonomia ou na dependência absolutas da
educação em face das condições sociais vigentes (Saviani, 2009, p.
59).
No item intitulado Para além dos métodos novos e tradicionais, Saviani
retoma a segunda tese do capitulo anterior, na qual tratava do caráter científico do
método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos, para sugerir um
método condizente com sua proposta de uma pedagogia revolucionária. Para ele, uma
pedagogia compromissada com os interesses populares, valoriza a escola e os métodos
de ensino eficazes:
Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos,
superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão
métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir
mão, porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos
alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o
diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em conta os
interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento
psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos
conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de
transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos (Saviani, 2009, p.
62).
191
Contudo, a principal diretriz do novo método proposto, conforme Saviani, deve
ser a vinculação entre educação e sociedade, na qual professor e aluno são tidos como
agentes sociais (Cf. Saviani, 2009, p. 63). Nesse sentido, são apresentados cinco
momentos articulados de um mesmo processo de ensino-aprendizagem.
O primeiro momento tem como ponto de partida a prática social que é comum a
professor e alunos, mas apesar dessa prática social ser comum a ambos, eles se
posicionam diferentemente diante dela, pois eles têm diferenças de compreensão de
conhecimento e de experiência. O professor tem uma compreensão sintética, articulada
dos conhecimentos e da experiência, já o aluno tem uma visão caótica da prática social
(Cf. Saviani, 2009, p. 63).
O segundo momento comporta a identificação dos principais problemas postos
pela prática social. Saviani chama este segundo passo de problematização: “Trata-se de
detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em
consequência, que conhecimento é necessário dominar” (Saviani, 2009, p. 64).
O terceiro momento trata da apropriação “dos instrumentos teóricos e práticos
necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social”, os quais
podem ser transmitidos direta ou indiretamente pelo professor. Esse momento é
chamado de instrumentalização, mas não deve ser compreendido no sentido tecnicista,
pois “trata-se da apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais
necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertar das condições de
exploração em que vivem” (Saviani, 2009, p. 64).
O quarto momento implica no “momento da expressão elaborada da nova forma
de entendimento da prática social a que se ascendeu” a partir dos momentos anteriores.
Ele é chamado de catarse: “trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais,
transformados agora em elementos ativos de transformação social” (Saviani, 2009, p.
64).
O quinto momento, ponto de chegada do processo metodológico, é também o
mesmo do primeiro momento, ponto de partida, ou seja, a prática social. Assim afirma
Saviani:
O ponto de chegada é a própria prática social, compreendida agora
não mais em termos sincréticos pelos alunos. Nesse ponto, ao mesmo
tempo que os alunos ascendem ao nível sintético em que, por suposto,
já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a
precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais
e mais orgânica. Essa elevação dos alunos ao nível do professor é
192
essencial para compreender-se a especificidade da relação pedagógica
(Cf. Saviani, 2009, p. 65).
Saviani explicita, por fim, que a coluna vertebral de seu método tem a educação
como mediação da prática social e que o critério de cientificidade dele advém “da
concepção dialética de ciência tal como a explicitou Marx no ‘método da economia
política’” (Saviani, 2009, p. 66). Seu método, ao partir do princípio da divisão de
classes sociais da sociedade, propõe uma pedagogia vinculada à defesa dos interesses
populares na busca da transformação social: “A pedagogia por mim denominada ao
longo deste texto, na falta de uma expressão mais adequada, de ‘pedagogia
revolucionária’, não é oura coisa senão aquela pedagogia empenhada decididamente em
colocar a educação a serviço da referida transformação das relações de produção”
(Saviani, 2009, p. 68).
No item, Para além da relação autoritária ou democrática na sala de aula,
Saviani trata de superar a terceira tese do segundo capítulo que apresentava o paradoxo
da falta efetiva de democracia da Escola Nova, ao privilegiar as diferenças e da
realização democrática concreta da escola tradicional, ao se centrar na transmissão do
conhecimento. A superação dessa tese busca demonstrar que na pedagogia
revolucionária “não se trata de optar entre relações autoritárias ou democráticas no
interior da sala de aula, mas de articular o trabalho desenvolvido nas escolas com o
processo de democratização da sociedade” (Saviani, 2009, p. 71).
Dessa forma, assevera Saviani, “simplesmente importa reter que o critério para
se aferir o grau em que a prática pedagógica contribui para a instauração de relações
democráticas não é interno, mas tem suas raízes para além da prática pedagógica
propriamente dita” (Saviani, 2009, p. 69). Ou seja, dado que a educação tem um caráter
mediador na prática social, ela não pode se justificar por si mesma. Assim, seus efeitos
se prolongam para além dela, no tempo e no espaço e, por isso, “resulta inevitável
concluir que o critério para se aferir o grau de democratização atingido no interior das
escolas deve ser buscado na prática social” (Saviani, 2009, p. 69).
O quarto e último capítulo, Onze teses sobre educação e política, visa delimitar
as relações entre política e educação, suas identidades e diferenças. Essas questões são
apresentadas inicialmente de forma discursiva e em seguida são condensadas de forma
aforística em onze teses. Compreende-se que essas teses são representativas das várias
temáticas subjacentes ou explícitas ao longo do texto de Saviani, como uma forma de
193
corolário. Apresentamos a seguir algumas das questões mais relevantes para a nossa
pesquisa.
Conforme o autor, é necessário atentar para as especificidades da “natureza da
prática educativa” e da “natureza da prática política”. A prática educativa é uma
relação entre não-antagônicos: “É pressuposto de toda e qualquer relação educativa que
o educador está a serviço dos interesses do educando. Nenhuma prática educativa pode
instaurar-se sem esse suposto" (Saviani, 2009, p. 74). Por sua vez, na prática política
ocorre o inverso: “[...] a relação política se trava, fundamentalmente, entre antagônicos.
No jogo político defrontam-se interesses e perspectivas mutuamente excludentes. Por
isso em política o objetivo é vencer e não convencer” (Saviani, 2009, p. 74). (Grifo
nosso).
Assim, não havendo uma luta na prática educativa, não há antagonismos a serem
vencidos e, por isso, a atividade que marca a educação, conforme Saviani, é a persuasão
argumentativa: “[..] em educação o objetivo é convencer e não vencer. O educador,
seja na família, na escola ou em qualquer outro lugar ou circunstância, acredita
estar sempre agindo para o bem dos educandos. Os educandos, por sua vez,
também não veem o educador como adversário” (Saviani, 2009, p. 74). (Grifo
nosso).
Dessa forma, a rebeldia dos educandos deve ser somente um desafio a ser
superado pelo educador, que deve convencê-los que eles próprios são os maiores
prejudicados ao se rebelarem (Cf. Saviani, 2009, p. 74) (Grifos nossos).
Inversamente, “no plano político, a rebeldia da classe dominada tende a ser interpretada
pela classe dominante como rebelião e, como tal, reprimida pela força” (Saviani, 2009,
p. 74), pois eles não estão na posição oposta por equívoco, do qual seriam demovidos
pela compreensão da proposta verdadeira, tais quais seriam os estudantes (Saviani,
2009, p. 75). Nesse sentido, a figura do professor na prática educativa é de fundamental
importância, pois “se ele fundamentar adequadamente os assuntos em torno dos quais se
trava sua relação com os alunos; se ele os expuser de modo claro, se suas posições
forem consistentes e os alunos chegarem ao entendimento de seu significado, eles
tenderão a concordar com ele” (Saviani, 2009, p. 75).
Assim, pode-se afirmar que educação e política têm práticas diferentes, com
características próprias. Portanto, é preciso não confundi-las e correr o risco de dissolver
uma na outra, pois “a dissolução da educação na política configuraria o politicismo
194
pedagógico do mesmo modo que a dissolução da política na educação implicaria o viés
do pedagogismo político” (Saviani, 2009, p. 75). Entretanto, por serem práticas
distintas, não significa que sejam inteiramente independentes e autônomas entre si, pois
são inseparáveis.
Saviani considera que há uma relação interna e uma relação externa
configurando as relações entre educação e política. A relação interna implica em que
toda prática educativa possui uma dimensão política e que toda política possui uma
dimensão educativa (Cf. Saviani, 2009, p. 76). Assim, afirma o autor: “A dimensão
pedagógica da política envolve [...] a articulação, a aliança entre os não-antagônicos,
visando à derrota dos antagônicos. E a dimensão política da educação envolve [...] a
apropriação dos instrumentos culturais que serão acionados na luta contra os
antagônicos” (Saviani, 2009, p. 76).
Já a relação externa entre educação e política implica em que “o
desenvolvimento da prática especificamente política pode abrir novas perspectivas para
o desenvolvimento da prática especificamente educativa e vice-versa” (Saviani, 2009, p.
76). Pense-se aqui, por exemplo, nas possibilidades benéficas que podem ser abertas
para a educação a partir de uma política pública, um financiamento de um projeto
pedagógico, as reformas políticas que favoreçam a educação pública etc.
Nessa relação entre política e educação é fundamental levar em conta que as
relações entre educação e política têm existência histórica e, por isso, só podem ser
adequadamente compreendidas enquanto manifestações sociais determinadas (Cf.
Saviani, 2009, p. 76). Isto significa que a inseparabilidade entre as práticas distintas da
educação e da política tem uma prática comum: a prática social. Ou seja, apesar de
diferentes, elas integram a mesma totalidade histórico-social (Cf. Saviani, 2009, p. 77).
Essa determinação histórica indica que, na atualidade, educação e política devem
ser compreendidas como manifestações da prática social da sociedade de classes, onde
predominam interesses antagônicos (Cf. Saviani, 2009, p. 77). Por isso “a autonomia
relativa da educação em face da política e vice-versa assim como a dependência
recíproca anteriormente referida não têm um mesmo peso, não são equivalentes”
(Saviani, 2009, p. 76). Assim, a dependência da educação em relação à política é maior
do que a dependência da política em relação à educação: “existe uma subordinação
relativa, mas real da educação diante da política. Trata-se, porém, de uma subordinação
histórica e, como tal, não somente pode como deve ser superada” (Saviani, 2009, p. 77).
195
Nessa ambientação histórica de divisão de classes sociais, há que se levar em
consideração que “a prática política apoia-se na verdade do poder; a prática
educativa, no poder da verdade” (Saviani, 2009, p. 78) (Grifo nosso). Saviani se
refere aqui à verdade como conhecimento não desinteressado. Em uma sociedade
dividida em classes, a classe dominante não tem interesse que a verdade se manifeste,
pois seria evidenciada a sua dominação sobre as outras classes, enquanto a classe
dominada seria beneficiada com a manifestação da verdade da exploração e o
consequente fortalecimento da luta pela libertação (Cf. Saviani, 2009, p. 79).
Nessa luta pela liberdade e superação de uma sociedade de classes, Saviani
considera de extrema relevância a figura da vanguarda, bem como o papel pedagógico
que ela exerce através da explicitação da verdade histórica e na condução dos
revolucionários:
Eis aí o sentido da frase ‘a verdade é sempre revolucionária’. Eis aí
também por que a classe efetivamente capaz de exercer a função
educativa em cada etapa histórica é aquela que está na vanguarda, a
classe historicamente revolucionária. Daí o caráter progressista da
educação (Saviani, 2009, p. 79).
Contudo, juntamente com a persuasão do processo educativo levando ao
desvelamento da verdade, juntamente com o lado político da educação, juntamente com
o papel vanguardista da educação no processo revolucionário, Saviani ressalta, mais
uma vez, a importância extrema e decisiva da transmissão do conhecimento no processo
educativo, como algo que lhe é específico e decisivo: “De tudo o que foi dito, conclui-se
que a importância política da educação reside na sua função de socialização do
conhecimento. É realizando-se na especificidade que lhe é própria que a educação
cumpre sua função política” (Saviani, 2009, p. 79).
Retomando a exposição de Tomazetti (2003, p. 42), vamos observar que “no
final dos anos 80 e durante os anos 90 do século XX, no Brasil, a identidade da
Filosofia da Educação e seu objeto de estudo passaram a ser problematizados”. O
marxismo, principalmente o vinculado às posições de Saviani, que era o referencial
dominante da Filosofia da Educação da época, começou a ser questionado por seus
simpatizantes. Esses questionamentos se deram em função das reordenações mundiais
do capital e das consequências que começavam a ocorrer, muitos filósofos da educação
em crise passaram a buscar novos referenciais teóricos (Cf. Marinho, 2009c).
196
Um desses referenciais teóricos que respondeu a anseios não contemplados pelo
marxismo ortodoxo foi a Filosofia da Diferença deleuziana que inicialmente inspirou a
Filosofia no Brasil e posteriormente a Filosofia da Educação. No próximo capítulo serão
expostos elementos centrais do pensamento deleuzeano da Filosofia da Diferença, para
uma melhor compreensão de sua influência no pensamento da Filosofia da Educação em
terras brasileiras.
197
CAPÍTULO 3 – A FILOSOFIA DA DIFERENÇA DE DELEUZE
É necessária a compreensão do pensamento deleuzeano para um entendimento
de sua influência na Filosofia da Educação, no Brasil contemporâneo. Assim, o presente
capítulo tem por objetivo explicitar os contornos principais do pensamento deleuzeano,
no que diz respeito à sua Filosofia da Diferença. Para tanto, serão apresentados quatro
tópicos: Breve Histórico da Filosofia da Diferença – fala dos filósofos mais
representativos da diferença, explicitando as razões que levaram Deleuze a ser
reconhecido como o filósofo da Diferença; Deleuze: o eterno retorno da repetição da
diferença – procede a um detalhamento conceitual da Repetição, da Diferença e do
Eterno retorno; A Filosofia da Filosofia da Diferença – detalha a Filosofia da filosofia
da diferença como diversa da Filosofia da filosofia da representação; A Filosofia da
Educação na Filosofia da Diferença – explica, também, por que uma Filosofia da
Educação da filosofia da diferença é diversa da Filosofia da Educação da filosofia da
representação.
1. Breve Histórico da Filosofia da Diferença
Em um primeiro momento, o presente tópico explicitará algumas vertentes
filosóficas e seus filósofos que trabalham com a categoria da Diferença, bem com as
características da diversidade dessa categoria em cada um desses filósofos. O texto
central que norteará essa exposição é Pós-estruturalismo e filosofia da diferença – uma
introdução, de Michel Peters. Com isso, esse tópico também tem o objetivo de
possibilitar ao leitor uma melhor contextualização de Deleuze no universo mais amplo
do que se passou a chamar de filosofia da diferença.
Apesar da escolha de material recair sobre o texto de Peters, não se pretende
entrar aqui em uma discussão, que já se tornou clássica, a respeito da filiação de
Deleuze ao chamado pensamento pós-estruturalista39. Compreende-se a importância e a
pertinência da discussão, mas também há uma compreensão de que aqui não é o
39
“Discordo abertamente, portanto, daqueles que se apressam em falar em ‘pós-estruturalismo’ ou em
abarcar quase tudo sob o epíteto de ‘pós-modernismo’. De um lado porque ‘pós’ designa apenas
posteridade temporal e aí caímos na obviedade: claro que absolutamente tudo o que foi produzido
posteriormente ao estruturalismo é ‘pós-estruturalismo’, mas isso é muito pouco para delimitar um
esforço de pensamento e produção conceitual; de outro lado porque o pós-modernismo, se é que
podemos, de fato, falar em algo assim, seria também um termo excessivamente vago para designar
esforços de pensamento” (Gallo, 2003, p. 30).
198
momento e nem o lugar para essa abordagem. Assim, a escolha do texto de Peters
ocorreu em função do seu poder sintético de abreviação histórica e de amplitude para
que, assim, se possa melhor localizar o pensamento de Deleuze nessa plêiade
contemporânea de questionamento das raízes da Modernidade.
Da mesma forma, não se pretende entrar na discussão sobre o questionamento
que Vattimo (1988, p. 156) faz da filosofia contemporânea francesa do pensamento da
diferença, que para ele é equivocada:
A hermenêutica que interpreta todas estas componentes da efetividade
está bem longe da desconstrução do texto metafísico, a que o
pensamento da diferença se aplica, ao percorrer repetidamente a
estrutura base da ausência; e não é sequer a produção delirante de
novos simulacros sem nenhuma inserção nem ‘responsabilidade’.
Assim, para o filósofo italiano, a radicalização da diferença que despreza
aspectos importantes da metafísica e da dialética terminaria por levar a uma nova
postura metafísica. Vattimo critica os limites e os equívocos do pensamento da
diferença em Derrida e Deleuze:
Tanto a dissolução da diferença que se nos depara em Derrida como a
que encontramos em Deleuze remontam, com boa razão, a aspectos
essenciais da filosofia nietzschiana do eterno retorno. A diferença
como arquiestrutura de um processo infinito de repetição é o eterno
retorno entendido como lei do ser, fato, negação da historicidade
hebraico-cristã a favor de uma circularidade de tipo grego; a diferença
como glorificação do simulacro é, pelo contrário, a dança e o riso de
Zaratustra, o retorno como inocência do devir, [...]. Contudo, são estes
dois aspectos do eterno retorno que Zaratustra despreza como uma
interpretação parcial e superficial da ideia (Vattimo, 1988, pp. 151152).
Da mesma forma, ainda em outra passagem desse mesmo livro, Aventuras da
diferença (1988), Vattimo se refere de forma critica ao pensamento deleuziano: “os
jogos da diferença-repetição em que o ‘pensamento da diferença’ se perdeu” (Vattimo,
1988, p. 160)40.
40
“Um outro aspecto importante no pensamento de Vattimo é a sua posição com relação à diferença. Esta
não é assumida como algo que exclua a dialética. Ao contrário, o pensamento fraco busca harmonizar-se
com o conceito da dialética e da metafísica. Há, em especial no ideário de Vattimo, uma crítica explícita
aos filósofos franceses da diferença que, ao negarem radicalmente a dialética como algo triste e
ressentido, sucumbem a uma postura metafísica, da qual tentaram fugir. Vattimo, por várias vezes,
explicita essa crítica com relação a Deleuze e Derrida. Enfim, uma nova ontologia, a ontologia fraca,
requer o desenvolvimento do discurso da diferença, principalmente, com base no pensamento
heideggeriano, mas também implica em uma rememoração da dialética. Para Vattimo só é possível uma
apropriação legítima da diferença pelo pensamento fraco, se for assumida a herança da dialética”
(Marinho, 2009c, p. 258).
199
Em um segundo momento, o presente tópico se deterá mais especificamente no
conceito da Diferença através dos filósofos clássicos até chegar a uma caracterização
mais precisa desse conceito no pensamento deleuzeano. O material utilizado foi Por
uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o pensador nômade, de Regina Schöpke, no
qual é realizada uma genealogia do conceito da Diferença, segundo a própria autora.
1.1. A Filosofia da Diferença e seus filósofos
Michel Peters, no seu livro Pós-estruturalismo e filosofia da diferença – uma
introdução, enfatiza que dentre outras coisas – crítica da filosofia humanista, do sujeito
racional, da autonomia humana, dos pressupostos universais da racionalidade etc. – os
pós-estruturalistas têm por base a categoria da diferença em seu pensamento. Assim,
Para o pós-estruturalismo, a ênfase na autoconsciência absoluta e no
seu suposto universalismo é parte integrante dos processos que
tendem a excluir o Outro, ou seja, aqueles grupos sociais e culturais
que agem de acordo com critérios culturais diferentes. Em vez da
autoconsciência, o pós-estruturalismo enfatiza a constituição
discursiva do eu – sua corporeidade, sua temporalidade e sua finitude,
suas energias inconscientes e libidinais – e a localização histórica e
cultural do sujeito (Peters, 2000, p. 36).
Nesse sentido, a linguagem é fundamental para os pós-estruturalistas, que,
baseados na concepção saussureana da linguagem, concebem a operação dos signos
linguísticos de forma reflexiva e não de forma referencial, pois “dependem da operação
auto reflexiva da diferença” (Peters, 2000, p. 36). Ou seja, os elementos da realidade
social também são considerados em termos semióticos, como textos de uma linguagem,
configurando um antirrealismo, “uma posição epistemológica que se recusa a ver o
conhecimento como uma representação precisa da realidade e se nega a conceber a
verdade em termos de uma correspondência exata com a realidade” (Peters, 2000, p.
37).
O pensamento pós-estruturalista se compõe de métodos e abordagens múltiplas,
como: arqueologia, desconstrução, ênfase na noção de diferença, localismo (em
contraposição a um eurocentrismo iluminista pretendido universal), ruptura e
descontinuidade histórica, serialização, repetição, genealogia no lugar da ontologia,
posição epistemológica anti-fundacionista, valorização da interpretação. Enfim,
200
O movimento pós-estruturalista questiona o racionalismo e o realismo
que o estruturalismo havia retomado do positivismo, com sua fé no
progresso e na capacidade transformativa do método científico,
colocando em dúvida, além disso, a pretensão estruturalista de
identificar as estruturas universais que seriam comuns a todas as
culturas e à mente humana em geral (Peters, 2000, p. 37).
Para Peters, o surgimento do pós-estruturalismo deve muito à redescoberta de
Nietzsche e à interpretação que Heidegger fez dele. Da mesma forma, “boa parte da
história do pós-estruturalismo pode ser vista como consistindo de elaborações teóricas
da noção de tecnologia de Heidegger” (Peters, 2000, p. 36), como por exemplo:
“tecnologias do eu”, em Foucault; “leitura” e “escrita”, em Derrida; análise sobre
cinema, em Deleuze; “sociedade da mídia”, em Baudriallard. A filosofia da tecnologia
heideggeriana está ligada à sua crítica da história da metafísica ocidental e tem da
tecnologia uma compreensão de como a máquina pode alterar o modo de existir do
homem.
Mas, segundo Peters, “se existe um elemento que distingue o pós-estruturalismo
é a noção de différence [diferença], que vários pensadores utilizam, desenvolvem e
aplicam de formas variadas. A noção de diferença tem sua origem em Nietzsche, em
Saussure e em Heidegger” (Peters, 2000, p. 42). Peters expõe, de forma sumariada, os
principais pensadores que se articularam em torno da categoria da diferença, os quais
serão aqui elencados, visando oferecer um quadro histórico dessa categoria.
Deleuze, como já vimos, desenvolve todo um pensamento pautado na diferença.
Assim, em 1962, no livro Nietzsche e a filosofia, “interpreta a filosofia de Nietzsche
como uma crítica à dialética hegeliana, uma crítica que está baseada precisamente no
conceito de ‘diferença’” (Peters, 2000, p. 43). Esse livro, segundo Peters, foi
fundamental para a emergência de uma “filosofia da diferença”:
Em contraste com o poder do negativo e de uma disposição puramente
reativa, próprios de uma dialética na qual o positivo se afirma apenas
por meio da dupla negação, Deleuze afirma o poder puramente
positivo da afirmação inerente na ‘diferença’, elegendo-a como base
de um pensamento radical não-hegeliano (Peters, 2000, p. 60).
Derrida é um outro pensador pós-estruturalista que apoia seu pensamento na
categoria da diferença a partir de duas fontes: “a concepção de Saussure de que os
sistemas linguísticos são constituídos por meio da diferença e a noção de diferença de
Heidegger. A noção de différence [diferença], utilizada por Derrida pela primeira vez
em 1959, evoluiu, dez anos mais tarde, para o conceito de différance” (Peters, 2000, p.
201
43). A différance derridiana baseia-se na diferença ontológica de Heidegger entre ser e
ente e relaciona-se à determinação dos limites linguísticos do sujeito. Nesse pensador, a
crítica da razão e da metafísica é feita a partir dos conceitos da linguística estrutural. Ao
afirmar a relação arbitrária entre significante e significado, Derrida defende a existência
de uma cadeia infinita de significantes que prescinde da presença do objeto, havendo
assim, um descentramento do sujeito em favor da linguagem:
Derrida, [...] por sua vez, cunha o conceito de différance, que se refere
ao “movimento que consiste em diferir, por meio do atraso, da
delegação, da suspensão, do desvio, do adiamento, da reserva”. O
movimento da différance é a “raiz comum de todos os conceitos
posicionais que marcam nossa linguagem”, produzindo a diferença
que é a condição de qualquer processo de significação. Sobre a relação
entre o pensamento de Nietzsche e a “filosofia da diferença”, Derridda
[...] é levado a perguntar, no agora famoso ensaio ‘Différance’: “Não
é, todo o pensamento de Nietzsche, uma crítica da filosofia como uma
ativa indiferença à diferença, como o sistema da redução adifórica ou
repressão?” (Peters, 2000, p. 60-61).
Em Lyotard encontramos também a presença decisiva da categoria da diferença
com a criação do conceito de différend [diferendo], que também é relacionado ao
universo linguístico e que estabelece que, em geral, não há uma regra universal que
decida entre as diversas possibilidades dos gêneros de discurso. Ou seja, um gênero de
discurso não deve prevalecer sobre outro. Dessa forma, pode-se definir que um
diferendo “é um caso de conflito, entre (ao menos) dois partidos, que não pode ser
equitativamente resolvido por falta de uma regra de julgamento aplicável a ambos os
argumentos” (Lyotard apud Peters, 2000, p. 43).
Peters afirma que o rompimento intelectual de Lyotard com o marxismo radical
ocorreu devido ao colapso da lógica dialética41, mas mesmo tendo desistido do discurso
marxista para explicar as transformações do capitalismo global pós Segunda Guerra ele
não abre mão de refletir sobre o capitalismo:
Lyotard continua acreditando na tese do processo de ‘mercantilização’
(embora considerado como um sistema representacional) como um
dos principais processos de racionalização a orientar o
desenvolvimento do sistema como um todo, reconhecendo a forma
pela qual a lógica do desempenho (performance), voltada à
maximização da eficiência global do sistema, gera contradições
socioeconômicas. Ele se distancia, entretanto, dos marxistas na
41
“Na medida em que havia no marxismo um discurso que alegava expressar sem resíduos todas as
posições que se opõem, esquecendo que os diferendos estão corporificados em figuras incomensuráveis
entre as quais não existe conciliação lógica, tornou-se absolutamente necessário deixar, completamente,
de falar esse idioma” (Lyotard apud Peters , 2000, p. 62).
202
questão da possibilidade da emancipação ou da salvação que surgiria
automaticamente dessas contradições. Ele descarta aquilo que
Readings [...] chama de “política da redenção” que se baseia no
“desejo marxista de identificar a alienação como uma distorção
ideológica reversível”, para repensar a política e a resistência em
termos “minoritários”. Isso implica em renunciar a uma leitura
“autorizada” dos eventos, uma leitura baseada em julgamentos
determinados, para respeitar o diferendo e “para pensar a justiça em
relação com um conflito e uma diferença” que não admitem nenhuma
resolução (Peters, 2000, p. 62-63).
Com o diferendo lyotardiano temos a presença da suspeita pós-moderna sobre as
metanarrativas com seus argumentos e pontos de vista transcendentais, bem como a
rejeição do pensamento da representação com suas certezas de vocabulários apropriados
e definitivos. A legitimação da metanarrativa moderna não teria uma inocência política
vinculada simplesmente ao interesse do progresso da humanidade, mas estaria ligada à
legitimação de um poder. Nesse sentido, afirma Peters, não há qualquer “discursomestre [...] que possa ser considerado neutro ou que possa representar uma síntese,
qualquer discurso que possa expressar qualquer suposta unidade ou universalidade
epistemológica ou que permita decidir entre visões, asserções ou discurso em conflito”
(Peters, 2000, p. 43-44). Assim, pode-se afirmar com Peters, que “a noção de diferendo
de Lyotard tem, claramente, uma semelhança com o conceito de différance de Derrida e
com a noção de diferença de Deleuze (e, anteriormente, com a noção de diferença de
Heidegger)” (Peters, 2000, p. 54). A prevalência dessa noção configura-se como uma
reação à filosofia hegeliana da história e ao modelo hegeliano de consciência.
Peters situa historicamente o pós-estruturalismo e a prevalência da categoria da
diferença, no ocaso das esperanças de 1968, quando a descrença nas ambições
científicas do estruturalismo “resultou em um novo e crítico pluralismo, descentrando a
instituição e a força do discurso-mestre do estruturalismo, promovendo, ao mesmo
tempo, uma ênfase na pluralidade da interpretação por meio de jogo, indeterminação e
différance” (Peters, 2000, p. 46). Consequentemente, prevaleceram o descentramento do
sujeito, a rejeição do pensamento da representação e da existência das teorias
fundacionistas.
Nesse âmbito, nos diz Peters, ocorre a “virada linguística” na filosofia e nas
ciências sociais do século XX, bem como uma tendência a afirmar a inexistência de um
discurso universal e de um fundamento epistemológico. Dessa forma, compreendemos
que a “virada linguística” seja uma resposta à enunciação do fim dos fundamentos
203
últimos e da descrença nas metanarrativas, bem como à decretação da falência do
pensamento da representação e do sujeito moderno que tinha uma capacidade de
interpretação objetiva e consciente.
Dessa forma, Peters reconhece a importância e a inovação da categoria da
diferença, bem como a sua contemporaneidade e atualidade para a compreensão dos
problemas atuais e, consequentemente, afirma a condição ultrapassada da dialética
hegeliana para a época pós-moderna:
Existem recursos filosóficos importantes, incluindo uma compreensão
radical do conceito de “diferença”, nas teorizações desses pensadores,
que permitem descrever a atual fase histórica – aquilo que se poderia
chamar, provocativamente, de “pós-modernidade” ou “póscolonialidade” – de uma forma mais adequada do que a permitida pela
“lógica” da alteridade de Hegel. Isso não significa dizer que a
teorização de Hegel não foi útil: ele forneceu a explicação mais
inclusiva da lógica dualista ou de oposição que caracterizou a
modernidade, mas ela foi um produto de sua época. Por que devemos
esperar que um texto escrito quase duzentos anos atrás ainda seja
capaz de definir as questões de hoje? Na “pós-modernidade”, na era
pós-colonial, uma era na qual muitos povos étnicos obtiveram sua
soberania e seu reconhecimento político, o conceito de “diferença”
proporciona uma ‘lógica’ mais apropriada para compreender as
reivindicações e as lutas pela identidade. Essa é uma das principais
lições que os chamados teóricos pós-colonialistas (por exemplo, Said,
Spivak, Bhabha) aprenderam dos pós-estruturalistas franceses (Peters,
2000, p. 63).
1.2. Deleuze: o filósofo da Diferença
Regina Schöpke, em seu livro Por uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o
pensador nômade, faz uma “genealogia da diferença”, que aqui servirá de guia. A
autora esclarece não se tratar de um remontar às antigas concepções em torno da
diferença, mas de trabalhar “alguns filósofos que, direta ou indiretamente, abordaram a
questão da diferença”. Contudo, seu objetivo foi compor um quadro mais amplo para
situar a categoria da diferença pura no pensamento de Deleuze, inclusive tendo por base
os próprios estudos deleuzeanos sobre a diferença. Lançaremos mão dessa exposição de
Schöpke para historiarmos a categoria da diferença, com o intuito de melhor
compreendermos por que a categoria da diferença é central no pensamento pósmoderno.
Inicialmente, é necessário lembrar que “muito antes de o conceito de ‘diferença
ontológica’ ter sido concebido, a noção de diferença já se encontrava, direta ou
204
indiretamente, dissolvida na questão do ser e do não-ser” (Schöpke, 2004, p. 48). Nesse
sentido, a autora aponta a presença da categoria da diferença no pensamento de
Heráclito, quando esse se refere à transitoriedade e novidade das coisas, afirmando a
existência do devir através do eterno movimento, sendo a estabilidade uma ilusão dos
sentidos. No pensamento heracliteano, existiria “um mundo de diferenças, onde todo
porto seguro não passa de uma ilusão criada por nossa razão – única maneira de
‘escaparmos’ de nossa própria vulnerabilidade e nossa instantaneidade num mundo que
só nos ‘programou’ uma única e derradeira vez” (Schöpke, 2004, p. 49). E, de certa
forma, a diferença estaria no pensamento de Parmênides quando esse nega
veementemente a sua existência, contrapondo-se a Heráclito e defendendo a unidade e a
indivisibilidade do ser, “o ser é e o não-ser não é”.
Platão retoma alguns aspectos das filosofias de Heráclito e Parmênides na
construção de sua teoria sobre o ser e o devir, aceitando ambos, mas colocando-os nos
seus respectivos lugares. O ser imutável, superior, existiria no mundo das ideias e o
devir, inferior, se encontraria no mundo das realidades fenomênicas:
Segundo Platão, Heráclito teria toda a razão em afirmar a realidade do
devir, desde que não negasse a existência do ser em sua perfeita
imutabilidade. É bem verdade que a realidade do mundo sensível foi,
muitas vezes, discutida por Platão. Não obstante, Platão jamais ousou
negar por completo a existência do mundo físico. Como sombra ou
cópia, a realidade sensível guarda uma semelhança com o seu modelo
inteligível e, ainda que precariamente, ela nos remete ao ser
verdadeiro das coisas (Schöpke, 2004, p. 52).
Na teoria platônica, o ser verdadeiro não pode ser apreendido pelos sentidos
efêmeros e passageiros, mas tão somente pelo espírito, através da razão, se pode ter o
perfeito conhecimento do ser, que é invariável.
Porém, a diferença no pensamento de Platão se encontra em um outro dualismo,
nos afirma Schöpke, baseada em Deleuze, no livro Lógica do sentido: “[...], a motivação
mais profunda do pensamento platônico é revelada não na divisão entre mundo modelar
e mundo das cópias, mas na demarcação entre as cópias bem fundadas e as cópias mal
fundadas (os ‘simulacros’)” (Schöpke, 2004, p. 55), pois, de nada adiantaria a
importância do “original” se não houvesse uma distinção significativa e qualitativa entre
uma cópia boa e má:
De que valeria um modelo se ele não pudesse ser imitado com
perfeição, ou ainda, de que adiantaria a existência de um modelo se
suas cópias pudessem furtar-se a ele sem qualquer prejuízo para
ambos? Na verdade, o simulacro não é uma cópia de uma cópia, ele é
205
a própria negação da cópia. Ele é a negação do modelo (Schöpke,
2004, p. 55).
O simulacro constituiria um ato de desobediência à cópia original, na medida em
que só tem uma semelhança externa com o modelo. O alvo principal de Platão seriam os
sofistas no âmbito do terreno moral: “É exatamente como juíza de valores que a razão
condena tudo aquilo que lhe pareça um tanto ou quanto descentrado, desregrado, tudo
aquilo que não se enquadra em um modelo ‘pré-fixado’” (Schöpke, 2004, p. 56). Dessa
forma, a diferença constituiria uma ameaça para o equilíbrio da razão, que trabalha
somente com a identidade e a semelhança, e, por isso, é rejeitada. Schöpke relata que,
para Deleuze, a diferença em Platão seria o monstro que foge à ação do modelo, do
Mesmo, da identidade plena. A boa cópia guarda sua identidade com o modelo, o
simulacro por sua vez, já se distancia dessa semelhança e, por isso, representa a
desordem e, consequentemente, deve ser evitado.
Para Schöpke, a diferença em Aristóteles é uma “consequência lógica” da sua
crítica à teoria platônica das Ideias. Dessa forma, ela nem será um monstro a ser
escondido, nem uma mera alteridade que pouco tem a acrescentar ao conhecimento das
coisas:
Para Aristóteles, a diferença é sempre algo que se estabelece entre os
seres, sobretudo entre as espécies. As noções de outro e de alteridade
são igualmente importantes para ele (até porque a diferença é sempre
diferença entre dois ou mais seres); porém, não se trata de dizer
apenas que um cão não é um cavalo, mas de apontar as diferenças que
existem entre eles. Em outras palavras, a diferença é algo de concreto,
de verificável, de representável. Não é uma pura relação entre as
ideias, mas designa uma marca real nos corpos. O caráter de
imanência da filosofia aristotélica torna assim a diferença algo que se
apreende nos seres físicos – diferença específica (Schöpke, 2004, p.
60).
Essa abordagem epistemológica do ser se prende à própria definição do ser em
Aristóteles, que, ao rechaçar a teoria platônica das Ideias, defende que o ser é dito de
várias maneiras, através de um atributo essencial, como também por um atributo
acidental, como é afirmado na Metafísica. Enquanto para Platão o ser é essência, para
Aristóteles o ser é substância, que se divide em substância primeira – seres concretos,
entes, e substância segunda – gêneros e espécies.
Schöpke chama a atenção para o fato de que a diferença específica em
Aristóteles pode ser melhor compreendida a partir da sua aceitação da realidade do
mundo sensível:
206
Para começar, entre as substâncias segundas, Aristóteles considera a
espécie mais substância do que o gênero – uma vez que ela está mais
próxima da substância primeira (em outras palavras, a espécie sempre
define mais uma substância do que um gênero: dizer, por exemplo,
que Sócrates é um “animal” é bem mais vago do que defini-lo como
“homem”). E é porque a espécie “determina” mais que ela também
“diferencia” mais um corpo de um outro. Para Aristóteles, os seres
que diferem quanto ao gênero não têm comunicação entre eles,
enquanto os seres que diferem apenas quanto à espécie (isto é, aqueles
que pertencem a um mesmo gênero) têm por ponto de partida a sua
geração recíproca. Neste sentido, o termo outro aplica-se àqueles que,
sendo de um mesmo gênero, apresentam uma diferença entre eles, ou
então aqueles que têm uma contrariedade em sua substância (Schöpke,
2004, p. 64).
Assim, se em Aristóteles, o gênero e a espécie determinam e diferenciam
ontologicamente os seres, da mesma forma que os atributos acidentais, então, afirma
Schöpke, baseada em Deleuze, no livro Diferença e repetição, “a contrariedade é
exemplo de diferença máxima – já que os contrários se excluem absolutamente, quando
um deles se encontra em um objeto [...]” (Schöpke, 2004, p. 64). Portanto, a diferença
em Aristóteles é pensada a partir da identidade e da semelhança e a estas é submetida.
Como é exposto na Metafísica: “diferente se diz das coisas que sendo totalmente outras,
têm alguma identidade” (Aristóteles apud Schöpke, 2004, p. 64).
Para Schöpke a diferença aparece nos sofistas quando esses se contrapõem ao
discurso filosófico platônico-aristotélico, baseado no princípio da não-contradição. Para
os sofistas não existiria a verdade e nem tampouco a possibilidade de um conhecimento
efetivo das coisas mesmas e muito menos a possibilidade de transmitir algum possível
conhecimento delas. O ser não se constitui de essências puras ou universais abstratos,
mas é composto pelo mundo sensível e mutável, com suas sombras, simulacros e
diferenças. O ser é não-ser e o que existe é uma multiplicidade de discurso sobre as
coisas apreendidas pelos sentidos. Schöpke afirma, baseada em Romeyer-Dherbey, que
para os sofistas o mundo é desprovido de significado invariável e o sentido do mundo é
dado pelos homens. Com isso, os sofistas teriam desconstruído a identidade racionalista
do ser e da natureza e a possibilidade de um discurso identitário falar de forma
adequada sobre eles:
Mas uma nova ‘identidade’ será instaurada, e não se trata mais de uma
identidade do ser, mas de uma identidade precária que emerge no
discurso como resultado de uma operação retórica. Esta é o que se
poderia chamar de uma ‘unidade’ inteiramente feita de diferenças
(Schöpke, 2004, p. 72).
207
Schöpke recorda que Aristóteles combateu os sofistas criando uma lógica
pautada no princípio da não-contradição e da verdade como adequação da coisa ao
pensamento, exatamente para se contrapor a ampliação da importância da linguagem
sofística como doadora de sentido do real:
Daí por que Aristóteles trabalhou intensamente na fixação de um
sentido único para um conjunto de coisas semelhantes (um nome
geral). Era preciso passar por cima das “pequenas” diferenças e
submeter todos os semelhantes a um princípio de identidade “préfixada”. Mas, assim como a homonímia é a doença da linguagem, a
semelhança é a doença da visão e dessa maneira terminamos por
deixar passar incólume o mundo das diferenças (pequenas ou grandes,
mas sempre presentes para lembrar quão equivocado está o homem,
quando afirma a identidade plena do ser). Mas as diferenças não se
restringem à esferas física; as diferenças estão, sobretudo, presentes
no campo dos sentidos. É ali que elas vão produzir os maiores
acontecimentos e os maiores contrassensos (Schöpke, 2004, p. 73).
Já as concepções medievais de diferença, afirma Schöpke, “no geral, elas não
ultrapassaram o ponto de vista aristotélico, afirmando-se como differentia specifica”
(Schöpke, 2004, p. 81). Nesse sentido, é dada uma relevância significativa à
contribuição de Porfírio, relativamente à lógica quando este distingue a diferença entre
os cinco predicáveis maiores, que constitui a espécie e determina o gênero. Ou seja,
Isso quer dizer que a diferença é aquilo que, estando em alguma coisa,
a identifica e a diferencia das outras. Mas também Porfírio identifica
outros tipos de diferença: a diferença comum e a diferença própria,
sendo a primeira aquela cujo acidente é separável do corpo (Platão
está lendo e Platão não está lendo) e a segunda, aquela que é
essencialmente inseparável (por exemplo, a racionalidade). Muitos
séculos depois, os escolásticos definiriam duas outras formas da
diferença: numero differentia e specie differentia. Uma maneira de
distinguir os seres que se diferenciavam segundo o número (como
muitos ou poucos) daqueles que eram intrinsecamente diversos (eram
outros segundo a essência). De qualquer modo, em todos esses casos,
a influência aristotélica é inegável e mesmo decisiva (Schöpke, 2004,
p. 81).
Segundo Schöpke, tendo por base Deleuze, no livro O bergsonismo, um filósofo
da modernidade que muito contribuiu para a constituição da categoria da diferença foi
Bergson, devido à ideia de ultrapassar a razão clássica, ou seja, ultrapassar o
conhecimento representativo que impede a apreensão das coisas em si mesmas. Para
Bergson, no conhecimento clássico da representação há uma separação entre sujeito e
objeto que impede essa apreensão, pois representamos aquilo que nos é exterior. Devido
a essa operação,
208
Substituímos a multiplicidade colorida do mundo por conceitos fixos e
gerais e, posteriormente, chegamos a confundir a linguagem com a
coisa, de tal modo que chegamos a ver mais realidade nos esquemas
artificiais criados pela razão do que no próprio mundo. É exatamente
isso que impede a razão de conhecer a coisa na sua profundidade e
interioridade. Somente com um conhecimento que pressuponha uma
espécie de ‘simbiose’ entre sujeito e objeto – ou seja, somente quando
for possível falar em confusão, uma mistura, uma coincidência entre
os dois – é que será possível falar em um conhecimento real. Dito de
outra forma, existe um tipo de conhecimento que circunda o objeto,
que o analisa a distância e que dele tem apenas as suas coordenadas
espaciais; e existe aquele que Bergson chama de conhecimento ‘de
dentro’ do objeto, um modo de conhecer que implica uma
aproximação direta, numa espécie de ‘simpatia’ com a coisa a ser
conhecida. Ao primeiro, Bergson chama de conhecimento
representativo e ao segundo, de intuição. Para Bergson, apenas a
segunda forma de conhecimento permite ao sujeito conhecer
realmente o ‘absoluto’ de um objeto (Schöpke, 2004, pp. 101- 102).
Enfim, para Bergson, a intuição opõe-se ao conhecimento analítico da razão
clássica. Somente a intuição pode apreender o ser em seu movimento e devir
diferenciados. Para tanto, é necessário uma nova linguagem que dê conta desse fluxo
cambiante do ser, pois a linguagem da razão representativa ou clássica congela esse
movimento e só apreende o ser de forma estanque.
Uma filosofia que tenha a intuição como método deve apreender a coisa sem
nenhuma representação simbólica. Schöpke, baseada em Deleuze, apresenta três
espécies de ato que determinam as regras do método intuitivo:
[...] o primeiro ato consiste em denunciar os falsos problemas, ou seja,
fazer a prova do verdadeiro e do falso quando da apresentação de um
problema (e não em suas soluções, como é feito correntemente),
mostrando que existe uma relação intrínseca entre a verdade e a
criação; o segundo consiste em lutar contra a ilusão que nos impede de
reencontrar as verdadeiras diferenças de natureza e as profundas
articulações do real; o terceiro, por fim, consiste em colocar os
problemas e resolvê-los em função do tempo e não do espaço, ou seja,
é preciso acostumar-se a pensar em termos de duração (Schöpke,
2004, p. 108 - 109).
O segundo ato é o que nos interessa aqui, em função da nossa reflexão sobre a
diferença. Nesse ponto é que a filosofia bergsoniana toma uma importância significativa
na fundação de uma filosofia da diferença. Na medida em que sua filosofia tem um
compromisso com a apreensão do real a partir de suas diferenças específicas, em um
fluxo de mudança e permanência, num misto de identidade e diferença, o que só é
possibilitado pela intuição como método, diversamente da razão representativa que
apreende o ser como ilusão, pois só o compreende de forma fixa.
209
Para Schöpke, Nietzsche é decisivo na criação de uma filosofia da diferença, na
medida em que seu pensamento recusou um modelo ou um ser em si, só concebendo os
seres na temporalidade a qual não sobrevivem (cf. Deleuze na obra Nietzsche e a
filosofia). A exclusividade da existência de cada ser, todo ser é único, faz com que não
exista a identidade como modelo, sendo essa precária e provisória. Como afirma
Schöpke: “Para Nietzsche, as ideias de mesmo e de semelhante são forjadas por uma
razão que precisa tomar o diferente pelo igual ou similar. [...], o conhecimento
representativo depende disso. Mas o que existe de fato é um verdadeiro abismo entre os
seres” (Schöpke, 2004, p. 125). Assim, a ideia nietzschiana do eterno retorno só pode
ser perfeitamente compreendida como sendo:
[...] eterno retorno como retorno da diferença – uma vez que é a
diferença, e não a identidade, o princípio de toda a Natureza. Todo
retorno repete o ‘mesmo’ mundo de diferenças, o ‘mesmo’ mundo de
simulacros; é a eterna volta daquilo que não tem princípio nem fim; é
a eterna repetição sem finalidade. É a eterna volta da diferença pura
[...] (Schöpke, 2004, p. 126).
Nietzsche afasta-se assim das teses que defendem um princípio de identidade
para todos os seres, pois para ele é a diferença que está na essência dos seres. Não há
uma finalidade superior e a priori ao mundo e à vida. O que eternamente retorna é a
diferença que faz tudo sempre novo e diferente.
Deleuze, coerente com sua posição de que fazer filosofia é criar conceitos, no
livro O que é filosofia?, escrito em parceria com Guattari, cria o conceito de diferença
pura, que, como nos diz Schöpke, é um conceito autenticamente deleuziano. Foi um
conceito criado a partir de outros conceitos filosóficos da tradição, inclusive muitos
deles elencados acima, pois, segundo o próprio Deleuze, não se cria um conceito
filosófico do nada. Deleuzianamente falando, não se trata de buscar a influência de um
conceito filosófico sobre outro, já que isso seria uma banalização, mas da remissão de
um conceito a outro e sua reativação em planos distintos.
Um outro aspecto a ser enfatizado é que todo conceito criado visa um problema
colocado pelo filósofo, mas isso não quer dizer que esse conceito vise especificamente
um objeto, no sentido clássico da representação, mas “é o problema como problema que
é o objeto real da Ideia” (Schöpke, 2004, p. 126), pois na perspectiva deleuziana não
existe um sentido progressivo da filosofia como uma sucessão de sistemas, e sim um
devir que não busca uma superação de ideias rumo a uma verdade a se estabelecer.
Nesse sentido, Schöpke contextualiza o conceito de diferença pura em Deleuze:
210
Para Deleuze, o mundo moderno nasce da falência da representação. É
um mundo onde as identidades não passam de simulações no ‘jogo’
mais profundo da diferença e da repetição. Este é, para Deleuze, o
mundo dos simulacros, das distribuições nômades, o mundo das
diferenças. Porém, a despeito disso, não existia ainda no ‘céu
filosófico’ um conceito autêntico de diferença ou, mais
especificamente, não havia sido ainda criado um conceito que desse
conta da diferença em si mesma. A razão disso é que sempre se
confundiu a criação de um conceito de diferença com a inscrição da
diferença no conceito em geral. Dessa maneira, a diferença – já
mediatizada – era sempre associada à negação e à contradição (que
representam, para Deleuze, as formas menores e mais baixas da
diferença). Era preciso inventar um conceito que libertasse a diferença
das regras limitadoras da representação. E libertá-la da representação é
libertá-la de sua subordinação à ‘identidade’, ao ‘mesmo’ e à
‘semelhança’. É dar a ela ‘voz’ própria, ou seja, é assegurar à
diferença uma ontologia sempre negada por uma imagem de
pensamento ortodoxa. Dissemos ‘ontologia’ porque a diferença pura é
a própria expressão do ‘ser’ (Schöpke, 2004, p. 143).
Dessa forma, Schöpke, apoiada na obra Diferença e repetição, de Deleuze,
afirma que a diferença pura deleuziana é o maior, primeiro e mais significativo
acontecimento do ser; o ser se diz na diferença por essa ser a sua manifestação mais
profunda; o ser se expressa de forma ilimitada ao se expressar na multiplicidade e
diferença que o compõem; a univocidade do ser, só é dito num único sentido, é expressa
pela diferença, ou seja, “o ser unívoco só é efetivamente realizado no eterno-retorno.
Isso porque a sua verdadeira potência está ligada à sua própria repetição. É neste
sentido que Deleuze afirma que a repetição é o ser informal de todas as diferenças, já
que ele não faz retornar o mesmo e o idêntico, mas a própria diferença” (Schöpke, 2004,
p. 154).
É nesse sentido que a diferença pura, como expressão mais legítima do ser, não
pode ser pensada pela razão clássica da representação que sempre subestimou ou negou
radicalmente a diferença e o pensamento do devir. Assim, pode-se afirmar com Deleuze
que, negado a ideia platônica dos modelos e das cópias, têm-se a libertação dos
simulacros, onde a diferença é o próprio simulacro.
Deleuze, em seu livro Nietzsche e a filosofia, enceta uma crítica radical ao
pensamento dialético hegeliano, e reivindica uma verdadeira categoria da diferença
contra a abordagem feita pela dialética:
Três ideias definem a dialética: a ideia de um poder do negativo como
princípio teórico que se manifesta na oposição e na contradição; ideia
de um valor do sofrimento e da tristeza, a valorização ‘das paixões
tristes’ como princípio prático que se manifesta na cisão, no
211
dilaceramento; a ideia de uma positividade como produto teórico e
prático da própria negação. Não será exagerado dizer que toda a
filosofia de Nietzsche, no seu sentido polêmico, é a denúncia destas
três ideias. [...] Se a dialética encontra o seu elemento especulativo na
oposição e na contradição, é, em primeiro lugar, porque reflete uma
falsa imagem da diferença (Deleuze, s/d, p. 290).
Muitas são as passagens nesse livro de Deleuze que demonstram a sua posição
crítica, baseada em Nietzsche, relativamente à dialética hegeliana, afirmando ser esta o
triunfo das forças reativas, do ressentimento; ser uma ideologia cristã; ser infeliz; ter
somente um fantasma da diferença etc. Em oposição, a diferença é feliz, é afirmativa,
pois é afirmação da afirmação e, nesse sentido, possibilita um desenvolvimento da
criação do novo e da transvaloração dos valores.
2. Deleuze: o eterno retorno da repetição da diferença
No livro Diferença e repetição, Deleuze mostra que a Filosofia da Diferença
critica a Filosofia da Representação, elegendo o conceito de Diferença como central por
ser afirmativo e criativo, no lugar do conceito da contradição, negativo e conservador.
O ponto de partida deleuziano é um anti-hegelianismo, no qual a diferença e a
repetição substituem o idêntico e o negativo, a identidade e a contradição. Para Deleuze,
a diferença hegeliana é pensada na perspectiva do negativo quando levada até a
contradição e subordinada ao idêntico. Nesse universo hegeliano prevalece o primado
da identidade que caracteriza o mundo da representação. Contudo, o mundo moderno se
caracteriza pela falência da representação e seu pensamento identitário, os quais são
substituídos pela valorização dos simulacros que põem em xeque as identidades do
homem, de Deus, do sujeito e da substância, ou seja, identidades simuladas, produzidas
pela diferença e pela repetição representacionais.
Diversamente do pensamento representacional, Deleuze busca “pensar a
diferença em si mesma e a relação do diferente, independentemente das formas da
representação que as conduzem ao Mesmo e as fazem passar pelo negativo” (Deleuze,
1988, p. 16). Ou seja, pensar sob a perspectiva do simulacro, no qual a repetição incide
sobre repetições e a diferença sobre diferenças, repetições que se repetem e diferenças
que se diferenciam (Cf. Deleuze, 1988, p.16). Dessa forma, no prólogo desse livro,
Deleuze já explica e delimita que sua pesquisa se origina de duas vertentes que se
reúnem e se confundem, a diferença pura e a repetição complexa:
212
Uma concerne ao conceito de diferença sem negação, precisamente
porque a diferença, não sendo subordinada ao idêntico, não iria ou
“não teria de ir” até a oposição e a contradição; a outra concerne a um
conceito de repetição tal que as repetições físicas, mecânicas ou nuas
(repetição do Mesmo) encontrariam sua razão nas estruturas mais
profundas de uma repetição oculta, em que se disfarça e se desloca um
“diferencial” (Deleuze, 1988, p. 16). (Grifo nosso).
Dessa forma, segundo Deleuze, seu pensamento está mais próximo de um certo
empirismo do que da dialética, pois o empirismo também “trata o conceito como o
objeto de um encontro, como um aqui-agora, ou melhor, como Erewhon, de onde saem,
inesgotáveis, os ‘aqui’ e os ‘agora’ sempre novos, diversamente distribuídos” (Deleuze,
1988, p. 17). Para o empirista, os conceitos são as próprias coisas em estado livre e
selvagem, percebidas para além da mediação dos predicados antropológicos: “Eu faço,
refaço e desfaço meus conceitos a partir de um horizonte movente, de um centro sempre
descentrado, de uma periferia sempre deslocada que os repete e os diferencia” (Deleuze,
1988, p. 17). No entanto, o empirismo, conforme Deleuze, não deve ser compreendido
como uma mera reação contra os conceitos e muito menos como simples apelo à
experiência vivida, mas sim como uma imensa e intensa criação de conceitos. Esse
empirismo superior tem por objeto “o mundo intenso das diferenças, no qual as
qualidades encontram sua razão e o sensível encontra seu ser [...]. Este empirismo nos
ensina uma estranha ‘razão’, o múltiplo e o caos da diferença (as distribuições nômades,
as anarquias coroadas)” (Deleuze, 1988, p. 107).
É por esse caráter mais imanente que a Filosofia moderna deve ultrapassar as
dicotomias temporal-intemporal, histórico-eterno, particular-universal. E, para Deleuze,
é a filosofia de Nietzsche que possibilita esse movimento. É com o pensamento
nietzschiano que “descobrimos o intempestivo como sendo mais profundo que o tempo
e a eternidade: a Filosofia não é Filosofia da História, nem Filosofia do eterno, mas
intempestiva, sempre e só intempestiva, isto é, ‘contra este tempo, a favor, espero, de
um tempo que virá’” (Deleuze, 1988, p. 18). Samuel Butler segue esse mesmo caminho
nietzschiano ao criar o conceito do Erewhon “como aquilo que significa, ao mesmo
tempo, o ‘parte alguma’ originário e o ‘aqui-agora’ deslocado, disfarçado, modificado,
sempre recriado. Nem particularidades empíricas nem universal abstrato: Cogito para
um eu dissolvido” (Deleuze, 1988, p. 18). O que vai ao encontro do que Deleuze
213
acredita: um mundo com individuações impessoais e com singularidades préindividuais.
2.1. Repetição
Nesse contexto de anti-hegelianismo do pensamento deleuziano, o conceito de
repetição é tão central quanto o de diferença e ambos devem ser compreendidos em um
mesmo movimento de uma mesma unidade, pois há que se compreender que o que se
repete é a diferença. Para Deleuze, Nietzsche coloca “o infinito do movimento real
como a diferença absoluta na repetição do eterno retorno” (Deleuze, 1988, p. 34).
Assim, a natureza do movimento real é a “repetição” e não a mediação, a qual é um
falso movimento lógico e abstrato de Hegel e que se opõe a repetição (Cf. Deleuze,
1988, p. 33). Em Hegel a repetição é tomada como generalidade, na medida em que é a
repetição de um conceito (o conceito de animal se expande em racional e em irracional,
por exemplo) que se generaliza entre as coisas e mediatiza o conhecimento do sujeito
sobre as coisas. Contudo, para Deleuze, a repetição não é uma mera generalidade.
Deleuze fala de três distinções entre a generalidade e a repetição: do ponto de
vista das condutas, do ponto de vista da lei e do ponto de vista do conceito. Do ponto de
vista das condutas, a repetição não é uma simples generalidade, mas uma “singularidade
não trocável, insubstituível”. Dessa forma, “repetir é comportar-se, mas em relação a
algo único ou singular, algo que não tem semelhante ou equivalente” (Deleuze, 1988, p.
22). Assim, a repetição, como universalidade do singular, se opõe a generalidade, como
generalidade particular (Cf. Deleuze, 1988, p. 22).
Já a distinção entre a generalidade e a repetição do ponto de vista da lei, a qual
“reúne a mudança das águas à permanência do rio” (Deleuze, 1988, p. 23), implica que
a repetição é contra a forma e o conteúdo da lei e seu caráter de generalidade. A
repetição é sinônimo de potência afirmada contra a lei e, talvez, superior a ela (Cf.
Deleuze, 1988, p. 24). Dessa forma:
Se a repetição existe ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade
contra o geral, uma universalidade contra o particular, um relevante
contra o ordinário, uma instantaneidade contra a variação, uma
eternidade contra a permanência. Sob todos os aspectos, a repetição é
transgressão. Ela põe a lei em questão, denuncia seu caráter nominal
ou geral em proveito de uma realidade mais profunda e mais artística
(Deleuze, 1988, p. 24)
214
Assim, então, do ponto de vista do conceito, se pode afirmar categoricamente
que a repetição é diferente de generalidade, a repetição remete a uma potência
singular, enquanto a generalidade se refere à ordem geral e “só representa e supõe uma
repetição hipotética” (Deleuze, 1988, p. 25). O grau de repetição que a lei consegue
alcançar, por exemplo, é o dessa generalidade abstrata, à qual a repetição como potência
se opõe, tanto contra a lei moral quanto contra a lei da natureza, pois “a repetição
pertence ao humor e à ironia, sendo por natureza transgressão, exceção, e manifestando
sempre uma singularidade contra os particulares submetidos à lei, um universal contra
as generalidades que estabelecem as leis” (Deleuze, 1988, p. 27).
Parafraseando Deleuze, arriscaríamos dizer que é a mudança das águas que faz a
permanência do rio e nesse movimento a diferença se apresenta disfarçada de repetição.
Nessa perspectiva, Deleuze elege Kierkegaard e Nietzsche como grandes referências do
pensamento da repetição. Cada um, a sua maneira,
Faz da repetição não só uma potência própria da linguagem e do
pensamento, um pathos e uma patologia superior, mas também a
categoria fundamental da Filosofia do futuro. A cada um deles
corresponde um testamento e também um teatro, uma concepção de
teatro e um personagem eminente nesse teatro, como herói da
repetição: Jó-Abraão, Dionísio-Zaratustra [...]. O que os separa é
considerável, manifesto, bem conhecido. Mas nada apagará este
prodigioso encontro em torno de um pensamento da repetição: eles
opõem a repetição a todas as formas de generalidade. E eles não
tomam a palavra “repetição” de maneira metafórica; ao
contrário, têm uma certa maneira de tomá-la ao pé da letra e de
introduzi-la no estilo (Deleuze, 1988, p. 28). (Grifos nossos).
Apesar das distinções, Deleuze enumera quatro proposições importantes que
marcam a coincidência entre esses pensadores no que diz respeito à caracterização da
repetição. A primeira proposição afirma a necessidade de “fazer da própria repetição
algo novo; liga-la a uma prova, a uma seleção, a uma prova seletiva; coloca-la como
objeto supremo da vontade e da liberdade”. (Deleuze, 1988, p. 28). Para Kierkegaard, é
necessário fazer da repetição uma novidade, uma tarefa da liberdade. Para Nietzsche,
trata-se de libertar a vontade de tudo o que a aprisiona e fazer da repetição “o próprio
objeto do querer”. Mas é preciso cuidado, pois se a repetição liberta, ela também
aprisiona (Cf. Deleuze, 1988, p. 28).
A segunda proposição opõe a repetição às leis da natureza. Para Kierkegaard,
não há repetição na natureza e ele não se refere a ela. Para Nietzsche, essa inexistência
não é tão clara, pois ele afirma que “se ele descobre a repetição na Physis, ele descobre
215
algo superior ao reino das leis” (Deleuze, 1988, p. 29). Contudo, e mais importante, essa
hipótese nietzschiana se opõe à hipótese cíclica: “Ele concebe a repetição no eterno
retorno como ser, mas opõe este ser a toda forma legal, tanto ao ser-semelhante quanto
ao ser-igual” (Deleuze, 1988, p. 29).
A terceira proposição, por sua vez, opõe a repetição à lei moral, e faz da
repetição a suspensão da Ética, “o pensamento do para além do bem e do mal”
(Deleuze, 1988, p. 29). Assim,
A repetição aparece como o logos solitário, do singular, o logos do
‘pensador privado’. Em Kierkegaard e em Nietzsche desenvolve-se a
oposição entre o pensador privado, o pensador-cometa, portador da
repetição, e o professor público, doutor da lei, cujo discurso de
segunda mão procede por mediação e tem como fonte moralizante a
generalidade dos conceitos (Deleuze, 1988, pp. 29-30).
Ou seja,
Pensador privado: pensador-cometa: portador da repetição
Que, por sua vez, se distingue do:
Professor público: doutor da lei: portador da mediação, da generalidade dos
conceitos, da moralização
(Grifos nossos)
Na contraposição do pensador privado ao professor público, temos que a
repetição é a única forma de uma lei para além da moral, pois a mediação traria uma
moralização, bem como a generalidade. Dessa forma, “a repetição no eterno retorno é a
forma brutal do imediato, do universal e do singular reunidos, que destrona toda lei
geral, dissolve as mediações, faz perecer os particulares submetidos à lei. Há um além e
um aquém da lei que se unem no eterno retorno [...]” (Deleuze, 1988, p. 30).
Por fim, a quarta proposição opõe “a repetição não só às generalidades do
hábito, mas às particularidades da memória” (Deleuze, 1988, p. 30). Assim,
A repetição é o pensamento do futuro: ela se opõe à antiga categoria
da reminiscência e à moderna categoria do habitus. É na repetição, e
pela repetição que o Esquecimento se torna uma potência positiva e o
inconsciente, um inconsciente superior positivo (por exemplo, o
esquecimento, como força, faz parte integrante da experiência vivida
do eterno retorno) – tudo se resume à potência (Deleuze, 1988, p. 31).
Para Kierkegaard, afirmar a repetição como segunda potência da consciência
significa que o infinito se diz de uma só vez. Para Nietzsche, apresentar o eterno retorno
como a expressão imediata da vontade de potência não significa “querer a potência”,
216
mas “elevar o que se quer à ‘enésima’ potência, isto é, extrair sua forma superior graças
à operação seletiva do pensamento no eterno retorno, graças à singularidade da
repetição no próprio eterno retorno” (Deleuze, 1988, p. 31). Ou seja, tudo retorna como
potência e não como o Mesmo.
Kierkegaard e Nietzsche, conforme Deleuze, com suas proximidades da
repetição, trazem à Filosofia novos meios de expressão. Podendo-se até falar em
ultrapassamento da Filosofia. Ambos criticam em Hegel “a permanência no falso
movimento, no movimento lógico abstrato, isto é, na ‘mediação’. Eles querem colocar a
metafísica em movimento, em atividade querem fazê-la passar ao ato e aos atos
imediatos” (Deleuze, 1988, p. 32). Contudo, não se trata simplesmente de propor uma
nova representação do movimento, pois a representação já é mediação, mas sim de
produzir, na obra, um movimento fora da representação: “trata-se de fazer do próprio
movimento uma obra, sem interposição; de substituir representações mediatas por
signos diretos; de inventar vibrações, rotações, giros, gravitações, danças ou saltos que
atinjam diretamente o espírito” (Deleuze, 1988, p. 32).
Essas ideias pertencem à esfera do teatro e são avançadas para a época desses
pensadores. Por isso, Deleuze afirma que alguma coisa de completamente novo
começou com Kierkegaard e Nietzsche: “Eles já não refletem sobre teatro à maneira
hegeliana. Nem mesmo fazem teatro filosófico. Eles inventam, na filosofia, um
incrível equivalente do teatro, fundando, desta maneira, este teatro do futuro e, ao
mesmo tempo, uma nova Filosofia” (Deleuze, 1988, p. 32) (Grifo nosso). Assim, há
nesses filósofos a descoberta da figura do pensador que “vive o problema das máscaras,
que experimenta este vazio interior próprio da máscara e que procura supri-lo [...]
mediante o ‘absolutamente diferente’, isto é, introduzindo nele toda a diferença do finito
e do infinito” (Deleuze, 1988, pp. 32-33). O teatro, aqui, diz respeito ao movimento
real, como afirma Deleuze:
Eis o que nos é dito: este movimento, a essência e a interioridade do
movimento, é a repetição, não a oposição, não a mediação. Hegel é
denunciado como aquele que propõe um movimento do conceito
abstrato em vez do movimento da Physis e da Psiquê. Hegel substitui
a verdadeira relação do singular e do universal na Ideia pela relação
abstrata do particular com o conceito em geral. Ele permanece, pois,
no elemento refletido da “representação”, na simples generalidade. Ele
representa conceitos em vez de dramatizar Ideias: faz um falso teatro,
um falso drama, um falso movimento. É preciso ver como Hegel trai
e desnatura o imediato para fundar sua dialética sobre esta
incompreensão e para introduzir a mediação num movimento que
217
é apenas o movimento de seu próprio pensamento e das
generalidades deste pensamento. As sucessões especulativas
substituem as coexistências; as oposições vêm recobrir e ocultar as
repetições (Deleuze, 1988, p. 34) (Grifo nosso).
Assim, para Deleuze, inversamente de Hegel e do pensamento da representação,
movimento é a repetição e é este o nosso verdadeiro teatro que, por sua vez, é
preenchido por signos e máscaras, com os quais o ator interpreta personagens que
interpretam outros personagens. Neste teatro “pensa-se como a repetição se tece de
um ponto relevante a um outro, compreendendo em si as diferenças. [...]. O teatro
da repetição opõe-se ao teatro da representação, como o movimento opõe-se ao
conceito e à representação que o relaciona ao conceito” (Deleuze, 1988, p. 35)
(Grifos nossos). Nesse teatro, há experimentação de “forças puras, traçados
dinâmicos no espaço que, sem intermediário, agem sobre o espírito, unindo-o
diretamente à natureza e à história” (Deleuze, 1988, p. 35) (Grifos nossos). No teatro
da repetição, conforme Deleuze, a linguagem fala antes das palavras, os gestos se
elaboram antes dos corpos organizados, as máscaras existem antes das faces, e os
espectros e fantasmas antes dos personagens. Assim, “todo o aparelho da repetição
[existe] como ‘potência terrível’” (Deleuze, 1988, p. 35).
Deleuze enfatiza, ainda, que o teatro da repetição confirma “a diferença
irredutível entre a generalidade e a repetição”. Ou seja, a generalidade que implica a
mediação, é diversa da repetição. Daí Nietzsche fundar a repetição no eterno retorno,
bem como a morte de Deus e a dissolução do Eu (Cf. Deleuze, 1988, p. 36).
A terceira distinção entre a repetição e a generalidade gira em torno do ponto de
vista do conceito ou da representação, ou seja, a relação entre o conceito e seu objeto
que, por sua vez, implica na diferença conceitual e na representação como mediação,
nas quais a repetição será sempre generalidade. Assim, a repetição como potência e
retorno da diferença só é possível para além da filosofia da representação, pois a
repetição não se explica pela identidade dos conceitos e nem pela negatividade.
Segundo Deleuze, a representação trata da repetição invocando “a forma do idêntico no
conceito, a forma do Mesmo na representação: a repetição se diz de elementos que são
realmente distintos e que, todavia, têm estritamente, o mesmo conceito” (Deleuze, 1988,
p. 43). A repetição aparece como uma diferença sem conceito, uma diferença
indiferente, pois a identidade absoluta do conceito para objetos distintos desemboca em
uma explicação negativa e deficiente da repetição:
218
[...] aquilo que repete só o faz à força de não ‘compreender’, de
não se lembrar, de não saber ou de não ter consciência. Em toda
parte, é a insuficiência do conceito e de seus concomitantes
representativos (memória e consciência de si, rememoração e
recognição) que é tida como capaz de dar conta da repetição. É
esta, pois, a deficiência de todo argumento fundado na forma da
identidade no conceito: estes argumentos só nos dão uma
definição nominal e uma explicação negativa da repetição
(Deleuze, 1988, p. 44). (Grifos nossos).
Dessa forma, alerta Deleuze, a repetição em sua relação com a diferença exige
um princípio positivo, pois a repetição não se deixa explicar pela forma de identidade
no conceito ou na representação, ela exige um princípio ‘positivo’ superior, no qual a
diferença é interior à Ideia. Assim, fala-se de repetição diante de elementos idênticos
que têm absolutamente o mesmo conceito, mas é necessário encontrar a singularidade
naquilo que se repete. Porém,
Mais do que distinguir repetido e repetidor, objeto e sujeito, devemos
distinguir duas formas de repetição. Em todo caso, a repetição é a
diferença sem conceito. Contudo, num caso a diferença é posta
somente como exterior ao conceito, diferença entre objetos
representados sob o mesmo conceito, caindo na indiferença do
espaço e do tempo. No outro caso, a diferença é interior à Ideia;
ela se desenrola como puro movimento criador de um espaço e de
um tempo dinâmicos que correspondem à Ideia. A primeira
repetição é repetição do mesmo e se explica pela identidade do
conceito ou da representação; a segunda é a que compreende a
diferença e compreende a si mesma na alteridade, na
heterogeneidade de uma ‘apresentação’. Uma é negativa por
deficiência do conceito, a outra é afirmativa por excesso de Ideia.
(Deleuze, 1988, p. 55-56). (Grifos nossos).
Por isso, para Deleuze, diversamente da filosofia da representação, a repetição
em sua relação com a diferença exige um princípio positivo, pois ela é potência, é
criação: “a repetição é verdadeiramente o que se disfarça ao se construir e o que só se
constitui ao se disfarçar. Ela não está sob as máscaras, mas se forma de uma máscara a
outra, como de um ponto relevante a outro, com e nas variantes. As máscaras nada
recobrem, salvo outras máscaras” (Deleuze, 1988, p. 45) (Grifo nosso). A repetição
não tem um fundamento do qual parte e repete em si mesma, como sendo sua própria
existência, ao contrário, ela se constrói. Não há um primeiro termo que se repete,
“nada há de repetido que possa ser isolado ou abstraído da repetição em que ele se
forma e em que, porém, ele também se oculta. Não há repetição nua que possa ser
219
abstraída ou inferida do próprio disfarce. A mesma coisa é disfarçante e
disfarçada” (Deleuze, 1988, p. 46). Dessa forma, afirma Deleuze,
A repetição é simbólica na sua essência; o símbolo, o simulacro, é
a letra própria da repetição. É por isso que as variantes não vêm
de fora, não exprimem um compromisso secundário entre uma
instância recalcante e uma instância recalcada, e não devem ser
compreendidas a partir das formas ainda negativas da oposição,
da conversão ou da reversão. As variantes exprimem antes de
tudo mecanismos diferenciais que são da essência e da gênese do
que se repete. [...]. O que há de mecânico na repetição, o elemento de
ação aparentemente repetido, serve de cobertura para uma repetição
mais profunda que se desenrola numa outra dimensão, verticalidade
secreta em que os papéis e as máscaras se alimentam no instinto de
morte (Deleuze, 1988, p. 46). (Grifos nossos).
Nesse movimento de constituição positiva de si mesma, “é a máscara o
verdadeiro sujeito da repetição” (Deleuze, 1988, p. 47) (Grifo nosso). Pelo fato da
repetição diferir por natureza da representação é que “o repetido não pode ser
representado, mas deve sempre ser significado, mascarado por aquilo que o
significa, ele próprio mascarando aquilo que ele significa” (Deleuze, 1988, p. 47)
(Grifo nosso). Assim, “a verdade do nu está na máscara, no disfarce, no
travestimento” (Deleuze, 1988, p. 56) (Grifo nosso). Por isso a repetição não se
esconde em outra coisa, “mas se forma disfarçando-se; não preexiste a seus
próprios disfarces e, formando-se, constitui a repetição nua em que ela se envolve.
(Deleuze, 1988, p. 56) (Grifo nosso). O disfarce é a sua própria forma de existência, na
qual a repetição é o disfarce de si mesma.
Deleuze afirma que apesar de ter definido a repetição como diferença sem
conceito, seria um erro reduzir a diferença à exterioridade da repetição, sob a forma do
Mesmo no conceito, pois ela pode ser interior à Ideia e “possuir em si própria todos os
recursos do signo, do símbolo e da alteridade que ultrapassam o conceito enquanto tal”
(Deleuze, 1988, p. 57). Aliás, para Deleuze, este tipo de repetição traz o espírito
constituinte de toda repetição: “É ela que constitui a essência da diferença sem conceito,
da diferença não mediatizada em que consiste toda repetição. É ela o sentido primeiro,
literal e espiritual da repetição” (Deleuze, 1988, p. 57). Ou seja, a repetição vem da
diferença não mediatizada, da diferença sem conceito.
Contudo, ao falar que a repetição está ligada positivamente à expressão
“diferença sem conceito”, é preciso atentar que “talvez o engano da filosofia da
diferença, de Aristóteles a Hegel, passando por Leibniz, tenha sido o de confundir o
220
conceito da diferença com uma diferença simplesmente conceitual” (Deleuze, 1988, p.
61), uma diferença situada no conceito em geral, sem Ideia singular da diferença, uma
diferença mediatizada pela representação. Todavia, alerta Deleuze, é preciso levar em
consideração duas questões:
[...] qual é o conceito da diferença – que não se reduz à simples
diferença conceitual, mas que exige uma Ideia própria, como uma
singularidade na Ideia? Qual é, por outro lado, a essência da
repetição – que não se reduz a uma diferença sem conceito, que
não se confunde com o caráter aparente dos objetos representados
sob um mesmo conceito, mas que, por sua vez, dá testemunho da
singularidade como potência da Ideia? O encontro das duas
noções, diferença e repetição, não pode ser suposto desde o início,
mas deve aparecer graças a interferências e cruzamentos entre
duas linhas concernentes, uma, à essência da repetição, a outra, à
ideia da diferença (Deleuze, 1988, p. 61). (Grifos nossos).
Certamente essas respostas ficarão mais claras quando tivermos desenvolvido e
exposto mais detidamente as questões relativas à diferença. É o que será feito a seguir.
2.2. Diferença
A frase de Deleuze: “Tirar a diferença de seu estado de maldição parece ser,
assim, a tarefa da filosofia da diferença” (Deleuze, 1988, p. 65) sintetiza bem o objetivo
e o objeto da filosofia da diferença deleuziana em sua luta contra a filosofia da
representação e o lugar e a forma onde foi posta e como foi tratada a diferença, ou seja,
a total submissão da diferença à identidade. Seja em Platão, como simulacro,
decadência da cópia que se afasta da identidade do modelo; seja em Aristóteles, como
diferença específica, quando submetida à identidade do conceito; seja em Hegel, quando
é um elemento negativo que só se realiza na contradição.
O pensamento de Platão gira em torno da importante distinção entre o original e
a imagem, o modelo e a cópia: “Julga-se que o modelo goze de uma identidade
originária superior (só a ideia não é outra coisa a não ser aquilo que ela é, só a Coragem
é corajosa e a Piedade, piedosa), ao passo que a cópia é julgada segundo uma
semelhança interior derivada” (Deleuze, 1988, p. 210). Dessa forma, a diferença vem
somente no terceiro nível, depois da identidade e da semelhança, e é pensada
exclusivamente a partir dessas:
A diferença só é pensada no jogo comparado de duas similitudes, a
similitude exemplar de um original idêntico e a similitude imitativa de
uma cópia mais ou menos semelhante: é esta a prova ou a medida dos
pretendentes. Mais profundamente, porém, a verdadeira distinção
221
platônica desloca-se e muda de natureza: ela não é entre o original e a
imagem, mas entre duas espécies de imagens. Ela não é entre o
modelo e a cópia, mas entre duas espécies de imagens (ídolos), cujas
cópias (ícones) são apenas a primeira espécie, sendo a outra
constituída pelos simulacros (fantasmas). A distinção modelo-cópia
existe apenas para fundar e aplicar a distinção cópia-simulacro, pois as
cópias são justificadas, salvas, selecionadas em nome da identidade do
modelo e graças a sua semelhança interior com este modelo ideal. A
noção de modelo não intervém para opor-se ao mundo das
imagens em seu conjunto, mas para selecionar as boas imagens,
aquelas que se assemelham do interior, os ícones, e para eliminar
as más, os simulacros (Deleuze, 1988, p. 210) (Grifo nosso).
Nesse sentido, o platonismo “está construído sobre esta vontade de expulsar os
fantasmas ou simulacros”. Platão identifica os simulacros com os sofistas, falsos
pretendentes sempre disfarçados e deslocados. Para Deleuze, é com Platão que é tomada
a decisão filosófica de subordinar a diferença às potências do Mesmo e do Semelhante,
de declarar a diferença impensável em si mesma e de remetê-la, juntamente com os
simulacros, ao oceano sem fundo (Cf. Deleuze, 1988, p. 211).
Dessa forma, Platão, que não dispunha ainda das categorias constituídas da
representação, as quais só surgirão com Aristóteles, fundou sua percepção da diferença
na teoria da Ideia: “O que aparece, então, em seu mais puro estado, é uma visão moral
do mundo, antes que se possa desdobrar a lógica da representação. É por razões morais,
inicialmente, que o simulacro deve ser exorcizado e que a diferença deve ser
subordinada ao mesmo e ao semelhante” (Deleuze, 1988, p. 211). Contudo, afirma
Deleuze, a diferença na pele do simulacro não se deixou subordinar facilmente, como
acontecerá no mundo aristotélico da representação; ela se rebela no cosmos platônico e
“Heráclito e os sofistas fazem uma algazarra dos infernos. Estranho duplo que segue
Sócrates passo a passo, que vem frequentar até o estilo de Platão, inserindo-se nas
repetições e variações deste estilo” (Deleuze, 1988, p. 211). Assim, portanto, a representação (ícone) é a imagem bem fundada, hierarquicamente secundária em relação
ao fundamento (modelo): “É neste sentido que a Ideia inaugura ou funda o mundo da
representação. Quanto às imagens rebeldes e sem semelhança (simulacros), elas são
eliminadas, rejeitadas, denunciadas como não fundadas, falsos pretendentes” (Deleuze,
1988, p. 430).
A predominância da fórmula básica da identidade, A=A, predominou no
pensamento filosófico desde os gregos. Foi esse conceito de identidade que
fundamentou o pensamento da representação e, segundo Deleuze, inviabilizou um
222
pensamento da diferença pura. Ou seja, a diferença foi submetida pela representação
através do pressuposto do princípio de identidade. A representação, assim,
É o fundamento para conhecer tudo aquilo que é ou aparece como
‘presente’ e que, como tal, remete a uma presença primeira. É esse
presente que deve ser re-presentado para poder ser referido como o
Mesmo, como o Idêntico àquela presença original. Re-encontrar o
presente na representação é, então, re-conhecer [...] (Craia, 2005, p.
59).
Primeiramente, esse reconhecimento é feito em Aristóteles, através da “raiz
quádrupla da representação”, composta pela identidade, pela analogia, pela oposição e
pela semelhança, elementos que pertencem à metafísica que, segundo Deleuze, foi o
primeiro universo constitutivo da representação. Deleuze define essa representação
surgida nos primórdios gregos, de representação orgânica, primeira forma de submeter
a diferença à identidade em um organismo harmonioso: “Assim, é como conceito que a
representação procede a um primeiro movimento de mediatização da diferença, com o
objetivo de retê-la dentro dos próprios limites conceituais” (Craia, 2005, p. 59).
Dessa forma, pode-se afirmar que os quatro elementos da representação em
Aristóteles: a identidade, a analogia, a oposição e a semelhança são as balizas da
mediação. A diferença é ‘mediatizada’ quando submetida a essa quádrupla raiz. Na
medida em que o conhecimento e a realidade são encaixotados na relação identitária
representacional entre sujeito e objeto, a diferença é tida como um mal a ser domado, é
preciso adaptá-la as exigências do conceito em geral. Por isso, então, “tirar a diferença
de seu estado de maldição parece ser, assim, a tarefa da filosofia da diferença”
(Deleuze, 1988, p. 65).
Assim, para Deleuze, a principal confusão criada em torno da filosofia da
diferença é a confusão efetuada entre o estabelecimento de um conceito próprio da
diferença com a inscrição da diferença no conceito em geral:
Confunde-se a determinação do conceito de diferença com a
inscrição da diferença na identidade de um conceito
indeterminado. É o passe de mágica implicado no feliz
momento (e disso talvez derive todo o resto: a subordinação
da diferença à oposição, à analogia, à semelhança, todos os
aspectos da mediação). Deste modo, a diferença fica sendo
apenas um predicado na compreensão do conceito (Deleuze,
1988, p. 69). (Grifos nossos).
223
Dessa forma, a diferença sem um conceito próprio, a não ser inscrita na
identidade do conceito em geral e de reflexão, é somente uma diferença que “dá
testemunho de sua plena submissão a todas as exigências da representação, que se torna,
precisamente graças a ela, ‘representação orgânica’” (Deleuze, 1988, p. 74).
É bem mais fácil compreender essas questões se tivermos a clareza de que em
Aristóteles há dois tipos de diferenças submetidas à identidade: a específica e a
genérica. A diferença específica “é aquela que cria uma contrariedade na definição das
espécies pertencentes a um gênero que permanece o mesmo para ambas e responde ao
critério da seleção para a diferença ser inscrita no conceito em geral” (Fornazari, 2005,
p. 70). Ou seja, o gênero é a zona de identidade entre duas espécies: animal (gênero e
identidade do conceito), cavalo e homem (espécies e diferenças específicas com relação
àquilo que lhes é comum, o gênero animal):
O gênero é esse algo idêntico, essa natureza comum que há entre duas
coisas como, por exemplo, entre dois animais. O cavalo e o homem
são ambos de uma natureza comum, mas entre eles há uma diferença
específica, quer dizer, a própria animalidade é diferente para cada um:
a natureza equina e a natureza humana. Portanto, toda diferença de
espécie é uma diferença entre duas coisas contrárias no interior de
uma terceira, que é a mesma para ambas e constitui o seu gênero. Os
contrários que diferem em espécie estão na mesma linha de predicação
e diferem entre si no mais alto grau, caracterizando a completude ou a
perfeição da diferença (Fornazari, 2005, p. 70).
A diferença genérica, por sua vez, diz respeito ao conceito do ser que é
distributivo, proporcionado às categorias das quais é predicado e hierárquico, princípio
e fundamento das coisas que são. Assim, a diferença genérica não se refere à relação
entre um gênero e espécies unívocas, mas sim à diferença do ser, que é equívoco por
que se diz de muitas maneiras. Ou seja, diz respeito à substância (ousía) e aos acidentes
da substância, as categorias que expressam as diversas formas do ser. Então, “enquanto
a diferença específica se contenta em inscrever a diferença na identidade do conceito
indeterminado em geral, a diferença genérica (distributiva e hierárquica) se contenta,
por sua vez, em inscrever a diferença na quase-identidade dos conceitos determináveis
mais gerais” (Fornazari, 2005, p. 75). E nas palavras de Deleuze temos o seguinte:
Eis por que não podemos esperar que a diferença genérica ou
categorial, não mais que a diferença específica, nos comunique um
conceito próprio da diferença. Enquanto a diferença específica se
contenta em inscrever a diferença na identidade do conceito
indeterminado em geral, a diferença genérica (distributiva e
hierárquica) se contenta, por sua vez, em inscrever a diferença na
224
quase-identidade dos conceitos determináveis mais gerais, isto é, na
própria analogia do juízo. Toda a filosofia aristotélica da diferença
está contida nesta dupla inscrição complementar, fundada num mesmo
postulado [...]. Entre as diferenças genéricas e específicas se
estabelece o liame de uma cumplicidade na representação (1988, pp.
72-73).
Para Deleuze, ambas as diferenças formam um conceito reflexivo, ou seja, uma
diferença reflete na outra: as diversas espécies se identificam em algo comum no
gênero, e as diversas categorias são oriundas da unidade do ser. Nas palavras de
Deleuze: “a univocidade das espécies num gênero comum remete à equivocidade do ser
nos gêneros diversos: uma reflete a outra” (1988, p. 76). O conceito reflexivo é operado
pelo juízo reflexivo “que mediatiza a diferença ao subordiná-la à identidade do conceito
de gênero e ao garantir essa subordinação” (Fornazari, 2005, p. 76). Como conceito de
reflexão, a diferença se submete plenamente a todas as exigências da representação, “a
diferença mediadora e mediatizada submete-se de pleno direito à identidade do
conceito, à oposição dos predicados, à analogia do juízo, à semelhança da percepção.
Reencontra-se aqui o caráter necessariamente quadripartito da representação” (Deleuze,
1988, p. 74).
O conceito reflexivo também configura a representação aristotélica de
representação orgânica, conforme Deleuze. No conceito reflexivo, a diferença se
encontra submetida às exigências da representação como representação orgânica, a qual
“fixa os limites para a diferença a partir das formas concretas ou das determinações das
espécies e dos gêneros, submetidas às exigências do conceito em geral” (Fornazari,
2005, p. 76).
Diversamente do ser equívoco de Aristóteles, Deleuze defende que o ser é
unívoco, essa é a proposição ontológica mais adequada a uma filosofia da diferença:
“Uma só voz faz o clamor do ser” (Deleuze, 1988, p. 75). E o mais importante nesse
fato, não é que o Ser se diga num único sentido, mas sim que:
Ele se diga num único sentido de todas as suas diferenças
individuantes ou modalidades intrínsecas. O ser é o mesmo para todas
estas modalidades, mas estas modalidades não são as mesmas. Ele é
“igual” para todas, mas elas mesmas não são iguais. Ele se diz num só
sentido de todas, mas elas mesmas não têm o mesmo sentido. É da
essência do ser unívoco reportar-se a diferenças individuantes, mas
estas diferenças não têm a mesma essência e não variam a essência do
ser – como o branco se reporta a intensidades diversas, mas
permanece essencialmente o mesmo branco. Não há duas “vias”,
como se acreditou no poema de Parmênides, mas uma só “voz” do
225
Ser, que se reporta a todos os seus modos, os mais diversos, os mais
variados, os mais diferenciados. O Ser se diz num único sentido de
tudo aquilo de que ele se diz, mas aquilo de que ele se diz difere: ele
se diz da própria diferença (Deleuze, 1988, pp. 75-76).
O ser unívoco implica uma reversão categórica geral, “segundo a qual o ser se
diz do devir, a identidade se diz do diferente, o uno se diz do múltiplo etc.” (Deleuze,
1988, p. 83) (Grifo nosso). Assim, a identidade não pode ser primeira e existir como
princípio primeiro, mas sim como segundo princípio girando em torno do Diferente.
Dessa forma, a univocidade do ser abre à diferença a possibilidade de seu conceito
próprio, libertando-a da dominação do conceito da identidade.
A univocidade do ser é definida pela presença da repetição no eterno retorno. O
eterno retorno de Nietzsche não significa o retorno do Idêntico, pois, ao contrário, todas
as identidades prévias são abolidas. O que retorna é o ser do devir. No eterno retorno
não é “o mesmo” que retorna, pois o único “mesmo” é o devir:
Retornar é o devir-idêntico do próprio devir. Retornar é, pois, a
única identidade, mas a identidade como potência segunda, a
identidade da diferença, o idêntico que se diz do diferente, que gira
em torno do diferente. Tal identidade, produzida pela diferença, é
determinada como “repetição”. Do mesmo modo, a repetição do
eterno retorno consiste em pensar o mesmo a partir do diferente
(Deleuze, 1988, p. 83) (Grifo nosso).
Outra característica do eterno retorno é seleção das diferenças segundo sua
capacidade de produzir, isto é, de retornar ou de suportar a prova do eterno retorno. No
eterno retorno nietzschiano o que retorna não é o Todo, o Mesmo ou a identidade, o
pequeno ou o grande como partes do todo ou como elementos do mesmo:
Só retorna o que é extremo, excessivo, o que passa no outro e se torna
idêntico. Eis por que o eterno retorno se diz somente do mundo teatral
das metamorfoses e das máscaras da Vontade de potência, das
intensidades puras desta Vontade, como fatores móveis individuantes
que não se deixam reter nos limites fictícios deste ou daquele
indivíduo, deste ou daquele Eu. [...]. [...] é na hybris que cada um
encontra o ser que o faz retornar, como também a espécie de anarquia
coroada, a hierarquia revertida, que, para assegurar a seleção da
diferença, começa por subordinar o idêntico ao diferente (Deleuze,
1988, p. 84).
Assim, o eterno retorno é a univocidade do ser, afirma Deleuze, a realização
efetiva desta univocidade. No eterno retorno, o ser unívoco não é somente pensado, mas
afirmado e realizado: “O ser se diz num mesmo sentido, mas este sentido é o do eterno
retorno, como retorno ou repetição daquilo de que ele se diz. A roda no eterno retorno
226
é, ao mesmo tempo, produção da repetição a partir da diferença e seleção da
diferença a partir da repetição” (Deleuze, 1988, p. 85) (Grifo nosso).
Deleuze chama o momento aristotélico da representação orgânica de feliz
momento grego, no qual a diferença está fortemente submetida à quádrupla raiz da
identidade. Já com Hegel é inaugurado um novo período da diferença, que devido a uma
maior expansão do seu movimento, para além do finito harmônico das proposições
categoriais aristotélicas, é chamado por Deleuze de representação orgíaca:
Quando a representação encontra em si o infinito, ela aparece
como uma representação orgíaca e não mais orgânica: ela
descobre em si o tumulto, a inquietude e a paixão sob a calma
aparente ou sob os limites do organizado. Ela reencontra o
monstro. Então, já não se trata de um feliz momento que
marcaria a entrada e a saída da determinação no conceito em
geral, o mínimo e o máximo relativos, o punctum proximum e o
punctum remotum (Deleuze, 1988, p. 86).
Diversamente, agora o conceito incorpora todos os momentos, é o Todo, abrange
todas as partes, as quais recebem uma espécie de absolvição no seu Todo. O conceito
segue a determinação em seus extremos e em suas metamorfoses, e a representa como
pura diferença, mas entregando-a a um fundamento. E então, já não importam os
movimentos da diferença, diante do mínimo ou do máximo relativos, grande ou
pequeno, início ou fim, pois todos “coincidem no fundamento como um mesmo
momento ‘total’, que é também o do esvaecimento e da produção da diferença, o do
desaparecimento e do aparecimento” (Deleuze, 1988, p. 86).
Assim como Aristóteles, Hegel determina a diferença pela oposição dos
extremos ou dos contrários, mas esta oposição permanece abstrata até ir ao infinito, mas
este infinito permanece abstrato se for retirado das oposições finitas. Dessa forma, o
infinito põe a identidade dos contrários ou faz do contrário do Outro um contrário de Si.
No infinito, a contrariedade possibilita a relação entre o movimento da interioridade e
da exterioridade, em que cada contrário expulsa seu outro e se torna o outro que ele
expulsa:
Tal é a contradição como movimento da exterioridade ou da
objetivação real, constituindo a verdadeira pulsação do infinito. Nela,
portanto, encontra-se ultrapassada a simples identidade dos contrários,
como identidade do positivo e do negativo. Com efeito, não é da
mesma maneira que o positivo e o negativo são o Mesmo; o negativo
é agora, ao mesmo tempo, o devir do positivo, quando o positivo é
negado, e o retorno do positivo, quando ele nega a si próprio ou se
exclui (Deleuze, 1988, p. 89).
227
Dessa forma, cada um desses contrários, positivo e negativo, já era a contradição:
o positivo como contradição em si, a negação como contradição posta. É nessa
contradição posta que a diferença encontra seu conceito próprio, é determinada como
negatividade, se torna pura e não indiferente. Então, diz Deleuze, “suportar, levantar a
contradição, é a prova seletiva que ‘estabelece’ a diferença [...]. Assim, a diferença é
levada até o extremo, isto é, até o fundamento, que não deixa de ser tanto seu retorno ou
sua reprodução quanto seu aniquilamento” (Deleuze, 1988, p. 90).
Para Hegel, a diferença em geral já é contradição em si, e quando levada ao
extremo torna-se negatividade, e daí a diversidade se torna oposição e,
consequentemente, contradição. O conjunto de todas as realidades se torna, por sua vez,
contradição absoluta em si. Hegel levou a diferença ao máximo absoluto, isto é, a
contradição, ao infinito como infinitamente grande da contradição. Assim, segundo
Hegel, “a contradição se resolve e, resolvendo-se, resolve a diferença, ao reportá-la a
um fundamento” (Deleuze, 1988, p. 88). O problema, na perspectiva da filosofia da
diferença deleuziana, é que a diferença fica subsumida novamente à representação.
A representação orgíaca ou infinita da diferença de Hegel, não escapa aos
quadros da representação, tal qual a representação finita de Aristóteles que
“representava a diferença, mediatizando-a, subordinando-a à identidade como gênero e
assegurando esta subordinação na analogia dos próprios gêneros, na oposição lógica das
determinações, como também na semelhança dos conteúdos propriamente materiais”
(Deleuze, 1988, p. 95). Já a representação infinita compreende o Todo, “o fundo
como matéria primeira e a essência como sujeito, como Eu ou forma absoluta [e]
reporta, ao mesmo tempo, a essência, o fundo e a diferença entre ambos a um
fundamento ou razão suficiente. A própria mediação se torna fundamento” (Deleuze,
1988, p. 95) (Grifos nossos).
Como é possível observar, a representação infinita não torna o pensamento da
diferença independente das categorias representacionais. Ou seja, conforme Deleuze:
Em última instância, a representação infinita não se desliga do
princípio de identidade como pressuposto da representação. [...].
A representação infinita invoca um fundamento. [...]. Mas, em
todos os casos, a razão suficiente, o fundamento, através do
infinito, apenas leva o idêntico a existir em sua própria identidade.
[...]. A contradição hegeliana não nega a identidade ou a nãocontradição; ela consiste, ao contrário, em inscrever no existente
os dois Não da não-contradição, de tal maneira que a identidade,
228
sob esta condição, nesta fundação, baste para pensar o existente
como tal (Deleuze, 1988, p. 96) (Grifos nossos).
Para Deleuze, as fórmulas hegelianas que afirmam: “a coisa nega o que ela não
é” ou “se distingue de tudo o que ela não é” são monstros lógicos a serviço da
identidade. Até mesmo a afirmação hegeliana de que a diferença enquanto negatividade
vai ou deve ir até a contradição, impelida até o extremo, só é verdade na medida em que
seja a identidade que empurre a diferença. Ou seja, a diferença como fundo para a
manifestação do idêntico (Cf. Deleuze, 1988, p. 96). É por isso que Deleuze alerta para
o fato de que “o círculo de Hegel não é o eterno retorno, mas somente a circulação
infinita do idêntico através da negatividade” (Deleuze, 1988, p. 97) (Grifo nosso). Na
verdade, afirma Deleuze, Hegel presta uma homenagem ao velho princípio da
identidade:
De qualquer modo, a diferença permanece subordinada à
identidade, reduzida ao negativo, encarcerada na similitude e na
analogia. Eis por que, na representação infinita, o delírio é apenas
um falso delírio pré-formado, que em nada perturba o repouso ou
a serenidade do idêntico. A representação infinita tem, pois, o
mesmo defeito da representação finita: o de confundir o conceito
próprio da diferença com a inscrição da diferença na identidade
do conceito em geral (se bem que tome a identidade como puro
princípio infinito, em vez de toma-la como gênero, e estenda ao todo
os direitos do conceito em geral, em vez de fixar-lhe os limites)
(Deleuze, 1988, p. 97) (Grifo nosso).
Por outro lado, o que Deleuze também censura na representação é a permanência
na forma da identidade da relação da coisa vista e do sujeito que vê: “A representação
infinita pode multiplicar as figuras e os momentos, organizá-los em círculos dotados de
um automovimento, mas nem por isso estes círculos deixam de ter um único centro, que
é o do grande círculo da consciência” (Deleuze, 1988, pp. 123-124).
2.3. Eterno retorno
No livro Nietzsche e a filosofia, Deleuze afirma que o eterno retorno, conforme
Nietzsche, não é um pensamento do idêntico, mas sim um pensamento produtor do
diverso, o pensamento da repetição da diferença. É precisamente a incapacidade de
pensar o diferente e sua repetição que Deleuze denuncia na dialética hegeliana.
Fornazari sintetiza essa incapacidade da seguinte forma:
Ao passar a dialética pelo crivo da genealogia nietzschiana, Deleuze
denuncia nela a incapacidade de pensar a diferença em si mesma,
229
oferecendo da diferença não mais que uma imagem invertida, animada
pelas forças negativas e pelo niilismo (Fornazari, 2005, p. 136).
Diversamente da dialética hegeliana, o eterno retorno opera uma seleção que
elimina as formas médias e extrai “a forma superior de tudo o que é”: “O extremo não é
a identidade dos contrários, mas, [...] a univocidade do diferente; a forma superior não é
a forma infinita, mas, [...] o eterno informal do próprio eterno retorno através das
metamorfoses e das transformações” (Deleuze, 1988, p. 104). Dessa forma, o eterno
retorno ao repetir somente a diferença cria a forma superior. E nele só é negado o que
pode ser negado, ou seja, o que não tem potência para retornar:
Tudo o que é negativo e tudo o que nega, todas estas afirmações
médias que carregam o negativo, todos estes pálidos Sim mal vindos
que saem do não, tudo o que não suporta a prova do eterno retorno,
tudo isto deve ser negado. Se o eterno retorno é uma roda, é preciso
ainda dotá-la de um movimento centrífugo violento que expulsa tudo
o que “pode” ser negado, o que não suporta a prova. [...]. Assim a
negação como consequência resulta da plena afirmação, consome tudo
o que é negativo e consome a si própria no centro móvel do eterno
retorno. Se o eterno retorno é um círculo, é a Diferença que está no
centro, estando o Mesmo somente na circunferência – centro
descentrado a cada instante, constantemente tortuoso, que gira apenas
em torno do desigual (Deleuze, 1988, p. 105).
O mundo não é harmônico e nem previsível como a representação o apresenta,
mas acabado e ilimitado. Assim, “o eterno retorno é o ilimitado do próprio acabado, o
ser unívoco que se diz da diferença. No eterno retorno, a caos-errância opõe-se à
coerência da representação; ele exclui a coerência de um sujeito que se representa, bem
como de um objeto representado” (Deleuze, 1988, p. 108). Para Deleuze, “a repetição
opõe-se à representação: o prefixo mudou de sentido, pois, num caso, a diferença se
diz somente em relação ao idêntico, mas, no outro, é o unívoco que se diz em
relação ao diferente” (Deleuze, 1988, p. 108) (Grifo nosso). Ou seja, na representação,
a diferença está subordinada à identidade e na repetição, está presente na univocidade
do ser. Assim, “a repetição é o ser informal de todas as diferenças”, diz Deleuze. E
enquanto o semelhante é a unidade de medida da representação, “o díspar é o último
elemento da repetição que se opõe à identidade da representação” (Deleuze, 1988,
p. 108). O círculo do eterno retorno, que traz a diferença e a repetição, desfaz o idêntico
e o contraditório e “só diz o Mesmo daquilo que difere” (Deleuze, 1988, p. 108).
Deleuze sintetiza esse movimento filosófico do eterno retorno com um verso do poeta
Blood: “o mesmo só retorna para trazer o diferente”.
230
Essa diferença que se repete é própria do eterno retorno e é afirmação. Assim, a
filosofia da diferença recusa a concepção de que toda determinação é negação (omnis
determinatio negativo) ou a ideia de uma diferença já determinada como negação, pois
“em sua essência, a diferença é objeto de afirmação, ela própria é afirmação. Em
sua essência, a afirmação é ela própria diferença” (Deleuze, 1988, p. 101) (Grifo
nosso). Então, fica claro que, juntamente com Nietzsche, Deleuze combate a perspectiva
da valorização do negativo da dialética:
[...] é a dialética que confunde a afirmação com a veracidade do
verdadeiro ou a positividade do real; e esta veracidade, esta
positividade é antes de mais a própria dialética que as fabrica com os
produtos do negativo. O ser da lógica hegeliana é o ser apenas
pensado, puro e vazio, que se afirma ao passar para o seu próprio
contrário. Mas nunca este ser foi diferente deste contrário, nunca teria
podido passar para o que já era. O ser hegeliano é o nada puro e
simples: e o devir que este ser forma com o nada, quer dizer, consigo
mesmo, é um devir perfeitamente niilista; e a afirmação passa aí pela
negação porque ela constitui apenas a afirmação do negativo e dos
seus produtos (Deleuze, s/d, p. 273).
Na dialética hegeliana, ou representação infinita, a negação é o motor e a
potência, enquanto a afirmação resulta como mero ersatz (substituto), duas negações
fazem um fantasma de afirmação que finda por conservar o que é negado: “Nietzsche
assinala o conservadorismo assustador de uma tal concepção. A afirmação é de fato
produzida, mas para dizer sim a tudo o que é negativo e negador, a tudo o que pode ser
negado” (Deleuze, 1988, p. 102). Nesse sentido, Deleuze relembra que o Asno de
Zaratustra quando diz sim é aos pesos. Ele carrega os fardos dos valores divinos, dos
valores humanos ou da ausência dos valores:
Há um gosto terrível pela responsabilidade nesse asno ou nesse boi
dialético e um ranço moral, como se só fosse possível afirmar à
força de expiar, como se fosse preciso passar pelas infelicidades da
cisão e do dilaceramento para chegar a dizer sim; como se a
Diferença fosse o mal e como se ela já fosse o negativo que só
poderia produzir a afirmação expiando, isto é, encarregando-se,
ao mesmo tempo, do peso do negado e da própria negação.
Sempre a velha maldição a retumbar do alto do princípio de
identidade: será salva apenas, não o que é simplesmente
representado, mas a representação infinita (o conceito) que
conserva todo o negativo para, enfim, entregar a diferença ao
idêntico (Deleuze, 1988, pp. 102-103) (Grifo nosso).
Diversamente, para a filosofia da diferença, a afirmação vem em primeiro lugar.
Pelo eterno retorno há uma afirmação da diferença e uma eliminação do negativo: “A
231
diferença é leve, aérea, afirmativa. Afirmar não é carregar, mas, ao contrário,
descarregar, aliviar, já não é o negativo que produz um fantasma de afirmação,
como um ersatz. É o Não que resulta da afirmação” (Deleuze, 1988, p. 103) (Grifo
nosso).
Para Nietzsche, conforme Deleuze, o escravo tira do Não o fantasma da
afirmação e o “senhor” (homens de potência, mas não homens de poder) tira do Sim
a negação. Os senhores contestam o ponto de vista dos conservadores dos valores
antigos em nome dos criadores de novos valores. Assim, “há uma diferença de
natureza, como entre a ordem conservadora da representação e uma desordem
criadora, um caos genial, que só pode coincidir com um momento da história sem
confundir-se com ele” (Deleuze, 1988, p. 104) (Grifo nosso). A representação busca as
formas médias. A filosofia da diferença, através do eterno retorno, busca as formas
extremas dos valores novos, pois “na representação infinita, a pseudo-afirmação não nos
faz sair das formas médias” (Deleuze, 1988, p. 104), que trabalham com a negação e em
benefício do “grande número”.
Dessa forma, a recusa do Mesmo, do idêntico, promovido pela filosofia da
diferença implica na necessidade de reverter o platonismo, referindo o Mesmo ao
diferente e destruindo as coisas em sua submissão às identidades: “É somente sob esta
condição que a diferença é pensada em si mesma e não representada, mediatizada”
(Deleuze, 1988, p. 121). O platonismo, ao fazer a distinção entre “a coisa mesma” e os
simulacros, não pensa a diferença em si mesma, mas a relaciona com um fundamento e
mitifica a mediação. Se reverter o platonismo significa recusar o primado de um
original sobre a cópia e valorizar o reino dos simulacros, esta reversão do
platonismo é possível, então, de se realizar pelo eterno retorno:
Pierre Klossowski [...] assinalou este ponto: o eterno retorno,
tomado em seu sentido estrito, significa que cada coisa só existe
retornando, cópia de uma infinidade de cópia que não deixam
subsistir original nem mesmo origem. Eis por que o eterno retorno
é dito “paródico”: ele qualifica o que ele faz ser (e retornar) como
sendo simulacro. O simulacro é o verdadeiro caráter ou a forma do
que é – “o ente” – quando o eterno retorno é a potência do Ser (o
informal). Quando a identidade das coisas é dissolvida, o ser se
evade, atinge a univocidade e se põe a girar em torno do diferente.
O que é ou retorna não tem qualquer identidade prévia e
constituída: a coisa é reduzida à diferença que a esquarteja e a
todas as diferenças implicadas nesta e pelas quais ela passa
(Deleuze, 1988, p. 121) (Grifos nossos).
232
Assim, o simulacro é o próprio símbolo, interioriza as condições de sua própria
repetição e apreende uma disparidade constituinte no modelo destituído. O eterno
retorno potencializado “não permite qualquer instauração de uma fundação-fundamento:
ao contrário, ele destrói, engole todo fundamento como instância que colocaria a
diferença entre o originário e o derivado, a coisa e os simulacros. Ele nos faz assistir ao
a-fundamento universal.” (Deleuze, 1988, p. 122). Compreenda-se por “a-fundamento”
a liberdade não mediatizada do fundo, a existência de fundos atrás de fundos, a relação
do sem-fundo com o não-fundado, a reflexão imediata do informal e da forma superior
que constitui o eterno retorno (Cf. Deleuze, 1988, p.122). Assim, tudo se torna
simulacro:
O pensador do eterno retorno, que não se deixa certamente tirar da
caverna, mas antes encontraria uma outra caverna além, sempre uma
outra onde esconder-se, pode legitimamente dizer que ele próprio é
encarregado da forma superior de tudo o que é, como o poeta,
“encarregado da humanidade, até mesmo dos animais”. Estas palavras
ecoam nas cavernas superpostas. E a crueldade que no início nos
parecia constituir o monstro, que parecia dever reparar e só poder ser
apaziguada pela mediação representativa, parece-nos agora formar a
Ideia, isto é, o conceito puro da diferença no platonismo revertido: o
mais inocente, o estado de inocência e seu eco (Deleuze, 1988, p.122)
O simulacro não é uma simples imitação, mas sim a contestação da ideia de um
modelo. Ele traz a diferença em si, bem como a abolição da semelhança e indica,
portanto, a inexistência de um original e de uma cópia, constituindo um domínio subrepresentativo (Cf. Deleuze, 1988, p. 124). Dessa forma, se a “representação tem a
identidade como elemento e um semelhante como unidade de medida, a pura presença,
tal como aparece no simulacro, tem o ‘díspar’ como unidade de medida, isto é, sempre
uma diferença de diferença como elemento imediato” (Deleuze, 1988, p. 125). Podemos
visualizar esse conjunto da seguinte forma:
Elemento
Unidade de medida
Representação
Identidade
Semelhante
Pura presença (simulacro)
Diferença de diferença
Díspar
Por fim, o eterno retorno está presente em toda transformação, “é
contemporâneo do que ele faz retornar [...], reporta-se a um mundo de diferenças
implicadas umas nas outras, a um mundo complicado sem identidade, propriamente
233
caótico” (Deleuze, 1988, p. 107). Portanto, no eterno retorno o ser é a própria
Diferença: “O ser é também não-ser, mas o não-ser não é o ser do negativo, é o ser do
problemático, o ser do problema e da questão. A diferença não é o negativo: ao
contrário, o não-ser é que é a Diferença: [...]. Eis por que o não-ser deveria antes ser
escrito (não)-ser, ou melhor ainda, ?-ser” (Deleuze, 1988, p. 118). A ideia presente no
eterno retorno é essencialmente ligada à reversão do platonismo, o antiplatonismo
pretendido por Deleuze: “O eterno retorno só concerne aos simulacros, aos fantasmas, e
só os simulacros e fantasmas é que ele faz retornar” (Deleuze, 1988, p. 210).
Pode-se concluir a apresentação desses três conceitos fundamentais para a
filosofia da diferença - repetição, diferença e eterno retorno - que têm por linha mestra o
questionamento da representação pautada na valorização do negativo em detrimento da
diferença, com as seguintes afirmações pragmáticas de Deleuze:
Para dizer a verdade, tudo isto nada seria sem as implicações
práticas e os pressupostos morais de uma tal desnaturação. Vimos
tudo o que significa essa valorização do negativo, o espírito
conservador de um tal empreendimento, a trivialidade das
afirmações que se pretende engendrar assim, a maneira pela qual
somos, então, desviados da mais elevada tarefa – a que consiste em
determinar os problemas, em neles inscrever nosso poder
decisório e criador. Eis por que os conflitos, as oposições, as
contradições nos parecem efeitos de superfície, epifenômenos da
consciência, ao passo que o inconsciente vive de problemas e de
diferenças. A história não passa pela negação e pela negação da
negação, mas pela decisão dos problemas e pela afirmação das
diferenças. Nem por isso é ela menos sangrenta e cruel. Só as
sombras da história vivem de negação; mas os justos entram nela com
toda a potência de um diferencial posto, de uma diferença afirmada;
elas remetem a sombra à sombra e negam apenas como consequência
de uma positividade e de uma afirmação primeiras (Deleuze, 1988, pp.
423-424). (Grifos nossos)
Relembrando Nietzsche, Deleuze considera que, entre os justos, a afirmação
vem em primeiro lugar e afirma a diferença, enquanto o negativo é apenas uma
consequência, um reflexo em que a afirmação se reduplica. Daí ser possível
compreender que as verdadeiras revoluções têm também um ar de festa e “a contradição
não é a arma do proletariado, mas, antes, a maneira pela qual a burguesia se defende e
se conserva, a sombra atrás da qual ela mantém sua pretensão de decidir os problemas”
(Deleuze, 1988, p. 424), pois as contradições não são para serem “resolvidas”, mas sim
dissipadas quando nos apropriamos do problema que projetava sua sombra nas
contradições e o resolvemos. Assim, “o negativo é a reação da consciência, a
234
desnaturação do verdadeiro agente, do verdadeiro ator. Do mesmo modo, a Filosofia, na
medida em que permanece nos limites da representação, é vítima de antinomias teóricas
que são as da consciência” (Deleuze, 1988, p. 424).
3. A Filosofia da Filosofia da Diferença
Depois de ter delimitado muito claramente nos livros Nietzsche e a filosofia e
Repetição e diferença que “a tarefa da filosofia moderna foi definida: reversão do
platonismo” (Deleuze, 1988, p. 110), em O que é filosofia?, escrito em parceria com
Guattari, Deleuze explicita que para a filosofia da diferença, o conceito de filosofia
também se distancia do conceito de filosofia pautado na representação.
Assim, no âmbito filosófico de contestação do universo identitário, já não faz
mais sentido ter na filosofia a busca última da Verdade, do fundamento ou da essência
última do Ser, num movimento totalmente voltado à transcendência. Diversamente,
agora, na perspectiva da filosofia da diferença, em um plano de imanência, a filosofia
“desloca a atenção dos ‘universais’ abstratos para a concretude dos eventos, dos
acontecimentos” (Gallo, 2003, p. 36). Dessa forma, “a filosofia é a arte de formar, de
inventar, de fabricar conceitos” (Deleuze, 1992, p. 10). Para Deleuze,
Os filósofos não se ocuparam o bastante com a natureza do conceito
como realidade filosófica. Eles preferiram considerá-lo como um
conhecimento ou uma representação dados, que se explicam por
faculdades capazes de formá-lo (abstração ou generalização) ou de
utilizá-los (juízo). Mas o conceito não é dado, é criado, está por criar;
não é formado, ele próprio se põe em si mesmo, autoposição (Deleuze
e Guattari, 1992, p. 20).
Mas, não é que ela tenha se tornado uma criadora de conceitos, pois ela sempre
os criou. A questão é que ela perdeu de vista essa característica própria na medida em
que criava os conceitos e passava a acreditar neles de forma hipostasiada. Platão, por
exemplo, “dizia que é necessário contemplar as Ideias, mas tinha sido necessário, antes,
que ele criasse o conceito de Ideia” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 14). Contudo,
a filosofia não é uma simples arte de formar, inventar ou de fabricar
conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados
ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que
consiste em criar conceitos. [...]. Criar conceitos sempre novos é o
objeto da filosofia. É porque o conceito deve ser criado que ele remete
ao filósofo como àquele que o tem em potência, ou que tem sua
potência e sua competência. [...]. Os conceitos não nos esperam
inteiramente feitos, como corpos celestes. Não há céu para os
conceitos (Deleuze e Guattari, 1992, p. 13).
235
Essa formulação deleuziana tem inspiração confessa em Nietzsche, que teria
estabelecido essa tarefa da filosofia ao escrever que os filósofos não deveriam
simplesmente aceitar os conceitos que lhes são dados, mas sim criar novos conceitos.
Partindo dessa premissa, Deleuze delimita o que a filosofia não é, ou seja, ela “não é
contemplação, nem reflexão, nem comunicação” (Deleuze, 1992, p. 14). A filosofia não
é contemplação porque “as contemplações são as coisas elas mesmas enquanto vistas na
criação de seus próprios conceitos”; não é reflexão porque ninguém precisa de filosofia
para refletir sobre qualquer coisa; e não é comunicação, pois esta só trabalha com
opiniões para a construção de “consenso” e não de conceito (Cf. Deleuze e Guattari,
1992, p. 14). Dessa forma, assevera Deleuze, “a filosofia não comtempla, não reflete,
não comunica, se bem que ela tenha de criar conceitos para estas ações ou paixões”
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 15).
Para Deleuze, os lugares comuns de definição da filosofia, tais como conhecer a
si mesmo, aprender a pensar, não tomar as coisas como óbvias, espantar-se com as
coisas etc. tem certo interesse, mas além de serem limitadas, repetitivas e fatigantes, não
contemplam com precisão o que seria a filosofia: “Pode-se considerar como decisiva, ao
contrário, a definição da filosofia: conhecimento por puros conceitos” (Deleuze e
Guattari, 1992, p. 15).
Contudo, os conceitos inventados, fabricados ou criados “não seriam nada sem a
assinatura daqueles que os criam” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 13). Assim, diz
Deleuze, temos a substância de Aristóteles, o cogito de Descartes, a mônada de Leibniz
etc. Porém, nem todos tem paternidade definida, mas sempre “o batismo do conceito
solicita um gosto propriamente filosófico que procede com violência ou com
insinuação, e que constitui na língua da filosofia, não somente um vocabulário, mas
uma sintaxe que atinge o sublime ou uma grande beleza” (Deleuze e Guattari, 1992, p.
16).
Outra questão importante a ser realçada, é que essa exclusividade da filosofia na
criação de conceitos não constitui nenhum privilégio, “pois há outras maneiras de
pensar e de criar, outros modos de ideação que não têm de passar por conceitos”
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 17), e que são tão importantes quanto esta função própria
da atividade filosófica. Ou seja, nessa perspectiva da filosofia da diferença, fica perdido
o lugar da filosofia como central e superior com relação aos outros conhecimentos.
236
Contudo, se a filosofia é criação de conceitos, cabe a pergunta: o que é o
conceito nessa perspectiva deleuziana? Dentre outras coisas, podem-se afirmar algumas
mais significativas. O conceito, por exemplo, “diz o acontecimento, não a essência ou a
coisa. É um Acontecimento puro, uma hecceidade, uma entidade [...]. O conceito
define-se pela inseparabilidade de um número infinito de componentes heterogêneos
percorridos por um ponto em sobrevôo absoluto, à velocidade infinita” (Deleuze e
Guattari, 1992, p. 33). O conceito não é uma representação universal que busca dar
conta da essência de uma dada realidade, mas debruça-se sobre a concretude dos
eventos-acontecimentos, ressignificando o mundo.
Os conceitos são, ao mesmo tempo, eternos e temporais, pois eles expressam de
forma filosófica os problemas de seu tempo, mas podem ser também problemas que
aparecem em outras épocas de formas diferenciadas. Dessa forma, um conceito “faz
ouvir novas variações e ressonâncias desconhecidas, opera recortes insólitos, suscita um
Acontecimento que nos sobrevoa” (Deleuze, 1992, p. 41). E se constantemente
retomamos conceitos de filósofos de outras épocas “é porque temos direito de pensar
que seus conceitos podem ser reativados em nossos problemas e inspirar os conceitos
que é necessário criar” (Deleuze, 1992, p. 41). Esta é a melhor maneira de seguir os
grandes filósofos, não repetindo o que eles disseram ou fizeram, mas criando conceitos
para problemas do nosso tempo.
Para Deleuze, então, não basta somente se colocar de forma passiva diante da
exposição dos conceitos que perfazem a história da filosofia, seja criticando, seja
aderindo a eles. Por um lado, não basta simplesmente aderir aos conceitos da historia da
filosofia, mas é necessário avaliar “a novidade histórica dos conceitos criados por um
filósofo, [...] a potência de seu devir quando eles passam uns pelos outros” (Deleuze e
Guattari, 19992, p. 46). Por outro lado, “aqueles que criticam sem criar, aqueles que se
contentam em defender o que se esvaneceu sem saber dar-lhe forças para retornar à
vida, eles são a chaga da filosofia” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 42).
Um estatuto pedagógico do conceito indica algumas condições para sua criação:
é um sobrevoo que percorre uma multiplicidade de acontecimentos compostos de
variações intensivas e inseparáveis, assim, “o conceito é o contorno, a configuração, a
constelação de um acontecimento por vir” (Deleuze, 1992, p. 46). Por isso, os conceitos
são exclusivamente atividade da filosofia:
237
[..] pertencem de pleno direito à filosofia, porque é ela que os cria, e
não cessa de criá-los. O conceito é evidentemente conhecimento, mas
conhecimento de si, e o que ele conhece é o puro acontecimento, que
não se confunde com o estado de coisas no qual se encarna. Destacar
sempre um acontecimento das coisas e dos seres é a tarefa da filosofia
quando cria conceitos, entidades. Erigir o novo evento das coisas e
dos seres, dar-lhes sempre um novo acontecimento: o espaço, o
tempo, a matéria, o pensamento, o possível como acontecimentos...
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 46).
O conceito filosófico não se refere nem somente e nem diretamente ao vivido,
mas se trata de criar um acontecimento que sobrevoe o vivido, ou sobre qualquer estado
de coisas. Para Deleuze, a grandeza de uma filosofia consiste na natureza dos
acontecimentos evocados pelos conceitos ou pela potencialidade que ela nos transmite
em depurar acontecimentos pelos conceitos: “Portanto, é necessário experimentar em
seus mínimos detalhes o vínculo único, exclusivo, dos conceitos com a filosofia como
disciplina criadora. O conceito pertence à filosofia e só a ela pertence” (Deleuze e
Guattari, 1992, p. 47).
A exclusividade da criação de conceitos por parte da filosofia se torna mais
compreensível na medida em que Deleuze esclarece que a ciência cria prospectos
(proposições que não se confundem com juízos), e a arte cria perceptos e afectos (que
também não se confundem com percepções ou sentimentos). O que, certamente,
implicam em linguagens diferenciadas, mas em disciplinas que se cruzam
perpetuamente (Cf. Deleuze e Guattari, 1992, p. 37).
Contudo, não se pode falar em conceito sem remeter à figura do plano de
imanência, pois se os conceitos são criados na imanência “o trabalho filosófico dá-se
pela delimitação de um plano de imanência, sobre o qual são gerados os conceitos. A
noção de plano de imanência é fundamental para a criação filosófica, pois o plano é o
solo e o horizonte da produção conceitual” (Gallo, 2003, p. 53). O plano de imanência
não é um conceito, mas sim seu suporte, bem como ele só existe quando habitado por
conceitos: “[...] é essencialmente um campo onde se produzem, circulam e se
entrechocam os conceitos. Ele é sucessivamente definido como uma atmosfera [...]
como informe e fractal, como horizonte e reservatório, como um meio indivisível ou
impartilhável” (Prado Júnior apud Gallo, 2003, p. 53).
Deleuze afirma que a filosofia é um construtivismo que tem dois aspectos
complementares, mas diversos: criação de conceitos e tracejamento de um plano de
imanência. Em seguida, o filósofo define de forma poética o conceito e o plano de
238
imanência: “Os conceitos são como as vagas múltiplas que se erguem e que se abaixam,
mas o plano de imanência é a vaga única que os enrola e os desenrola” (Deleuze e
Guattari, 1992, p. 51). Por isso é necessário não confundir o plano de imanência com os
conceitos que o ocupam, pois:
[...] os elementos do plano são traços diagramáticos, enquanto os
conceitos são traços intensivos. Os primeiros são movimentos do
infinito, enquanto os segundos são as ordenadas intensivas desses
movimentos, como cortes originais ou posições diferenciais:
movimentos finitos, cujo infinito só é de velocidade, e que constituem
cada vez uma superfície ou um volume, um contorno irregular
marcando uma parada no grau de proliferação. Os primeiros são
direções absolutas de natureza fractal, ao passo que os segundos são
dimensões absolutas, superfícies ou volumes sempre fragmentários,
definidos intensivamente. Os primeiros são intuições, os segundos,
intensões. Que toda filosofia dependa de uma intuição, que seus
conceitos não cessam de desenvolver até o limite das diferenças da
intensidade, esta grandiosa perspectiva leibniziana ou bergsoniana está
fundada se considerarmos a intuição como o envolvimento dos
movimentos infinitos do pensamento, que percorrem sem cessar um
plano de imanência. Não se concluirá daí que os conceitos se deduzam
do plano: para tanto é necessário uma construção especial, distinta
daquela do plano, e é por isso que os conceitos devem ser criados, do
mesmo modo que o plano deve ser erigido (Deleuze e Guattari, 1992,
pp. 56-57).
Segundo Deleuze, a criação de conceitos já se encontra no âmbito filosófico, a
filosofia começa com a criação de conceitos, mas o plano de imanência deve ser
considerado como pré-filosófico, pois ele está somente pressuposto e os conceitos
remetem, eles mesmos, a uma compreensão não-conceitual e intuitiva, a qual varia
conforme o tracejamento do plano (Cf. Deleuze e Guattari, 1992, p. 57). A condição
pré-filosófica não se refere a algo que pre-exista, “mas algo que não existe fora da
filosofia, embora esta o suponha” (Cf. Deleuze, 1992, p. 57). Essas são as condições
internas de existência do plano de imanência.
A remissão dos conceitos ao não filosófico na construção do plano de imanência
é de suma importância para a filosofia da filosofia da diferença, pois, segundo Deleuze,
“o não-filosófico está talvez mais no coração da filosofia que a própria filosofia, e
significa que a filosofia não pode contentar-se em ser compreendida somente de
maneira filosófica ou conceitual, mas que ela se endereça também, em sua essência, aos
não-filósofos” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 57).
Essa referência constante dos conceitos da filosofia a não-filosofia do plano de
imanência que se instaura, implica que a filosofia como criação de conceitos pressupõe
239
a não-filosofia, da qual não se separa nunca: “A filosofia é ao mesmo tempo criação de
conceito e instauração do plano. O conceito é o começo da filosofia, mas o plano é sua
instauração” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 58). O plano não é pré-determinado e nem
definitivo, mas “constitui o solo absoluto da filosofia; sua Terra ou sua
desterritorialização, sua fundação, sobre os quais ela cria seus conceitos. Ambos são
necessários, criar os conceitos e instaurar o plano, como duas asas ou duas nadadeiras”
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 58). Da mesma forma, a condição pré-filosófica do plano
de imanência, pois não opera com conceitos, implica também em “uma espécie de
experimentação tateante, e seu traçado recorre a meios poucos confessáveis, pouco
racionais e razoáveis. São meios da ordem do sonho, dos processos patológicos, das
experiências esotéricas, da embriaguez ou do excesso” (Deleuze e Guattari, 1992, p.
58).
Deleuze considera a imanência tão importante e revolucionária que ela é
apontada como “a pedra de toque incandescente de toda a filosofia”, pois ela “toma para
si todos os perigos que esta deve enfrentar, todas as condenações, perseguições e
denegações que ela sofre” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 63). Isso demonstra que a
imanência, não sendo abstrata ou teórica, torna-se um perigo, uma ameaça às
concepções transcendentes: “Ela engole os sábios e os deuses” (Deleuze e Guattari,
1992, p. 63) (Grifo nosso). Contudo, a imanência enquanto tal “só é imanente a si
mesma, e então toma tudo, absorve o Todo-Uno, e não deixa subsistir nada a que ela
poderia ser imanente [...] [pois] cada vez que se interpreta a imanência como imanente a
Algo, pode-se estar certo que este Algo reintroduz o transcendente” (Deleuze e Guattari,
1992, p. 63).
Assim, somente quando a imanência é imanente a si própria e não mais é
imanente a outra coisa, é que se pode falar de um plano de imanência. Não se trata de
um fluxo do vivido imanente a um sujeito, mas apresenta somente acontecimentos,
mundos possíveis, enquanto conceitos ou personagens conceituais. Isso se passa assim
porque o acontecimento não remete o vivido a um sujeito transcendente = Eu, mas sim
ao sobrevoo imanente de um campo sem sujeito: “Outrem não devolve a transcendência
a um outro eu, mas traz todo outro eu à imanência do campo sobrevoado” (Deleuze e
Guattari, 1992, p. 66).
Parafraseando Deleuze, quando afirma “que não pensamos sem nos tornarmos
outra coisa, algo que não pensa, um bicho, um vegetal, uma molécula, uma partícula,
240
que retornam sobre o pensamento e o relançam” (Deleuze, 1992, p. 59), poderíamos
dizer que ninguém fica imune ao se deparar com a força indômita da imanência,
ninguém sai igual ao que era antes de nela submergir. Ela engole não só os sábios e os
deuses, mas também os homens naquilo que eles, de forma hipostasiada, pensam ser.
A filosofia, ao instaurar o plano de imanência, opera um corte no caos, do qual
se alimenta, e é assim que “o plano de imanência faz apelo a uma criação de conceitos”
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 60). Porém, conforme Deleuze, “não é todo grande
filósofo que traça um novo plano de imanência, que traz uma nova matéria do ser e
erige uma nova imagem do pensamento” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 69). Os
funcionários da filosofia, ao invés de filósofos, não renovam a imagem do pensamento,
não têm consciência do problema e simplesmente se apropriam de um pensamento
pronto que tomam por modelo (Deleuze e Guattari, 1992, p. 69). Esses funcionários da
filosofia tomam a filosofia como história da filosofia: “A história da filosofia é
comparável à arte do retrato. Não se trata de ‘fazer parecido’, isto é, de repetir o que o
filósofo disse, mas de produzir a semelhança, desnudando ao mesmo tempo o plano de
imanência que ele instaurou e os novos conceitos que criou” (Deleuze e Guattari, 1992,
p. 74).
Outra questão relativa ao plano de imanência e à atividade filosófica da criação
de conceitos, é que nem sempre a filosofia se compreendeu dessa forma. Ao contrário, a
o invés de criação de conceitos, a filosofia tradicional compreendia que o pensamento
deveria procurar a verdade. A filosofia se definia como a procura do verdadeiro.
Diversamente,
[...] o primeiro caráter da imagem moderna do pensamento é talvez o
de renunciar completamente a esta relação, para considerar que a
verdade é somente o que o pensamento cria, tendo-se em conta o
plano de imanência que se dá por pressuposto, e todos os traços deste
plano, negativos tanto quanto positivos, tornados indiscerníveis:
pensamento é criação, não vontade de verdade, como Nietzsche soube
mostrar (Deleuze e Guattari, 1992, p. 73).
Portanto, para a filosofia da diferença não há vontade de verdade como aparecia
na imagem clássica da filosofia. O pensamento constitui uma simples “possibilidade” de
pensar (Cf. Deleuze e Guattari, 1992, p. 73). E de uma maneira bem próxima à
imanência caótica, Deleuze afirma que “se o pensamento procura, é menos à maneira de
um homem que disporia de um método, que à maneira de um cão que pula
desordenadamente...” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 74). Mas isso não significa, segundo
241
Deleuze, uma facilidade ou uma glória premiada, mas sim uma dificuldade maior, pois a
imanência é tida como uma ameaça “aos deuses e aos sábios” (Cf. Deleuze, 1992, pp.
63 e 74).
Contudo, além do plano de imanência, para complementar a definição de
filosofia como criação de conceitos é imprescindível a noção de personagens
conceituais: “Os conceitos [...] têm necessidade de personagens conceituais que
contribuam para sua definição” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 10). Ou como esclarece
Gallo (2003, p. 56): “Cada filósofo cria ‘personagens’, à maneira de heterônimos, que
são os sujeitos da criação conceitual. Em alguns filósofos isso é mais explícito, em
outros é mais velado”.
Os personagens conceituais promovem os movimentos do plano de imanência
do seu autor, bem como intervêm na própria criação de seus conceitos. Pertencem ao
plano que o filósofo traçou e aos conceitos que criou, inspiram conceitos originais e
permanecem propriedade constituinte desta filosofia (Cf. Deleuze e Guattari, 1992, p.
86):
O personagem conceitual não é o representante do filósofo, é mesmo
contrário: o filósofo é somente o invólucro de seu principal
personagem conceitual e de todos os outros, que são os intercessores,
os verdadeiros sujeitos de sua filosofia. Os personagens conceituais
são os “heterônimos” do filósofo, e o nome do filósofo, o simples
pseudônimo de seus personagens. Eu não sou mais eu, mas uma
aptidão do pensamento para se ver e se desenvolver através de um
plano que me atravessa em vários lugares. O personagem conceitual
nada tem a ver com uma personificação abstrata, um símbolo ou uma
alegoria, pois ele vive, ele insiste. O filósofo é a idiossincrasia de seus
personagens conceituais. E o destino do filósofo é de transformar-se
em seu ou seus personagens conceituais, ao mesmo tempo que estes
personagens se tornam, eles mesmos, coisa diferente do que são
historicamente, mitologicamente ou comumente (o Sócrates de Platão,
o Dioniso de Nietzsche, o Idiota de Cusa). O personagem conceitual é
o devir ou o sujeito de uma filosofia, que vale para o filósofo, de tal
modo que Cusa ou mesmo Descartes deveriam assinar “o Idiota”,
como Nietzsche assinou “o Anticristo” ou “Dioniso crucificado”
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 86).
O personagem conceitual é uma espécie de indicativo filosófico, um ato de fala
em terceira pessoa que se refere a um eu: “eu penso enquanto Idiota, eu quero enquanto
Zaratustra, eu danço enquanto Dioniso [...]”. Contudo, essa enunciação filosófica não é
um mero fazer através da fala, mas um movimento que se expressa no pensamento, por
intermédio de um personagem conceitual que é o verdadeiro agente de enunciação.
Dessa forma, o eu é sempre uma terceira pessoa (Cf. Deleuze e Guattari, 1992, p. 87).
242
Para Deleuze, poucos filósofos operaram tanto com personagens conceituais
quanto Nietzsche (Dioniso, Zaratustra, Cristo, o Sacerdote, os Homens superiores), mas
isso não significa que ele tenha renunciado aos conceitos, pelo contrário, ele criou
muitos deles (“força”, “valor”, “devir”, “vida”, “ressentimento”, “má consciência”). Da
mesma forma, Nietzsche traça um novo plano de imanência, no qual a vontade de
potência e o eterno retorno subvertem a imagem do pensamento como crítica da vontade
de verdade.
Apesar de Nietzsche ser considerado por muitos como um poeta, um taumaturgo
ou um criador de mitos, o fato é que os personagens conceituais em Nietzsche, e de
outros filósofos, não são personificações míticas ou históricas, heróis literários ou
romanescos:
Não é o Dioniso dos mitos que está em Nietzsche, como não é o
Sócrates da História que está em Platão. Devir não é ser, e Dioniso se
torna filósofo, ao mesmo tempo que Nietzsche se torna Dioniso. Aí,
ainda, é Platão quem começou: ele se torna Sócrates, ao mesmo tempo
que faz Sócrates tornar-se filósofo (Deleuze e Guattari, 1992, p. 87).
Conforme Deleuze, os personagens conceituais manifestam territórios,
desterritorializações e reterritorializações absolutas do pensamento; são pensadores e
seus traços se juntam estreitamente aos traços do pensamento, dos conceitos e do plano
de imanência. O personagem conceitual está encarnado em nós, nos habita, habita o
mundo e fala do mundo, “pensa em nós, e talvez não nos preexista. [...] um personagem
conceitual gagueja, não é mais um tipo que gagueja numa língua, mas um pensador que
faz gaguejar toda a linguagem, e que faz da gagueira o traço do próprio pensamento
enquanto linguagem” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 92). Dessa forma, pode-se afirmar,
ainda, que o personagem conceitual e o plano de imanência se pressupõem
reciprocamente. O personagem conceitual intervém, assim,
[...] entre o caos e os traços diagramáticos do plano de imanência, mas
também entre o plano e os traços intensivos dos conceitos que vêm
povoá-lo. [...]. Os conceitos não se deduzem do plano, é necessário o
personagem conceitual para cria-los sobre o plano, como para traçar o
próprio plano, mas as duas operações não se confundem no
personagem, que se apresenta ele mesmo como um operador distinto
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 100).
A criação de conceitos povoa o plano, mas, por este ser ilimitado, também vai
sendo tracejado com os conceitos a serem criados e os personagens conceituais a serem
inventados. Ou seja, o plano de imanência é e vai sendo constituído pelos conceitos
243
criados e pelos personagens conceituais inventados. (Cf. Deleuze e Guattari, 1992, p.
102).
Portanto, a filosofia tem três elementos: “o plano pré-filosófico que ela deve
traçar (imanência), o ou os personagens pró-filosóficos que ela deve inventar e fazer
viver (insistência), os conceitos filosóficos que ela deve criar (consistência). Traçar,
inventar, criar, esta é a trindade filosófica” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 101). Cada
uma dessas está nas outras duas, mas não são iguais, coexistem e subsistem sem
desaparecer uma na outra (Cf. Deleuze e Guattari, 1992, p. 106). Para Deleuze, isso
significa que essas três atividades que compõem o construcionismo se alternam e se
recortam: “uma que consiste em criar conceitos, como caso de solução, outra em traçar
um plano e um movimento sobre o plano, como condições de um problema, outra em
inventar um personagem, como a incógnita de um problema” (1992, p. 106).
Não há regra e nem discussão que possam dimensionar se é o bom plano, o bom
personagem, o bom conceito, “pois é cada um deles que decide se os dois outros deram
certo ou não; mas cada um deles deve ser construído por sua conta: um criado, o outro
inventado, o outro traçado” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 107).
Cada uma das
atividades filosóficas tem seus critérios nas outras duas, e é por isso que a filosofia se
desenvolve no paradoxo e pelo construcionismo, pois não há verdade e nem consenso a
serem alcançados:
A filosofia não consiste em saber, e não é a verdade que inspira a
filosofia, mas categorias como as do Interessante, do Notável ou do
Importante que decidem sobre o sucesso ou o fracasso. Ora, não se
pode sabê-lo antes de ter construído. De muitos livros de filosofia, não
se dirá que são falsos, pois isso não é dizer nada, mas que são sem
importância nem interesse, justamente porque não criam nenhum
conceito, nem trazem uma imagem do pensamento ou engendram um
personagem que valha a pena. Só os professores podem pôr “errado” à
margem, e...; mas os leitores podem ter ainda assim dúvidas sobre a
importância e o interesse, isto é, a novidade do que se lhes dá para ler
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 108).
É assim que Deleuze, e o seu conceito de filosofia da filosofia da diferença, se
contrapõe à filosofia clássica e aos seus conceitos universais que são apresentados como
formas ou valores eternos. Estes são “esqueléticos” e “os menos interessantes”. Dessa
forma, não há nada de positivo no domínio da crítica ou da história, pois:
[...] quando nos contentamos em agitar velhos conceitos
estereotipados como esqueletos destinados a intimidar toda criação,
sem ver que os antigos filósofos, de que são emprestados, faziam já o
que se queria impedir os modernos de fazer: eles criavam seus
244
conceitos e não se contentavam em limpar, em raspar os ossos, como
o crítico ou o historiador de nossa época. Mesmo a história da
filosofia é inteiramente desinteressante se não se propuser a despertar
um conceito adormecido, a relançá-lo numa nova cena, mesmo a
preço de voltá-lo contra ele mesmo (Deleuze e Guattari, 1992, p. 109).
4. A Filosofia da Educação na Filosofia da Diferença
Foi visto que a filosofia da filosofia da diferença se distancia da visão clássica da
filosofia da filosofia da representação, fazendo uma crítica radical à representação, seja
em sua vertente aristotélica, seja em sua vertente hegeliana e propondo, fortemente, a
inversão do platonismo, com o objetivo expresso de rejeitar a identidade como
parâmetro filosófico e resgatar a importância e a centralidade da diferença como
estatuto ontológico.
Assim, se a filosofia da diferença propõe uma filosofia da imanência, é certo que
uma filosofia da educação pensada a partir da filosofia da diferença não será como a
filosofia da educação pautada nos moldes clássicos da filosofia da representação. A
abordagem clássica da filosofia da educação propõe que se parta dos clássicos da
filosofia que, de alguma forma, falaram sobre educação ou que seja uma proposta de
pressupostos filosóficos que norteariam a atividade pedagógica (Cf. Marinho, 2009b).
Outra questão se impõe: como falar de filosofia da educação na filosofia da
diferença deleuziana se Deleuze não tem nenhum pensamento sistematizado em torno
dessa disciplina? Se o que existe na obra deleuziana são somente fragmentos e
passagens extremamente dispersos sobre assuntos que se aproximam do universo da
educação? Tais como aprendizagem, saber, professor, etc.
Ainda outra questão se apresenta: como compreender uma filosofia da educação
na filosofia da diferença, ou a partir dela, em uma tradição brasileira educacional que se
pautou completamente naquilo em que Deleuze condenou em sua filosofia, ou seja, a
metafísica, o humanismo, o racionalismo, o cristianismo e a dialética?
Diante de tantas, variadas, importantes e decisivas questões, é preciso manter o
foco para mostrarmos, dentro dos limites que o presente trabalho permite, a
aproximação possível da Filosofia da Diferença deleuziana e a Filosofia da Educação,
em um primeiro momento, e como ocorre e se efetua essa aproximação no Brasil, seus
principais representantes, ideias, obras e pontos de vista, que será apresentado no quarto
capítulo.
245
Tomaz Tadeu e Walter Kohan (2005), na apresentação do Dossiê Entre Deleuze
e Educação, quase um manifesto para essa possibilidade de diálogo, afirmam que para
além das formas clássicas de se fazer Filosofia da Educação eles pensam ser possível
fazer “uma outra filosofia da educação: ato filosófico e não histórico, pensamento que
pensa e não apenas mimetiza o que outros pensaram. Como filosofia, ela é múltipla,
diversa, aberta. Não está acima nem abaixo de nada ou de ninguém. É um movimento,
um gesto, uma possibilidade do pensar” (p. 1172).
Nesse sentido, fazer uma filosofia da educação a partir da filosofia de Deleuze
não difere da própria proposta filosófica deleuziana, qual seja, traçar planos, colocar
problemas e criar conceitos: “É isso que um filósofo faz: da educação ou de qualquer
outro assunto. É isso que Deleuze faz. É isso que queremos fazer. Por isso Deleuze nos
parece inspirador para o campo da filosofia da educação” (Silva e Kohan, 2005, p.
1172). Os motivos para se pensar uma filosofia da educação em bases renovadas não
são fundacionistas, muito pelo contrário, é, por puro devir, possibilitado pelo tipo de
pensamento baseado na diferença proposto por Deleuze:
Não porque suas ideias nos pareçam justas, importantes ou
verdadeiras, mas pela força inspiradora que elas têm para criar o que
ainda não foi criado, para pensar o que ainda não foi pensado [...],
pelos múltiplos sinais que sua criação pode emitir. E também pelos
gestos impensados que seu pensamento pode inspirar e provocar
(Tadeu e Kohan, 2005, pp. 1172-1173).
Para tanto, o movimento “Entre Deleuze e a educação” exige um
desprendimento, a partir da filosofia deleuziana, do que se costuma pensar:
“desprender-se do que se costuma simplesmente pensar; desprender-se do pensamento
que costuma habitar nas teorias e nas práticas educacionais” (Tadeu e Kohan, 2005, p.
1173). Ou, como afirma Gallo, não se trata de apresentar “verdades deleuzeanas sobre
problemas educacionais”, mas de demonstrar a “fecundidade do pensamento de Deleuze
para nos fazer pensar a educação, para nos permitir pensar, de novo, a educação” (Gallo,
2003, p. 63). Pensar uma filosofia da educação a partir da diferença deleuzeana é
“propor exercícios de pensamento [...] que, por sua vez, nos façam pensar ainda mais.
Exercícios de pensamento que implicam um devir, um processo, um movimento. Pensar
a educação como acontecimento, como conjunto de acontecimentos” (Gallo, 2003, p.
64).
Essas posições são extremamente pertinentes e apropriadas, na medida em que
se concebem como ultrapassadas e limitadas às compreensões mais conservadoras sobre
246
o que é filosofia da educação. A este respeito, Fadigas, em seu livro Inverter a
educação: de Gilles Deleuze à Filosofia da Educação, argumenta que esse campo de
saber:
Não é nem uma ciência da educação, nem uma “qualquer” filosofia da
educação. Não é uma ciência da educação porque o formato
epistemológico a que obedece a ciência (e com ela as ciências da
educação) não lhe é adequado. Não é uma “qualquer” filosofia da
educação porque [...] existem filosofias da educação, ou talvez
melhor, atitudes filosóficas na sua relação com a educação que se
satisfazem com as meras acções de reflexão, contemplação,
comunicação, negligenciando todo o poder criativo da filosofia da
educação: a primeira (metafísica) limita-se a extrair; a segunda
(filosófico-analítica) limita-se a limpar; a terceira (histórico-filosófica)
limita-se a decalcar ; a quarta (cientificista), qual reposição do mito de
Narciso, não se limita, sequer (Fadigas, 2003, p. 71).
Da mesma forma, os objetivos imputados à filosofia da educação tornaram-se
lugares-comuns e povoam o universo investigativo da filosofia da educação. Conforme
Fadigas (2003, p. 100 a 108), estes são, principalmente, autonomia, sociabilidade e
participação. Não que eles não sejam importantes, mas foram transformados em
objetivos naturais e únicos da filosofia da educação e tratados como conceitos clichês,
tendo como suporte filosófico o universo da representação.
Contrapondo-se a essa operacionalidade racionalista e instrumentalizante da
forma como é tratada a filosofia da educação, Fadigas afirma que ao filósofo da
educação compete a intuição, não a figuração dessa intuição e relembra a afirmação de
Deleuze, “de que o pensamento se exprime melhor na relação reterritorializaçãodesterritorialização do que na outra, clássica, sujeito-objeto” (2003, p. 73). A partir daí,
é possível asseverar que à filosofia da educação “encaixa o caráter de desinteresse, não
aquele, contrário, do interesse” (Fadigas, 2003, p. 73). E isto naquele sentido
deleuzeano de que “o filósofo, tal como o artista, ‘são incapazes de criar um povo, só
podem apelar a ele com todas as suas forças’”. Ou seja, a filosofia tem seus limites em
termos práticos, mas ela pode, a partir de suas especificidades, detonar acontecimentos.
Assim,
À filosofia da educação compete fazer, no seio da investigação
educacional, aquilo que só ela sabe fazer e que é, simultaneamente, a
única coisa que sabe fazer: criar conceitos, conceitos esses que se
relacionem com a educação. Porque a educação está saturada de
transcendências, de reterritorializações, os conceitos que compete ao
filósofo da educação criar são uma espécie de nómadas
sedentarizadas num plano de imanência, numa superfície que se
247
liberta da História. Só assim, com este tipo de criação, o filósofo da
educação traz a necessária [...] imanência à educação. E apesar de
tudo, este só o faz através da história (Fadigas, 2003, pp. 81-82).
Para uma filosofia da educação pensada a partir da filosofia da diferença
deleuziana, é necessário, portanto, desterritorializar os conceitos dos discursos
pedagógicos e das proposições normativas, e criar novos conceitos para os discursos
educativos. Para tanto, é preciso:
Deixar de tomar como negativa aquela relação da razão educativa com
o irracional – que assim é tomada em virtude da perspectiva
exclusivamente logicista das ciências da educação [...] – para a
tomarmos como positiva através [...] da elaboração de uma crítica da
razão educativa (Fadigas, 2003, p. 84).
Se para Deleuze, inverter o platonismo significa recusar o primado de um
original sobre a cópia, de um modelo sobre a imagem e “glorificar o reino dos
simulacros”, “é também deste modo que nós definimos a tarefa da filosofia da
educação, o que significa que através dela deveremos destituir o modelo platônico que
impera no discurso educacional” (Fadigas, 2003, p. 100). Fadigas questiona as
consequências e a legitimidade do platonismo invertido sobre a relação filosofia e
educação. Não se trata de um mero remanejamento de ideias de um campo para outro,
mas
de
um
movimento
de
reterritorialização-desterritorialização,
movimento
autenticamente filosófico, e por isso uma filosofia da educação nesses moldes se
justifica, pois:
Que consequências derivam desta denúncia para a filosofia, para a
filosofia da educação e para a própria educação? Em filosofia as
Ideias que poderiam servir de finalidades para o que quer que seja
deixam de existir. A filosofia não é ideologia. “A filosofia está em
estado de perpétua digressão ou digressividade” [Deluze].
Consequentemente, a filosofia da educação não pode transferir Ideias
da filosofia para a educação. Uma filosofia da educação que tentasse
fazê-lo, isto é, uma filosofia (da educação) aplicada seria uma filosofia
que deixaria oculta sob si a doxa, seria uma filosofia que não marcaria
a diferença, limitando-se à recognição; seria, em última instância, uma
filosofia que se negaria a si própria enquanto exercício filosófico. Ora,
se a filosofia da educação não transfere Ideias da filosofia para a
educação, resta-lhe criar conceitos que o discurso educacional tende a
definir segundo o modelo da representação que [...] oculta uma
parcela significativa da realidade educativa. A filosofia vê-se assim
devolvida à sua vocação original que é fracturar (não é legitimar, à
luz de certas Ideias), e o seu exercício da educação, pela forma
original como o exerce, vê-se, a todos os níveis justificado (Fadigas,
2003, p. 110).
248
Assim, se o modelo filosófico representacional-identitário foi posto em cheque,
à filosofia da educação não cabe mais seguir os moldes clássicos do seu campo de saber,
atrelados àquele, sendo a criação de conceitos direta ou indiretamente relacionados com
a educação a condução espontânea desse movimento. Segundo fadigas, essa tarefa se
torna necessária à investigação educacional, que atualmente está ancorada no modelo da
representação e que, por isso, produz uma “imagem errónea e, em última instância,
conveniente do que é a filosofia e a filosofia da educação, mas também a impede de
aceder ao que de real na educação só se deixa ver por aquilo que ela não suporta: a
contradição” (Fadigas, 2003, p. 110).
4.1. Deleuze: aprendizagem como intermediação entre saber e não-saber
Como foi visto, apesar de Deleuze não ter realizado um estudo sistemático sobre
educação, é possível encontrar em seus escritos, de forma dispersa, várias passagens
sobre essa temática. Então, podemos afirmar que todas essas ideias e pensamentos sobre
a relação da filosofia da educação com a filosofia da diferença deleuziana não estão
longe daquilo que o filósofo pensou, mesmo que minimamente, sobre temas
relacionados à esfera educacional. Para melhor compreendermos essa colocação,
pinçamos do livro Diferença e repetição algumas passagens relativas ao ato de
aprender, e então podemos averiguar a proximidade das ideias deleuzianas com as
propostas dos filósofos da educação que se ancoram no pensamento deleuziano, ou seja,
ideias e propostas que distanciam o universo educacional do pensamento da
representação.
Tomando o ensino da natação, Deleuze averigua que sua aprendizagem só se
realiza pela apropriação prática dos signos da onda que, na verdade, nem são ensinados
pelo professor e nem são repetidos pelo aprendiz nadador. O aprendizado seria uma
coisa “entre”, um fora do aprender, um dentro do ensinar. Um assassinato do que foi
ensinado, um nascimento amoroso do que não foi ensinado:
O movimento do nadador não se assemelha ao movimento da onda; e,
precisamente, os movimentos do professor de natação, movimentos
que reproduzimos na areia, nada são em relação aos movimentos da
onda, movimentos que só aprendemos a prever quando os
apreendemos praticamente como signos. Eis porque é tão difícil dizer
como alguém aprende: há uma familiaridade prática, inata ou
adquirida, com os signos, que faz de toda educação alguma coisa
amorosa, mas também mortal (Deleuze, 1988, p. 54).
249
É por isso que, para Deleuze, aprender não é mimetizar de forma harmônica e
ordeira, mas se apropriar de signos de coisas que nos interessem, pois somos movidos
pelo interesse, pelo interessante, pelo notável e que nos mobiliza a ação. A
aprendizagem é uma violência que nos tira da tranquilidade em que nos encontrávamos
quando desconhecíamos aqueles signos que passam a nos interessar. Na aprendizagem,
a diferença ocorre, então, quando repetimos de forma nova os signos que nos chegam.
Na aprendizagem, portanto, há morte na medida em que não repetimos o Mesmo e sim
o Outro, o dessemelhante, o Diferente. Dessa forma, também no aprender, os signos
significam a repetição como movimento real, em oposição à representação, entendida
como falso movimento do abstrato:
Nada aprendemos com aquele que nos diz: faça como eu. Nossos
únicos mestres são aqueles que nos dizem ‘faça comigo’ e que, em
vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a
serem desenvolvidos no heterogêneo. Em outros termos, não há ideomotricidade, mas somente sensório-motricidade. Quando o corpo
conjuga seus pontos relevantes com os da onda, ele estabelece o
princípio de uma repetição, que não é a do Mesmo, mas que
compreende o Outro, que compreende a diferença e que, de uma onda
e de um gesto a outro, transporta esta diferença pelo espaço repetitivo
assim constituído. Aprender é constituir este espaço do encontro com
signos, espaço em que os pontos relevantes se retomam uns nos outros
e em que a repetição se forma ao mesmo tempo em que se disfarça.
Há sempre imagens de morte na aprendizagem, graças à
heterogeneidade que ela desenvolve, aos limites do espaço que ela
cria. Perdido no longínquo, o signo é mortal; e também o é quando
nos atinge diretamente (Deleuze, 1988, pp. 54-55).
.
Em outra passagem, Deleuze se refere à educação dos sentidos pensando no
significado do aprender. Dessa forma, a educação dos sentidos acontece quando “o
aprendiz [...] eleva cada faculdade ao exercício transcendente. Ele procura fazer com
que nasça na sensibilidade esta segunda potência que apreende o que só pode ser
sentido” (Deleuze, 1988, p. 270). Essa comunicação, de uma faculdade à outra, é feita
de forma violenta, mas compreendendo sempre o Outro de cada uma dessas faculdades.
Contudo, aprender é um acontecimento que carrega mistérios:
A partir de que signos da sensibilidade, por meio de que tesouros da
memória, sob torções determinadas pelas singularidades de que a Ideia
será o pensamento suscitado? Nunca se sabe de antemão como alguém
vai aprender – que amores tornam alguém bom em latim, por meio de
que encontros se é filósofo, em que dicionários se aprende a pensar.
Os limites das faculdades se encaixam uns nos outros sob a forma
250
quebrada daquilo que traz e transmite a diferença (Deleuze, 1988, p.
270).
Da mesma forma que nunca se sabe quando alguém vai aprender, Deleuze
também afirma que “não há método para encontrar tesouros nem para aprender” (1988,
p. 270). René Schérer, em artigo intitulado Aprender com Deleuze, ao se referir à
mesma frase, faz dela uma tradução extremamente poética e legítima: “A aprendizagem
segue a via dos encontros e dos amores e não dos métodos de uma pedagogia sempre
impotente, ultrapassada das paixões” (Schérer, 2005, p. 1191).
Contudo, baseado em Nietzsche, a mesma frase deleuzina é complementada com
a possibilidade do paradoxo do aprender, pois este pode se tornar um violento
adestramento, uma cultura ou paideia que percorre o indivíduo e adestra o espírito.
Assim, “a cultura é o movimento de aprender, a aventura do involuntário, encadeando
uma sensibilidade, uma memória, depois um pensamento, com todas as violências e
crueldades necessárias,” (Deleuze, s/d, p. 270.
Para Deleuze, há o reconhecimento frequente da importância e da dignidade de
aprender, mas é como reconhecimento às condições empíricas do Saber e às condições
cognoscitivas da representação e à ascese ao transcendental. Diversamente,
Aprender vem a ser tão-somente o intermediário entre não-saber e
saber, a passagem viva de um ao outro. Pode-se dizer que aprender,
afinal de contas, é uma tarefa infinita, mas esta não deixa de ser
rejeitada para o lado das circunstâncias e da aquisição, posta para fora
da essência supostamente simples do saber inatismo, elemento a priori
ou mesmo Ideia reguladora. E finalmente, a aprendizagem está, antes
de mais nada, do lado do rato no labirinto, ao passo que o filósofo fora
da caverna considera somente o resultado – o saber – para dele extrair
os princípios transcendentais (Deleuze, 1988, p. 271).
Conforme Deleuze, mesmo em Hegel, a aprendizagem que está presente na
Fenomenologia permanece subordinada, tanto em seu resultado quanto em seu
princípio, ao ideal do saber como saber absoluto. Igualmente em Platão “o tempo
platônico só introduz sua diferença no pensamento e na aprendizagem, só introduz sua
heterogeneidade para submetê-los ainda à forma mítica da semelhança e da identidade,
portanto, à imagem do próprio saber” (Deleuze, 1988, p. 271).
Assim, o saber é empírico, mas o aprender é uma estrutura transcendental que
une, sem mediação, “a diferença à diferença, a dessemelhança à dessemelhança, e que
introduz o tempo no pensamento, mas como forma pura do tempo vazio em geral”
(Deleuze, 1988, p. 272) e não como um tempo mítico, seja passado ou presente. O
251
problema, afirma Deleuze, é que estamos sempre dividindo inapropriadamente o
aprender e o saber, o empírico e o transcendente: “Reencontramos sempre a necessidade
de reverter as correlações ou as supostas repartições do empírico e do transcendental”
(Deleuze, 1988, p. 272).
Mediante o amplo quadro traçado, no qual foram expostos: as diversas matrizes
filosóficas que influenciaram a educação brasileira nos seus aspectos teóricos e práticos;
o surgimento e desenvolvimento da Filosofia da Educação no Brasil e suas principais
vertentes filosóficas; e, finalmente, os pontos principais da Filosofia da Diferença do
pensamento deleuzeano, é possível, então, vislumbrar a inserção dessa inspiração
filosófica contemporânea de Deleuze no universo da Filosofia da Educação no Brasil.
252
CAPÍTULO 4 – FILOSOFIA DA DIFERENÇA DELEUZEANA NA FILOSOFIA
DA EDUCAÇÃO NO BRASIL OU PARA UMA (NÃO)-TEORIA DA
QUEBRADURA DA VARA
Este quarto e último capítulo é o resultado culminante do percurso da
investigação empreendida até aqui. Após a abordagem das diversas matrizes filosóficas
que influenciaram a educação brasileira, da emergência e sistematização da Filosofia da
Educação no Brasil e da Filosofia da Diferença do pensamento deleuzeano, será
apresentado como essa inspiração filosófica contemporânea de Deleuze germinou no
universo da Filosofia da Educação no Brasil.
Essa inspiração filosófica deleuzeana, e não mais matriz filosófica, pois não se
pretende modelo, sistema ou doutrina a ser seguido como as demais matrizes, foi
chamada, aqui, de uma (não)-teoria da quebradura da vara para, primeiro, se contrapor
às teorias-matrizes filosóficas da representação, que moldaram o exercício filosófico
educacional no Brasil e, segundo, para fazer referência à expressão “teoria da curvatura
da vara”, originária de Lênin, que pretendia combater as críticas feitas às suas posições
radicais com a metáfora da curvatura da vara, afirmando que, quando está torta, a vara
precisa ser curvada para o lado oposto, na busca na posição correta. Tal expressão foi
apropriada por Saviani para a construção da sua teoria crítica.
Assim, Saviani, no livro Escola e democracia, propõe ir “para além da
curvatura da vara” em seu esforço de esboçar a formulação de sua pedagogia
histórico-crítica que, por sua vez, se contrapõe às pedagogias tradicional e nova na
tentativa de fundar uma pedagogia revolucionária (Cf. Saviani, 2011, p. 6). Contudo,
conforme leitura feita a partir da filosofia da diferença deleuzeana, essa teoria crítica da
filosofia da educação constitui mais uma teoria da representação, à medida em que se
constitui de conceitos como: fundamento, verdade, recognição etc.
Dessa forma, aqui se denomina a influência da filosofia da diferença deleuzeana
no Brasil de (não)-teoria da quebradura da vara, pois não tem a pretensão de
sistematicidade, do todo, de Universalidade, de verdade a ser descoberta e revelada etc.
E, mais importante, deixa de existir a ideia de um centro verdadeiro, de um fundamento
a ser defendido e buscado, pois a própria ideia da curvatura da vara, mesmo na
253
perspectiva de se ir além dela, implica a existência de um fundamento, de um centro que
sempre deve ser buscado ou servir de referência.
Trata-se, portanto, perseguindo a metáfora, de quebrar a vara, de não ter um
centro irradiador a ser seguido, a ser ultrapassado ou que seja balizador do movimento.
Daí a expressão (não)-teoria da quebradura da vara para a inspiração da filosofia da
diferença deleuzeana na Filosofia da Educação no Brasil.
Para tanto, o presente capítulo está dividido em cinco tópicos. Um primeiro
tópico de apresentação da emergência da filosofia da diferença deleuzeana no Brasil e
sua posterior intercessão na Filosofia da Educação no Brasil, e mais quatro tópicos com
nomes representativos dessa fonte de inspiração deleuzeana: Tomaz Tadeu, Daniel Lins,
Walter Kohan e Sílvio Gallo. Para a apresentação do pensamento desses filósofos,
lançamos mão de entrevistas concedidas à autora e de textos significativos dessa
intercessão deleuzeana em suas produções.
1. A diferença deleuzeana na Filosofia da Educação em terras brasileiras
Há que se diferenciar, em terras brasileiras, a movimentação da “descoberta” da
filosofia de Deleuze e sua intercessão no campo da Filosofia da Educação.
Inicialmente, o livro O Anti-édipo foi traduzido ao Brasil em 1976, e não teve uma
repercussão imediata no âmbito filosófico educacional acadêmico. Segundo Alliez
(1996, p. 201), inicialmente, Deleuze ocupou “no Brasil um lugar à parte, que excede
largamente os muros da universidade” e teve uma proximidade muito maior com as
políticas minoritárias do que com a grande política e com suas instituições como, por
exemplo, a Universidade. Nesse âmbito, o pensamento deleuziano se juntou à
“‘potência de uma nova política que inverteria a imagem do pensamento’ a se constituir
numa lógica das singularidades e uma teoria das multiplicidades, de acordo com o
movimento de imanência” (Alliez, 1996, p. 202).
Alliez, que esteve como professor visitante na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, no período 1988-1996, afirma, ainda, com relação à recepção brasileira de
Deleuze: “Assistimos em todo caso à multiplicação de grupos de estudo e de cursos
informais reunindo um público heterogêneo, cuja formação filosófica estava longe – a
princípio – de ser a característica predominante” (Alliez, 1996, p. 202). E o mais
intrigante, diz o filósofo francês, é que essas pessoas se afastaram rapidamente da
facilidade de uma filosofia “pop-filosófica” para se aprofundarem nos estudos das obras
254
mais densas de Deleuze, mas sem se proporem a fazer uma filosofia acadêmica e sim a
potencializarem seus conceitos a partir de suas próprias atividades. Contudo, na década
de 1990, a situação começa a mudar e
Um grande número de departamentos de filosofia, que até então
haviam ignorado largamente a inventividade dos conceitos deleuziano
em função de sua irredutibilidade à história disciplinar da filosofia e à
divisão semi-oficial do mundo filosófico em seus dois blocos analítico
e fenomenológico. A irrupção de uma nova geração de jovens
professores vai desencadear a transformação (Alliez, 1996, p.203).
Entre estes jovens, havia um grupo que rompeu com os acadêmicos mais velhos
por eles terem uma compreensão dogmática/provinciana da filosofia e daí o pensamento
68, Deleuze e Foucault, se apresentar como “uma alternativa cultural em que se negocia
uma
prática
decididamente
pós-nietzschiana
e
transdisciplinar
da
filosofia
contemporânea” (Alliez, 1996, p. 203). O seminário “A verdade e as formas jurídicas”,
realizado em 1973, na PUC do Rio de Janeiro, com publicação subsequente, é apontado
como um marco divisor de águas dessa nova geração filosófica no Brasil. Para outro
grupo, mais numeroso e com uma formação mais clássica,
A abertura da questão pós-heideggeriana de uma história filosófica da
filosofia, uma vez que ela não podia mais se satisfazer com uma
identificação destinal com o tema obrigatório do fim da filosofia e do
esquecimento do ser, era cada vez menos separável de uma indagação
sobre as condições do esgotamento aporético da fenomenologia e da
filosofia analítica. Merleau-Ponty e Wittgenstein, portanto, que
contam aqui com notáveis intérpretes. Mas também Deleuze, o
Outsider, cujo pensamento criador está adquirindo, numa Faculdade
ameaçada de sair dos eixos, uma nova atualidade (Alliez, 1996, p.
203).
Para Alliez, dois livros marcam em definitivo esse período de renovação nos
estudos filosóficos no Brasil, com a entrada mais sistemática do pensamento deleuzeano
e do pensamento da Diferença no âmbito acadêmico. O primeiro livro de Roberto
Machado, publicado em 1990, intitulado Deleuze e a filosofia, “propõe-se a produzir a
gênese da filosofia deleuziana enquanto pensamento da diferença que se desenvolve a
partir de uma leitura semi-antropofágica dos filósofos” (Alliez, 1996, p. 203).
O
segundo livro, de 1989, “reproduz uma tese defendida na USP quase 25 anos antes pelo
futuro tradutor de O que é a filosofia?, Bento Prado Jr., sob o título Presença e campo
transcendental. Consciência e negatividade na filosofia de Bergson” (Alliez, 1996, p.
203). Para Alliez, o livro de Bento Prado teve o “inestimável mérito de apresentar a
passagem vitalista da fenomenologia à ontologia sob o signo de um ‘campo
255
transcendental sem sujeito’” (Alliez, 1996, p. 204) e de ter feito algo raro na época, uma
referência a um artigo de Deleuze, Bergson e a diferença, que será o substrato do seu
livro posterior, O bergsonismo.
Como foi visto no primeiro capítulo do presente trabalho, Paraíso (2004), no
artigo intitulado Pesquisas pós-críticas em educação no Brasil: esboço de um mapa,
oferece uma ideia bastante clara do início da intercessão Foucault/Deleuze e educação
no Brasil. A autora estabelece uma data como um marco desse aparecimento: o ano de
1993, tendo como delimitação de universo de pesquisa a ANPED, termômetro do que se
produz em educação no Brasil e, mais especificamente, em Filosofia da Educação.
Paraíso afirma que, até 1992, não havia encontrado, naquela Associação, nenhuma
apresentação de trabalho que adotasse as perspectivas chamadas pós-críticas. Somente
em 1993, na 16ª Reunião Anual da Associação, dois trabalhos se pautam pela referência
teórica pós-representacional. O primeiro trabalho, de Tomaz Tadeu da Silva,
“Sociologia da educação e pedagogia crítica em tempos pós-modernos”, baseava-se em
Deleuze e discutia questões relacionadas ao pensamento pós-moderno e pósestruturalista, mostrando as continuidades e as rupturas em relação à pedagogia e à
sociologia críticas. O segundo trabalho, “Poder e conhecimento: a constituição do saber
pedagógico”, era de autoria de Lucíola Licínio de C. P. Santos e analisava as relações
entre poder e conhecimento baseado na noção poder-saber de Michel Foucault (Cf.
Paraíso, 2004, p. 285). Seguindo essa linha pós-moderna, em 1994, aparece o artigo
“Construtivismo pedagógico como significado transcendental do currículo”, de Sandra
Corazza e inspirado em Derrida. Este é também um marco na emergência dos estudos
pós-críticos no Brasil. E, segundo Paraíso (2004), dessa data em diante, o número de
trabalhos que adotaram perspectivas pós-críticas cresceu consideravelmente.
A constatação desse aumento também é corroborada por Pagni e Cavalcanti
(2011), em artigo intitulado Filosofia da Educação no Brasil (1960-2000): problemas,
fontes e conceitos nas práticas do filosofar na educação, que em pesquisa extensa por
diversos órgãos de divulgação da produção teórica educacional constata, dentre outras
coisas, que a produção de artigos relacionados à Filosofia da Educação, baseados na
Filosofia da Diferença, teve um aumento significativo em detrimento da produção
baseada no marxismo.
Ainda no ano de 1994, Paraíso (2004) indica outro marco do momento inaugural
da filosofia pós-crítica ou filosofia da diferença e sua influência no pensamento
256
educacional brasileiro, a publicação do livro Teorias educacionais críticas em tempos
pós-modernos, organizado por Tomaz Tadeu da Silva. Neste livro, é avaliado o
esgotamento da teoria crítica e a necessidade de novos paradigmas filosóficos para a
interpretação dos processos educacionais. A teoria pós-crítica e a filosofia da diferença
deleuziana seriam os novos referenciais contra hegemônicos para se pensar a educação.
Outra coletânea expressiva do pensamento filosófico educacional, baseado em
novos paradigmas, agora em Foucault, é O sujeito da educação, organizada também por
Tomaz Tadeu da Silva, em 1994. Alfredo Veiga-Neto tem um artigo nessa coletânea
que é representativo desse novo marco de pensamento educacional, Foucault e
Educação: outros estudos foucaultianos.
O ano de 1996 traz a publicação de um número especial sobre Deleuze, nos
Cadernos de Subjetividade, publicação semestral do Núcleo de Estudos e Pesquisa da
Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUCSP, sob a coordenação de Peter Pál Pelbart e Suely Rolnyk. Tal caderno traz
contribuições
expressivas
para
o
conhecimento
do
pensamento
deleuziano,
principalmente na área Psi, a qual teve uma enorme receptividade com esse pensamento
quando de sua entrada no Brasil, na década de 70, no âmbito das lutas do campo
psiquiátrico, principalmente o anti-manicomial.
Daniel Lins, desde 1999, organiza, anualmente, o Simpósio Internacional de
Filosofia Nietzsche e Deleuze, sempre seguido da publicação das apresentações orais.
Esse evento tem se destacado como uma fonte de cultivo e divulgação do pensamento
deleuzeano.
Já no início do século XXI, outro elemento importante que corrobora para a
emergência do pensamento deleuzeano na cena brasileira da Filosofia da Educação é o
conjunto de três publicações: Dossiê Gilles Deleuze (2002); Deleuze & a Educação
(2003); Dossiê Entre Deleuze e a Educação (2005).
O Dossiê Gilles Deleuze foi organizado por Sandra Corazza e Tomaz Tadeu
como um número especial da Revista Educação & Realidade, da Faculdade de
Educação da UFGRS e é composto por uma multiplicidade de escritos de pessoas de
diversas áreas do conhecimento. Dentre os colaboradores da revista ressaltamos os
nomes de Tomaz Tadeu – com o artigo “A arte do encontro e da composição: Spinoza +
Currículo + Deleuze”, Walter Kohan – com o escrito “Entre Deleuze e a Educação:
257
notas para uma política do pensamento” e Silvio Gallo – com “Em torno de uma
educação menor”.
O livro Deleuze & a Educação, de autoria de Silvio Gallo, é, certamente, um dos
primeiros produzidos no Brasil com a intenção de divulgar, de forma mais acessível, o
pensamento de Deleuze. Foi publicado pela Editora Autêntica que tem realizado uma
produção considerável no mercado editorial, sempre com o foco em disseminar a
produção filosófica contemporânea mais tendente às filosofias distantes do pensamento
da representação.
Já o Dossiê Entre Deleuze e a Educação foi resultado das apresentações que
compuseram o II Colóquio Franco-Brasileiro de Filosofia da Educação, ocorrido na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em novembro de 2004. Por sua vez, esse
Dossiê, tal qual o Colóquio, foi organizado por Tomaz Tadeu e Walter Kohan, que
também redigiram a apresentação do dossiê. Tomaz Tadeu participa com um artigo
intitulado “Deleuze e a questão da literalidade: uma via alternativa”. Merece destaque,
também, a participação de mais três nomes e seus respectivos artigos: Sandra Corazza –
“Não se sabe”; Daniel Lins – “Mangue’s School ou por uma pedagogia rizomática”;
Sylvio Gadelha – “De fardos que podem acompanhar a atividade docente ou de como o
mestre pode devir burro (ou camelo)”.
Dessa forma, então, podemos observar que Daniel Lins é um nome cearense
significativo na recepção e divulgação e produção de ideias deleuzeanas, no campo
educacional. Da mesma forma, Walter Kohan e Silvio Gallo, juntamente com Tomaz
Tadeu, compõem um grupo expressivo de uma produção norteada pela Filosofia da
Diferença deleuzeana, no campo da Filosofia da Educação no Brasil contemporâneo,
como veremos a seguir.
O mapeamento aqui empreendido tem critérios técnicos para a eleição desses
quatro nomes, tais como: produção de artigos, livros, capítulos de livros; inserção nos
debates em Encontros, Colóquios, Congressos etc., que sejam norteados pela diferença
deleuzeana. Os quatro nomes também são significativos na medida em que cobrem e
contemplam uma parte significativa de várias regiões do Brasil, o que pode possibilitar
uma apreensão mais justa da produção em pauta.
258
2. Tomas Tadeu da Silva: implicações do pensamento da diferença para uma teoria
do currículo
Tomaz Tadeu da Silva, doutor em International Development Education, pela
Stanford University (1984); mestre em Educação, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, UFGRS, Brasil, (1977); graduado em Matemática, pela UFRGS (1973),
é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Programa em PósGraduação em Educação. Seu Currículo Lattes informa que atua na área de educação,
com ênfase em Teoria do Currículo. Os termos mais recorrentes na sua produção
científica são: currículo, diferença, Deleuze, Foucault, neoliberalismo, Estudos
Culturais, identidade e pós-modernismo. Tem uma vasta produção editorial com mais
de 30 artigos em periódicos especializados, 30 capítulos de livros e 25 livros. Um de
seus últimos trabalhos publicados é a tradução da Ética, de Spinoza, em 2007, pela
Editora Autêntica.
Silva tem diversos trabalhos produzidos em parceria e em organização de
coletâneas, artigos, livros, periódicos ou eventos, tanto no Brasil quanto no exterior.
Suas parcerias mais constantes, entre outras, tem sido com Alfredo José da Veiga-Neto,
Walter Omar Kohan e, mais assiduamente, com Sandra Mara Corazza. Todos com
significativas pesquisas e produções na área da filosofia da diferença, seja em Foucault,
seja em Deleuze.
Severino situa Tomaz Tadeu no contexto filosófico brasileiro sob a tendência
que ele chama de arquegenealógica, a qual critica a política e também a educação em
sua institucionalização pedagógica opressiva e cerceadora da criatividade. Nessa
vertente da Filosofia da Educação Tomaz Tadeu desenvolve, apesar de trabalhar no
campo da teoria sociológica, uma
Reflexão radicalmente crítica contra o discurso pedagógico moderno
que, no seu entendimento, é tributário de uma filosofia da consciência.
Coloca-se, então, em uma perspectiva da desconstrução radical
elaborada pelo pensamento pós-estruturalista da pós-modernidade
(Severino, 2011, p. 9).
Em entrevista à Revista Currículo sem Fronteiras, em 2002, Tomaz Tadeu, além
de fazer um balanço pessoal de sua trajetória teórica, fala também da complexa
produção teórica educacional das décadas de 1980 a 2002 e, dentre outras coisas, se
259
debruça a discorrer sobre currículo, esgotamento da teoria crítica e a necessidade de
novos parâmetros filosóficos para se pensar a educação.
Conforme Silva, os paradigmas novos e emergentes se esgotam e ficam
estagnados, como foi o caso dos referenciais teóricos da sociologia da educação da
década de sessenta (Bordieu, Baudelot e Establet, Althusser e outros) e da década de
oitenta (Michael Young, Michael Apple, Henry Giroux e outros): “passado o período de
agitação, o novo paradigma se estabelece e ao virar uma nova ortodoxia, se acomoda”
(2002, p. 7). Essa acomodação freia o novo e transforma em ladainha a antiga teoria
revolucionária:
Em determinado momento, tal como acontecera com a influência do
marxismo, essas temáticas, ao entrar no campo, mudaram
efetivamente o nosso pensamento (assim como a prática, espero) sobre
currículo e educação. Mas hoje, ao serem mecanicamente repetidas
sem o vigor, a energia e a criatividade daquele primeiro momento de
“invenção”, apenas contribuem para reafirmar o status quo, um outro
status quo, certamente, mas este é justamente o problema das
revoluções, o de um status quo que está, ele próprio, constantemente
se renovando, nenhuma revolução se institucionaliza impunemente (na
verdade, nesse momento ela não é mais “revolução”). O que podemos
aprender disso tudo é que a inovação e a renovação partem sempre de
novos pretendentes. Não se pode esperar que os agora estabelecidos
revolucionários de antanho continuem fazendo revolução. As
revoluções vêm sempre de baixo e de fora (Silva, 2002, p. 7).
Dessa forma, baseado em Deleuze, Silva enfatiza que “o momento inventivo não
nasce de uma reprodução, de uma representação, do lado de fora do pensamento, mas de
um encontro com o lado de fora como um ‘outro’ do pensamento, como aquilo que é
estranho ao pensamento” (Silva, 2002, p. 7). Assim, um dia, o “outro” foi o marxismo, a
sociologia crítica, a fenomenologia, os Estudos Culturais, o pós-modernismo, o pósestruturalismo, depois esse “outro” virou o “mesmo”, o “fora” virou “dentro”, “o
estranho virou familiar, quando a heterodoxia virou ortodoxia, quando a teoria virou
catecismo, o movimento, paralelamente, congelou” (Silva, 2002, p. 8). O que é
importante, portanto, é não se acomodar, evitar os catecismos, o culto dos gurus e a
aplicação superficial e mecânica de teorias. Coisas que, segundo Silva, são inevitáveis, e
daí a importância da renovação dos paradigmas.
Nesse sentido, ao ser questionado sobre se ainda haveria espaço para as teorias
críticas, ou se elas já teriam esgotado seu potencial explicativo, Silva respondeu
afirmativamente. Há um certo esgotamento das “teorias críticas”, compreendidas como
260
um movimento de influências variadas como, por exemplo, marxismo, sociologia
crítica, freirianismo. Contudo, diz Silva, não se pode lhes tirar a importância de ter
renovado a nossa forma de conceber e analisar a educação na época em que se
colocaram como um novo paradigma (Cf. Silva, 2002, p. 8). Da mesma forma, elas são
perspectivas indispensáveis para a concepção e a análise da educação por que:
Não se pode simplesmente desconsiderar, sem prejuízos analíticos
consideráveis, a compreensão, desenvolvida, sobretudo, pela
sociologia da educação de inspiração marxista, de que a educação tem
um papel central na dinâmica de reprodução social. Da mesma forma,
[...], não se pode ignorar os penetrantes insights de Bourdieu e
Passeron em sua análise do papel da educação no processo de
reprodução cultural (Silva, 2002, pp.8-9).
Contudo, “não se trata de teorias que tenham sido superadas ou sucedidas por
outras mais ‘verdadeiras’” (Silva, 2002, p. 9). O que aconteceu é que essas perspectivas
ampliaram a compreensão da educação e não que “se tornaram agora ‘desacreditadas’
simplesmente porque, nesse meio tempo, desenvolvemos e aprendemos novas teorias”
(Silva, 2002, p. 9). Contudo, o reconhecimento da importância da teoria crítica não
significa “que certos aspectos dessas perspectivas não possam ser questionados, revistos
e reconsiderados” (Silva, 2002, p. 9), pois o trabalho intelectual está, precisamente, no
movimento.
O que Silva constata, então, é “uma certa acomodação daqueles intelectuais da
educação que ainda se consideram herdeiros da perspectiva ‘crítica’” (Silva, 2002, p.
9) (Grifo nosso). Enquanto o período 1970-1990 foi de uma extrema efervescência
teórica e de um espantoso desenvolvimento de análise da escola capitalista, “os últimos
doze anos têm se caracterizado como um período de repetição dos mesmos temas,
dos mesmos conceitos, das mesmas ‘críticas’” (Silva, 2002, p. 9) (Grifo nosso). São
sempre as mesmas respostas para novas realidades. Assim, os eternamente herdeiros da
teoria crítica, particularmente as perspectivas de orientação marxista, incluindo as
sociológicas, nem escutam os novos pretendentes e nem enxergam as novas realidades:
Questionada, de um lado, no campo propriamente intelectual e teórico
por novos pretendentes (pós-críticos, pós-estruturalistas, pósmodernos) e, de outro, no campo da prática e da política, pelas
radicais transformações no próprio capitalismo, as perspectivas
críticas têm se limitado, relativamente aos novos pretendentes, a uma
estratégia puramente defensiva e, relativamente às novas
configurações sociais, econômicas, políticas, a uma simples reiteração
das mesmas e velhas críticas (Silva, 2002, p. 9).
261
Mas há também a possibilidade, conforme Tomaz Tadeu da Silva, de “que os
acontecimentos colocados pelas perspectivas pós-estruturalistas, sobretudo aquelas
centradas na crítica da filosofia da consciência ou da filosofia do sujeito, tenham
atingido mortalmente a ‘teoria crítica’ da educação” (Silva, 2002, p. 9). Isso é possível
porque no centro da “teoria crítica” está o personagem filosófico do sujeito crítico,
inspirado na figura do sociólogo crítico da educação que, por sua vez, é tido como “um
sujeito não apenas capaz de ver e analisar a sociedade de uma forma transparente, desde
que apropriadamente equipado com as armas da ‘crítica’, mas também de transformá-la
radicalmente” (Silva, 2002, p. 9). Assim, é provável que o descrédito do personagem
filosófico como sociólogo crítico da teoria crítica da educação, inspirado no sujeito
moderno da representação, “tenha perdido sua razão de ser e de existir” (Silva, 2002,
p. 9) (Grifo nosso).
Compreendendo-se que pensamento pós-crítico, ou pós-estruturalista, ou pósmoderno, se apoia no questionamento da “ideia de crítica”, vale perguntar o que está no
cerne da “ideia de crítica”. O que Silva questiona na “ideia de crítica”? Enfim, o que é
que está na base do que chamamos de pensamento crítico e ao qual o pensamento póscrítico questiona? Para Tomaz, apesar de ser muito complexa a resposta, é possível,
minimamente, esclarecer que a ideia de crítica:
Supõe algum critério, alguma norma, alguma baliza algum
fundamento, relativamente aos quais justamente a crítica se faz. [...].
Esse sentido de crítica exige, [...], algum apoio em um chão – uma
fundação – a partir do qual, e relativamente ao qual, se questiona
aquele status quo. Em suma, a noção de crítica, nesse sentido, exige
um centro, um ponto estável, uma referência certa. Ora, é
justamente a possibilidade de existência de um tal centro, de um
tal ponto, de uma tal referência, que é colocada em questão pelas
perspectivas, [...], pós-críticas (Silva, 2002, p. 10). (Grifo nosso).
Ou seja, nesse sentido, as teorias pós-críticas nada têm de “críticas”, pois elas
colocam em questão a própria noção de “crítica”, no sentido da existência de um
fundamento referencial último. No entanto, diz Silva, isso não significa que estejam
descartados o pensamento e a ação política, mas sim o pensamento e a política como são
formulados pelas chamadas teorias críticas, “as quais, supõem, precisamente, aquele
ponto de apoio, aquele centro – firme, estável e certo. Mas tirar o ponto de apoio não
implica deixar de pensar ou agir” (Silva, 2002, p. 10) (Grifo nosso).
Assim, a instabilidade, a incerteza e a desordem trazidas pelo fim dos
fundamentos propiciam outros tipos de pensamentos e de ações políticas que não têm
262
mais a ideia de referencial e de fundamento presentes na teoria crítica. Dessa forma, é
possível afirmar que “o fim dos fundamentos não é o fim da política, mas o seu
começo” (Silva, 2002, p. 10).
Outro elemento importante no pensamento de Silva é o questionamento do
sujeito moderno, já presente nas chamadas teorias pós-críticas, ao qual ele denomina de
pós-humano. Esse elemento está estreitamente ligado a essa nova noção de fazer
política sem o fundamento que compõe a política crítica. Assim, da mesma forma, essa
discussão coloca em xeque as concepções substancialistas de sujeito e de ser humano
que têm prevalecido na base do nosso pensamento e da nossa cultura. Dessa forma, é
preciso compreender que:
[...] o sujeito (o ser humano) não é um dado e sim o resultado de uma
construção (teórica, social, cultural). De novo, descentrar o sujeito não
significa afastar qualquer possibilidade de fazer política, mas apenas
daquele tipo de política que tem, como pressuposto justamente a
noção de sujeito. A política não se faz no terreno do dado, do fixo,
do absoluto, do transcendental, mas justamente no terreno do
questionável, do variável, do ordinário, do imanente (Silva, 2002,
p. 11) (Grifo nosso).
O questionamento do sujeito ou do ser humano como essência ou substância e
sua concepção como construção histórica, cultural e social, implica na ampliação do
universo político, como tem mostrado a contemporaneidade. Partindo desse
pressuposto, conforme Tomaz Tadeu da Silva, até a ideia de “política de esquerda” se
ampliou significativamente e pode “abranger não apenas e exclusivamente o campo
econômico, mas uma gama muito mais variada de atividades humanas. A própria noção
de ‘ser de esquerda’ tornou-se muito mais problemática e complexa” (Silva, 2002, p.
11). Assim, é possível constatar, atualmente, que no campo das lutas sociais existe uma
interação maior “entre teoria e política do que a que existia nos tempos da hegemonia
do marxismo na política de esquerda” (Silva, 2002, p. 11). Daí se poder concluir que “o
questionamento à filosofia da consciência não é apenas uma questão teórica. Ela implica
necessariamente uma política” (Silva, 2002, p. 11).
Na época dessa entrevista que estamos utilizando, Tomaz Tadeu da Silva
afirmava que, apesar de ter muito cuidado com os rótulos, estava estudando o
“pensamento da diferença” e investigava sua relação com o campo educacional. Um dos
filósofos que ele considerava significativo na temática da Diferença era Gilles Deleuze
que, apesar de não ter dado contribuições diretas para a teoria educacional, pode muito
263
bem inspirá-la com, por exemplo, suas significativas passagens sobre aprendizagem.
Contudo, afirma Tomaz Tadeu da Silva, “o mais importante é tentar desenvolver as
implicações de seu pensamento mais geral para a teoria educacional” (Silva, 2002, p.
11), principalmente relacionado a três questões: conhecimento e pensamento;
subjetividade e subjetivação; e poder ou força e, mais especificamente no caso de
Tomaz Tadeu da Silva, na área do currículo:
É aí, na intersecção desses três elementos centrais do currículo,
na problematização daquilo que tem constituído o pensamento
dominante na teoria educacional, que se encontram, na minha
opinião, as maiores possibilidades teóricas de um pensamento da
diferença. É precisamente nesse trabalho, isto é, no traçado de
algumas dessas implicações do pensamento da diferença para
uma teoria do currículo, que me encontro envolvido (Silva,
2002, p. 12).
Assim, Deleuze, a partir de seu questionamento sobre a identidade, ao
substituir a pergunta clássica da representação: “o que é?”, pela pergunta contaminada
pela diferença: “o que é isso?”; ao questionar a “imagem dogmática” do pensamento e
da representação e ao desenvolver uma concepção afirmativa da diferença, tem muito a
falar para o campo educacional, um campo orientado tradicionalmente pela identidade,
pondera Tomaz Tadeu da Silva (Cf. 2002, p. 12).
No artigo intitulado “Dr. Nietzsche, curriculista – com uma pequena ajuda do
professor Deleuze” (2002a), Silva mapeia alguns dos temas centrais da teorização
contemporânea chamada “pós-estruturalista” ou “pensamento da diferença”, os quais
questionam pressupostos da metafísica, da fenomenologia, da dialética, do marxismo e
do estruturalismo, tendo Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Derrida como
principais filósofos do pensamento da Diferença:
A verdade como ficção, invenção e criação. Uma visão perspectivista
e interpretativa do conhecimento. O conceito como produção e
intervenção e não como descoberta ou reflexo. A insistência no caráter
produtivo da linguagem. O privilegiamento da diferença e da
multiplicidade em detrimento da identidade e da mesmidade. Rejeição
da transcendentalidade e da originariedade do sujeito. O caráter
heterogêneo, derivado, das formações de subjetividade. A nãoidentidade do “sujeito” consigo mesmo. A opção por uma genealogia
em prejuízo de uma ontologia. A pesquisa não das essências e das
substâncias mas das forças e das intensidades. Insistência no ‘poder’
de inventar, fixar, tornar permanente e não na capacidade cognitiva de
descobrir, revelar, desvelar. Contra o duvidoso gosto pela essência,
uma declarada predileção pela aparência. Não a presença (do ser?),
mas seu deferimento, sua diferença, seu retardamento, seu
264
espaçamento. Horror ao pensamento da negação e da contradição. O
devir em vez do ser. Não os valores, mas sua valoração. Não a moral,
mas sua proveniência (Silva, 2002a, p.1).
Tomaz Tadeu da Silva lembra ainda que: o pensamento da Diferença surge nos
anos sessenta, com uma emergência maior no final do século XX e início do XXI, em
diversas áreas das ciências humanas e sociais; a teoria do currículo também tem sido
contagiada pelo pensamento da diferença, inicialmente com o referencial foucaulteano e
depois alargando essa influência a partir da filosofia de Deleuze ou Derrida; e herda de
Nietzsche a maior parte dos seus temas: “o perspectivismo, a visão interpretativa da
verdade, a crítica do sujeito, o questionamento do pensamento identitário, a força e o
poder como elementos formadores e constitutivos” (Silva, 2002a, p.2). Diante dessa
herança nietzschiana da filosofia da diferença, Tomaz Tadeu considera interessante
perguntar:
[...] o que a teoria do currículo pode aprender com o mestre que pode
ser considerado o precursor das temáticas depois desenvolvidas pelos
pensadores contemporâneos da diferença. Nietzsche nos deixou
algumas importantes lições sobre a verdade e o conhecimento, sobre o
sujeito e a subjetividade, sobre a força e o poder, sobre a moral e os
valores. Se é verdade, como agora sabemos, que a teoria curricular
está estreitamente envolvida com essas questões, não poderia ela
tomar algumas úteis e proveitosas lições com o velho e bom professor
Nietzsche? Dr. Nietzsche, curriculista. Escutemos (Silva, 2002a, p. 2).
Uma teoria do currículo pós-estruturalista problematiza quatro questões centrais:
conhecimento/verdade; sujeito/subjetividade; poder; e valores, mas não com a
finalidade de lhes buscar a essência última, mas de questionar os fundamentos que lhe
são imputados pelo status quo.
Conforme Silva, a questão do conhecimento e da verdade na teorização
curricular traz a pergunta: qual o conhecimento verdadeiro que deve ser ensinado?
Tradicionalmente, a resposta é dada pelo pensamento da representação que implica na
existência de um conhecimento verdadeiro pré-existente e na correspondência do
conhecimento entre o sujeito e o objeto. Diversamente, uma teoria pós-estruturalista
sobre o currículo vai “problematizar essa concepção ‘realista’ do conhecimento e da
‘verdade’, destacando, em oposição, seu caráter artificial e produzido” (Silva, 2002a, p.
3), pois não existe um reino das aparências composto pelas coisas sensíveis, falsas, e um
reino das essências composto pelas coisas inteligíveis, verdadeiras: “A única
“realidade” é a das aparências. Não há nenhuma verdade a ser descoberta ou revelada
265
porque a única verdade é aquela que nós criamos. A verdade é uma coisa deste mundo”
(Silva, 2002 a, p. 4). Assim, a verdade é uma interpretação que é produzida.
Já com relação às concepções de sujeito e subjetivação, um currículo tradicional
metafísico carrega sempre alguma noção do sujeito que ele quer formar e parte de uma
noção do que essas pessoas são essencialmente. A metafísica crê na existência de um
“eu” unificado, coerente, fixo e permanente, origem e a causa da ação, ou seja, pautado
no cogito cartesiano. A realidade fica centrada na ação do sujeito e os seus
acontecimentos impessoais não são percebidos, valorizados:
O “eu penso, logo existo” cartesiano – ato inaugural da instauração do
sujeito – é a expressão máxima dessa tirania da gramática. A fórmula
provaria, supostamente, a existência do “eu”. Mas o “eu penso” não
faz mais do que verificar a existência do ato de pensar. O “eu penso”
não prova a existência do eu: apenas confirma que a gramática atribui
a ação de pensar a um suposto “eu”. A existência do eu não é um
“fato” provado, mas tão-somente uma suposição da gramática. De
novo, é apenas um hábito gramatical que nos obriga a atribuir uma
ação (neste caso, o pensar) a um suposto agente (Silva, 2002 a, p. 6).
Para a concepção metafísica do sujeito, o sujeito: é uma substância imutável; é
idêntico a si próprio, ou seja, coincide com o pensamento que tem de si; tem uma
identidade permanente ao longo do tempo; tem uma unidade, ele é um e não muitos.
Diversamente, a teoria pós-crítica do currículo trabalha com um sujeito que é: mutável;
diverso de si próprio; não é o que pensa que é; muda ao longo do tempo; e não é um, e
sim, vários.
A terceira questão diz respeito aos valores e seus critérios. Para as teorias
tradicionais, essa questão é respondida a partir de:
Alguma espécie de fundamento primeiro ou transcendental, para a
perspectiva pós-estruturalista, a questão é saber de quem são os
valores, para quem e para que servem. No primeiro caso busca-se um
fundamento último para os valores; no segundo faz-se,
nietzschianamente, uma pergunta genealógica sobre as forças por trás
do processo valorativo (Silva, 2002a, p. 4).
Na teoria tradicional, a moral: é universal – seus valores valem para todos; é
transcendental – seus valores emanam de um fundamento; é eterna – seus valores
sempre valeram e sempre valerão. Essa visão se constitui em um moralismo, que busca
a origem primeira e o fim último dos valores, metafisicamente, lhe retirando sua
procedência imanente e contingente.
266
No entanto, para a teoria pós-crítica, a moral tem uma origem, mas não em um
fundamento, pois sua origem é da imanência, é “mais terrestre, mais profana, mais
cotidiana, do erro e da tentativa, da fraude e do engano, da sedução e da conquista, da
persuasão e da dominação. A moral é mais da ordem da contingência que da ordem da
transcendentalidade” (Silva, 2002 a, p. 8).
Enfim, o moralismo pergunta pelo fundamento último do valor, uma genealogia
da moral, indaga pela valoração dos valores, ou seja, quem ou o quê valorou o valor.
Contudo, ao desnaturalizar o valor, a genealogia não sugere a ausência deste, pois expor
as condições arbitrárias e históricas de criação dos valores vigentes “não significa
sumariamente invalidá-los. Significa, em vez disso, tão-somente situá-los, colocá-los
em sua devida e respeitável posição de criaturas, de invenções, de artefatos. Um valor
deve saber o seu lugar” (Silva, 2002 a, p. 8). Assim, o que a genealogia da moral propõe
é uma recriação de valores, reafirmando seu caráter histórico, imanente e contingente.
A quarta questão de uma teoria do currículo é referente ao poder, ou seja, o quê
ou quem determina o que vai ser estabelecido? Na perspectiva pós-estruturalista, a
resposta está nas relações de poder. Assim, se as coisas não são manifestações de
essências e nem originárias de princípios transcendentais, mas sim resultado de atos de
invenção e de processos de criação, o conhecimento não pode ser correspondência entre
aparência e essência, realidade e representação etc., e o que se deve investigar é a
correlação de forças que determina a prevalência de uma invenção no lugar de outra,
pois essas forças agem em um campo de forças que, por sua vez, “significa dizer que
uma força age sobre outra força, que aquilo que as movimenta é a diferença entre uma
força e outra. É essa diferença que faz a diferença entre uma invenção e outra. As forças
dão forma às criações, imprimem nelas sua marca, sua diferença” (Silva, 2002 a, p. 9).
Essas forças que determinam o conhecimento e a interpretação, que competem
pela imposição de sentido às coisas do mundo, seguem um impulso pela superioridade:
“Sua dinâmica é movida pelo desejo – vital, impessoal, anônimo – de dominar. No
centro do campo energético que movimenta o mundo está uma ânsia – vital, impessoal,
anônima – de impor-se. Esse impulso, esse desejo, essa ânsia chama-se ‘vontade de
poder’” (Silva, 2002 a, p. 10).
Sendo assim, “conhecer é interpretar. Interpretar é dar sentido, impor uma
ordem, uma forma, uma direção, é dar um sinal à massa informe e caótica das coisas do
mundo. Interpretar não é revelar, descobrir, identificar, mas criar, inventar, produzir”
267
(Silva, 2002 a, p. 10). Por isso, as interpretações são diferentes, na medida em que
provêm de forças conflitantes. Portanto, “verificar a existência de diferentes
interpretações equivale a verificar a existência de diferentes estados das correlações
entre forças” (Silva, 2002 a, p. 10), do contrário, as interpretações teriam um sentido
único e nem seriam interpretações, mas representações. Assim, então, Tomaz Tadeu da
Silva lembra a velha máxima nietzschiana de que conhecer é vontade de saber e vontade
de saber é vontade de poder.
A partir daí, Silva se propõe a conceber um currículo seguindo as linhas traçadas
por Nietzsche. Até agora a teoria educacional habitou no terreno da metafísica,
recoberta com seus essencialismos, moralismos e visando a formação do sujeito
humanista. A metafísica e a pedagogia sempre andaram de mãos dadas: “veja-se, por
exemplo, a intrigante continuidade entre a artificiosa pedagogia do diálogo
socrático/platônico e as piedosas glorificações das virtudes do diálogo nas pedagogias
de inspiração freiriana ou habermasiana” (Silva, 2002 a, p. 11). Sua proposta, então, é
imaginar como seria possível modificar essa relação partindo do pensamento
nietzschiano.
Uma teoria curricular nietzschiana seria uma teoria perspectivista, diversa da
visão tradicional do pensamento da representação, metafísica ou positivista, na qual “o
currículo é a experiência do encontro com um corpo de conhecimento fixo e imutável”
(Silva, 2002 a, p. 11). Para Silva, essa concepção representacionista do currículo e do
conhecimento tem na visão marxista sua versão crítica, pois “inspirada pelo conceito de
ideologia, o currículo e conhecimento existentes só não correspondem à verdade porque
estão indevidamente distorcidos pelos interesses da classe dominante” (Silva, 2002 a, p.
11). Assim, no “currículo perspectivístico” o conhecimento não é representação de algo
que está para além dele, mas “uma versão ou uma interpretação particular dentre as
muitas que poderiam igualmente ser forjadas ou fabricadas. [...]. O currículo é, então,
pura escrita, pura interpretação” (Silva, 2002 a, p. 12).
Em uma teoria nietzschiana do currículo não cabe a noção convencional de
sujeito da representação, na qual “o conhecimento é um objeto para um sujeito ao qual é
atribuído o papel de centro, fonte e origem da ação” (Silva, 2002a, p. 12).
Diversamente, em Nietzsche, é possível pensar o sujeito como uma convenção:
Seguindo Nietzsche, podemos, [...], pensar o sujeito como não sendo
nada mais do que uma ficção conveniente, do que uma convenção
gramatical, do que uma fórmula de abreviação para se referir a uma
268
complexa e heterogênea combinação de elementos heterogêneos das
mais diversas ordens e origens: conscientes e inconscientes, mentais e
corporais, naturais e históricos, materiais e culturais. A estabilidade, a
permanência, a unidade, a coerência do eu não passam de uma ilusão,
de um hábito. O eu nunca se encontra consigo mesmo. Sua identidade
consigo mesmo não passa de um desejo, de uma “vontade de ser”
(Silva, 2002 a, p. 13).
Para Silva (2002a, p. 13), um currículo baseado em Nietzsche seria um currículo
“sem sujeito e sem a segurança e o conforto de um eu fixo e estável”. Contudo, isso não
significa simplesmente descartar qualquer noção de subjetividade, mas compreender
que sujeito e currículo são, por excelência, elementos de subjetivação e individuação.
Assim, então, haveria um deslocamento da noção de sujeito, tal como é compreendida
na representação, para a noção de subjetivação, a qual implica um sujeito como
montagem e invenção e não como a origem transcendental do pensamento e da ação.
Dessa forma, sujeito e currículo deixariam de ser pensados isoladamente, como causa e
efeito, e passariam a ser pensados reunidos em uma combinação (Cf. Silva, 2002a, p.
13).
Tradicionalmente, além da transmissão de conhecimentos, o currículo é também
uma transmissão de valores: “O currículo é, assim, além de um empreendimento
epistemológico, um empreendimento moral. A questão torna-se, então, em saber quais
são os valores que devem fazer parte do currículo e quais suas possíveis fontes” (Silva,
2002a, p. 13). Por sua vez, esses valores são transmitidos como sendo absolutos
(incondicionais), naturais (vindos da natureza e, por isso, imutáveis), universais (tem
validade em toda época, todo lugar e para todos) e oriundos de um fundamento (deus,
pátria, um texto sagrado, uma revelação, a família) (Cf. Silva, 2002 a, p. 13). Contudo,
pensar a questão dos valores no currículo a partir de Nietzsche implica em perguntar
pela valoração dos valores, de interrogá-los genealogicamente:
Qual a história desses valores, qual sua proveniência, quais forças
transformaram-nos justamente em valores? Uma perspectiva
genealógica questiona o caráter absoluto dos valores, perguntando
sempre pelas condições, pelos tipos históricos que fizeram com que
eles valessem como valores. Um valor não existe simplesmente, em
algum domínio transcendental: ele é sempre resultado de uma
valoração, de um ato de força, de uma imposição. Para uma
genealogia da moral, pouco importam os valores em si: o que importa
é investigar a origem dos atos que os instituíram como tais, as
posições de onde eles são enunciados. Uma genealogia da moral
tampouco está preocupada com a universalidade ou não dos valores:
sua preocupação é com a determinação das posições particulares a
269
partir das quais se decretou aquela universalidade (Silva, 2002a, p.
14).
Assim, pensar os valores em uma teoria do currículo nietzschiana significa:
questionar a incorporação de uns valores e não de outros; indagar por que o currículo se
organizou em torno do desenvolvimento de uma determinada subjetividade; quais as
forças, as relações de poder, que estabeleceram determinados critérios morais como
sendo dignos de figurar no currículo e de excluir outros; desconfiar da explicação das
crises como fracasso da transmissão de valores; enfim,
Uma
teoria
nietzschiana
do
currículo
seria,
[...],
fundamentalmente imoralista – não no sentido de ausência de
qualquer valor, mas no sentido de desconfiança de toda moral
baseada no absoluto, no universal e na natureza. Uma teoria
nietzschiana do currículo apelaria para uma contínua invenção,
para uma permanente transvaloração de todos os valores do
currículo (Silva, 2002a, p. 14) (Grifo nosso).
Nietzscheanamente, um currículo tem que ser compreendido em sua relação com
um campo de forças, com um campo de poder, pois “um currículo é sempre uma
imposição de sentidos, de valores, de saberes, de subjetividades particulares” (Silva,
2002 a, p. 14). Assim, não importa perguntar o que é verdadeiramente um currículo em
sua essência, mas perguntar pelo impulso, desejo, pela vontade de saber e vontade de
poder que fizeram acontecer um currículo. Deve-se indagar “não pelo “ser” de um
currículo, mas pelas condições de sua emergência, de sua invenção, de sua criação, de
sua imposição. Dedicar-se, em suma, não a uma ontologia, mas a uma genealogia do
currículo” (Silva, 2002 a, p. 15).
Para Silva, até agora, na teoria do currículo tem predominado a direção
metafísica com seus discursos e seus significados transcendentais: essência, verdade,
valores, sujeito. A perspectiva nietzschiana possibilita uma abertura desse
direcionamento e mostra outra maneira de conceber uma teoria do currículo. Contudo,
“como dizer se chegamos lá? Nietzsche disse certa vez que ‘nossa primeira pergunta
para julgar o valor de um livro é saber (...) se dança’ [...]. Poderíamos, talvez, pedir-lhe
emprestado esse critério para julgar o valor de um currículo – ou de uma teoria do
currículo. Dança?” (Silva, 2002 a, p. 15).
270
3. Daniel Lins e Mangue’s School: pedagogia rizomática, escola do acontecimento,
do devir e do afecto
Daniel Soares Lins é sociólogo, filósofo e psicanalista, com pós-doutorado em
Filosofia sob a direção de Jacques Ranciére – Université de Paris VIII, em 2003;
doutorado em Sociologia – Université de Paris VII – Université Denis Diderot, em
1990, no qual assistiu aulas com Gilles Deleuze; graduação em Filosofia, em 1984, e em
Sociologia, em 1976, – Université de Paris VIII, U.P. VIII.
Dentre outras atividades, ressaltamos aqui a de professor da Universidade
Federal do Ceará, – Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, atuando no
Departamento de Educação, e Coordenador do Simpósio Internacional de Filosofia:
Nietzsche e Deleuze42, que teve sua primeira edição em 1999 e a mais recente, a
décima, em 2011. Também exerceu o magistério como professor-visitante em várias
Universidades do Brasil e do exterior. Tem uma expressiva atuação na área cultural via
rádio, jornal e televisão, difundindo a Filosofia contemporânea, Sociologia e Educação.
Tem mais de uma dezena de livros publicados, e outros organizados por ele, bem como
artigos no Brasil e no exterior. Parte significativa desse material é relativa ao
pensamento de Deleuze e suas intercessões em Educação ou a temáticas afins ao
pensador francês.
Para Daniel Lins43, a Filosofia da Educação no Brasil começa a existir na
contemporaneidade e falar dela é algo muito recente no país. Este fato se deve a pessoas
e não a instituições, pois “as instituições brasileiras não trabalharam e nem trabalham
sobre a filosofia da educação, isso ainda é algo muito marginal, [...] no sentido de ‘à
margem’” (Lins, 2011).
42
X Simpósio Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – Natureza – Cultura, 2010, PA; IX
Simpósio Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – O devir criança do pensamento, 2008, CE;
VIII Simpósio Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – Vontade de potência, máquina de guerra,
2007, CE; VII Simpósio Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – Jogo e Música, 2006, CE; VI
Simpósio Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – Imagem, literatura e educação, 2005, CE; V
Simpósio Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – Arte e resistência, 2004, CE; IV Simpósio
Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – bárbaros e civilizados, 2002, CE; III Simpósio
Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – Que Pode o Corpo, 2001, CE; II Simpósio Internacional
de Filosofia, 2000; I Simpósio Nacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze – Intensidade e Paixão, 1999,
CE.
43
Entrevista de Daniel Lins concedida à autora em 2011. Vide anexo.
271
Para Lins, é muito difícil fazer Filosofia da Educação a partir de uma leitura
clássica da filosofia, pois aí predomina uma espécie de pensamento imperial e, até o
século XX, existiram traços de preconceito em relação à criança que surge como “uma
instituição muito nova, novíssima” (Idem).
Assim, a criança foi humilhada como
entidade, pois “não era sujeito nem era categoria, era um ente, um ente do ser. Foi muito
humilhada em toda a história da filosofia, em toda história do pensamento” (Idem).
Tendo sido negada desde Platão até a Igreja, para quem tinha parte com o diabo e só
podia ser salva porque tinha alma.
Poucos reconhecem que é somente com Freud que a criança e a educação
ganham seu devido lugar na filosofia, e passam a ter visibilidade e estatuto. Rousseau,
por exemplo, teve seu Emílio queimado em praça pública e foi exilado, pois para a
época “era uma vergonha que um filósofo, um homem do nível do Rousseau perdesse
seu tempo com tantas ‘asneiras’” (Idem).
É necessário fazer uma cartografia dessa “ausência trágica da filosofia do ensino
no Brasil” que só existe por guardarmos distância do mais importante que é a criança
enquanto pivô e rizoma: “Se você transforma o rizoma, que é movimento, em algo
paralisado, aí você chega à história da filosofia atual, à história da educação atual e à
dificuldade que tem a educação de interagir com a filosofia” (Idem). Por isso, no Brasil
só é possível fazer educação com a pedagogia que é palavra de ordem e não estímulo ao
pensamento, pois na pedagogia e no ensino prevalecem a opinião que é contra o
pensamento, aí, então, ocorre o enterro da Filosofia (Idem).
Contudo, se a Filosofia da Educação é tão recente no Brasil, mais recente ainda é
uma educação pensada a partir da Filosofia de Deleuze. Personagens, sempre pessoas e
nunca instituições, deixam de lado a leitura de Rousseau, Schopenhauer etc. e
descobrem Deleuze:
Mas Deleuze não escreveu livro sobre educação, nunca escreveu um
livro sobre educação. E como é que se chega a Deleuze? Não tem
jeito, tem que ler o Deleuze todinho, essa é que é a história. Porque, se
você ler Deleuze, você é capaz de escrever só tirando as frases. Eu fiz
uma conta, daria um livro, mais ou menos, de 96 páginas se você
retirasse só o que Deleuze fala sobre educação. Como? De uma
maneira outra. Por quê? Porque Deleuze não trabalha absolutamente
com a dominação dos signos nem dos símbolos que uma certa
pedagogia – que no Brasil, em geral, é essa a pedagogia – impõe
palavras de ordem, não mais, absolutamente, pensar o que está escrito,
mas executar. Nossos programas vêm todos de Brasília, inclusive
quando você está em Quixadá, quando você está em Unijuí, onde você
272
estiver, nossos programas vêm de Brasília, já está tudo feito, tudo
dominado (Lins, 2011).
Conforme Lins, aqueles personagens buscaram Deleuze para pensar uma nova
educação porque a atual funciona no universo da Representação, em um processo de
significado, significante e significação que é “a tropa de elite da pedagogia” e a alma da
representação. Esse trio da representação inviabiliza o pensamento criativo porque
oferece tudo pronto, conceitos, valores, perspectivas, etc., e destitui a necessidade de
pensar: “Então, [com] significado, significante, significação, eu dou o pacote e, a partir
daí, não há mais pensamento. Se não há pensamento, como vai ter filosofia? A filosofia
é a arte de criar conceitos, aquela ideia de Gilles Deleuze” (Lins, 2011). Contudo, a
necessidade de pensar a educação para além do universo representacionista, em virtude
dos seus limites impostos à educação, levou a necessidade de pensar diversamente:
Se um país não tem necessidade de pensar é muito difícil ter uma
pedagogia que pense. A pedagogia é a pedagogia dos resultados,
copiando países que já passaram por todas as fases que nós não
passamos e que nós estamos apenas chegando, a gente corta todas as
fases e dá uma coisa esquizofrênica, meio doida. Em um país de quase
escolas, quase professor, quase salário, quase tudo, em um país onde a
educação, realmente, não tem importância, é só uma espécie de
discurso teórico, cheio de metáfora, e, geralmente, levando os
professores pra uma situação indigna, que é a situação do pobrezinho,
daquele que tem vocação ou, como diz o Governador daqui, aqueles
que trabalham por amor (Lins, 2011).
Nesse universo árido, há “a ausência de um programa realmente pensado,
sentido, um sentimento não mais como a significação, mas sim como a pele” (Idem).
Com o pensamento da representação fica perdido o sentido do “sentido” como pele e
como erógeno, virando significação e palavra de ordem. Lins dá o exemplo da palavra
viril, que em latim indica força, mas teve seu sentido traduzido e cooptado pelo
pensamento de representação como sendo relativo a homem no sentido do gênero, ideal
masculino, e que passa a ser um discurso dominante, inclusive da educação, “porque
tudo [...] passa pela educação, é lá que a gente aprende essas significações, significados,
esses significantes e a representação dominante. Palavra de ordem, dos valores ou não,
dos signos e dos símbolos” (Lins, 2011).
Contudo, essas coisas só são possíveis se a Filosofia levar ao pensamento e não à
opinião, afirma Lins: “O sonho do filósofo não é ter discípulo, não é ter comentador, o
sonho dele é ter um intérprete, que seria o papel da escola” (Lins, 2011). Mas prevalece
273
o vazio do pensamento, onde a representação e a opinião ganham o tempo todo e o
pensamento é tido como algo “chato”. Principalmente no âmbito educacional, há uma
negação do pensamento filosófico e sua necessidade de se filiar às práticas educativas.
Nesse sentido, Lins ressalta a importância de trabalhos desenvolvidos
conjuntamente com Ada Kroef no Conselho de Educação no Ceará e em Porto Alegre,
em escolas públicas. Essas experiências práticas tiveram participantes que tinham por
referencial teórico os filósofos que não comungam com o pensamento da representação:
Ada Kroef trabalhou, desde a gestão do PT, na Secretaria de Educação
de Porto Alegre. Então, o que que ela fez? Ela pegou exatamente...
porque era uma pessoa, e não uma instituição, tinha sua equipe, os
Secretários acharam interessantíssimas as ideias dela, trabalhando com
uma equipe muito boa e começando então a fazer o que? A chamar
pessoas que trabalhavam com Deleuze, com Guattari, com Nietzsche,
com Schopenhauer, com Derrida, enfim, com toda essa gente que
mudou a história da educação nesse meado do século XX até agora
(Lins, 2011).
Ainda sobre a importância de a Filosofia pensar e nortear a Educação, Lins
também recorda que quando a França faz uma reforma, ela convida primeiro os
filósofos para participarem, e somente em um segundo momento convida os técnicos. A
última reforma que foi feita por Mitterrand, por exemplo, os convidados foram Pierre
Bourdieu, Michel Serres, Derrida e Morin. Sarkozy também tem seguido o mesmo
caminho, bem como os ingleses:
Na Inglaterra, o que os ingleses fazem? A mesma coisa. Convidam os
filósofos. Porque quem é que vai pensar a educação se os filósofos
não pensarem? Não vão ser as pedagogas, porque as pedagogas têm
todo um processo de relação com a cognição e elas trabalham,
portanto, já com o que está dado antecipadamente (Lins, 2011).
O que inviabiliza as pedagogas de pensarem a educação é porque elas estão
impregnadas pelo domínio da representação, portanto, da cognição. Na própria sala de
aula, elas partem de uma ideia pré-estabelecida de conhecimento e de saber que
“aplicam” ao ensino, “sem ter nenhuma preocupação com o acontecimento na
pedagogia. Eu chamo de acontecimento na pedagogia dizendo que o acontecimento
seria o efeito surpresa que toda criança precisa para se desenvolver e crescer e para ter
também o amor pelo que ela não conhece, pelo desconhecido” (Lins, 2011). E isso,
conforme Lins, “tem tudo a ver com a experiência deleuzeana”.
274
Outro fator que leva ao fracasso escolar e inviabiliza o acontecimento, a surpresa
que incita a curiosidade e leva ao amor ao conhecimento, é o excessivo controle que os
diretores de colégios exercem sobre materiais didáticos, que deveriam ser
disponibilizados para os alunos e, no entanto, vivem trancafiados a sete chaves na sala
da Diretoria para não “estragarem”: “[...] quantas escolas eu já visitei no Brasil, não só
no Ceará, onde aqueles livros maravilhosos estão escondidos, guardados, velados lá
porque se não os meninos vão estragar. Isso não é mais folclore, isso e real” (Lins,
2011).
Por tudo isso, é possível afirmar que existe “uma pedagogia que não pensa e
uma pedagogia como lugar da exclusão”. No entanto, uma escola diferente seria aquela
que trabalhasse com o pensamento e, portanto, com os afectos, pois não se retira o
pensamento dos afectos, “porque o pensamento é a abertura para pensar aquilo que está
dado como certo. Esse é o lugar do afecto, é essa abertura para uma diferença que
difere, somos todos diferentes, mas não tem hierarquia de diferença, não tem uma
diferença melhor que a outra, se não a gente vai entrar em um discurso da
representação” (Lins, 2011). Para Lins, essa relação dos afectos com o pensamento se
dá porque só se pensa por necessidade, o pensamento é algo interessado. Assim,
Colocar o pensamento na filosofia é colocar os afectos, colocar os
afectos é ficar também na escuta desse capital cultural que são os
alunos, em qualquer que seja a faixa etária. Qualquer que seja a idade,
chegam todos com um capital cultural, inclusive os que vêm de
lugares impensáveis, às vezes até mais humilhantes, socialmente
falando, do que as favelas, o rural e tudo isso (Lins, 2011).
Contudo, uma pedagogia do acontecimento que se contrapõe a uma pedagogia
da representação não prescinde de uma espécie de estrutura, “mas essa estrutura tem
linhas de fugas, essas linhas de fugas que vão correr por todo lado, é a cabeça do
menino com a sua invenção” (Lins, 2011). O estudante lança mão do que precisa, do
que interessa nessa espécie de eixo que não é o lugar da verdade e sim da
experimentação. Aí se trata eminentemente de prática, e por isso, “ele precisa de um
eixo, ele precisa de uma coisa bem centrada para poder descentralizar, para poder sentirse a vontade para poder entrar na invenção, mas ele precisa voltar” (Lins, 2011).
Esse eixo, que possibilita linhas de fuga, ocorre sempre em um processo de
territorialização e desterritorialização. Um não existe sem o outro. É como a relação
Apolo-Dionísio, não se pode afirmar Apolo “e” Dionísio, pois “quem nos disse que
275
Apolo não é ainda uma figura de Dionísio, uma figura conceitual, sobretudo, um
personagem conceitual, e que Dionísio não é uma figura de Apolo?” (Lins, 2011). Lins
afirma que é impossível dividir essa história, porque ali o humano, demasiado humano,
está tudo junto em uma diferença que difere:
São diferenças que não têm hierarquia, mas são diferenças e, portanto,
singularidades. Apolo não é Dionísio, Dionísio não é Apolo,
entretanto essas diferenças que diferem participam de uma espécie de
complementação, mas guardando cada uma diferença a sua
singularidade. Por isso que nunca é uma dualidade. O pensamento
dual é o pensamento da pedagogia, bem ou mal, aí quando a filosofia
chega, a filosofia do Deleuze ou do Nietzsche... Bem ou mal? Mas
isso não existe, existe bem-mal, bem e mal não (Lins, 2011).
A escola dual, da cognição, da representação inicia a divisão entre bem e mal,
bem como decide entre o que é o bem e o mal, impõe essas ideias e impede o
pensamento: “Então, quando você entra em uma estrutura que não pode mais pensar,
onde está tudo controlado, resultado: que vai fazer essa criança na escola? Qual é a
força de Deleuze?” (Lins, 2011). A resposta, conforme Lins, é próxima ao que Deleuze
afirma quando faz um elogio a Bob Dylan: “eu gostaria de dar um curso como se eu
estivesse em um concerto de rock”.
Dessa forma, a resposta é precisamente a valorização das coisas práticas:
“Deleuze trabalha na filosofia dele com coisas tão práticas que se tornam quase um
manual antipedagócico” (Lins, 2011). No caso da comparação com o rock, é porque ele
possibilita a pessoa ouvir a música e participar dela dançando. Lins esclarece da
seguinte forma:
E por que não dar um curso como se fosse um concerto? E o que é
esse concerto? Se você pensar que ele está falando de rock, porque
muitos alunos roqueiros eram alunos de Deleuze e tinham paixão pelo
rock de Bob Dylan. O lugar do rock, sobretudo, é muito interessante
porque eles estão tocando, mas você está dançando e não existe rock
sem o público, podemos dizer que não existe piano sem o público. Só
que na relação do piano você está com toda emoção, você está lá, mas
não há participação física, há sim, mas ela é invisível [...], no caso do
rock é uma loucura, porque é uma das raras músicas que é para você
dançar, se movimentar (Lins, 2011).
O exemplo é também significativo porque os roqueiros entram em um processo
contínuo de territorialização e desterritorialização e isso se aproximaria da “ideia de
uma pedagogia filosófica baseada, pensada a partir de Deleuze e de outros, da
desconstrução, e tudo isso, é um excelente exemplo” (Lins, 2011). Da mesma forma, o
276
exemplo é pertinente porque o roqueiro improvisa dentro de uma estrutura
aparentemente fechada, tal qual uma escola saindo de uma pedagogia fechada; o
roqueiro está ao mesmo tempo dentro (dedans) e fora (dehors) da música, “vibrando e,
muitas vezes, se calando para que o público cante”, assim também é uma escola que
fuja à pedagogia da representação ou, seguindo Deleuze, dar uma aula como se fosse
um concerto de rock, no qual se possa fugir da estrutura através das linhas de fuga: “São
coisas que não têm nada de abstrato, é muito prático e é isso, mais ou menos, quando a
gente trabalha com Deleuze” (Lins, 2011).
A filosofia deleuziana tem esse caráter de valorização da dimensão prática, da
desconstrução, porque trabalha exatamente com o sentido e não com a significação, com
a representação. Na aproximação da Educação ao pensamento deleuziano, “Deleuze é
apenas o intercessor, quem trabalha somos nós e quem faz o que a gente quer com o que
Deleuze escreveu somos nós. Ninguém está copiando Deleuze e nem teria que copiar,
até porque é impossível, filosofia não dá para copiar” (Lins, 2011). Principalmente em
Deleuze, para quem a Filosofia é criação de conceitos.
Diversamente, no Brasil, afirma Lins, os filósofos brasileiros não são filósofos,
são professores de filosofia: “Não temos o direito de criar um conceito, o filósofo no
Brasil que criou conceito está no dicionário, um grande filósofo, chama-se Bento Caio
Prado Junior, que morreu recentemente. Ele é O filósofo. Por quê? Porque ele criou um
conceito” (Lins, 2011). Lins fala sobre o encontro de Bento Prado Jr. e Deleuze, na
Universidade de Paris e do encantamento do filósofo francês com um filósofo do Brasil,
país onde praticamente todos eram comentadores, professores de filosofia.
Lins reconhece a excelência de muitos professores de Filosofia no Brasil, mas
não a existência de filósofos: “Não há mudança, praticamente, no Brasil, é uma
dominação dos signos na filosofia. É como se fosse possível continuar a fazer filosofia
sem criar filosofia, é um complexo de vira-lata. Isso é terrível!” (Lins, 2011). E a
Filosofia que possibilita uma abertura de criação de pensamento, Deleuze e Nietzsche,
a universidade recusa dizendo que não é filosofia, “porque filosofia boa para a academia
brasileira é a filosofia que não pensa. E como é que uma filosofia não pensa?” (Lins,
2001). Por isso, a nossa formação filosófica é fracassada, pois não conseguiu formar
filósofos.
277
A USP, por exemplo, tem professores comentadores de altíssimo nível, como
Marilena Chauí, em Spinosa e Scarlett Marton, em Nietzsche. Mas a USP hoje já não
tem tanta representatividade na Filosofia no Brasil. Hoje ela representa mais um feudo:
“[...] a USP é um símbolo, é uma velha senhora, mas que não conseguiu escapar,
absolutamente, à loucura do envelhecimento do tempo” (Lins, 2011).
Segundo Lins, a questão se complica ainda mais quando se avança para o terreno
da Filosofia da Educação, na qual há um discurso terrorista de que Filosofia da
Educação não é Filosofia. De fato, “eu acho que filosofia da educação não existe, eu não
acredito que isso exista como nominação. O que existe é a filosofia pensando a
educação” (Lins, 2011). A História da Filosofia mostra que a “Filosofia passou a sua
vida a pensar a educação” (Idem).
E, nesse sentido, a Filosofia da Educação também é produtora de conceitos. Lins
relata que ele, brasileiro, criou muitos conceitos, como, por exemplo, o Mangue’s
School. O ponto de partida foi o conceito de rizoma que Deleuze já havia roubado da
biologia e a inspiração foi a frase de Deleuze: “lugar bom para fazer filosofia são os
trópicos”:
Aí eu peguei essa brincadeira dele e comecei a trabalhar o rizoma, por
exemplo, pegando os mangues. Daí aquele texto que saiu e foi
publicado não sei em quantos lugares, que correu o mundo, Mangue’s
School. Eu fiz questão de colocar em inglês, uma espécie de sinal,
sinalizando. Se tratava de mangues, mangues, por acaso, aqui no
Ceará, porque foi na Ilha do Pinto, em Fortim, perto de Canoa
Quebrada [Ce], que foi onde eu descobri. Quando eu mergulhei, que
eu... “meu Deus, e pensar que Deleuze ficou anos para pensar com
Guattari o rizoma e eu pergunto para o pescador ‘me diga uma coisa,
mangue não tem nem começo e nem fim?’”. Aí ele disse assim: “ó
doutor, desculpa aí, eu estou vendo que o senhor é um senhor sábio,
mas olha... tem começo e fim não, aqui só tem meio”. Para Deleuze
encontrar isso que ele me disse foram anos e anos e anos (Lins, 2011).
Lins ficou completamente fascinado com a ausência de início e fim dos mangues
cearenses e a partir daí passou a ler com mais clareza os rizomas das árvores de Belém
ou de São Paulo, compreendendo melhor o questionamento da existência de uma raiz
fundadora. Dada a importância do texto resultante dessas inspirações, vamos nos deter
um pouco mais na sua exposição.
O artigo Mangue’s school ou por uma pedagogia rizomática, compõe o Dossiê
Entre Deleuze e a Educação que resultou das apresentações do II Colóquio Franco-
278
Brasileiro de Filosofia da Educação, no Rio de Janeiro, em 2004, e, segundo o autor,
traz a seguinte proposta:
Uma pedagogia rizomática, que tem como axioma primordial uma
ciência nômade ou itinerante está inserida na ética e na estética da
existência, na imanência, pois como vida emerge como pura
resistência, puro devir. Eis um dos eixos do projeto de uma escola
inserida numa dinâmica do rizoma: resistir, infectar e vitalizar o
instituído (Lins, 2005, p. 1229).
A escola do mangue, ou Mangue’s school, está inserida em uma pedagogia
rizomática e tem por base a ciência nômade, itinerante, imersa na imanência. É uma
pedagogia da resistência e do devir. Faz contraponto à ciência régia, centralizada e
próxima ao poder. A escola rizomática resiste, infecta, vitaliza o instituído com a
diferença, em contraposição a escola identitária, que trabalha com o Mesmo.
Para a pedagogia e a escola rizomáticas, a criança não é um adulto em miniatura
que se prepara para ser o adulto futuro, mas sim um devir afirmativo, que se basta a si
mesmo. Deleuzianamente falando, para a pedagogia rizomática, a criança é um
acontecimento e o saber que ela aprende deve ser/ter sabor. Ou seja, deve ser prazeroso,
sem o peso das verdades eternas e das culpas e castigos das amarras moralistas. Assim,
a ética que acompanha essa pedagogia é a ética dos afectos:
Afecto em Deleuze, ao contrário do afeto, é uma potência totalmente
afirmativa. O afecto não faz referência ao trauma ou a uma
experiência originária de perda, segundo a interpretação psicanalítica.
O afecto, ao qual nada falta, exprime uma potência de vida, de
afirmação, o que aproxima Deleuze de Spinoza: na origem de toda
existência, há uma afirmação da potência de ser. Afecto é
experimentação e não objeto de interpretação. Neste sentido, afecto
não é a mesma coisa que afeto: o afecto é não-pessoal. Nem pulsão
nem objeto perdido, "O afecto é uma potência de vida não-pessoal,
superior aos indivíduos, o devir não-humano do homem" (Lins, 2005,
p. 1254).
A pedagogia rizomática se sustenta no rizoma e não na árvore, pois a árvore
delimita o território, cresce verticalmente e é identitária, enquanto “o rizoma é
horizontalidade que multiplica as relações e os intercâmbios que dele se originam. A
vida assim compreendida é um contínuo fluxo e refluxo, potência de interação e
produção de sentidos” (Lins, 2005, p. 1232). A maioria dos sistemas educativos se
apoia na representação arborescente, e são alimentados por pedagogias arborescentes,
hierárquicas e asfixiantes por imporem normas e palavras de ordem (Cf. Lins, 2005, p.
1234). Diversamente, a pedagogia rizomática busca “pensar, imaginar, engendrar,
279
embora de modo sucinto, uma pedagogia dos possíveis, uma pedagogia rizomática, sem
raízes, troncos, galhos ou folhas fundadores que dividem as coisas firmando a árvore
como ‘ato inaugural’ de todo processo educativo” (Lins, 2005, p. 1234). A pedagogia
rizomática não ensina de forma impositiva, mas promove encontros nômades, “um
conversar com no lugar de um falar sobre. Trata-se de nutrir o bom encontro, aqui
compreendido com o bem, marcado pelo desejo ético e estético de criação” (Lins, 2005,
p. 1235).
A pedagogia identitária territorializa, é molar, é centralizada no
conhecimento, impõe uma estrutura previamente pronta, da qual não se pode fugir.
Inversamente, a pedagogia rizomática desterritorializa, é molecular, é uma pedagogia
dos sentidos e possibilita e nomadiza as linhas de fuga. A própria nomadização dos
pontos de fuga, por sua vez, já “é uma pedagogia de alta potência: pedagogia
rizomática – pensar o impensável do pensamento, pensar o não-pensável do
pensamento, pensar o pensamento na sua dimensão desejante, vitalista; o pensamento
como vida e crueldade” (Lins, 2005, p. 1233).
O ser que é gestado na pedagogia do rizoma não se fundamenta nem na
substância, nem na transcendência e nem no humanismo, pois “o ser é uma produção
desejante: pura invenção do desejo”. Da mesma forma, este ser não deve projetar no
Outro a sua existência, em uma espécie de condenação sartriana. A alteridade é/pode
ser desejante,
Uma alteridade sem outrem estruturado e estruturador de
ressentimentos e dívidas. [...]. Poderíamos pensar uma ética sem
alteridade, em que não se está condenado ao outro, o outro como meu
pecado original (Sartre), mas que, ao contrário da moral niilista, não
limita outrem ao “ser humano”, ofuscando, assim, a grandeza de uma
alteridade grávida de devires, isto é, sem reciprocidade imposta como
sina ou destino, uma alteridade, pois, que passa pelos afectos,
encontros com outrem eclodido, em platôs abertos e rizomáticos
(Lins, 2005, p. 1235).
Dessa forma, o Outro está para além do homem, do indivíduo, da pessoasujeito e passa/pode ser a natureza, o não-humano, o desumano. Ampliam-se as
possibilidades de existir do Outro e as alternativas em que se possa fazer interação e
inclusão desse Outro, “um universo múltiplo, como um imenso sujeito eclodido:
caosmos e devir aos mil afectos e desejos, inocência do devir, devir do pensamento
280
trespassado por um eterno retorno, ‘que não faz retornar tudo’, nem se deixa encurralar
pela representação” (Lins, 2005, p. 1236).
Assim, então, pedagogia rizomática possibilita também cultivar como
experimento “os sentidos bárbaros não ainda domesticados” (Lins, 2005, p. 1238),
para além das significações e significados normatizados. Lins enfatiza experimento
porque quando se oficializa uma minoria ela é tornada maioria que passa a ser imposta
como modelo. O devir-inútil acontece, como acontecimento, imponderavelmente,
inclusive como forma de adubar a criatividade do fazer pedagógico rizomático. Por
isso, essa experimentação dos sentidos bárbaros não pode ser oficializada/imposta às
pedagogias, mas ela pode
[...] contaminar os processos pedagógicos com ‘costumes bárbaros’.
Se a ideologia utilitária mapeia o dia-a-dia de cada um, tudo grava,
cataloga, por que a educação seria diferente? Como pensar a produção
inútil nas escolas? Reuniões ‘inúteis’, ‘sem agenda’, encontros
‘inúteis’, tudo isso são experimentos e ‘práticas bárbaras’ no campo
dos afectos não estruturados nem estruturáveis ou oficializados,
consequentemente não fadados à repetição, ou ao tédio da experiência
cooptada pela norma, pelo imaginário instituído. Tudo isso educa para
o sensível, para se pensar fora do pensamento único. Tudo isso
significa não um método, mas um pouco de ar fresco, uma diferença
mínima, um afecto minimamente não-controlável, uma onda de
alegria na arte de aprender e de coabitar (Lins, 2005, p. 1239).
Essa inutilidade tem a ver com a Escola do Devir que tem um movimento
nômade e não se sedentariza em estruturas fixas, mas sim é aberta à intercessão de uma
pedagogia diferenciada, daquelas que são compromissadas com o sucesso a qualquer
preço. A pedagogia rizomática, diversamente, abre espaços para uma pedagogia do
acontecimento e para as trocas simbólicas de uma estética do ‘inútil’, que produz
rizomas e devires: “Um espaço de vida, no âmbito da escola, é uma espécie de nãolugar pedagógico, onde os devires imperceptíveis podem, como os nômades no deserto,
encontrar-se, não numa estrutura, mas numa confidência, numa sedução, numa
invenção artística. O tempo de ócio produtivo deveria também ser um tempo escolar”
(Lins, 2005, p. 1240).
Dessa forma, Mangue’s school é uma Escola do Devir, na perspectiva da
pedagogia rizomática; diversamente da pedagogia arborescente que, tal a árvore, é
hierárquica e tem início e final. O nome foi escolhido em função das características
rizomáticas do mangue, que não tem começo e nem fim, pois o rizoma é:
281
[...] meio, intermezzo, inter-ser, que não tem alto nem baixo, nem
começo nem fim: um ponto do rizoma é conectado a todos os outros
pontos, fazendo da escola um imenso manguezal que se espraia num
entrelaçamento de proteínas, calorias, gazes, lama, gozos, prazeres,
detritos e... ouro (o caranguejo, em particular, e os crustáceos, em
geral, são o ouro dos mangues), esquecimento ativo e devires, sem
simbiose nem filiação, mas alianças, intercessões, vizinhanças (Lins,
2005, p. 1241-1242).
Da mesma maneira, a pedagogia da Mangue’s school é tão rizomática quanto o
mangue: prevalece a surpresa do novo, da invenção, do imponderável, da diferença. O
olhar se inaugura novo a cada instante, evitando a repetição do Mesmo da
representação. A pedagogia nômade se orienta pela desterritorialização e “subtrai-se a
toda e qualquer localização temporal e espacial, escorrega entre os dedos, não reside em
um lugar nem em um ponto, contudo numa multiplicidade de lugares e pontos
quebrantando toda determinação arborescente” (Lins, 2005, p. 1245). O perigo se
encontra, assim, na localização-territorialização sem desterritorialização que leva à
institucionalização que, por sua vez, gera a uma educastração no lugar de uma
educação, conforme Lins (2005, p. 1245).
Lins traça algumas linhas propositivas do esboço de uma pedagogia rizomática
da Mangue’s school. Vejamos mais detidamente as seguintes raízes que “rizomamos”
dessa pedagogia: ensino/aprendizagem; cérebro; oficina potencial; pedagogia dos
afetos; professor/aluno.
Quanto à raiz ensino/aprendizagem, só é possível afirmar que a criança é uma
obra em construção e que a escola é uma intercessora legítima na sua autoconstrução
quando o ensino não for exercício de poder. Baseado em Ranciére, Lins afirma que não
há transmissão de saber, pois esta é transmissão de poder quando visa à mera aceitação,
por parte do aluno, do saber transmitido: “O saber não se transporta nunca. Ele busca
uma continuidade entre as formas do aprendizado habitual – aprende-se olhando,
adivinhando, comparando etc. – e as formas supostas metodológicas da transmissão de
saber” (Ranciére apud Lins, 2005, p. 1242).
Os ensinamentos e aprendizados não ficam para sempre no corpo e nos afectos
do aprendiz. Eles vão se desagregando na medida em que novos conhecimentos vão
surgindo. Daí a importância da recepção do novo:
Ora, o novo é que está por vir, para que ele seja, é preciso que haja o
esquecimento, uma memória das palavras, aquilo que não é ainda, e
que, desde que passa a ser, torna-se memória, passado. A pedagogia
rizomática, neste sentido, trabalha sempre com o novo. Eis, pois, toda
282
a sua dinâmica: o que é (a memória) dá lugar ao que não é ainda (o
novo, que implica o esquecimento). O novo é o devir, é o por vir.
Nem genealogia, nem raízes: rizoma, abertura para a imanência, num
eterno retorno em que o que retorna são os blocos de diferença em
forma de devires. É o próprio real que aparece como produção do
novo, o que supõe uma passagem do agente – itinerante, por definição
– por uma experiência singular (Lins, 2005, p. 1243).
O que caracteriza o novo no pensamento, afirma Lins, baseado em Deleuze, é a
ruptura com a opinião e a criação de novas soluções inventadas em circunstâncias
singulares (Cf. Lins, 2005, p. 1243). Assim, é necessário que a Filosofia, que tem papel
decisivo nesse processo, seja a criação de “valores novos” e não um dispositivo de
poder domesticado que consagra os valores estabelecidos. Assim, “a função da
Mangue’s School não é mais a de responder a uma necessidade de verdade, ou de abrir
ao conhecimento do real, mas provocar ‘novas possibilidades de vida’” (Lins, 2005,
1243) e conceber o novo como uma exigência de criação de forças capazes de
transformar o presente, oferecendo respostas para os problemas que vão se
apresentando.
Assim, portanto, o pensamento que busca o novo é experimentação, em todas as
áreas da vida, incluindo aí a educação. Por isso, para Lins (2005, p. 1244), “cabe à
filosofia da educação compreender a produção do novo no interior dos conceitos, ao
passo que a arte, que é uma forma de pensamento, perceberá a novidade tão-somente
por meio dos perceptos que inventa”.
Nesse sentido, na pedagogia da Mangue’s School, o cérebro, tal qual o
ensino/aprendizado, não tem uma forma arborescente e sim rizomática, com uma
consciência
que
funciona
em
fluxos
contínuos
e
descontínuos
que
se
desterritorializam/reterritorializam/desterritorializam criando o novo:
Uma pedagogia rizomática assemelha-se, ao mesmo tempo, a um
prolongamento de nosso cérebro, a um desenvolvimento eclodido de
nossa consciência, a uma consciência fluida que se estende em todas
as direções, ou em nenhuma, embaralhando os códigos unitários e a
linearidade que empobrecem a imaginação e afugentam os devires.
Consciência, pois, que se nutre de outras consciências produtoras de
devires inconscientes, engendrando uma desterritorialização e
abrindo-se ao novo, ao impensável do pensamento, num espaço de
criação em que os alunos se tornam os próprios rizomas (Lins, 2005,
p. 1244).
Para Lins, baseado em Deleuze e Guattari, o cérebro trabalha com a imagem que
é própria da imagem do rizoma, no qual “a imagem geral é a soma de todas as outras:
283
e... e... e... sem que haja hierarquia nas imagens que a compõem. O limite do rizoma é
fugitivo [...]” (Lins, 2005, p. 1244). Dessa forma, a pedagogia rizomática é semelhante
ao nosso cérebro com sua composição de neurônios conectados entre eles por sistemas:
“O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada nem
ramificada [...]. Muitas pessoas têm uma árvore plantada na cabeça, mas o próprio
cérebro é muito mais uma erva do que uma árvore” (Deleuze & Guattari apud Lins,
2005, p. 1244).
Por tudo isso, não faz sentido existir um local de trabalho na pedagogia
rizomática que seja igual ao local da pedagogia arborescente, do contrário, como se
desterritorializariam / reterritorializariam / desterritorializariam os fluxos do novo e seus
agenciamentos? Por isso, “convém investir as singularidades em um campo lavrado
pelas heterogeneidades, um lugar que é não-lugar, logo, deliberadamente, saída de todo
lugar, um lugar sem lugar, e que não sofre por isso, ganhando em troca uma pluralidade
indefinida de lugares [...]” (Lins, 2005, p. 1246).
Uma oficina comum de trabalho é fixa e visível no espaço, diversamente de uma
oficina rizomática ou oficina potencial de uma pedagogia nômade. Esta se instaura “no
relativo e no flutuante, ela troca sua forma e seu território por outras formas e
territórios, segundo seu bel-prazer, embora com extremo rigor e conhecimento
intelectual e afetivo, sem os quais nenhum experimento é possível” (Lins, 2005, p.
1246). A internet, por exemplo, segundo o autor, é representativa do tipo de uma oficina
rizomática.
Na perspectiva da Escola do Mangue, composta de elementos instáveis, fluidos,
“acentrados”, sem busca da Verdade etc., só caberia uma “pedagogia dos afectos alegres
em detrimento da tristeza das certezas” (Lins, 2005, p. 1246). Assim, prevaleceriam as
incertezas no lugar da verdade, ou da vontade arborescente que asfixia os desejos e não
deixa o aprendiz esquecer o estabelecido para aprender o novo, o aprendiz-refém da
memória do instituído, das soluções já encontradas, “marcado pelo mimetismo sôfrego,
pela cópia, pela ilusão duma centralidade, duma unidade que garante a ‘resolução, mas
que impede toda criação de problemas’” (Lins, 2005, p. 1246), pois a “pedagogia dos
afectos alegres em detrimento da tristeza das certezas” se pauta no pensamento
deleuziano no qual a filosofia deve pensar necessariamente problemas:
O pensamento não tem como fundamento a busca da verdade – como
se a verdade estivesse sempre disponível, à toa, esperando a nossa
vontade para se manifestar. O pensamento está voltado não para o
284
‘estudo’ de problemas, mas para a criação de conceitos. O problema
não é uma questão, pois a questão supõe, de imediato, a resposta. A
questão ou a interrogação sustenta-se na realidade vazia, o problema
está alhures (Lins, 2005, pp. 1246-1247).
Lins também chama essa pedagogia de “pedagogia dos platôs”, fazendo
referência ao pensamento deleuzeano-guattariano, para quem “um platô está sempre no
meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs [...]. Chamamos ‘platô’ toda
multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas superficiais de maneira que
formem e estendam um rizoma” (Deleuze & Guattari apud Lins, 2005, p. 1247). A
“pedagogia dos platôs”, portanto, não tem centro, e isso potencializa o desejo de
aprender e crescer com o novo, sem autoridade, pelo cultivo dos sentidos e para além do
meramente humano. Pode-se dizer, complementando Lins, uma pedagogia eróticorizomática-passional.
Finalmente, a relação professor/aluno na Escola do Mangue persegue uma
relação rizomática, não hierárquica, sem superior e inferior, sem um que ensine e outro
que aprenda, sem um centro único difusor de conhecimentos, mas só intercessores que
se entranham tais quais as raízes do mangue:
Professor e aluno, ambos são dotados de saberes, experimentos,
vivências, logo não são folhas brancas: cada um, a sua maneira, tem
seu capital cultural, e isso desde a mais tenra infância. Neste quesito,
há uma igualdade não-estatutária, não contabilizada nem competitiva,
mas real; não há matas virgens, ambos possuem conhecimentos nãocomparativos. O fato de que um e outro, contudo, tenham um capital
cultural, emocional ou linguístico aproxima-os duma cumplicidade
rizomática, não gramatical e hierárquica (Lins, 2005, p. 1248).
O aprendizado advindo dessa relação é o chamado “aprendizado imanente”, no
qual não existe uma aprendizagem de causa e efeito, mas sim encontros. Professor e
aluno são intercessores e realizam o que parecia impossível: “transmitir sem dominar,
transmitir sem ofuscar os devires, receber sem dever, sem morrer às criatividades nem
se deixar engolfar por uma alteridade moral que esvazia, mediante a dívida e a erosão
dos desejos, a vontade positiva de potência, vontade superior de desejar” (Lins, 2005,
p. 1248).
Nesse sentido, então, pensa-se o impensável, pensa-se com o corpo-sem-órgãos.
E este é, conforme Lins, “o axioma primordial da pedagogia rizomática” (2005, p.
1250), pois “o pensamento-rizoma se produz no encontro heterogêneo com o sensível e
não no elemento do pensamento (recognição) (Lins, 2005, p. 1250).
285
Na pedagogia da Escola do Mangue é necessário diferenciar entre programa e
projeto: “o programa – o oposto do rizoma – impõe a todos a obediência às setas e
indicações. O projeto, diferentemente do programa, experimenta, desconfia das
verdades pedagógicas ‘verdadeiras’” (Lins, 2005, p. 1251). O programa, apesar de ter
sua importância em um projeto educativo, é identitário, arborescente e molar, ou seja, é
favorável ao instituído, segue o utilitarismo na educação e renega a “inutilidade”
necessária ao ócio que possibilita as invenções, o lúdico e os desejos.
O projeto trabalha com o molecular, com as singularidades, com a criação de
problemas; é rizomático e busca cultivar os afectos alegres; é pura imanência e
afirmativo da vida; é experimento e não causa e efeito. Assim, portanto, uma pedagogia
nômade de um projeto da Mangue’s School só pode ser rizomática e molecular, ou seja,
“uma pedagogia da desconstrução e da diferença, do indivíduo como singularidade.
Uma pedagogia que não trabalha com formas, mas com encontros nômades, desejos,
encruzilhadas e bifurcações” (Lins, 2005, p. 1252).
Portanto, a pedagogia nômade da Mangue’s School “é uma espécie de
antipedagogia” (Lins, 2005, p. 1253), é uma pedagogia do experimento e do amor:
Ora, o amor é da ordem do experimento e não do programa.
Experimentar significa também participar ativamente, engajar-se no
sentido em que o pensamento não é simplesmente espectador ou
contemplador, mas participa de maneira ativa daquilo que tenta.
Enfim, na experimentação, o pensamento engaja-se num processo do
qual desconhece a saída e o resultado, e é nisso que ele está
profundamente vinculado à experiência do novo. O novo não é a
eternidade, é a invenção (Lins, 2005, p. 1254).
Para tanto, tudo isso só será possível mediante o ultrapassamento da
Representação que balizam a Filosofia da Educação, a imagem que se tem de criança, a
ideia que se faz de escola, as políticas educacionais etc. Ou seja, somente um
pensamento pautado na diferença possibilitará uma escola do acontecimento e do devir,
bem como uma pedagogia rizomática.
4. Walter Kohan: o devir-criança do ensino, da infância e da Filosofia
Walter Omar Kohan cursou o pós-doutorado em Filosofia na Universidade de
Paris VIII, em 2007. É doutor em Filosofia pela Universidad Iberoamericana desde
1996, com a tese Pensando la Filosofía en la educación de los niños, tendo como
Orientador Matthew Lipman. Sua graduação também foi em Filosofia, realizada na
286
Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina, em 1992. Kohan44 resume bem seu
período de formação e suas principais influências filosóficas:
Eu estudei filosofia na Argentina na Universidade de Buenos Aires,
sou argentino, e a minha formação teve uma influência grande da
filosofia grega, eu me especializei muito na filosofia grega, présocráticos, Sócrates e Platão. Trabalhei, inclusive, um pouco na
Argentina como professor assistente na Universidade de Buenos Aires
em filosofia grega. [...] Depois eu conheci Lipman, ele foi uma grande
virada no meu pensamento, na minha formação, porque ele me
mostrou, digamos assim, a necessidade de recriar a filosofia que se faz
na academia. Então, foi um grande aporte para mim, porque ele me
mostrou a necessidade que a [...] Filosofia da Educação fosse uma
prática da filosofia e não uma transmissão do saber filosófico. E
também me permitiu um caminho para chegar à infância, que depois
eu critiquei, eu questionei, eu tentei refazer, mas que foi um caminho
importante [...]. E paralelamente eu fui estudando, trabalhando autores
da filosofia francesa já na minha tese, que o Lipman orientou, eu
trabalhava com alguns franceses. Depois eu fiz um pós-doutorado em
Paris VIII, aí estudei com pessoas do grupo de Ranciére [...] (Kohan,
2011).
Atualmente, Kohan exerce diversas atividades relacionadas à área do ensino e da
pesquisa. Dentre elas, ressaltamos aqui a de professor titular de Filosofia da Educação
do Centro de Educação e Humanidades da Universidade do Rio de Janeiro (UERJ);
professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ; pesquisador do
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Foi Presidente do Conselho Internacional para
a Investigação Filosófica com Crianças (ICPIC), vice-coordenador do GT de Filosofia
da Educação da ANPED e Coordenador do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, da
ANPOF. Tem mais de 50 trabalhos publicados em revistas especializadas e anais de
eventos em diversos países. Publicou mais de 30 capítulos de livros e escreveu ou
organizou a mesma quantidade de livros. Desenvolve ou já desenvolveu vários projetos
ligados ao ensino de filosofia, filosofia para crianças ou Filosofia da Educação. É
também orientador de Mestrado e Doutorado nessas áreas, as quais estão sempre
presentes em seus escritos e em suas pesquisas.
Seus principais referenciais filosóficos têm sido Deleuze, Foucault e Ranciére.
As categorias mais presentes em seus escritos são as categorias da Diferença, infância,
subjetivação e ensino/aprendizagem, que recebem uma abordagem filosófica a partir da
postura crítica sobre a modernidade racionalista. Em sua vasta produção bibliográfica,
44
Entrevista de Walter Kohan concedida à autora em 2011. Vide anexo.
287
entre livros, artigos e coletâneas organizadas por ele, ressaltamos a Coleção Filosofia na
Escola, com seis títulos45 organizados por ele em parceria com outros estudiosos, que
muito tem contribuído com os professores de filosofia no Brasil nessa nova perspectiva
pós-crítica de abordagem do ensino de Filosofia. Salientamos que a importância dessa
coleção se dá, primeiro, pela abordagem filosófica da categoria da infância, e, segundo,
com a teorização sobre o ensino da filosofia, dois assuntos praticamente ausente na cena
brasileira da Filosofia da Educação.
Kohan reconhece que Deleuze escreveu muito pouco sobre educação, a não ser
tópicos muito específicos sobre assuntos que se aproximam da área, tais como aprender
e pensar, e a relação entre ambos. Assim, a importância de Deleuze nas questões
educacionais passa por outras três dimensões: a Filosofia tem de dialogar com a não
Filosofia; a Filosofia não busca a totalidade sistêmica e universalizante; a Filosofia é
criação de conceitos. Essas dimensões são muito importantes para se repensar a
Filosofia da Educação no Brasil. Com relação à primeira dimensão, afirma Kohan
(2011):
Para Deleuze era essencial a relação entre a filosofia e a não filosofia,
e isso é muito importante como gesto porque na filosofia há uma
tendência de fazer uma fala interior, uma fala introspectiva, uma fala
interna, que, de alguma forma, isola a filosofia das outras disciplinas.
Isso também é próprio da filosofia da educação, ou seja, embora a
filosofia da educação tenha como campo e como objeto algo concreto
e renunciável que é a teoria e a prática educacional, há uma tendência
no campo da filosofia da educação de somente ter relação com poucos
saberes, e, de alguma maneira, um primeiro gesto que é interessante
de Deleuze é que ele abre a filosofia da educação ou a filosofia para
outras áreas, para a não filosofia.
A segunda dimensão diz respeito ao fato de que o pensamento de Deleuze
“desuniversaliza”, “dessistematiza”, não procura totalidades, unificações ou sistemas, “e
isso é uma tendência muito forte na Filosofia da Educação que se pratica no Brasil”
(2011). O pensamento deleuziano, então, funciona como contraponto à Filosofia da
Educação que é feita ainda hoje no Brasil, a qual segue “uma lógica dos fundamentos,
do sentido, do valor, como se a filosofia fosse uma sistematizadora, uma mãe, uma
45
Os títulos que compõe essa coleção são os seguintes: Filosofia para crianças: A tentativa pioneira de
Matthew Lipman, Walter Omar Kohan e Ana Míriam Wuensch (orgs.); Filosofia para criança na prática
escolar, Walter Omar Kohan e Vera Waksman (orgs.); Filosofia e infância: Possibilidade de um
encontro, Walter Omar Kohan e David Kennedy (orgs.); Filosofia para criança em debate, Walter Omar
Kohan e Bernardina Leal (orgs); Filosofia na escola pública, Walter Omar Kohan, Bernardina Leal e
Álvaro Ribeiro (orgs); Filosofia no ensino médio, Walter Omar Kohan e Silvio Gallo (orgs).
288
colonizadora, digamos assim, do pensamento das diversas ciências, áreas e saberes da
educação” (2011).
A terceira dimensão se refere ao “gesto afirmativo que ele tem em relação com a
filosofia como uma criação conceitual” (2011). Kohan enfatiza que Silvio Gallo tem
trabalhado bastante nessa perspectiva tão importante para a Filosofia da Educação
brasileira. A Filosofia como criação de conceitos na educação tem a tarefa de mostrar
que a educação “não pode ser apenas elucidativa, apenas explicativa, apenas crítica, ela
precisa ser criativa. Ela não apenas precisa problematizar o que acontece na educação,
mas ela precisa criar e não criar qualquer coisa, criar conceito” (2011). A Filosofia da
Educação não pode fazer o que fez até agora, ou seja, explicar ou fundamentar a
realidade, mas sim pensar criativamente essa realidade através de novos conceitos.
Contudo, Kohan enfatiza que não é deleuzeano e nem um pesquisador de
Deleuze, mas reconhece “uma inspiração deleuzeana” (2011) a qual tem norteado
também as suas pesquisas, principalmente as questões relativas ao ensino de filosofia; a
relação ensino/aprendizagem; e ao ensino de filosofia para crianças.
Kohan, de uma forma geral, compreende o ensino da filosofia “não como o
ensino de uma disciplina, como a história da filosofia, mas [...] o ensino da filosofia
como um propiciar da experiência filosófica” (2011). Ele busca criar condições para que
a filosofia aconteça e os alunos filosofem, possibilitar aos alunos que “façam o que os
filósofos fazem” (2011). Não se trata, portanto, de ensinar uma filosofia, de
simplesmente transmitir um saber filosófico:
Então, a inspiração de Deleuze é forte, é grande nesses sentidos que eu
colocava anteriormente porque o ensino da filosofia tem uma tradição
muito consolidada ligada também à transmissão do saber, ligada a
uma verdade que seria localizada na História da Filosofia [...]. Então
Deleuze ajuda a quebrar um pouco com isso, [...] ensino da filosofia
como uma transmissão do saber (Kohan, 2011).
Kohan recorre ao conceito deleuzeano de devir-criança, que tem a ver com um
encontro em linha de fuga, com um tempo não cronológico, com a realidade molecular,
com a potência que habita o acontecimento. Assim, então, Kohan vê “o ensino da
filosofia como uma possibilidade de devir-criança [...], ou seja, de ter uma experiência,
de ter uma possibilidade de um pensamento, de um bloco de pensamento que fuja um
pouco do controle, do normal, do que deve ser pensado, do pensamento dominante”
(2011).
289
Quanto à relação ensino/aprendizagem, Kohan diz que Deleuze o ajudou a
dissociar o ensinar do aprender, principalmente com o que ele fala sobre aprender em
Diferença e repetição. A tendência predominante indica que “se uma pessoa aprende é
porque outra lhe ensina, e que se ensina para que o outro aprenda, e que se aprende de
alguém, e que se ensina para alguém” (Kohan, 2011). Para Kohan, acontece o inverso,
“não aprendemos nada com quem pretende que aprendamos dele, com quem pretende
ser um modelo” (Kohan, 2011). Dessa forma, ensinar não é doação e aprender não é
recebimento passivo, mas sim um ato conjunto:
Na verdade, aprendemos sempre com alguém, mas nunca de alguém e
aprendemos quando podemos outorgar sentido e significado, aquilo
que chama, aquilo que comove o nosso pensamento, que pode ser
involuntário, que não podemos controlar. De modo que aprender tem
muito a ver com sensibilidade e aprender filosofia também é um ato
de sensibilidade, pensar é um ato de sensibilidade, isso Deleuze me
ajudou a pensar (Kohan, 2011).
A terceira questão que tem norteado as pesquisas de Kohan e também tem
recebido forte inspiração deleuziana é relativa ao ensino de filosofia para crianças. Essa
investigação começou com os estudos que fez com Lipman, do qual se afastou
posteriormente, ao tomar alguns conceitos deleuzeanos para pensar a infância.
Para Kohan, sob a inspiração deleuzeana, a criança deixa de ser um ser em
miniatura, um ser humano em desenvolvimento que estaria em uma certa etapa, na qual
ela ainda não seria capaz de desenvolver certas habilidades e capacidades: “Pegando
essa inspiração, eu diria que, no caso do ensino de filosofia com crianças, que eu
trabalho e gosto muito de trabalhar na formação de professores, na própria experiência,
Deleuze tem sido um inspirador em muitos sentidos” (Kohan, 2011).
Um conceito deleuzeano que subsidia toda essa inspiração é o conceito devircriança, afirma Kohan (2011), que “não está associado especificamente às crianças ou a
uma idade cronológica, mas ele tem me servido também para descronologizar a
infância, ou seja, para tirar a infância da fase cronológica”. Assim, o importante não é a
criança e nem a sua idade, mas a infância como experiência e acontecimento.
Na esfera do ensino de Filosofia para criança, Kohan se reconhece um devedor
de Lipman, foi com quem conheceu a temática e a quem seguiu até certa altura,
passando depois a questionar com o aparato teórico deleuzeano:
290
Deleuze tem me ajudado a criticar Lipman, digamos assim, na
concepção de filosofia de Lipman, que é uma concepção pragmatista e
que pressupõe uma ideia do pensamento muito calcada no que
Deleuze diria “mundo da representação”, uma imagem dogmática do
pensamento, na moral, uma ideia forte de que pensar é pensar bem.
Lipman fala inclusive do bom pensador, fala do pensamento do
homem superior, fala do bom pensar. [...] a imagem moral do
pensamento, a ideia de que é a boa vontade que pensa, que leva o
pensador à verdade. [...]. Então, eu diria que Deleuze tem sido
importante, sobretudo, nessa ideia do que significa pensar e que está
na base da filosofia de Lipman (Kohan, 2011).
Contudo, toda a crítica que desenvolveu sobre o trabalho de Lipman não destitui
também o reconhecimento de Kohan aos méritos, importância e ineditismo do pensador
norte americano, que muito contribuiu para o redimensionamento da Filosofia não ser
simplesmente História da Filosofia; a Filosofia da Educação não ser só transmissão de
conhecimento, mas uma prática filosófica; a criança poder aprender a filosofar; e a
necessidade da Filosofia ser criança. Por tudo isso, a ideia da criança poder fazer
Filosofia é extremamente positiva, diz Kohan:
[...] ou seja, de que o mundo da filosofia está aberto para a criança.
Isso é interessante porque não é só que as crianças precisam da
filosofia, a filosofia precisa das crianças também, ou melhor, não só a
infância precisa da filosofia, a filosofia também precisa da infância
porque a filosofia é uma senhora velha, já está cansada, já pensa muito
repetidamente e a infância pode interromper esse pensamento, pode
gerar condições para um novo pensar (Kohan, 2011).
Da mesma forma, Ranciére, outro filósofo francês contemporâneo, também
influenciou muito o trabalho de Kohan, com o livro O mestre ignorante, “que ajuda
também a problematizar a posição daquele que ensina e daquele que ensina filosofia”
(Kohan, 2011). Essa problematização, a partir de Ranciére, é muito expressiva na obra
de Kohan e se estende e contamina seus questionamentos sobre o ensino de filosofia, a
relação ensino/aprendizagem e o ensino de filosofia para crianças. Vertentes essas de
suma importância na composição de suas reflexões no âmbito da Filosofia da Educação
Dentre a grande produção bibliográfica de Walter Kohan, optamos por fazer
aqui a exposição de três artigos que são significativos para os propósitos da nossa
investigação, qual seja, a influência deleuziana na Filosofia da Educação no Brasil, por
deixarem bem explícitos a recepção de Deleuze para novos pensamentos sobre a
educação, a partir de uma Filosofia que não tenha mais o seu aporte na representação.
Um artigo se reporta explicitamente à Deleuze, e os outros dois se baseiam em
291
Ranciére, também um pensador que foge aos moldes do pensamento representacionista,
principalmente no seu questionamento sobre a emancipação nos moldes iluministas. Os
artigos são: “Entre Deleuze e a educação: notas para uma política do pensamento”, de
2002; “Três lições de Filosofia da Educação”, de 2003; “O ensino da Filosofia e a
questão da emancipação”, de 2010.
Como já foi aludido anteriormente, o artigo “Entre Deleuze e a educação: notas
para uma política do pensamento” também tem sua importância histórica por ter
composto o Dossiê Gilles Deleuze, que mostrou a inovação da abordagem do
pensamento deleuzeano e a educação no início do século XXI, em terras brasileiras.
É pertinente começar a exposição desse artigo pela sua nota final de
esclarecimento, na qual Kohan se refere à ajuda de Tomaz Tadeu da Silva na correção
do português, bem como a declaração de que esse escrito é um encontro com Deleuze e
uma busca/roubo de estilo a partir/de Deleuze. Esses dois fatos, aparentemente banais,
são na verdade constitutivos de dois fatos importantes.
Primeiro, comprova, desde então, a proximidade de pessoas que já trabalhavam
essa intercessão entre educação e Filosofia e que, durante muito tempo, continuaram a
produzir juntas e com outras tantas pessoas. Não como um grupo fechado, articulado e
sistêmico, mas como cúmplices nos agenciamentos deleuzeanos sobre/com a educação.
Ou seja, não constituíam um grupo fechado, mas também não eram individualidades
solitárias.
Segundo, Kohan deixa transparecer que há uma proximidade inaugural de sua
parte, com relação ao universo conceitual deleuzeano, inclusive na busca de pensar a
realidade educacional nos moldes deleuzeanos, ou seja, não pensar a partir de, mas no
estilo deleuzeano. O que o próprio Deleuze chama de roubo, e Kohan assume ao se
referir ao próprio texto: “Faz parte da busca de um estilo. Mais um roubo: na busca de
um estilo, melhor ser varredor do que juiz” (Kohan, 2002, p. 130).
O objetivo do artigo é, como o próprio título indica, discutir o que está entre
Deleuze e a educação. Ou seja, não se trata de estabelecer fronteiras para um ou outro,
mas falar do que diz respeito aos dois. De um lado, o acontecimento do pensamento
filosófico Deleuze, “força vital na filosofia contemporânea”; do outro lado, a educação e
seu “dispositivo de práticas discursivas e não discursivas”. A pergunta, então, é: o que
existe ou pode existir nesses dois diferentes territórios? Kohan responde:
292
O assunto que nos interessa está entre Deleuze e a educação. Não
vamos sintetizar algo assim como o pensamento educacional de
Deleuze não apenas porque não há tal pensamento, mas, sobretudo,
porque não nos interessa retratar o pensamento de Deleuze sob
qualquer aspecto, como se ele fosse alguma coisa que estivesse pronta,
aguardando nosso olhar sintetizador. Isto faz parte [...] de um vício
advindo de uma certa imagem de pensar: a mania pela recognição e
pela representação, em parte pelas mesmas razões também não
buscamos “o verdadeiro Deleuze para educadores”, nem vamos
analisar as eventuais implicações educacionais ou pedagógicas do
pensamento de Deleuze. Também não faremos uma prática comum na
pesquisa educacional: pegar algumas ideias ou categorias do
pensamento de Deleuze e explorar sua produtividade em educação,
valendo-nos delas para fundamentar ou sustentar uma “nova” teoria
sobre a educação. Seria exageradamente anti-deleuziano” (Kohan,
2002, p. 124).
Trata-se, portanto, de buscar um devir Deleuze da figura do educador e não
imitar ou copiar um suposto modelo Deleuze, pois o devir é captura e movimento e não
busca do que está pretensamente acabado e esperando no final. Assim,
Há educadores que encontram o acontecimento Deleuze de pensar e já
não podem pensar como pensavam, educar como educavam, ser como
eram. Este é um sentido importante e ambicioso desta escrita:
transformar o modo em que pensamos, educamos e somos os que a
produzimos e lemos (Kohan, 2002, p. 125).
Kohan lembra que, para Deleuze e Guattari, o âmbito das possibilidades dessas
transformações é a política, pois antes do ser se encontra a política, que é a gênese do
pensamento e da filosofia. Contudo, não se trata simplesmente da política que favorece
a vontade de poder das maiorias que, por sua vez, negam a singularidade. Trata-se sim
do pensamento político que se preocupa em: “Como destacar os devires minoritários
sem modelos e as linhas de fuga do controle contínuo e da comunidade instantânea?
Como suscitar acontecimentos que escapem ao controle? Como resistir de forma
afirmativa, sem renunciar à diferença?” (Kohan, 2002, p. 125).
Nesse sentido, a política minoritária de Deleuze e Guattari está em sintonia com
a ontologia deleuziana do empirismo transcendental. Neste empirismo reina a
experimentação e a negação da transcendência e suas formas de dualismo sujeito-objeto,
ou seja, reina a imanência. Assim, a política e a ontologia deleuzeanas são do âmbito da
imanência, na qual há a recusa do imobilismo e do moralismo (Cf. Kohan, 2002, p.
125):
A imanência é uma vida para além do bem e do mal. A vida significa
potência, movimento e o artigo indefinido é a marca do que é, a uma
só vez, impessoal e singular. O indefinido sinaliza uma vida qualquer
293
e, no entanto, esta e nenhuma outra vida: a indeterminação individual
e a determinação singular. Uma vida imanente e móbil, cheia de
acontecimentos, singularidades também em movimento, que
atravessam os indivíduos. A ontologia tem mais afinidade com a
geografia do que com a história. É mais uma questão de mapas,
deslocamentos, regiões, territórios, segmentos e linhas do que de
cronologia (Kohan, 2002, pp. 125-126).
Para Kohan, a educação, da forma como tem sido pensada e realizada, não
habita essa ontologia deleuziana da imanência, que se caracteriza pelo movimento, pelo
singular não individual, pela potência e pelo acontecimento. Muito pelo contrário, a
educação é o mundo das transcendências e dos indivíduos:
A educação é também a casa do ruim e do bom, permanentemente
preocupada em saber se contribui para um mundo melhor ou pior. A
educação supõe e afirma uma ontologia moralizante, transcendental,
individual. Ela é a negação da vida singular, do acontecimento, da
potência. A educação obtura os acontecimentos. É o reino dos
dualismos, dos modelos, das disciplinas, do controle (Kohan, 2002, p.
126).
A ontologia deleuziana da imanência, por sua vez, ao afirmar uma vida de
singularidade e de acontecimentos, está afirmando o pensamento da diferença em si
mesma, e se opondo à imagem do pensamento dual da representação. A diferença em si
mesma não se compara às coisas, é a diferença enquanto tal: “Significa pensar a
diferença como acontecimento do pensar, como aquilo instaurado por um pensamento
indócil, potente, singular” (Kohan, 2002, p. 126).
Contudo, o pensamento da diferença só será possível se demolirmos a nossa
forma tradicional de pensar a partir da representação e criarmos linhas de fuga nessa
imagem do pensamento representacional. Kohan afirma que, conforme Deleuze, a
história do pensamento ocidental é a história da negação do próprio pensamento, sendo
a Filosofia a campeã dessa negação:
A filosofia ocidental tem o pressuposto de uma imagem moral,
implícita, nunca declarada, segundo a qual o pensamento tem uma boa
natureza e o pensador uma boa vontade. Vocês devem se lembrar do
início da Metafísica de Aristóteles: “todos os homens desejam, por
natureza, saber” ou então o início do Discurso do Método de
Descartes: “o bom senso é a coisa mais bem partilhada do mundo”. A
filosofia não pode pensar porque pensa esses inícios como sendo sem
moral, sem verdade, sem política, como sendo inícios puros. O pensar
filosófico, já Nietzsche o repetia insistentemente, está baseado numa
moral escondida (Kohan, 2002, p. 126).
294
A impossibilidade do pensamento da diferença como um pensamento que de fato
pensa se encontra no modelo representacional da recognição, unidade de sujeito-objeto,
ao qual estamos escravizados. Assim, pensar a partir da recognição só é possível
“pensar o reconhecível ou o reconhecido e pensar deveras é pensar a diferença livre, a
diferença sem sujeitos e objetos, o novo, a intensidade como pura diferença, o que não
pode ser reconhecido nem reconhecível, num universo da unidade de sujeitos e objetos”
(Kohan, 2002, p. 127).
Para melhor compreender a impossibilidade de pensar o novo a partir da
recognição, Kohan remete a um trecho de Heráclito que podemos assim resumir: se se
espera encontrar sempre o que se espera encontrar, sempre se encontrará o que se espera
encontrar, portanto é preciso esperar encontrar o que não se espera encontrar para
encontrar o inesperado, o novo, a diferença. Em Heráclito as frases têm essa forma
impessoal, pois remetem à singularidade e não à pessoalidade, tal como o
acontecimento.
Kohan, baseado em Deleuze, chama atenção ainda a essa imagem naturalizada
do pensamento da representação presente desde os primórdios da Filosofia no
pensamento de Platão e Aristóteles, juntamente com a negação da diferença, através de
sua subordinação ao Mesmo e à verdade como sendo a concordância entre sujeito e
objeto, em um exercício de racionalismo:
[...] a verdade é entendida como adequação e não como produção; o
sentido é considerado um assunto psicológico ou um formalismo
lógico e não uma condição de possibilidade da produção da verdade;
os problemas estão calcados nas proposições e reduzidos às soluções
que podem ser propostas; as perguntas são limitadas às respostas
esperáveis ou prováveis (Kohan, 2002, p. 127).
Inversamente, “o pensar não está dado e há que produzi-lo” (Kohan, 2002, p.
127). Fomos habituados a pensar sob essa forma representacional como se ela fosse
algo natural. Na verdade não pensamos porque temos uma boa vontade de pensar ou
porque temos uma boa natureza, mas sim porque “pensar é um exercício ocasional,
genital, advindo de um desgarramento vital inaceitável e com aquela imagem préfilosófica é impossível que possa emergir o pensar porque é impossível desgarrar-se”
(Kohan, 2002, p. 127).
Por isso, é necessário pensar sem a imagem dogmática da representação, pois
pensar é pensar na imanência e na/a diferença, experimentando, problematizando,
inventando planos sempre mutantes. É por isso que
295
[...] a filosofia, tida como mãe do saber, pressupõe uma imagem
dogmática do pensamento que inviabiliza o pensar. Coitada da
filosofia, colocada como guardiã do pensamento, juíza do que os
outros pensam, tribunal da doxa e da razão puras: ela não pode pensar.
A filosofia, “o pensar sobre o próprio pensar”, não pensa. E não
apenas não pensa; ela impede que as pessoas pensem. Paradoxo?
Contradição? O que resta aos outros saberes senão a reprodução de
uma imagem e a negação do pensamento? (Kohan, 2002, p. 128).
A educação, por seguir essa imagem de pensamento, não pensa e se nega a
pensar. No universo educacional, tanto prática como teoricamente, há uma
pressuposição da imagem do pensamento representacional como sendo a única e
verdadeira forma de pensar e a partir daí a negação do pensamento da diferença, do
novo. Pois se não se pensar daquela forma, haverá o medo de não se encontrar a verdade
e, dessa forma, não contribuir para um mundo melhor, medo “de surpreendermo-nos
num não-lugar. De perguntar o que não pode ser respondido. De responder o que não foi
perguntado” (Kohan, 2002, p. 128).
A educação também está inserida naquela forma de fazer política que favorece a
vontade de poder das maiorias e que nega as singularidades. Ambas, educação e
política, seguem a mesma imagem representacional do pensamento. A política buscando
formar cidadãos conscientes que não ultrapassam os limites do capital e a educação
tentando formar homens e mulheres conscientes que acabam somente se submetendo às
necessidades de mão-de-obra específica para o mercado de trabalho (Cf. Kohan, 2002,
p. 128).
Kohan finaliza esse texto reiterando que diante dessas formas de política,
ontologia e educação, pautadas na imagem dogmática do pensamento, a relação
ensinar/aprender tende a seguir o mesmo caminho da representação. E assim, só há um
não aprender:
Como alguém poderia aprender num mundo onde o controle se impõe
sobre a vida, o singular é visto como ameaça e a diferença está presa
ao mesmo e ao semelhante, ao análogo e ao oposto? Ninguém aprende
deveras se não pode ser sede de um encontro com aquilo que o força a
pensar. Quem pode aprender quando se determina de antemão que há
as boas e más aprendizagens? Pensa-se que a aprendizagem se dá na
reprodução do mesmo ou na relação da representação e da ação, na
reunião da “teoria e da práxis”, como se diz habitualmente. Assim, a
aprendizagem fica presa na unidade dual do sujeito e do objeto, no
modelo da democracia não democrática. Mas não há aprendizagem se
há reprodução do mesmo, se não há espaço para a repetição complexa
e a diferença livre (Kohan, 2002, p. 129).
296
Enfim, se só sabemos pensar pela representação, não sabemos pensar. Como não
sabemos pensar, também não sabemos nem ensinar e nem aprender. Os que ensinam
pensam que ensinar é somente explicar e os que aprendem pensam que aprender é
reproduzir o que foi explicado, naquela perspectiva de que só se vai encontrar o que era
esperado. Contudo, afirma Kohan, inspirado em e roubando Deleuze, “o aprender está
no meio do saber e do não saber. No meio. Para aprender há que se mover entre um e
outro, sem ficar parado em nenhum dos dois” (Kohan, 2002, p. 129). Talvez seja isso
também que ocorra nessa relação entre Deleuze e educação, concluo, roubando,
deleuzianamente, Kohan.
Nos outros dois artigos de Kohan a serem examinados aqui, há uma prevalência
do referencial teórico de Ranciére, principalmente com o livro O mestre ignorante:
Cinco lições sobre a emancipação intelectual. Mas, como compreender a escolha desses
dois textos para comporem a presente análise que se refere à influência deleuziana? A
hipótese é que Kohan desenvolveu e ampliou suas análises deleuzianas referentes a
diversos temas, saber/aprendizagem, devir-criança e outros, com a inspiração de
Ranciére. É como se o pensamento desse outro filósofo francês contemporâneo
possibilitasse que aquelas análises se desdobrassem e se potencializassem.
No artigo “Três lições de Filosofia da Educação”, de 2003, Kohan pensa o valor
do livro O mestre ignorante, de autoria de Jacques Rancière, em contraposição à forma
dominante de se fazer filosofia da educação no Brasil. Ele analisa esse livro como um
possível exercício filosófico alternativo para se pensar filosoficamente a educação.
Segundo Kohan, nos países hispano-americanos, a filosofia da educação é
marginalizada nos departamentos de Filosofia, acolhida nos de Educação, obrigatória na
formação dos professores e tem a predominância de três modos de ensinar:
enciclopédico, totalizador e fundacionista. O repertório presente nesses modos de
ensinar é praticamente invariável:
[...] aqui, a história das ideias filosóficas sobre a educação; lá,
correntes do pensamento filosófico sobre a educação; ou, então, o
estudo das divisões mais ou menos claras do saber pedagógico,
segundo orientações bastante clássicas do conhecimento filosófico:
um pouco de epistemologia, outro tanto de axiologia e de ontologia,
usadas para explicar o fenômeno educativo (Kohan, 2003, p. 222).
O professor é sempre do tipo “mestre explicador” oferecendo ou impondo “um
saber filosófico, histórico ou sistemático sobre a educação” (Idem). De outra forma,
297
essa explicação poderá se constituir de uma “doutrinação educativa” de base moralista,
subsidiando crenças, valores e ideais que deverão ser seguido.
Kohan alerta que essas formas de ensinar filosofia da educação estão calcadas
em “alguns pressupostos sobre o significado e sentido de ensinar e aprender a filosofia,
assim como suas relações com a educação” (Idem). Ou seja, na base da filosofia da
educação e no seu ensino está uma forma de pensar e ensinar a filosofia, como repasse
de um saber instituído para a formação de: uma consciência crítica do fenômeno
educacional; uma compreensão “verdadeira” da missão da filosofia na educação; e
aquisição de habilidades e competências de pensamento crítico para o futuro exercício
de professor (Cf. Kohan, 2003, p. 222).
O livro O mestre ignorante vem exatamente no contra fluxo dessa tradição. A
obra fala essencialmente de um professor, Jacotot, que teria tido enorme sucesso ao
fazer os alunos aprenderem o que ele não sabia ensinar46. É uma obra que, dentre outras
questões: põe a Filosofia da Educação tradicional pelo avesso; suscita inúmeros
questionamentos aos que ensinam; desnaturaliza certos procedimentos pedagógicos;
indaga sobre a verdadeira possibilidade da transmissão do saber e, o mais importante,
pergunta sobre o que é, efetivamente, emancipação intelectual e seu legítimo agente.
Rancière nos faz refletir sobre o que é ser, de fato, mestre. O que pretendemos
de nós mesmos e de outros quando compartilhamos a máscara do magistério? Será que
sabemos o que ensinamos ou para quem ensinamos ou para quê ensinamos? Temos uma
ignorância mentirosa ou uma sabedoria arrogante? Que poder é esse que permite
ensinar, avaliar, aprovar e reprovar? Ensinamos exatamente porque não sabemos e por
isso a ignorância é necessária para ensinar?
Todos esses questionamentos e posições inusitados que compõem o livro, no
contexto da tradição do ensino da filosofia, da filosofia da educação e do ensino em
geral encontrarão muitas resistências. Sem contar com o estilo literário da obra, para o
qual a academia torce o nariz.
Contudo, à revelia dessas dificuldades, Kohan se propõe a: investigar em que
medida a leitura de O mestre ignorante pode ser uma experiência formativa
46
“O retorno dos Bourbons à França obriga Jacotot a se exilar e, a convite do rei dos Países Baixos, vai
dar aulas de literatura na Universidade de Louvain. Ali se enfrenta de saída com sua estrangeiridade: seus
alunos falam uma língua que ele desconhece (holandês), e desconhecem a língua que Jacotot fala
(francês). Não estão dadas as condições da comunicação, não há língua em comum. O professor não pode
ensinar; os alunos não podem aprender [...]. [...] Jacotot encontra a coisa comum numa edição bilíngue”
(Kohan, 2007, p. 41).
298
interessante, principalmente para os que ensinam ou estão se preparando para ensinar;
problematizar o modo habitual de se entender a filosofia da educação, particularmente
nas instituições universitárias; e, questionar o tipo de exercício de pensamento que se
encontra por trás da questão disciplinar:
Assim, considero que um dos principais méritos da obra que Jacques
Rancière dedicou à matéria está na graça e na vitalidade com que
propõe uma forma renovadora de exercer a filosofia da educação.
Nada mais, enfim, do que um exercício. Pensamento vivo e em ato.
Nada de esquemas, classificações, generalizações. Filosofia em ato,
experiência de interrogação, irrenunciável, sobre a própria experiência
(Kohan, 2003, p. 123).
Dessa forma, pode-se asseverar que um dos elementos importantes dessa
experiência formativa, propiciada pelo O mestre ignorante, é a ideia de que emancipar é
“forçar uma capacidade ignorada ou negada a desenvolver todas as consequências desse
reconhecimento” (Kohan, 2003, p. 124). Ou seja, ninguém emancipa ninguém, o
professor não emancipa, pois ele nada ensina. Cada um se emancipa sozinho.
Isso pressupõe uma igualdade das inteligências no ponto de partida do processo
ensino/aprendizagem, pois ensinar algo a alguém pressupõe uma desigualdade de
inteligências. Um ensina para que o outro aprenda e fique nas mesmas condições de
inteligência que o outro que ensinou. Esse ensino, pautado na desigualdade das
inteligências, pressupõe uma forma predominante de ensinar que é a explicação:
Somos formados para explicar o que aprendamos (a desigualdade).
Fomos explicados e, assim, explicamos. Acentuamos a desigualdade.
Voltamos a explicar. Tudo, então, continua como dantes: não
podemos, claro, sair do círculo do embrutecimento. Seguimos
explicando. Pela vida. Embrutecemos. Nos embrutecemos (Kohan,
2003, p. 224).
Kohan alerta para o fato de que a proposta de Rancière não é a de oferecer uma
receita, um método ou um convite para radicalizar as suas atividades cotidianas no
ofício de ensinar, mas vai no sentido de sensibilizar para os embrutecimentos que
causamos com o nosso modo de ensinar, de questionar as nossas ideias de emancipação
como dádiva ou doação, de rever nossas práticas e nossas teorias.
Esses questionamentos valem também para o ensino da filosofia da educação
que, diversamente dos moldes tradicionais, terá que se pautar em outras formas de
ensino:
Desse modo, a filosofia da educação se faz exercício que não explica,
não legitima, não consolida. Escapa à tentação de constituir-se como
lei e como verdade. Pelo contrário: dessacraliza, polemiza, interroga.
299
Impede que ensinemos da forma como ensinávamos, que pensemos a
educação da forma como a pensávamos, que sejamos os mesmos
educadores que éramos. Permite-nos pensar, ser e ensinar de outro
modo (Kohan, 2003, p. 225).
Nessa nova modalidade de exercício da filosofia da educação está pressuposto o
princípio da igualdade, que se contrapõe à tradicional, pautada na lógica da
superioridade-inferioridade, do ensinar-aprender. Assim, a igualdade como princípio e
não como objetivo, pois a desigualdade como objetivo pressupõe a desigualdade,
“permite pensar filosoficamente a educação; mas é também aquilo sem o que não se
pode pensar a educação como tal. A igualdade é o axioma do pensamento, seu fundo, o
não-filosófico que abre espaço para a filosofia. Paradoxo da igualdade” (Kohan, 2003,
p. 226).
Essas considerações, nos alerta Kohan, podem levar a pensar em Sócrates como
uma figura emblemática do mestre ignorante, mas essa ideia é falsa para Rancière: o
filósofo grego teria partido da igualdade como objetivo e pressupondo, portanto, uma
desigualdade que, por sua vez, só seria resolvida quando o seu interlocutor chegasse ao
nível de conhecimento dele próprio. Com o seu método, Sócrates teria reafirmado a
inferioridade e a superioridade, a ignorância do interlocutor e a inteligência superior
dele mesmo: “Sócrates não é um mestre ignorante; é um sábio mestre de sua ignorância.
Pretende impor, como todos os mestres da tradição, seu saber aos demais. O modo
como Sócrates oculta o caráter embrutecedor de seu saber o torna mais sofisticado e
dissimulado. E, portanto, mais perigoso” (Kohan, 2003, p. 226).
O perigo presente na dissimulação de Sócrates está em que ele “esconde sua
paixão embrutecedora debaixo de uma aparência libertadora” (Kohan, 2003, p. 227).
Ele não possibilita a emancipação, ele embrutece, pois além de não possibilitar que essa
emancipação seja realizada pelo próprio aprendiz, ainda conduz o saber para aquilo que
ele sabe. Sempre pergunta sobre o que ele sabe e que todos deveriam saber (Cf. Kohan,
2003, p. 227).
Assim, Kohan conclui seu texto remetendo ao título “Três lições de filosofia da
educação”, que seriam as que seguem.
A primeira lição do mestre ignorante é
filosófica: “o mais natural, evidente e aceito pedagógica e socialmente acaba por se
mostrar o mais problemático filosoficamente” (Kohan, 2003, p. 227). Ou seja, só pode
ensinar quem nada tem a ensinar, pois ensinar não quer dizer transmitir, mas sim
permitir que o outro se emancipe.
300
A segunda lição do mestre ignorante é educacional: “somente pelo paradoxo,
entranhados no lodo paradoxal, podemos encontrar algum sentido na educação” (Kohan,
2003, p. 227). Ou seja, Jacotot se emancipou a si próprio como mestre ao se libertar da
ideia de método de ensino e, dessa forma, ensina que não há método, que a emancipação
não depende de conteúdo, doutrina ou conhecimento e que ninguém pode emancipar
ninguém. Tudo isso se potencializa quando Ranciére, como mestre, relata a história de
outro mestre para que outros mestres a leiam e tenham a possibilidade de,
paradoxalmente, se emanciparem tendo a igualdade como princípio.
A terceira lição do mestre ignorante é política: “só há uma única educação que
vale a pena – a que emancipa (sem emancipar). Quem não deixa que os (as) outros (as)
se emancipem, embrutece” (Kohan, 2003, p. 228). Ou seja, educação emancipatória é
realizada pelo próprio aprendiz e não recebida como doação ou direcionamento.
O terceiro e último artigo de Walter Kohan a ser examinado é “O ensino da
Filosofia e a questão da emancipação” 47, de 2010. Tendo em vista a volta do ensino de
filosofia no Ensino Médio no Brasil e a sua ideia de que a filosofia conduz à
emancipação, nesse artigo Kohan retoma o livro O mestre ignorante de Ranciére para
contrapor sua ideia de emancipação à ideia de emancipação presente no livro Educação
e emancipação de Adorno, que tem expressivo aporte nas ideias kantianas de
Esclarecimento, menoridade e tutela.
O livro de Adorno, muito difundido no Brasil, se propõe a “pensar como a
educação pode contribuir para a formação de uma verdadeira democracia; e como ela
pode ajudar a desterrar o nazismo da sociedade alemã. Para isso, Adorno remonta até
Kant o apelo por uma educação emancipadora” (Kohan, 2010, p. 204). Para Adorno, a
luta pela democracia deve ser acompanhada do exercício do pensamento pela livre
47
Antes de iniciar a exposição da estratégia argumentativa de Kohan é importante ressaltar que o artigo
em questão compõe a Coleção Explorando o Ensino do MEC, material do governo distribuído
gratuitamente pelas escolas de Ensino Médio. Essa informação não teria nenhum interesse particular se o
artigo não defendesse, nos moldes do mestre ignorante de Ranciére, exatamente o inverso da tradição
filosófica. Ou seja, a filosofia da diferença presente no escrito de Kohan está presente também em um
livro oficial, que compõe todo o dispositivo e aparato de poder do Estado. É, no mínimo, intrigante
observar a forma como as matrizes filosóficas mais à margem vão se disseminando pelas Instituições
oficiais, principalmente por aquelas combatidas por elas próprias. Seria o caso de examinar as
consequências positivas e negativas desse movimento. Contudo, aqui não é o lugar e nem a hora para esse
exercício analítico, apesar de merecer a lembrança dessa intercessão territorializante (ou
desterritorializante?). Seriam linhas de fuga a acontecerem na educação maior? Lembramos que
compondo essa coleção também se encontra um texto de Silvio Gallo, sobre o qual nos deteremos mais
adiante.
301
vontade dos cidadãos, que quando não exercem seu próprio entendimento e passam a
ser tutelados correm o risco de serem conduzidos à barbárie, que pode ser evitada por
uma educação emancipadora (Cf. Kohan, 2010, p. 204).
Para Adorno, a educação exerce papel fundamental na formação da reflexão
crítica, da autonomia, da resistência e da autodeterminação. Dessa forma, o nazismo
aconteceu porque os alemães não tinham consciência crítica do que estava ocorrendo e
o fracasso do século XX não pôde ser combatido a tempo. Daí, “a importância singular
da educação em geral e do ensino de filosofia em particular: é só através de um longo e
trabalhoso processo de formação que se pode reverter essas tendências” (Kohan, 2010,
p. 205). Dessa forma, a emancipação política só se realiza se houver uma educação
política expressiva.
Assim, para Adorno, a educação forma uma consciência crítica, soberana e
verdadeira que, uma vez emancipada, “não poderia escolher o que ela tem escolhido sob
as formas da alienação: o massacre, o horror, o holocausto, a própria ausência de razão”
(Kohan, 2010, p. 206). O paradoxo dessa missão educacional está nas imposições que
ela própria sofre vindas do Capital, pois como realizar nessas condições práticas a
verdade emancipatória propiciadas pela educação? Contudo, Adorno confia na
potencialidade de uma educação emancipatória: “a educação é um caminho necessário,
imprescindível, para a emancipação individual e social. [...] uma educação que permita
a emancipação individual, através da formação crítica, é a condição e o caminho mais
sólido para a emancipação social” (Kohan, 2010, p. 207).
Contudo, se para Adorno a educação é uma ato político emancipatório, para
Ranciére o professor não pode emancipar. Dessa forma, Kohan contrapõe a ideia de
emancipação adorniana à ideia de emancipação presente no livro de Ranciére, O mestre
ignorante, que de fato se distancia fortemente daquela presente no livro Educação e
Emancipação:
Se o filósofo frankfurtiano considera a educação indispensável para
alcançar a emancipação, para Ranciére, a emancipação não é de modo
algum institucionalizável. Se a educação bem entendida leva, para
Adorno, à emancipação, para Ranciére não há ordem pedagógica que
emancipe na medida em que toda ordem pedagógica nega o que a
emancipação exige (Kohan, 2010, p. 207).
Como visto no artigo anteriormente examinado, para Ranciére/Jacotot a
igualdade das inteligências permite que a emancipação seja realizada pela revelação da
inteligência a ela mesma. O inverso disso, uma inteligência conduzindo outra, é
302
embrutecimento ao invés de emancipação. Da mesma forma, toda ordem social
pressupõe desigualdade e, por isso, não há instituição ou institucionalização possível da
emancipação: “toda instituição é uma encenação da desigualdade; a ideia de um
professor emancipador é contraditória; professor e emancipador seguem lógicas
desencontradas” (Kohan, 2010, p. 208).
Kohan pondera que mesmo Adorno e Ranciére sendo críticos do capitalismo, há
divergências teóricas entre as duas posições, principalmente no que diz respeito à
educação institucionalizada como sendo emancipadora:
[...] na medida em que para Ranciére toda ordem social pressupõe a
desigualdade das inteligências, não há instituição justa ou utopia por
implantar; assim, mesmo que a emancipação afirmada por Ranciére é
apenas uma dimensão da emancipação postulada por Adorno, não há
como realizá-la; não há saber que emancipe; não há ordem social que
instaure a igualdade das inteligências; a igualdade só pode ser um
princípio a ser verificado e não um objetivo a ser atingido; quem
busca instituir a igualdade legitima a desigualdade que seu próprio
saber pressupõe e da qual esse programa se alimenta. Não há
progresso social nem ordem institucional. A igualdade só poderia ser
um axioma ou princípio de uma emancipação de indivíduo a
indivíduo, de inteligência a inteligência (Kohan, 2010, p. 208).
Dessa forma, o mestre ignorante “não se oferece como guia do aluno, mas
apenas busca que outra vontade, distraída, exerça sua própria inteligência” (Kohan,
2010, p. 208); não pretende conscientizar para emancipar; não explica um saber que seja
emancipador. O mestre ignorante é emancipador quando “ignora aquilo que ensina,
mas, sobretudo, porque ignora a desigualdade das inteligências dominante em toda
ordem social. Ele nada quer saber e nada tem a ver com essa desigualdade” (Kohan,
2010, p. 208).
Contudo, para Ranciére, se a emancipação tem a ver com a igualdade, o
problema é que nunca se realizam juntas na realidade social. Ou se constrói uma
sociedade desigual com homens iguais, ou uma sociedade igual com homens desiguais.
Assim sendo, “a emancipação não vai além de uma relação de indivíduo a indivíduo:
não há nem pode haver, em O mestre ignorante, um projeto educativo emancipador”
(Kohan, 2010, p. 209). Dessa forma, a política é um mero sonho, incapaz de realizar a
emancipação, porém, paradoxalmente, “mesmo irrealizável, a emancipação é também
impostergável: sempre é momento para a emancipação intelectual, para afirmar outra
razão que a dominante, uma lógica do pensamento que não é a da desigualdade”
(Ranciére apud Kohan, 2010, p. 209).
303
Assim, o grande paradoxo de O Mestre ignorante é que, mesmo sabedores da
impossibilidade de realização social da emancipação, continuamos lutando por ela, pois,
nesse sentido, “a emancipação é tão impossível quanto necessária; tão intempestiva
quanto atual; tão inútil quanto profícua” (Kohan, 2010, p. 209).
Para Kohan, essas questões trazem possibilidades riquíssimas que permitem
também pensar o ensino de filosofia, e lança duas questões muito importantes: “Na base
dos mais sofisticados e nobres projetos de emancipação filosófica não estaria uma
opinião ou princípio que torna toda e qualquer emancipação uma quimera?” (Kohan,
2010, p. 210). Ou ainda: “As formas dominantes de pensar os alcances políticos do
ensino de filosofia não estariam comprometidas pela reprodução da desigualdade que
carregariam na lógica da instituição escolar?” (Kohan, 2010, p. 210).
Assim, a partir das questões emancipatórias de Adorno e de Ranciére, é
fundamental pensarmos onde está imerso o discurso sobre o ensino de filosofia e as
finalidades com as quais ele está sendo guiado, ou “em que medida ele é capaz de
colocar em questão as relações dominantes entre escola e sociedade e os modos de
relacionar certa distribuição do saber com os modos instituídos de exercer o poder”
(Kohan, 2010, p. 212).
Outro aspecto importante a ser considerado, seja a educação como emancipação
ou a educação como ignorância, é relativo aos próprios professores de filosofia, pondera
Kohan:
Quiçá possamos olhar mais atentamente ao nexo entre filosofia,
educação e emancipação; perceber que uma exigência filosófica e
política para ser professor de filosofia é repensar permanentemente os
pressupostos políticos e filosóficos de nossa prática. Não dá para
transmitir ingenuamente um saber ou uma relação com o saber que
não torne um problema a política e a filosofia que, implícita ou
explicitamente, afirma-se ao ensinar (Kohan, 2010, p. 212).
Há necessidade de problematizarmos o próprio campo da disciplina que, como
foi analisado, padece de crença na igualdade como princípio e se repete sempre como
explicativa, fundacionista, sistemática e histórica. Talvez uma primeira iniciativa,
afirma Kohan, seria nos emanciparmos como mestres ignorantes e possibilitarmos,
assim, a emancipação de outros. Talvez a volta do ensino de filosofia no Brasil traga
uma nova possibilidade nesse sentido, tanto nos novos professores do Ensino Médio
quanto nos seus alunos.
304
5. Sílvio Gallo: “educação menor” como aposta nas minorias e na possibilidade das
diferenças
Silvio Donizetti de Oliveira Gallo é livre docente pela Universidade Estadual de
Campinas (2009), tem Mestrado (1990) e Doutorado (1993) em Educação pela
Universidade Estadual de Campinas e Graduação em Filosofia (1986) pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas. Atualmente é professor associado (MS-5) da
UNICAMP. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da
Educação,
atuando
principalmente
nos
seguintes
temas:
filosofia
francesa
contemporânea e educação, ensino de filosofia, ensino médio, filosofia e
transversalidade, anarquismo e educação.
Silvio Gallo tem mais de 50 artigos completos publicados em periódicos, mais
de 20 livros publicados/organizados, mais de 50 capítulos de livros, uma expressiva
participação em jornais, mais 150 apresentações de trabalhos, entre palestras,
conferências e outros. Suas pesquisas iniciais enveredaram pelo anarquismo, depois por
Foucault e Deleuze, sempre na perspectiva de relacionar essas filosofias com a
educação. Em todos os seus escritos há uma preocupação com o aprofundamento do
diálogo entre a Filosofia e a Educação, principalmente as filosofias de Foucault,
Nietzsche e Deleuze e os conceitos diferença, poder, verdade, saber e suas intercessões
no universo pedagógico.
Para Sílvio Gallo (2011), o que o encanta em Deleuze é a busca
de
uma
alternativa ao pensamento 48:
Alternativa no sentido de que você tem um pensamento que se
constrói como tradição, digamos assim, que o Deleuze vai chamar de
pensamento da representação, de forma mais geral, e essa busca de um
pensamento outro que a gente poderia caracterizar das mais diversas
maneiras. Eu posso chamar de filosofia da diferença, por exemplo,
dessa ênfase da diferença, mas poderíamos chamar de pósestruturalismo ou poderíamos chamar de qualquer outra coisa (Gallo,
2011).
Para Gallo (2011), o campo educacional é fortemente marcado por esse
pensamento tradicional da representação. Toda a teoria educacional é uma teoria
48
Entrevista de Sílvio Gallo concedida à autora em 2011. Vide anexo.
305
representacional e a Filosofia da Educação que se tem produzido no Brasil é também de
natureza representacional e nos coloca também uma leitura representacional de mundo.
O pensamento de Deleuze, então, é uma alternativa a isso, um convite para
pensar de outro modo: pensar no múltiplo no lugar de pensar no uno. Um convite para,
“mais do que pensar o múltiplo, vamos fazer o múltiplo, vamos fazer a multiplicidade”
(Gallo, 2011). E essa atitude filosófica no âmbito da educação, é muito importante, dado
que nesse âmbito predomina a visão tradicional.
Contudo, conforme Gallo (2011), mais do que ser outro ponto de vista, a
filosofia deleuzeana nos permite ver outros fenômenos que a filosofia da representação
não possibilita, ou seja, nos permite pensar de outra forma, e daí ser interessante pensar
a educação a partir dessa filosofia, inclusive a Filosofia da Educação, tentando sair do
que Deleuze chama de a imagem dogmática do pensamento.
As pesquisas na academia, e não só as pesquisas educacionais, sofrem essa
mesma influência do pensamento da representação, da recognição, do pensamento
dogmático e, por isso, o resultado delas é extremamente empobrecido:
Especificamente na pós-graduação, em que todo mundo diz para os
estudantes que você tem que ter um referencial teórico, que você tem
que definir o seu referencial teórico e assim por diante: Fazer pesquisa
é definir um referencial teórico e pensar segundo aquele referencial.
Só que quando você pensa segundo aquele referencial, você não
pensa, porque aquele referencial já te dá as respostas. Uma pesquisa
em que você vai a campo, por exemplo, você não vai a campo para
descobrir coisas, você vai a campo para comprovar aquilo que você já
sabe. Você vai a campo para ver aquilo que você já sabe que você vai
ver: “Tá vendo? A minha hipótese era essa, eu fui a campo e se
confirmou a minha hipótese”, ou então “não se confirmou a minha
hipótese”, mas dentro daquela perspectiva de pensamento (Gallo,
2011).
Inversamente, para Deleuze, o convite é para que o pensamento aconteça como
criação e não o pensamento como uma recognição. O pensamento deve levar “você a se
encontrar com coisas inusitadas, você tem que pensar a partir dessas coisas inusitadas.
Eu acho que em educação é justamente isso que falta. Em educação falta isso, na
Filosofia da Educação falta isso, pensar o inusitado” (Gallo, 2011).
Gallo lança mão do exemplo do imenso avanço na tecnologia, do aprendizado
baseado na visualidade, diferente do que existia tempos atrás. Nesse âmbito, as coisas
mudaram, mas nós não a ressignificamos: “Mas aí, a gente olha para isso e a gente faz o
306
quê? A gente se lamenta de um passado perdido, a gente quer recuperar, a gente acha
que tudo isso é um problema porque, com isso, se perde coisas e a gente não vê o que a
gente ganha com isso” (Gallo, 2011).
No entanto, em uma situação como essa, Deleuze nos convida a pensar no que
está acontecendo, a partir do que está se constituindo. Nesse sentido, o avanço
tecnológico e a aprendizagem visual só se constituem como problemático porque a
gente já não sabe ensinar nessa perspectiva:
Então, como é que nós nos mobilizamos para ressignificar o ensino,
para buscar novas formas de ensinar, para produzir outras teorias
sobre isso, outro pensamento sobre isso e não ficar usando o
pensamento da recognição, o pensamento do já pensado, o
pensamento do já instituído para que ele leia esses fenômenos como
aquilo que já foi colocado? (Gallo, 2011).
Contudo, apesar da importância do pensamento da Diferença, alerta Gallo, é
necessário ficar atento para que não o transformemos em uma nova recognição. E isso é
muito fácil porque em Educação os modismos são muito fortes: “todo mundo vira
deleuzeano, todo mundo vira foucaulteano, e transformam cada um deles em uma outra
imagem de pensamento” (Gallo, 2011).
Mas o que de fato se impõe na Filosofia da Diferença, se há um estudo
consistente, é pensar o inusitado de forma diversa, é extrair ferramentas desse
pensamento e não transformá-lo em “um novo pressuposto, um novo paradigma, um
novo arcabouço daquilo que vai ser aplicado”. O que interessa é a possibilidade de
pensar o novo de uma nova maneira de pensamento.
Gallo (2011), ao fazer uma análise da Filosofia da Educação, além de constatar
que essa área sofre da predominância do pensamento da representação, aponta também
outras características. Considera, por exemplo, uma falta de conhecimento por parte da
própria Filosofia, bem como um grave problema, o fato da Filosofia da Educação ser
considerada como uma área menor no campo da Filosofia:
[...] do meu ponto de vista, a Filosofia comete um equívoco sério
quando diz que a Filosofia da Educação é uma outra coisa. Por quê?
Porque deixa a Filosofia da Educação para os pedagogos, para os
educadores. E os pedagogos, do meu ponto de vista, não tem
competência teórica para fazer Filosofia da Educação, e isso não é
diminuir o pedagogo. Do meu ponto de vista, você só faz Filosofia da
Educação usando o instrumental filosófico para pensar a Educação.
Um pedagogo, por formação, não tem acesso ao instrumental
filosófico. Isso não significa que ele não possa ter, de repente o cara
307
estuda Pedagogia e estuda Filosofia. Não precisa fazer graduação em
filosofia, não precisa ter carteirinha de filósofo se o cara domina o
instrumental, mas a grande maioria não domina porque o curso não
leva a esse [domínio] (Gallo, 2011).
Contudo, conforme Gallo, para fazer Filosofia da Educação, o estudioso tem que
conhecer Educação e Filosofia, tem que estar na confluência desses dois saberes: “vir de
uma formação em Filosofia, mas se deixar afetar pelo campo educacional, ou vir do
campo educacional, mas fazer todo um trabalho de apropriação do instrumental
filosófico. Acho que aí você faz Filosofia da Educação” (Gallo, 2011).
A Filosofia, ao invés de rejeitar a Filosofia da Educação, deveria acolhê-la
melhor e cobrar esse rigor de sistematicidade da Filosofia da Educação. Infelizmente,
não é essa perspectiva que se tem no Brasil e, por isso, é necessário que se lute contra
ela, e a melhor maneira é “fazendo produções significativas no campo da Filosofia da
Educação. Eu acho que é a única forma de lutar contra ela não é ficar fazendo discurso
contra, é fazendo uma produção teórica consistente e de qualidade no campo da
Filosofia da Educação” (Gallo, 2011).
Para Gallo, as Associações de Filosofia de Educação que apareceram
recentemente no Brasil ajudam a consolidar esse campo de investigação, como “uma
forma de você começar a circunscrever o campo, a cuidar mais de campo, dar elementos
para que essa produção mais consistente seja feita. Eu acho que esse é o nosso desafio
hoje” (Gallo, 2011).
Para a apresentação do pensamento de Gallo sobre a intercessão entre Deleuze e
Educação foram escolhidos dois textos considerados, aqui, os mais representativos de
sua produção nesse âmbito. São eles: o livro Deleuze & a educação, de 2003, e o artigo
intitulado Ensino de filosofia: avaliação e materiais didáticos, de 2010. Existem outros
materiais49, mas devido à exiguidade do espaço e aos limites deste trabalho, só é
possível apresentar esses dois textos.
O livro Deleuze & a educação é significativo por dois motivos: primeiro, foi um
dos primeiros livros de cunho mais didático a fazer a divulgação do pensamento
49
Fica a sugestão dos seguintes artigos: Em torno de uma educação voltada à singularidade, de 2005; e
Filosofia da Educação no Brasil do século XX: da crítica ao conceito, de 2007.
308
deleuzeano no âmbito da educação; segundo, traz incorporado à sua estrutura o artigo
Em torno de uma educação menor, que havia composto o Dossiê Gilles Deleuze, de
2002, um dos marcos da publicação coletiva de divulgação do pensamento deleuzeano
no âmbito filosófico educacional.
O livro traz uma parte inicial que é uma introdução ao pensamento, à vida e à
obra deleuzeanas e uma segunda parte, Deslocamentos. Deleuze e a Educação, que é a
que vamos explorar por falar mais de perto à presente investigação.
Gallo (2003) inicia a segunda parte de seu livro afirmando que Deleuze não foi
um filósofo da educação e que tratou da educação somente de forma marginal, inclusive
por ter sido professor sua vida inteira. Assim, Gallo pretende demonstrar a “fecundidade
do pensamento de Deleuze para nos fazer pensar a educação, para nos permitir pensar,
de novo, a educação. Não se trata, portanto, de apresentar ‘verdades deleuzeanas sobre
problemas educacionais’” (Gallo, 2003, p. 63), mas de propor exercícios de pensar a
educação como acontecimento. A estrutura dessa segunda parte é realizada por
deslocamentos:
Tomar conceitos de Deleuze e deslocá-los para o campo, para o plano
de imanência que é a educação. Ou, em outras palavras,
desterritorializar conceitos da obra de Deleuze e de Deleuze-Guattari,
para reterritorializá-los no campo da educação. Penso que essa
atividade pode ser bastante interessante e produtiva (em sentido
deleuzeano), na medida em que esses conceitos passam a ser
dispositivos, agenciamentos, intercessores para pensar os problemas
educacionais, dispositivos para produzir diferenças e diferenciações
no plano educacional, não como novos modismos, ou, repito, o
anúncio de novas verdades, que sempre nos paralisam, mas como
abertura de possibilidades, incitação, incentivo à criação (Gallo, 2003,
p. 64).
São realizados quatro deslocamentos: Deslocamento 1. A Filosofia da Educação
como criação conceitual; Deslocamento 2. Uma “educação menor”; Deslocamento 3.
Rizoma e educação; Deslocamento 4. Educação e controle.
No primeiro Deslocamento, A Filosofia da Educação como criação conceitual,
Gallo (2003) sugere uma Filosofia da Educação que seja criativa nos moldes
deleuzeanos, criadora de conceitos, ao invés de ser o que tradicionalmente o é no Brasil:
ou uma reflexão sobre a educação ou um saber que fornece os fundamentos da
educação.
Baseado em Deleuze, que afirma que o filósofo é criador e não reflexivo, como
são as épocas pobres da Filosofia que a levam a ser uma reflexão “sobre” alguma coisa,
309
Gallo (2003) afirma que a Filosofia da Educação como uma reflexão sobre a educação
é reducionista e empobrecedora. Além do mais, como a reflexão não é exclusividade da
filosofia, todos podem e devem refletir sobre a educação. Assim, “é necessário,
portanto, que combatamos a noção de filosofia da educação como reflexão sobre a
educação. Ela deve ser muito mais do que isso” (Gallo, 2003, p. 66).
A outra postura que predomina no âmbito da Filosofia da Educação é ela ser um
dos fundamentos da educação, na qual se espera que ela “forneça as bases sobre as
quais um processo educativo deva se sustentar” (Gallo, 2003, p. 66). Para tanto, a
filosofia da educação “parte em busca dos conceitos produzidos por filósofos ao longo
da história, para sobre eles erigir um saber educacional. Ou então procura resgatar o que
os filósofos já pensaram sobre a Educação, como subsídio para os dias de hoje” (Gallo,
2003, p. 66).
Contudo, inspirado em Deleuze, para quem não há nada de positivo em
agitarmos velhos conceitos como se fossem velhos esqueletos, ao invés de criar novos
conceitos ou despertar conceitos adormecidos, Gallo (2003, p. 68) defende que “o
filósofo da educação deve ser um criador de conceitos”. Do contrário, a filosofia da
educação será desinteressante e despotencializada, restrita a atividade de roer ossosconceitos antigos:
Se o que importa é resgatar o filósofo criador (de resto, a única
possibilidade para que ele seja de fato filósofo), então o filósofo da
educação deve ser aquele que cria conceitos e que instaura um plano
de imanência que corte o campo de saberes educacionais. Uma
filosofia da educação, nesta perspectiva, seria resultado de uma dupla
instauração, de um duplo corte: o rasgo no caos operado pela filosofia
e o rasgo no caos operado pela educação. Ela seria resultante de um
cruzamento de planos: plano de imanência da filosofia, plano de
composição da educação enquanto arte, múltiplos planos de
prospecção e de referência da educação enquanto ciência(s) (Gallo,
2003, p. 68).
Ou seja, o filósofo da educação deve conhecer e ter envolvimento com o
universo da educação; ter conhecimento da doxografia educacional para que possa
combater as opiniões que imperem no platô da educação: “Sendo um habitante ou um
visitante desse platô, conhecendo seu panorama, o filósofo está apto a reagir aos
problemas que ele suscita. Trata-se, então, de aplicar a eles, problemas educacionais, o
instrumental filosófico. Instaurar, inventar, criar...” (Gallo, 2003, p. 69).
Assim, então, o filósofo da educação, que é um filósofo, não pode se restringir a
ser um mero compilador de conceitos filosóficos para fundamentar a educação. Gallo
310
afirma ser urgente, portanto, fazer uma filosofia da educação criativa e criadora, que não
seja inofensiva, pois ela deve ser o veneno e o remédio: “É necessário que corramos o
risco, que mergulhemos nesse caos povoado de opiniões. [...]. Só criando conceitos,
assumindo uma feição verdadeiramente filosófica é que a filosofia da educação poderá
ter um futuro promissor, no Brasil ou em outro lugar” (Gallo, 2003, pp. 70-71).
No segundo Deslocamento, Uma “educação menor”, Gallo (2003) se inspira no
conceito de literatura menor de Deleuze e Guattari, presente no livro Kafka – por uma
literatura menor, a qual se refere aos escritos do judeu theco, considerados
revolucionários por subverterem a própria língua alemã que se impôs quando da
ocupação alemã na Checoslováquia, no período da Primeira Guerra Mundial. Por isso,
Deleuze e Guattari definirem a literatura menor da seguinte forma: “Uma literatura
menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua
maior” (Deleuze e Guattari apud Gallo, 2003, p. 75). Ou seja, a subversão de uma
língua maior por uma minoria. Como exemplificação de uma literatura menor no Brasil,
Gallo indica a obra de Lima Barreto, que afrontava os cânones da Academia da época.
Dessa forma, Gallo se propõe a “promover um exercício de deslocamento
conceitual: deslocar esse conceito, [literatura menor] operar com a noção de uma
educação menor, como dispositivo para pensarmos a educação, sobretudo, aquela que
praticamos no Brasil em nossos dias” (Gallo, 2003, p. 75). De uma forma geral, essa
educação menor está comprometida em buscar um processo educativo transformador do
status quo e promotor da singularização e dos valores libertários (Cf. Gallo, 2003, p.
75). O exercício desse deslocamento ocorre a partir da intercessão das três
características que os autores de Kafka indicam na literatura menor: desterritorialização
da língua; ramificação política; e o valor coletivo. Gallo (2003).
Com relação à primeira característica, afirma Gallo (2003, p. 79), “se na
literatura é a língua que se desterritorializa, na educação a desterritorialização é dos
processos educativos”. Uma desterritorialização que ocorre a partir dos componentes da
educação maior, as políticas, os parâmetros, as diretrizes que determinam o ensino, suas
formas e seus agentes. Assim, enquanto a educação menor procura se constituir como
uma máquina de guerra, de resistência, de produção de singularidades, “a educação
maior procura construir-se como uma imensa máquina de controle, uma máquina de
subjetivação, e produção de indivíduos em série” (Gallo, 2003, p. 79) (Os grifos são
nossos).
311
Na educação maior, como máquina de controle, até mesmo ao ensino deve
corresponder uma aprendizagem específica. Ao que Gallo se contrapõe, a partir da ideia
de uma educação menor e baseado em Deleuze, para os quais não há certeza evidente
do que se vai aprender. Nesse âmbito, como em outros, “a tentativa de controle pode
fugir a qualquer controle” (Gallo, 2003, p. 79). Basta recordar o que Deleuze fala sobre
aprender em Diferença e repetição, por exemplo. Dessa forma, analisa Gallo (2003, p.
81):
Ora, se a aprendizagem é algo que escapa, que foge ao controle,
resistir é sempre possível. Desterritorializar os princípios, as normas
da educação maior, gerando possibilidades de aprendizado
insuspeitadas naquele contexto. Ou, de dentro da máquina opor
resistência, quebrar os mecanismos, como ludistas pós-modernos,
botando fogo na máquina de controle, criando novas possibilidades. A
educação menor age exatamente nessas brechas para, a partir do
deserto e da miséria da sala de aula, fazer emergir possibilidades
que escapem a qualquer controle (Grifo nosso).
A educação menor desenvolve táticas em relação à educação maior para impedir
que essa, sempre bem-pensada e sempre bem-planejada, se fortaleça e se instale: “Tratase de opor resistência, trata-se de produzir diferenças. Desterritorializar. Sempre”
(Gallo, 2003, p. 81).
Já a segunda característica, a da ramificação política, diz respeito ao significado
político, potencializador e militante da educação menor que, com seus atos de revolta e
resistência, compõe um duplo agenciamento: “agenciamento maquínico de desejo do
educador militante e agenciamento coletivo de enunciação, na relação com os
estudantes” (Gallo, 2003, p. 82). Essa ramificação política fortalece a luta das
resistências micropolíticas que, ao final das contas, é o que interessa a educação menor:
A ramificação política da educação menor, ao agir no sentido de
desterritorializar as diretrizes políticas da educação maior, é que abre
espaço para que o educador militante possa exercer suas ações, que se
circunscrevem num nível micropolítico. A educação menor cria
trincheiras a partir das quais se promove uma política do cotidiano,
das relações diretas entre os indivíduos, que por sua vez exercem
efeitos sobre as macro relações sociais. Não se trata, aqui, de buscar as
grandes políticas que nortearão os atos cotidianos. Em lugar do grande
estrategista, o pequeno “faz-tudo” do dia-a-dia, cavando seus buracos,
minando os espaços, oferecendo resistências (Gallo, 2003, p. 82).
Dessa forma, diz Gallo (2003, p. 82), a educação menor é rizomática,
segmentada, fragmentária, sem preocupação com a totalidade, unidade, modelos,
caminhos ou soluções. Somente importa à educação menor fazer rizoma e viabilizar
312
conexões, continuamente, sem fim e sem começo, tal qual o rizoma, que é somente
meio.
A terceira característica, referente ao valor coletivo, aponta para o fato de a
educação menor ser coletiva: “Na educação menor, não há possibilidades de atos
solitários, isolados; toda ação implicará muitos indivíduos. Toda singularização será, ao
mesmo tempo, singularização coletiva” (Gallo, 2003, p. 83).
Um motivo forte que explica essa característica coletiva está no fato da educação
menor produzir multiplicidades, tal como Deleuze e Guattari a compreendem, ou seja,
sem totalidade e sem sujeito. Essas multiplicidades ao se conectarem rizomaticamente
geram novas multiplicidades:
Assim, todo ato singular se coletiviza e todo ato coletivo se
singulariza. Num rizoma, as singularidades desenvolvem devires que
implicam hecceidades. Não há sujeitos, não há objetos, não há ações
centradas em um ou outro; há projetos, acontecimentos, individuações
sem sujeito. Todo projeto é coletivo. Todo valor é coletivo. Todo
fracasso também (Gallo, 2003, p. 84).
Um dos fracassos possíveis que corre toda luta minoritária, inclusive a literatura
menor, segundo Deleuze e Guattari, é a de ser reterritorializada. No caso específico da
educação menor pode-se falar de sua cooptação para a reconstrução da educação maior,
ou a sua inserção na máquina de controle do Estado, perdendo seu potencial libertário e
se transformando em máquina de controle (Cf. Gallo, 2003, p. 85). Dessa forma, para
Gallo (2003), a educação menor permanece potencialmente libertária e minoritária
quando não se rende aos mecanismos de controle. A resistência é parte fundamental
dessa condição: “Resistir à cooptação, resistir a ser incorporado; manter acesa a chama
da revolta, manter em dia o orgulho da minoridade, manter-se na miséria e no deserto.
Educação menor como máquina de resistência” (Gallo, 2003, p. 85). Afinal, a educação
menor consiste exatamente na aposta feita nas minorias, “apostar na possibilidade da
diferença” (Gallo, 2003, p. 85).
Para caracterizar o professor da educação menor, Gallo recorre ao filósofo e
cientista político Antonio Negri para proceder a outro deslocamento conceitual. Trata-se
da afirmação de Negri que, dada a descentralização da política da figura do Estado e
aumento dos movimentos sociais na contemporaneidade, hoje não é mais possível falar
de profetas e sim de militantes. Hoje não é mais importante anunciar um futuro, mas
produzir o presente na cotidianidade. Ficamos longe da figura do grande intelectual
313
condutor das massas, temos os militantes resistindo aos macros poderes com suas
micros resistências. Dessa forma, diz Gallo:
Se deslocarmos tal ideia para o campo da educação, não fica difícil
falarmos num professor-profeta, que, do alto de sua sabedoria, diz aos
outros o que deve ser feito. Mas, para além do professor-profeta, hoje
deveríamos estar nos movendo como uma espécie de professormilitante, que, de seu próprio deserto, de seu próprio terceiro mundo,
opera ações de transformação, por mínimas que sejam (Gallo, 2003,
pp. 71-72).
A luta do professor-militante da educação menor acontece nos micros espaços
cotidianos, na sala de aula, nas relações entre professor e aluno, entre os colegas
professores, entre o professor e sua ambiência social, entre o professor e o sindicato. E
nesse sentido da ausência de grandes projetos totalizantes, realça-se a diferença entre os
dois tipos de professores: “Se o professor-profeta é aquele que age individualmente para
mobilizar multidões, o professor-militante é aquele que age coletivamente, para tocar a
cada um dos indivíduos” (Gallo, 2003, p. 74).
O
terceiro
Deslocamento,
Rizoma
e
educação,
trata
da
excessiva
compartimentalização do saber e sua expressão na organização curricular em suas
disciplinas estanques. Tem havido uma tentativa de solução dessa fragmentação via
educação interdisciplinar, mas não se tem obtido sucesso, pois a própria formação dos
professores é estanque e a interdisciplinaridade acaba reproduzindo a fragmentação do
saber. Porém, afirma Gallo (2003):
Penso que para além de estritamente pedagógico, o problemas da
disciplinarização é epistemológico. Precisamos compreender os
processos históricos e sociais de produção de saberes, para podermos
compreender as possibilidades de organização e produção desses
saberes na escola, ou mesmo no contexto educacional mais amplo.
Aqui Deleuze nos motiva o pensamento com o conceito de rizoma,
criado com Guattari no final dos anos 1970 (Gallo, 2003, p. 86).
Contudo, antes de efetivar o deslocamento do conceito de rizoma para a
educação, Gallo contextualiza a problemática das disciplinas estanques a partir de uma
obra de Pierre Lévy, As tecnologias da inteligência. Para Lévy, a história do
conhecimento humano é marcada por três tecnologias específicas: a oralidade primária,
mitológica, com um saber narrativo; a escrita, com a constituição da Filosofia e da(s)
Ciências, com um saber teórico baseado na interpretação; e a mídia-informática, com
um saber operacional baseado na simulação (Cf. Gallo, 2003, p. 88).
314
A tecnologia da escrita é predominante na história da humanidade, bem como
seu viés teórico de interpretação da realidade e a consequente fundação de “uma noção
de verdade que diz respeito à adequação da ideia à coisa mesma que a interpreta”
(Gallo, 2003, p. 88). Dessa forma, a noção e a produção do conhecimento até a
atualidade são marcadas e norteadas pela tecnologia da escrita. A Filosofia foi a
primeira construção desse conhecimento, seguida das ramificações disciplinares que
surgiram a partir desse saber:
A metáfora tradicional da estrutura do conhecimento é a arbórea: ele é
tomado como uma grande árvore, cujas raízes devem estar fincadas
em solo firme (as premissas verdadeiras), com um tronco sólido que
se ramifica em galhos e mais galhos, estendendo-se assim pelos mais
diversos aspectos da realidade. Embora seja uma metáfora botânica, o
paradigma arborescente representa uma concepção mecânica do
conhecimento e da realidade, reproduzindo a fragmentação cartesiana
do saber, resultado das concepções científicas modernas (Gallo, 2003,
pp. 88-89).
Nessa concepção arbórea de conhecimento, a Filosofia é tida como o tronco da
árvore do saber e seus galhos seriam as diversas ramificações do saber. Contudo, essa
metáfora clássica é questionada por Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, ao denunciarem
a hierarquização do saber/poder presente no paradigma arborescente, no qual há um
centro superior que difunde o saber para suas ramificações (Cf. Gallo, pp. 89-90).
O principal questionamento deleuzeano-guattariano é se, de fato, “o pensamento
e o conhecimento seguem a estrutura proposta por um paradigma arborescente?” (Gallo,
2003, p. 90). Ou seja, esse modelo pode ter sido elaborado posteriormente e utilizado
para classificar o conhecimento, objetivando o seu domínio e determinando a produção
dos novos conhecimentos (Cf. Gallo, 2003, p. 90).
Diante desses questionamentos, seria razoável pensar com Deleuze e Guattari
que “o pensamento não é arborescente, e o cérebro não é uma matéria enraizada nem
ramificada” (Deleuze-Guattari apud Gallo, 2003, p. 90). Diversamente, o pensamento e
o cérebro são compostos por funcionamento e estruturas rizomáticas, sistemas
acentrados e estados caóides (Cf. Deleuze-Guattari apud Gallo, 2003, p. 91). Assim,
afirma Gallo (2003, p. 92): “[...] é necessária a introdução de um outro paradigma de
conhecimento, de uma nova imagem do pensamento; em suma, de algo que nos permita,
de novo, pensar, para além da fossilização imposta pelo paradigma arbóreo e pela
consequente arborização de nosso pensamento”.
315
É dessa forma que “a metáfora do rizoma subverte a ordem da metáfora arbórea”
(Gallo, 2003, p. 93). Ao invés da ideia de unidade a que a árvore remete, o rizoma
implica na ideia de multiplicidade. A árvore remete às ideias de: unidade; mediações
hierárquicas e homogêneas; linearidade contínua; Mesmo; mediação determinante;
permanência. O rizoma implica nas ideias de: multiplicidade; conexões múltiplas e
heterogêneas; linhas de fuga; Outro; entradas múltiplas; devir (Cf. Gallo, 2003, pp. 93 a
95).
Ou seja, a questão se coloca como epistemológica, na medida em que surge e é
proposta uma nova imagem de pensamento, que agora configura o saber pela
funcionalidade: “O conhecimento não é nem uma forma, nem uma força, mas uma
função: ‘eu funciono’” (Deleuze-Guattari apud Gallo, 2003, p. 95). Essa nova imagem
de pensamento já não comporta a horizontalidade e a verticalidade que marcam os
caminhos lineares da imagem arbórea do pensamento, agora é necessário um
movimento mais complexo para acompanhar a multiplicidade das conexões rizomáticas:
a transversalidade (Cf. Gallo, 2003, p. 95):
Podemos, assim, tomar a noção de transversalidade e aplica-la à
imagem rizomática do saber: ela seria a matriz da mobilidade por
entre os liames do rizoma, abandonando os verticalismos e
horizontalismos que seriam insuficientes para uma abrangência de
visão de todo o “horizonte de eventos” possibilitado por um rizoma
(Gallo, 2003, p. 96).
Retomando a questão da interdisciplinaridade e voltando para as intercessões
educacionais, agora podemos compreender porque ela está no âmbito da
disciplinarização, ela segue a mesma estrutura arbórea do conhecimento tradicional. A
transversalidade rizomática, por sua vez, “aponta para o reconhecimento da
pulverização, da multiplicização, para a atenção às diferenças e à diferenciação,
construindo possíveis trânsitos pela multiplicidade dos saberes, sem procurar integrá-los
artificialmente, mas estabelecendo policompreensões infinitas” (Gallo, 2003, p. 97).
O emprego do conceito de rizoma na organização curricular da escola, por
exemplo, revolucionaria o processo educacional ao substituir um acesso interdisciplinar
arborescente ao conhecimento por um acesso transversal que potencializaria
infinitamente o trânsito por entre os saberes. Assim, “o acesso transversal significaria o
fim da compartimentalização, pois as ‘gavetas’ seriam abertas; reconhecendo a
multiplicidade das áreas do conhecimento [...]” (Gallo, 2003, p. 97). Da mesma forma, a
316
concepção rizomática ajudaria a acabar com a “ilusão do Todo” e cada aluno poderia ter
acesso às áreas de seu interesse:
Isso significaria, claro, o desaparecimento da escola como
conhecemos, pois se romperia com todas as hierarquizações e
disciplinarizações, tanto no aspecto epistemológico quanto no político.
Mas possibilitaria a realização de um processo educacional muito
mais condizente com as exigências da contemporaneidade (Gallo,
2003, p. 98).
Contudo, para Gallo, é importante pensarmos sobre como seria um currículo
transversal e rizomático. Ele expõe sua proposta em três níveis: primeiro – não
poderíamos nos nortear pela pretensa cientificidade pedagógica. Assim, o currículo
deveria ser “uma produção singular a partir de múltiplos referenciais, da qual não há
sequer como vislumbrar, de antemão, o resultado” (Gallo, 2003, p. 98); segundo –
deveríamos abandonar a pretensão massificante da pedagogia e nos voltarmos “para a
formação de uma subjetividade autônoma” (Gallo, 2003, p. 98); terceiro – seria
necessário abandonar a pretensão ao conhecimento da unidade do real e
conceber/aprender a multiplicidade e fragmentação do real, “sem a necessidade mítica
de recuperar uma ligação, uma unidade perdida” (Gallo, 2003, p. 99).
O quarto e último Deslocamento, Educação e controle, empreendido por Gallo,
lança mão do conceito “sociedades de controle” deleuzeano que, por sua vez, significa
uma transição das “sociedades disciplinares” de Foucault, para um novo tipo de poder
social, o biopoder: “Diferentemente do poder disciplinar, que constituiu instituições
para agir sobre os indivíduos, em especial sobre os corpos dos indivíduos, essa nova
modalidade de poder estende seus tentáculos sobre as populações, sobre os grandes
grupos sociais” (Gallo, 2003, p. 105). As sociedades de controle exercem o controle ao
ar livre, enquanto as sociedades disciplinares exerciam seu poder em sistemas fechados
(escolas, hospitais, asilos, quartéis, etc.); há o deslocamento da economia do setor de
produção para o setor de serviços, circulação; os sistemas abertos (empresas) substituem
os sistemas fechados (fábricas). Assim, afirma Gallo, subsidiado por Deleuze:
Na mesma medida, a escola, instituição disciplinar e, portanto, sistema
fechado, de confinamento, vai sendo paulatinamente substituída pelos
empreendimentos de formação permanente, abertos, que transcendem
a escola como instância formadora, da mesma forma que o controle
contínuo vem para substituir o exame, esse ícone das instituições
disciplinares (Gallo, 2003, p. 108).
317
Dessa forma, segundo Deleuze, em seu artigo Post-Scriptum sobre as
sociedades de controle que inaugura seu pensamento em torno dessas novas sociedades,
há também uma transformação no âmbito educacional na sociedade de controle: “No
regime das escolas: as formas de controle contínuo, avaliação contínua, e a ação da
formação permanente sobre a escola, o abandono correspondente de qualquer pesquisa
na Universidade, a introdução da ‘empresa’ em todos os níveis da escolaridade”
(Deleuze apud Gallo, 2003, p. 109).
Na verdade, o que acontece é a transferência do mecanismo de funcionamento
das empresas para a escola. Persegue-se como proposta, inclusive a partir das políticas
públicas de educação, a educação de qualidade, mas é da qualidade total, em
conformidade com as exigências do mercado neoliberal. Da mesma maneira, a
avaliação na escola é feita sob a égide da instrumentalidade e do poder. O resultado é a
nossa, dos educadores, cooptação pela educação maior, enquanto deveríamos estar
lutando no plano da educação como uma máquina de guerra, ou seja, de resistência e de
revolta (Cf. Gallo, 2003, p. 112).
O segundo texto de Sílvio Gallo a ser examinado tem por título Ensino de
filosofia: avaliação e materiais didáticos50, de 2010. Para os nossos propósitos, o mais
significativo a examinar nesse escrito é a posição de Gallo, baseado em Deleuze e
Guattari, com relação às justificativas utilizadas contemporaneamente para a volta do
ensino da Filosofia ao ensino médio no Brasil, todas elas de caráter instrumental e,
portanto, fugindo a uma certa gratuidade do ensino e do estudo da Filosofia tal qual ela
se produziu ao longo de seus vinte e seis séculos.
Na década de 1980, diz Gallo (2010, p. 159), foram duas as principais
justificativas para o retorno da Filosofia ao currículo. A primeira afirmava que “a
presença da filosofia na educação dos jovens justificava-se pela necessidade de um
desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes”. O contexto dessa justificativa
se apoiava no regime militar de 1964 que proibia, pela repressão e tortura, a liberdade
de pensamento e de expressão, bem como pela prevalência do ensino tecnicista dessa
época, respaldada pelos próprios militares a partir de 1970. Assim, “neste quadro, a
50
Recordamos que esse artigo compõe a Coleção Explorando o Ensino do MEC, material do governo
distribuído gratuitamente pelas escolas de Ensino Médio. As observações feitas em nota de rodapé para o
artigo de Kohan, que também compõe essa coleção, valem para o artigo de Gallo. Vide nota de rodapé
referente à análise dos textos de Kohan.
318
filosofia aparecia como o antídoto necessário e apropriado a um processo de
redemocratização da sociedade brasileira” (Gallo, 2010, p. 159).
A segunda justificativa, por vezes articulada com a primeira, se referia ao caráter
interdisciplinar da filosofia, a qual seria o elo articulador a proporcionar a interação
entre as diferentes disciplinas curriculares que eram ministradas de forma desarticuladas
(Cf. Gallo, 2010, p. 160). Contudo, Gallo não acolhe nenhuma das duas justificativas e,
claramente, é possível identificar a influência deleuzeana-guattariana das proposições
do livro O que é a Filosofia. Vejamos a argumentação de Gallo:
Em ambos os casos, vejo um problema. Nenhum deles afirma a
filosofia por ela mesma, mas por um papel que ela deve desempenhar,
a filosofia era justificada por algo que ela desenvolveria nos
estudantes, algo este alheio a ela mesma. Em outras palavras, ambas
as justificativas impõem à filosofia um caráter instrumental. Mas há
ainda um outro problema a ser apontado. Em ambos os casos, a
justificação para o ensino da filosofia confere a esta disciplina um
papel que não é e não pode ser exclusivo dela. Isto é, se desejamos
uma educação que forme a criticidade dos jovens, a filosofia pode ser
um dos elementos desta formação, mas certamente não é e não pode
ser o único. A criticidade não é exclusiva da filosofia e não pode ser
creditada exclusivamente a ela. Ou as demais disciplinas também são
formadoras da consciência crítica ou esta formação é impossível. E o
mesmo raciocínio é válido para a interdisciplinaridade (Gallo, 2010, p.
160).
Da mesma forma, Gallo também questiona o uso instrumental que é feito da
filosofia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), na qual a
justificativa para a existência da filosofia no currículo seria a de preparar os jovens com
conhecimentos filosóficos necessários ao pleno exercício da cidadania (Cf. Gallo, 2010,
p. 160).
Gallo recorda que desde Aristóteles a filosofia é um fim em si mesma e não um
conhecimento que seja um meio para realizar algum objetivo. Portanto, todas essas
justificativas acima seriam antifilosóficas. Por isso, prefere “apostar no ensino da
filosofia como um fim em si mesmo, para além de qualquer tutela, seja ela cidadã ou
moral” (Gallo, 2010, p. 161). Ademais, para Gallo (2010), a formação dos jovens deve
ter além da presença das filosofias, a presença também das ciências e das artes:
Partindo daquilo que Deleuze e Guattari produziram em O que é a
filosofia? [...], podemos dizer que as ciências, na sua relação com o
mundo, produzem funções, que organizam os fatos observados através
de relações de causa-efeito; as artes, por sua vez, produzem perceptos
e afectos, formas de compreensão do mundo numa perspectiva
estética; as filosofias, por fim, produzem conceitos, uma forma
319
racional de equacionamento dos problemas vividos no mundo (Gallo,
2010, pp. 161-162).
Essas formas de conhecimento humano são irredutíveis uma à outra e, por isso,
são complementares. Daí, então, ser possível afirmar que em um “processo educativo
como formação humana, minimamente precisamos garantir a todos os estudantes o
acesso a estas três instâncias de produção de saberes sobre o mundo” (Gallo, 2010, p.
162).
Daí ser compreensível a posição de Gallo com relação aos seus questionamentos
sobre as diversas justificativas da volta ou da permanência da filosofia nos currículos:
Repito: não penso que a filosofia se justifique nos currículos da
educação média por promover uma forma de visão crítica do mundo
(outras disciplinas também podem e devem fazer isso), nem por
possibilitar uma visão interdisciplinar (outras disciplinas também
podem e devem fazer isso), muito menos por trabalhar com
conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania (no limite, a
ação cidadã não reside na filosofia, mas talvez mesmo longe dela). Por
outro lado, a ausência da filosofia nos currículos significa o não
contato dos estudantes com essa importante construção humana, que é
o conceito. Isso, sim, a filosofia pode oferecer. E apenas ela pode
oferecer (Gallo, 2010, p. 162).
Dessa forma, o pensamento de Gallo propõe um esforço para sairmos da
hegemonia da Filosofia da Representação sob a qual vivemos e que é dominante na área
educacional, seja na Filosofia da Educação, nas políticas públicas, no ensino de filosofia
ou na própria filosofia. Uma alternativa rica para tanto é a filosofia deleuzeana da
diferença, para que possamos valorizar e encontrar o inusitado, potencializar as
multiplicidades e conceber a riqueza da diferença.
320
CONCLUSÃO
O conteúdo apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, De Deus à
Diferença: trajetória das matrizes filosóficas na educação brasileira, mostrou a
necessidade de observarmos como a produção teórica da Filosofia vem sendo
apropriada pela História, pelas instituições e de que forma os conceitos deixam as
páginas dos livros e se transformam em carne e sangue, em dor e gozo, em grito e em
silêncio. É necessário, ainda, que exercitemos o nosso olhar para os caminhos que vão
tomando os conceitos filosóficos que seguem pela estrada de tijolos amarelos (yellow
brick road), em busca do feiticeiro de Oz (Lyman Frank Baum). Essa apropriação dos
conceitos pela realidade mostra como é urgente fazer o caminho inverso da abstração
conceitual para que não fiquemos morando confortavelmente no universal abstrato
hegeliano e percamos a descoberta de que o feiticeiro de Oz, no caso a Filosofia da
Representação, estudada de forma meramente exegética, na verdade é um simples
mágico terreno.
Ousaria afirmar: é preciso desconceitualizar o conceito, pois para além das
exegeses dos textos filosóficos, as categorias filosóficas devem também ser perseguidas
até encontrarmos onde e como elas são apropriadas. Onde passam a morar? Qual a
alquimia que as transubstanciam? Quem, com tantas contradições no coração e no
bolso, se apropria delas e as transforma em forças sociais, existenciais, imanentes e com
cheiros e sons?
Nessa perspectiva, é preciso compreender como os conceitos de Verdade, Deus,
Salvação, Mal etc., enfim, todo o universo que compõe o ideário católico, cristão,
patrístico, medieval aportou no Brasil com os jesuítas, que traziam Agostinho e Tomás
de Aquino na bagagem de suas almas, juntamente com os adereços de uma cultura
europeia greco-romana, declarada superior, iluminada e iluminadora.
É preciso saber enxergar, também, que a cultura filosófica católica não chegou
aqui solitária. Acompanhou-a a expansão territorial do capital comercial, que encontrou
um forte aporte ideológico na escolástica aristotélico-tomista dos inacianos. Por um
lado, a Igreja trazia um “saber de salvação”, que buscava apascentar as almas dos
silvícolas (quando foi decretado pelo Papa de plantão que eles tinham alma) e convertêlas à fé católica. Por outro lado, as grandes navegações, das quais nós fomos paridos,
representavam a consolidação do capitalismo comercial através da acumulação de
321
recursos naturais, visando o fortalecimento da burguesia ascendente perante a nobreza
feudal que já mostrava sinais de fragilização.
As obras Confissões, Cidade de Deus vieram também nas pontas das espadas
dos colonizadores e nos mastros de suas caravelas. Com certeza, algumas linhas saltadas
dos textos da Suma Teológica espirraram, se confundindo com a disciplina imposta aos
nativos que tinham por Deus o Sol, a Lua e andavam com os corpos nus e sem culpa,
cristã ou católica.
O Positivismo científico, também ao aportar aqui, trouxe veleidades filosóficas e
leviandades políticas e econômicas. Mesmo o Iluminismo nos chegou para “iluminar”
somente a alguns. Podemos citar, por exemplo, o caso do Colégio Pedro II, único a ser
administrado pelo poder central, enquanto a deliberação Imperial era exatamente o
inverso, qual seja, a administração dos colégios secundários deveria ser exercida pelos
Estados. Contudo, aquela instituição educacional foi administrada com mais recursos,
com melhores professores, com a prevalência da filosofia Eclética espiritualista etc.,
para, exatamente, formar os filhos dos grandes proprietários, dos grandes senhores.
E, por aí, poderíamos falar, exaustivamente, de inúmeros exemplos das
“encarnações” dos conceitos filosóficos na sociedade brasileira e mais especificamente
na educação brasileira. As “apropriações”, os “loteamentos”, as “repetições” feitas em
eco que sofreram todas as filosofias e seus conceitos que já passaram por aqui.
Estamos ressaltando, precisamente, que a filosofia, diversamente do que é
ensinado, não é um monte de conceitos residentes nos livros, visitados apenas durante o
período de estudos. Essa é a forma como ela é ensinada e como deve ser estudada.
Inversamente, como visto no primeiro capítulo da exposição, a filosofia se entranha nas
vidas das pessoas, nas instituições, nos colégios, nas almas. É auxiliar na criação de
poderes e na destruição deles. A filosofia não é, nem pode ser, em vão. Porém, é
necessário cuidado, pois a sua não vanidade não é, nem pode ser, sinônimo de
instrumentalização. Caso contrário, ela própria perde seu caráter de filosofia.
O segundo capítulo, A Filosofia da Educação no Brasil, mostra a prevalência do
exercício filosófico na Filosofia da Educação como mera repetição dos conceitos dos
filósofos mais representativos nessa área, pelo menos até surgir a obra de Anísio
Teixeira, que deu início, no Brasil, a uma sistematização mais específica da Filosofia da
Educação como campo de saber e inicia um certo esforço de pensar a nossa realidade a
partir das reflexões de Dewey. Até então, a educação pensada a partir da filosofia se
322
resumia em fornecer os fins, os valores e os fundamentos da educação. O que, de certa
maneira, predominou até os dias de hoje.
Paulo Freire também inicia uma reflexão de cunho mais autônomo, em terras
brasileiras, no âmbito da Filosofia da Educação. Outro aspecto importante, tal como em
Teixeira, é que Freire exercia um questionamento filosófico da educação visando mais
às questões da realidade social. Distanciando-se, portanto, das velhas reflexões
moralistas, abstratas e bacharelescas que tanto predominaram na feição filosófica
brasileira.
A obra de Dermeval Saviani segue o mesmo ritmo freireano de orientar a
filosofia da educação para problemas sociais concretos, os quais devem ser resolvidos
por uma conscientização social possibilitada pela educação. Ou seja, uma consciência
política que promova a liberdade. No caso de Freire, o sujeito a ser conscientizado é o
homem oprimido. No caso de Saviani, o sujeito a ser conscientizado é o proletariado, o
sujeito histórico, pois o conceito fundante pelo qual a educação deve ser pensada é a
classe social.
Apesar da importância e das inovações trazidas por esses dois pensadores
brasileiros, eles permanecem no limiar da filosofia da representação e filiados aos
elementos constitutivos do ideário da Modernidade. Isso fica muito claro se
considerarmos que em seu pensamento persiste a ideia: de um fundamento do real; de
uma verdade a ser reconhecida e transmitida; de um universal a ser realizado; de uma
totalidade a ser alcançada; de uma razão condutora do homem rumo à liberdade; da
educação, dialógica ou política, como exercício do aprimoramento da racionalidade; da
Dialética como o verdadeiro método de apreensão do real e a mediação como categoria
decisiva nessa apreensão.
O terceiro capítulo, A Filosofia da Diferença de Deleuze, ao expor os subsídios
filosóficos da filosofia deleuzeana, possibilitou a apreensão de uma filosofia diversa da
representação, a qual foi praticada, pensada ou exercida pela maioria no Brasil,
mormente na esfera da Filosofia da Educação. Diversamente da filiação ao ideário da
Modernidade e da Filosofia da Representação, a filosofia da diferença deleuzeana rejeita
a existência de um fundamento do real, o que existe é a contingência, um a-fundamento,
um descentramento, na medida em que a realidade vai se construindo.
Por isso, não há um universal a ser perseguido para a realização de modelos, nos
moldes platônicos. Inversamente, há a negação do original e a valorização dos
323
simulacros, pois não há nenhuma identidade prévia a ser atualizada. O que existe, então,
é o devir, é o acontecimento, é a univocidade do ser, é a diferença em sua eterna
repetição. Portanto, não há uma verdade a ser revelada, a ser buscada fora da caverna.
A verdade é, pois, uma invenção que criamos para dar sentido às coisas. Poderíamos até
falar em uma alegria da caverna, em lugar de uma alegoria da caverna.
Da mesma forma, a filosofia da diferença deleuzeana recusa a dialética hegeliana
por ela ser triste, negativa e abstrata, bem como a categoria da mediação ser um
movimento somente do próprio pensamento. Nesse sentido, a razão como qualidade
superior do homem para a apreensão do real e possibilidade máxima de realização da
condição humana, fica preterida, questionada pela filosofia da diferença que, por sua
vez, valoriza a intuição, o corpo, o desejo, a alegria como formas legítimas de conhecer
e se relacionar com o mundo.
Assim, o quarto capítulo, Filosofia da Diferença deleuzeana na Filosofia da
Educação no Brasil ou para uma (não)-teoria da quebradura da vara, possibilita a
intercessão da filosofia da diferença deleuzeana na Filosofia da Educação no Brasil, ao
mostrar o pensamento dos quatro filósofos brasileiros que, inspirados nessa Filosofia,
trazem uma nova forma de pensar a educação.
A expressão “(não)-teoria da quebradura da vara”, que cunhamos aqui, é para
expressar que se trata eminentemente de uma inspiração filosófica, e não mais uma
matriz filosófica, pois ela não se pretende uma teoria como modelo, sistema ou doutrina
a ser seguido como as demais matrizes. Da mesma forma, ela faz referência a uma
“quebradura da vara” porque a metáfora leninista, apropriada por Saviani, implicava em
um centro, em um fundamento, em uma verdade a qual se deveria sempre voltar para
balizar a posição correta da vara. Essa ideia permanece, mesmo quando Saviani se
refere a necessidade de uma teoria “para além da curvatura da vara”, pois continua a
ideia de um referencial como centro. Por isso, a necessidade, para continuar na
metáfora, de “quebrar a vara”, indicando, com essa expressão, a inexistência de um
fundamento, de um centro, de uma verdade balizadora.
É dessa forma que se denomina, aqui, a influência da filosofia da diferença
deleuzeana no Brasil, de uma (não)-teoria da quebradura da vara, pois não tem a
pretensão de sistematicidade, do todo, de Universalidade, de verdade a ser descoberta e
revelada etc. A ideia de um centro verdadeiro, de um fundamento a ser defendido e
buscado, deixa de existir, para dar lugar ao devir e ao acontecimento.
324
Dessa forma, diante da inexistência de um centro, de um fundamento, deixa de
fazer sentido a Filosofia da Educação fundamentar metafisicamente o discurso
pedagógico: “A filosofia da educação pode ser muito importante, mas não no sentido de
dar a si mesma e às várias teorias pedagógicas um critério de verdade excepcional, que
sustente a ela mesma e sustente qualquer ciência ou teoria a respeito de educação”
(Ghiraldelli, 2000, p. 19).
Dentre outras passagens, isso fica muito claro no texto do Saviani, quando ele
afirma haver uma distinção entre atividade política e a atividade educativa, pois “se em
política o objetivo é vencer, em educação o objetivo é convencer; se a prática política se
apoia na verdade do poder, a prática educativa apoia-se no poder da verdade”
(Saviani, 2007, p. 224) (Grifo nosso). Ou seja, além de existir uma verdade, o papel da
educação seria o de levar a essa verdade. Essa posição não só é autoritária, mas também
representacionista.
Contudo, Paulo Freire também não fica longe dessa esfera representacionista e
fundacionista, na medida em que, por exemplo, defende que a conscientização tirará o
indivíduo de uma acomodação. Ou seja, permanece aquela ideia tradicional platônica de
desvelamento da verdade com a saída da caverna. Essa questão traz em si a ideia do
saber como libertação, nas palavras de Freire: “A superação da contradição é o parto
que traz ao mundo este homem novo não mais opressor; não mais oprimido, mas
homem libertando-se” (Freire, 2011, p. 48). No entanto, há uma certa romantização
desse homem “liberto”, enquanto que na filosofia da diferença vamos encontrar que o
saber é poder, portanto não há como conceber essa pureza da liberdade. Da mesma
forma, ocorre essa mesma romantização do oprimido, como se o oprimido fosse um ser
puro e imaculado, quase um anjo. É o que nos deixa transparecer Freire quando afirma:
“Daí que, estabelecida a relação opressora, esteja inaugurada a violência, que jamais
foi até hoje, na história, deflagrada pelos oprimidos” (Freire, 2011, p. 58).
Nesse contexto, é destacado também que a prática educativa libertadora constitui
uma situação gnosiológica, onde o papel do educador é proporcionar, juntamente com
os educandos, “as condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da
doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do logos” (Freire, 2011, p.
97). (Grifo nosso). Enquanto a prática bancária cerceia a criatividade dos educandos, “a
educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante
ato de desvelamento da realidade” (Grifo nosso). (Freire, 2011, p. 97). Além de se ter a
325
figura do professor-profeta, que guiará, conduzirá o educando, tem também a afirmação
da existência de um conhecimento verdadeiro.
Há um maniqueísmo muito forte e romântico em Freire, que perpassa todo o
livro Pedagogia do oprimido (particularmente a p. 205), no qual o bom é bom e o mau é
mau. Isso fica muito claro, quando ele pensa sobre a invasão cultural, na relação
invasores versus invadidos, há sempre um déficit para os “invadidos”. Persiste o mesmo
maniqueísmo anterior que afirma que os oprimidos nunca forma violentos.
A pedagogia histórico-crítica de Saviani segue os moldes da modernidade
iluminista racionalista, pois a educação se define essencialmente pela produção e
transmissão de conhecimentos, sendo a escola o lugar privilegiado para tanto (Cf.
Saviani, 2011, pp. 13-14). Assim, o objetivo final da escola é a transmissão-assimilação
do saber sistematizado pela humanidade e que foi produzido coletivamente (Cf. Saviani,
2011, p. 17). Em termos mais amplos, então, o objetivo da educação é promover o
aperfeiçoamento da racionalidade pelo conhecimento, para que se alcance um patamar
superior de humanidade. No entanto, Saviani, ao eleger a escola como locus
privilegiado dessa formação, deixa de fora lugares e atividades tão importantes quanto a
escola e que, contudo, estão bem longe dessa instituição, sendo até mesmo contrária a
ela.
Nessa perspectiva, a valorização do conteúdo é decisiva, pois a prioridade de
conteúdos é a única forma de lutar contra a farsa do ensino, diz Saviani (2009). Os
conteúdos são prioritários “porque o domínio da cultura constitui instrumento
indispensável para a participação politica das massas” (Saviani, 2009, p. 51).
(Grifos nossos). No entanto, não haverá nessa posição uma certa centralização na
cultura oficial como sendo a única válida para uma participação política das massas?
Em contra partida, não seria necessário levar em consideração o valor dos
conhecimentos não oficiais para uma efetiva participação política? Novamente a
valorização extremada da racionalidade e da cultura iluminista. Além de reduzir em
muito o âmbito do que seria uma participação política. Qual seria essa política a ser
participada? A política maior? E a política menor? As micro políticas não podem ser
levadas em conta?
Outra questão fundamental para Saviani é a disciplina: “Associada a essa
prioridade de conteúdo, que eu já antecipei, parece-me fundamental que se esteja
atento para a importância da disciplina, quer dizer, sem disciplina esses conteúdos
326
relevantes não são assimilados (Saviani, 2009, p. 51) (Grifo nosso). Nesse sentido,
Saviani está bem distante, também, do ideário da filosofia da diferença, principalmente
se pensarmos em Foucault e em todo o seu trabalho desenvolvido em torno da disciplina
como exercício de poder e não, como pretendido pela tradição humanista e iluminista,
libertação, progresso contínuo, realização de um ideal de homem. Da mesma forma,
essa posição passa bem distante do pensamento deleuzeano quando ele pondera que não
se sabe por que se aprende. Não há uma explicação e nem um método, sendo a
aprendizagem mais caótica do que linear e disciplinada.
Nos livros dos três filósofos brasileiros que iniciaram a sistematização da
Filosofia da Educação no Brasil, muitas são as passagens que poderíamos analisar,
demonstrando que se filiam a uma filosofia com características representacionistas,
humanistas, dialéticas e classistas, portanto bem longe da Filosofia da Diferença.
Por isso, é importante o pensamento dos filósofos contemporâneos da educação,
inspirados na filosofia da diferença deleuzeana, pois eles trazem novas perspectivas para
a educação: mais liberdade de pensamento; menos moralismo; mais alegria; mais corpo;
mais criatividade; menos cerceamento; mais potência; mais rizoma e menos árvore;
mais diferença e menos Mesmo; mais imanência etc.
Tomaz Tadeu, por exemplo, ao inaugurar a confluência da filosofia da diferença
e a filosofia da educação no Brasil, abriu novos caminhos para se pensar o currículo não
mais como algo estanque, bem como vislumbrou os limites da teoria crítica mediante os
novos acontecimentos contemporâneos. Tomaz também teve a sensibilidade para
compreender que a instabilidade, a incerteza e a desordem, trazidas pelo fim dos
fundamentos, propiciaram outros tipos de pensamentos e de ações políticas que não têm
mais a ideia de referencial e de fundamento presentes na teoria crítica.
No campo da educação, orientado tradicionalmente pela identidade, diz Tomaz
Tadeu, a Filosofia da Diferença, principalmente a deleuzeana, pode servir de grande
inspiração no questionamento do sujeito moderno, da verdade pretendida pelos
currículos, dos valores disfarçados nos programas escolares e do poder subsumido na
disciplina escolar. Sendo assim, não se conhece para libertar a humanidade e promover
o progresso contínuo do mundo e da civilização, ou para descobrir a verdade e sair da
caverna, mas conhecer é interpretar e “interpretar é dar sentido, impor uma ordem, uma
forma, uma direção, é dar um sinal à massa informe e caótica das coisas do mundo.
327
Interpretar não é revelar, descobrir, identificar, mas criar, inventar, produzir” (Silva,
2002 a, p. 10).
Dessa forma, um currículo que seguisse a linha da filosofia da diferença, seria
perspectivista, sem um sujeito centralizador e centralizado, sem a crença em uma
verdade única a ser alcançada e ensinada por um professor-profeta, mas seria um
currículo aberto, sem imposição de valores e de poderes, sem a imposição da disciplina.
Deveria, por fim, visar à singularidade dos sujeitos e não sua subjetivação
massificadora.
Daniel Lins, por sua vez, reconhece a existência de uma pedagogia que não
pensa e que é, por isso, lugar da exclusão. Daí propor uma escola diferente, na qual seja
trabalhado o pensamento conjuntamente com os afectos, pois ambos não se separam.
Essa separação, contudo, é realizada por uma pedagogia que se apoia no discurso da
representação. Inclusive, para Lins, somente uma pedagogia que veja conjuntamente
pensamento e afecto pode possibilitar a emergência da diferença. Pode-se chamar essa
pedagogia de “pedagogia do acontecimento”, que se contrapõe a uma pedagogia da
representação. A pedagogia do acontecimento funciona por linhas de fuga que
possibilitam a invenção, a descoberta, a desterritorialização.
Nesse sentido, outra questão importante é que essa relação pensamento/afecto
não se dá de forma abstrata, pois ela é uma relação que ocorre por necessidades práticas.
Ou seja, o pensamento e o afecto são “interessados”. Acontecem conforme interesses
que movem os indivíduos, e não por amor a uma busca transcendental e metafísica de
uma verdade absoluta, ou pela simples apropriação de conteúdos para a formação
humana ou formação política.
Lins, deleuzeanamente, cria o conceito de Mangue’s School para nominar a
escola da pedagogia do acontecimento. A metáfora é significativamente deleuzeana por
tomar o mangue como referência por ele ser rizomático. Assim, há uma contraposição à
árvore do conhecimento, ideia tradicional da filosofia da representação. Para a
pedagogia e a escola rizomáticas, a criança é um devir afirmativo que se basta a si
mesmo; é um acontecimento; e o saber que ela aprende deve ser/ter sabor. Ou seja, o
aprender deve ser prazeroso, sem os castigos da disciplina e da ideia da culpa. Por isso,
a ética que acompanha a pedagogia e a escola rizomáticas é a ética dos afectos. É uma
pedagogia molecular que se rege pelos desejos e pelo encontro com o Outro que, por
sua vez, não se reduz a uma alteridade humana, mas ampliada até o não-humano.
328
Assim, uma pedagogia rizomática que se sustenta em uma ética dos afectos deve ser
uma pedagogia da invenção e do experimento, pois tudo é devir e acontecimento.
Walter Kohan, a partir de uma confessa inspiração deleuzeana, também
questiona o ensino, inclusive o da filosofia, como transmissão de saber, tal qual
defendido e exercido pela tradição representacionista. No caso específico do ensino da
filosofia, a tradição pretende transmitir um saber que estaria ligado a uma verdade
localizada na História da Filosofia.
Contrariamente, Kohan recorre ao conceito deleuzeano de devir-criança, que
implica em um encontro na linha de fuga, em um não cronológico, em uma realidade
molecular, na potência do acontecimento. Ou seja, ensinar filosofia é filosofar; é fazer
os que os filósofos fazem, filosofam.
A criança é outro aspecto do pensamento de Kohan. Mas é um conceito de
Criança que está distante daquele defendido pela filosofia tradicional - homem em
miniatura a se realizar pela educação, é criança como devir e não idade cronológica, é a
potência inventiva que a infância traz. Aliás, a filosofia precisa dessa infância com esse
sentido, bem como o ensino de filosofia e é, por isso, que é possível ensinar filosofia
para criança, segundo Kohan.
A temática aprender/ensinar também é muito presente nas reflexões de Kohan.
E, nesse sentido, Deleuze e Rancière são determinantes. Não há nada a aprender e nada
a ensinar como doação. Ninguém ensina a alguém, ninguém aprende de alguém. Nesse
sentido, não há transmissão de saber, de conhecimento. Portanto, a aprendizagem se dá
com alguém, e o que é aprendido é sempre reinventado.
Nessa mesma perspectiva, é problemático, também para Kohan, a ideia de
conhecimento como emancipação, pois ninguém emancipa ninguém. A própria pessoa
se emancipa. E, assim, a ideia de uma educação emancipadora, que advém do
conhecimento repassado pelo professor, aprendido pelo aluno e responsável pela
elevação de sua racionalidade é totalmente arbitrária. A educação não emancipa, pois a
emancipação é um ato individual. A educação que visa à emancipação do outro, na
verdade, embrutece o outro. Assim, então, o que a educação pode fazer é possibilitar
que o outro se emancipe.
Fica descartado aí, então, duas das grandes bandeiras do projeto emancipatório
iluminista: a educação como emancipação e o professor como responsável pela
transmissão do saber que emanciparia. E, nesse âmbito, a crença na grande política
329
também vai de roldão. Da mesma forma que as grandes narrativas foram desacreditadas
pela pós-modernidade, as macro políticas que as acompanham também foram postas em
xeque. A importância é dada agora às micro políticas.
É também nessa perspectiva, que Sílvio Gallo valoriza o que ele chama de
“educação menor” como aposta nas minorias e na possibilidade de emergência das
diferenças, desfocando a importância exacerbada dada às grandes políticas.
Em um campo educacional fortemente marcado pelo pensamento tradicional da
representação, toda teoria e práticas educacionais também estão na esfera da
representação, da mesma forma que nos incita a ter uma visão representacional do
mundo. O pensamento de Deleuze, então, se mostra como uma alternativa a esse
pensamento dogmático, pois possibilita pensar a partir do múltiplo e não mais da
identidade.
Nessa perspectiva, o pensamento deve ser invenção e não recognição. E é a
partir da diferença, da multiplicidade que se deve pensar a educação. Inclusive a própria
Filosofia da Educação e o Ensino de Filosofia devem ter novos olhos para o universo
educacional. Ou seja, devem conduzir seus agenciamentos a partir da diferença.
Em primeiro lugar, isso significa que a Filosofia da Educação não pode ser a
disciplina empobrecedora e pobre que tem sido até agora, quando se propõe a ser
simplesmente reflexão sobre a educação e fundamento da educação. Uma filosofia da
educação, baseada na Filosofia da Diferença, há de ser criação de conceitos. Ou seja,
não pode ser somente um agente passivo diante da realidade e ficar em um exercício de
reconhecimento e recognição dessa realidade, muitas vezes conduzindo interesses de
poderes conservadores e reacionários.
Em segundo lugar, há que se fortalecer a educação menor mediante a educação
maior. Há que se proceder a uma desterritorialização dos componentes da educação
maior para a educação menor. A oficialidade, o planejamento, as políticas públicas,
máquina de controle e de subjetivação etc., que caracterizam a educação maior, devem
ser combatido pela educação menor, em um movimento de uma máquina de guerra, de
resistência, de produção de singularidades, de possibilidade do surgimento do inusitado
na aprendizagem.
A educação menor desenvolve táticas em relação à educação maior para impedir
que essa, sempre bem-pensada e sempre bem-planejada, se fortaleça e se instale: “Trata-
330
se de opor resistência, trata-se de produzir diferenças. Desterritorializar. Sempre”
(Gallo, 2003, p. 81).
Essa educação menor deve, por sua vez, se ramificar e buscar o coletivo, mas
não no sentido tradicional da macro política, pois, do contrário, haveria uma
reterrritorialização. Trata-se de ser uma coletivização rizomática, sem preocupação com
a totalidade e o universal. Interferir rizomaticamente, ou seja, no meio, no entre, nas
conexões. É aí que entra a figura do professor-militante, que atua nas brechas, nos
intervalos das pequenas coisas cotidianas, pois, conforme Gallo, não há mais espaço
para a figura do professor-profeta, aquele que traz grandes salvações para grandes
problemas e para grandes multidões .
Gallo trata, em terceiro lugar, da relação entre rizoma e educação, que significa,
em última instância, da recusa do modelo arborescente em favor da forma rizomática do
conhecimento. Para o autor, a maneira rizomática mais legítima seria a da
transversalidade, a qual possibilitaria uma cruzamento rizomático, plural, multifacetado,
múltiplo, entre os conhecimentos e se evitaria assim a disciplinarização do
conhecimento e a ilusão da busca de uma unidade última do saber.
Para Gallo, em quarto lugar, há que se compreender a educação na perspectiva
da sociedade do controle, para além da sociedade disciplinar. Dessa forma,
compreenderíamos melhor as possibilidades e os limites da educação nessa nova
sociedade que exerce de forma renovada seus poderes. Somente assim será possível
também a educação atualizar suas resistências a esses poderes.
Um último elemento fundamental no pensamento de Gallo é a defesa
intransigente que faz da filosofia diante do ataque de instrumentalização que tem sofrido
de forma recorrente, seja pelas políticas públicas de ensino, seja pelos professores em
sala de aula. Essa instrumentalização da filosofia se encontra respaldada na Filosofia da
Representação. Assim, portanto, diversamente do que se pretende da filosofia, visão
crítica do mundo, visão interdisciplinar ou conhecimentos fundamentais ao exercício da
cidadania, Gallo defende que a filosofia deve ser um fim em si mesmo, da mesma
forma que o foi na perspectiva aristotélica e em grande parte de sua história. É
necessário tirar dos ombros da filosofia o peso que lhe foi posto pela filosofia da
representação, como salvadora do mundo, conhecedora de todas as coisas e saber
superior, pois outros conhecimentos também são importantes e, inclusive,
complementares à filosofia.
331
Talvez um dos maiores méritos da inspiração deleuzeana na Filosofia no Brasil,
incluindo a Filosofia da Educação, foi precisamente essa liberdade de filosofar, que é
própria à Filosofia e, portanto, a possibilidade de um distanciamento ou revisão dos
moldes canônicos do método estruturalista trazido, com pelos franceses, com a
fundação da USP. Não que se tenha de abrir mão dos textos clássicos, não que se tenha
de deixar de aprender a fazer uma leitura exegética desses textos clássicos, não que se
abandone o exame dessas fontes e inspirações clássicas, não que... Nem Deleuze o fez e
nem o propôs. Contudo, a realidade impõe uma necessidade de revermos nossos passos
filosóficos.
Como Deleuze e Guattari alertam, são necessários cuidados para não nos
contentarmos em simplesmente agitarmos velhos conceitos estereotipados que se
assemelham a esqueletos que intimidam a criação de novos conceitos. Afinal, se
fazemos filosofia (ou pretendemos) temos que fazer o que os filósofos faziam, ou seja,
filosofia como criação de conceitos, pois “eles criavam seus conceitos e não se
contentavam em limpar, em raspar os ossos, como o crítico ou o historiador de nossa
época” (Deleuze e Guattari, 1992, p. 109). Contrariamente, temos raspado os ossos dos
velhos conceitos, deste a vinda dos jesuítas que trouxeram na bagagem Aristóteles e
Tomás de Aquino para cobrirem a nudez dos índios e acobertarem a desfaçatez da sede
de poder do colonizador.
Outro aspecto importante dessa inspiração deleuzeana na Filosofia da Educação
é a ideia que Deleuze retoma de Kierkegaard e de Nietzsche das figuras de “pensador
privado: pensador-cometa: portador da repetição” e “professor público: doutor da
lei: portador da mediação, da generalidade dos conceitos, da moralização” (Cf.
Deleuze, 1988, pp. 29-30) e que remete às figuras do professor-profeta e professormilitante. Assim, nossa tradição de professores de filosofia tem seguido os rastros do
professor-privado e do professor-profeta e, mais grave ainda, em nossa função de
formadores de professores de filosofia temos repassado essa tradição, nos reproduzindo
em série. Fica, então, a possibilidade do espelho nos mostrar que podemos procurar os
caminhos do pensador-privado e do professor-militante.
Uma última observação é sobre a importância da filosofia da diferença
deleuzeana considerar a imanência tão importante e revolucionária ao ponto de afirmar
que ela é “a pedra de toque incandescente de toda a filosofia” (Deleuze e Guattari, 1992,
p. 63). Essa importância dada à imanência repercute de forma intrigante em um país
332
marcado filosoficamente pela metafísica e por todos os desdobramentos filosóficos da
representação, inclusive uma certa feição do marxismo ortodoxo.
A importância de um pensamento filosófico da imanência vem destronar as
ilusões de uma realidade una e transcendente e da ideia de uma totalidade que contenha
todas as respostas para todos os problemas, inclusive os da educação. Como diz
Deleuze, a imanência, não sendo abstrata ou teórica, torna-se um perigo, uma ameaça às
concepções transcendentes, exatamente porque “ela engole os sábios e os deuses”
(Deleuze e Guattari, 1992, p. 63) (Grifo nosso). Acrescentaríamos: ela engole os sábios,
os deuses, os homens e as ilusões das imagens que pensam ser.
Nesse sentido, retornamos ao livro O mágico de Oz, com o qual iniciamos esta
conclusão. A filosofia da diferença deleuzeana na Filosofia da Educação pode muito
bem ser comparada ao Totó, o cachorrinho de Dorothy, que foi responsável pela
derrubada do biombo que denunciou a farsa de Oz como Grande Mágico, pois, na
verdade, ele era somente um homenzinho careca e fingidor. Talvez pudéssemos pensar a
metafísica e seus disfarces de filosofia da representação como o “grande mágico de Oz”,
que foram desmascarados pela filosofia da diferença, que nos fez descobrir que nossos
espantalhos têm cérebro e pensam, nossos homens de lata têm coração e se emocionam
e que nossos leões covardes são muito corajosos. E que, no final da história, somos nós
mesmos, imanentemente, que fazemos nossas próprias mágicas, nos damos cérebro,
coração e coragem, em um processo de educação imanente ou em uma imanência
educativa.
333
REFERÊNCIAS
ALLIEZ, Eric. Deleuze no Brasil. In: Cadernos de subjetividade. Núcleo de Estudos e
Pesquisa da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em psicologia
Clínica da PUC-SP. Num. Esp. Jun. 1996.
ARANTES, Paulo. In: Conversas com filósofos brasileiros. Marcos nobre e José
Marcio Rego. São Paulo: Ed. 34, 2000.
ARANTES, Paulo. O departamento francês de ultramar. São Paulo, Paz e Terra, 1994.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e
Brasil. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 2006.
AZEVEDO, Fernando de. A transmissão da cultura. In: A cultura brasileira: Introdução
ao estudo da cultura no Brasil, tomo terceiro. 3ª ed. Edições Melhoramentos São Paulo,
1958.
AZEVEDO, Fernando de. Et al. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. In:
História da educação brasileira. Ghiraldelli Júnior, Paulo. São Paulo: Cortez, 2006.
CRAIA, Eladio C. P. Deleuze e a ontologia: o ser e a diferença. IN: ORLANDI, Luiz B.
L. (Org.). A diferença. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005.
CORAZZA, Sandra Mara; SILVA, Tomaz Tadeu. (Orgs). Dossiê Gilles Deleuze. In:
Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 27, n. 2, julho-dezembro 2002.
CORRER, Adilson Roberto. A Filosofia na Ratio Studiorum. Dissertação de Mestrado.
Universidade Metodista de Piracicaba; Faculdade de Ciências Humanas; Programa de
Pós-Graduação em Educação. Piracicaba, São Paulo, 2006. Disponível em:
www.unimep.br/phpg/bibdig/aluno – Acessado em 28/07/2011.
COSTA DE PAULA, Maria de Fátima. USP E UFRJ: a influência das concepções
alemã e francesa em suas fundações. Tempo Social. Vol. 14. n. 2. São Paulo. Oct. 2002.
Disponível em: http://www. Scielo.br/scielo.php
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Tradução Luiz Orlandi, Roberto Machado.
Rio de Janeiro: Graal, 1988.
DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Porto – Portugal: Editora Rés, s/d.
DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Tradução de Bento Prado
Jr. E Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. (Coleção TRANS).
DUMAS, Ana. Filosofia ou história da filosofia? O “estruturalismo” e o ensino de
filosofia no Brasil. Universidade Federal da Bahia: Salvador, Bahia, 2006.
FADIGAS, Nuno. Inverter a Educação: de Gilles Deleuze à Filosofia da Educação.
Porto – Portugal: Porto Editora, 2003.
334
FADIGAS, Nuno. “O papel da filosofia da educação: desmanchar consensos”,
entrevista ao JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias, caderno JL Educação, Ano XXII, nº
873, de 17 a 30 de Março de 2004, p. 4. Lisboa, Portugal.
FADIGAS, Nuno. Entrevista concedida a Cristiane Maria Marinho. Porto, Portugal,
2011.
FONTE, Sandra Soares Della. Filosofia da educação e “agenda pós-moderna”, 2003.
Disponível
em:
www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/sandrasoaresdellafonte.rtf.
Acessado em: 15/09/2011
FONTES, José Silvério Leite. Razão e fé em Jackson de Figueiredo. Aracaju, SE:
EDUFS, 1998.
FORNAZARI, Sandro Kobol. O esplendor do ser: a composição da filosofia da
diferença em Gilles Deleuze (1952-68). Tese de Doutorado. Orientadora: Profa. Dra.
Marilena Chauí. Universidade de São Paulo; Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas; Departamento de Filosofia; Programa de Pós-Graduação em Filsofia, 2005.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2011.
FREITAG, Barbara. A Teoria Crítica ontem e hoje. São Paulo: Editora Brasiliense,
1986.
GADELHA, Sylvio. Entrevista concedida a Cristiane Maria Marinho. Fortaleza, CE,
2011.
GALLO, Silvio Donizetti de Oliveira. Educação anarquista: por uma pedagogia do
risco. (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Educação. Campinas – SP, 1990.
GALLO, Silvio. Pedagogia libertária: anarquistas, anarquismos e educação. São
Paulo: Imaginário: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2007.
GALLO, Silvio. Deleuze & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
GALLO, Sílvio. Em torno de uma educação voltada à singularidade: entre Nietzsche e
Deleuze. In: Nietzsche e Deleuze; imagem, literatura, educação: Simpósio
Internacional de Filosofia, 2005. LINS, Daniel (Org.). Rio de Janeiro: Forense
Universitária; Fortaleza, CE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, 2007.
GALLO, Sílvio. Ensino de filosofia: avaliação e materiais didáticos. In: Filosofia:
ensino médio/ Coordenação, Gabriele Cornelli, Marcelo Carvalho e Márcio Danelon.
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria e Educação Básica, 2010. 212 p.: il.
(Coleção Explorando o Ensino; v. 14). Disponível em portal.mec.gov.br Acessado em
agosto de 2011.
335
GALLO, Sílvio. Filosofia e Educação no Brasil do século XX: da crítica ao conceito.
In: Eccos - Revista Científica, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 261-284, jul./dez. 2007.
Disponível em: www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/article/view/1083/823 Acessado
em maio de 2011.
GALLO, Sílvio. Entrevista concedida a Cristiane Maria Marinho. Natal, RN, 2011.
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez,
2006
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira: da
colônia ao governo Lula. 2ª ed. Barueri, SP: Manole, 2009.
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Filosofia da Educação. 2 ª ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2002. (O que você precisa saber sobre).
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Neopragmatismo, Escola de Frankfurt e Marxismo.
Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. (Org.). Estilos em educação. Rio de Janeiro: DP&A,
2000.
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. (Org.). Didática e teorias educacionais. Rio de
Janeiro: DP&A, 2000 a. (Coleção o que você precisa saber sobre).
GHIRALDELLI, Paulo. Entrevista concedida a Cristiane Maria Marinho. Seropédica,
RJ, 2011.
LAGO, Clenio. Locke e a educação. Chapecó, SC: Argos Editora Universitária, 2002.
(Didática).
LINS, Daniel. Mangue’s school ou por uma pedagogia rizomática. In: Revista
Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 93, p. 1229-1256, Set./Dez. 2005.
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
LINS, Daniel. Entrevista concedida a Cristiane Maria Marinho. Fortaleza, CE, 2011.
KOHAN, Walter O. O ensino de filosofia e a questão da emancipação. In: Filosofia:
ensino médio/ Coordenação, Gabriele Cornelli, Marcelo Carvalho e Márcio Danelon.
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria e Educação Básica, 2010. 212 p.: il.
(Coleção Explorando o Ensino; v. 14). Disponível em portal.mec.gov.br Acessado em
agosto de 2011.
KOHAN, Walter O. Três Lições de Filosofia da Educação. In: Educação e Sociedade,
Campinas, SP, v. 24, n.82, p. 221-228, abril 2003. Disponível em
http://www.cedes.unicamp.br. Acessado em julho de 2011.
336
KOHAN, Walter O. Entre Deleuze e a educação: notas para uma política do
pensamento. In: Educação e Realidade, Porto Alegre, RS, v. 27, n. 2, p. 123-130,
jul./dez.
2002.
Disponível
em:
www.4shared.com/office/.../Kohan_Walter_Omar_Entre_Deleuz.htm... Acessado em
julho de 2011.
KOHAN, Walter O. Infância, estrangeiridade e ignorância: ensaios de Filosofia e
Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
KOHAN, Walter. Entrevista concedida a Cristiane Maria Marinho. Natal, RN, 2011.
MARINHO, Cristiane Maria. A importância da Missão Francesa para a Filosofia
brasileira na fundação da USP. In: Ressonâncias: a civilização francesa revisitada. Ana
Cláudia Giraud [et al] (Orgs.). Fortaleza, CE: EdUECE, 2009a.
MARINHO, Cristiane M.; ROCHA, Vanda T. S. A filosofia da educação em Rorty
através dos textos de Ghiraldelli. In: Redescrições Revista on-line do GT Pragmatismo
e Filosofia Norte-Americana da ANPOF. Ano 1, n. 3. Suplemento: Memória do 1º.
Colóquio Internacional Richard Rorty – 2009. Disponível em: www.redescrições.com
MARINHO, C. M.; FURTADO, E.; MOURA, E. M.; COELHO, M. H. M.; Filosofia da
educação: pressupostos e perspectivas. In: Filosofia da educação. Licenciatura em
Pedagogia. Fortaleza: RDS, 2009b.
MARINHO, Cristiane M. Pensamento pós-moderno e educação na crise estrutural do
capital. Fortaleza, CE: EdUECE, 2009c.
NOBRE, Marcos. Conversas com filósofos brasileiros. Marcos nobre e José Marcio
Rego. São Paulo: Ed. 34, 2000.
NOVAIS, Fernando. Braudel e a “missão francesa”. Estudos avançados. [on line].
1994. vol. 8. n. 22. pp. 161-166. Disponível em: http://www.
Scielo.BR/pdf/ea/v8n22/14.pdf.
ORLANDI, Luiz B. L. (Org.). A diferença. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005.
PAIM, Antônio. O estudo do pensamento filosófico brasileiro. 2ª ed. São Paulo;
Convívio, 1986.
PAIM, Antônio. História das ideias filosóficas no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Convívio;
Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-Memória, 1984.
PAIM, Antonio. O empirismo mitigado como via de superação do aristotelismo.
Disponível
em
http://coloquiolusobrasileiro.blogspot.com/2008/06/o-empirismomitigado-como-via-de.html. Acessado em 27/07/2011
PAIM, Antonio. Escola eclética – Estudos complementares à História das ideias
Filosóficas no Brasil. Vol. IV. 2ª ed. revisada. Londrina: Edições CEFIL, 1999.
337
PAGNI, Pedro Ângelo; CAVALCANTI, Aline. Filosofia da Educação no Brasil (19602000): problemas, fontes e conceitos nas práticas do filosofar na educação, 2007.
Disponível em www.gepef.pro.br/EGEPEF/.../pedro/aline.pdf. Acessado em 21/10/2011.
PARAÍSO, Marlucy Alves. Pesquisas pós-críticas em educação no Brasil: esboço de
um mapa. In: Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 122, p. 283-303, maio/ago., 2004.
Disponível em www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742004000200002...sci.... Acessado
em 25/10/2011.
PASSETTI, Edson; AUGUSTO, Acácio. Anarquismos & Educação. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2008. (Coleção Temas e Educação).
PAIVA, Vanilda. Paulo Freire e o nacionalismo desenvolvimentista. Rio de Janeiro:
Civilização, 1980.
PEIXOTO, Fernanda Arêas. Diálogos brasileiros: uma análise da obra de Roger
Bastide. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000.
PELBART, Peter Pál; ROLNYK, Suely. (Orgs). Cadernos de Subjetividade. Número
Especial Deleuze. Núcleo de Estudos e Pesquisa da Subjetividade. Programa de Estudos
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP. S.P., 1996.
PETERS, Michael. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Tradução de Tomaz
Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. (Coleção Estudos Culturais, 6).
PORCHART, Osvald. In: Conversas com filósofos brasileiros. Marcos nobre e José
Marcio Rego. São Paulo: Ed. 34, 2000.
RATIO STUDIORUM. Versão do Padre
www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/r.html
Leonel
franca.
Disponível
em:
RATIO STUDIORUM. Versão espanhola Ratio Studiorum Oficial 1599. Disponível
em: www.puj.edu.co/.../Documentos_Corporativos_Compania_Jesus.pdf.
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: do Humanismo à Kant.
Vol. 2. São Paulo: Paulus, 1990. (Coleção filosofia).
RIBEIRO, Renato Janine. Filósofos franceses no Brasil: um depoimento, 2007.
Disponível
em:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/artigos/Artigo_12_01_06.pdf
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas, SP: Editora Autores
Associados, 1995.
SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP:
Autores Associados, 2007. – (Coleção memória da educação).
338
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara,
onze teses sobre a educação política. 41. ed. revista. Campinas, SP: Autores Associados,
2009. (coleção polêmicas do nosso tempo, 5).
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. rev.
Campinas, SP: Autores Associados, 2011. – (Coleção educação contemporânea).
SEVERINO, Antônio Joaquim. A filosofia contemporânea no Brasil: conhecimento,
política e educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
SEVERINO, Antônio Joaquim. A filosofia da educação no Brasil: círculos
hermenêuticos,
2007.
Disponível
em:
files.professoragiselemasson.webnode.com.br/.../Severino%2. Acessado em 18/10/2011.
SEVERINO, Antônio Joaquim. A filosofia da educação no Brasil: esboço de uma
trajetória. In: O que é Filosofia da Educação. Paulo Ghiraldelli Júnior (Org.). 3ª ed. Rio
de Janeiro: DP&A, 2002.
SCHÉRER, René. Aprender com Deleuze. IN: Dossiê ‘Entre Deleuze e a educação’. In:
Educação e Sociedade v. 26 n. 93. Set./Dez. CEDES; Campinas, 2005.
SCHÖPKE, Regina. Por uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o pensador
nômade. Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: Edusp, 2004.
SCHÖPKE, Regina. O eterno retorno de Nietzsche: repetição ou seleção? IN:
ORLANDI, Luiz B. L. (Org.). A diferença. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005.
SILVA, Tomaz Tadeu. Mapeando a [complexa] produção teórica educacional –
Entrevista com Tomaz Tadeu da Silva. In: Currículo sem fronteiras, v.2, n.1, pp.5-14,
Jan/Jun., 2002. Disponível em www.curriculosemfronteiras.org/vol2iss1articles/tomaz.pdf.
Acessado em 20/10/2011.
SILVA, Tomaz Tadeu. Dr. Nietzsche, curriculista - com uma pequena ajuda do
professor Deleuze. In: Antonio Flávio Barbosa Moreira; Elizabeth Fernandes de
Macedo. (Org.). Currículo, práticas pedagógicas e identidades. Porto: Porto Editora,
2002a.
Disponível
em:
http://www.4shared.com/office/h5oVK2tN/Silva_Tomaz_Tadeu_Dr_Nietzsche.html
Acessado em 08 e janeiro de 2012
SILVA, Tomaz Tadeu; KOHAN, Walter O. (Orgs). Dossiê ‘Entre Deleuze e a
educação’. In: Educação e Sociedade v. 26 n. 93. Set./Dez. CEDES; Campinas, 2005.
TEIXEIRA, Anísio Spínola. Pequena introdução à filosofia da educação: a escola
progressiva ou a transformação da escola. Organização da coleção Clarice Nunes;
apresentação Carlos Otávio F. Moreira. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007.
TOMAZETTI, Elisete M. Filosofia da educação: um estudo sobre a história da
disciplina no Brasil. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. Coleção fronteiras da educação.
339
VATTIMO, Ganni. As aventuras da diferença. Lisboa: Edições Setenta, 1988.
VERNEY, Luís António. Verdadeiro método de estudar. Volume V. Lisboa: Editora
Livraria Sá da Costa, 1952. Coleção de Clássicos Sá da Costa.
ZITKOSKI, Jaime José. Paulo Freire & a Educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2010.
340
ANEXOS
341
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE DANIEL LINS
Eu falaria da filosofia da educação não da maneira clássica, porque outros já
devem ter falado para você, não vou fazer uma história, nem é o objetivo. Eu pensaria
mais a Filosofia da Educação no Brasil - que eu acho que ela começa a existir na
contemporaneidade, é uma coisa nova, é muito novo falar da Filosofia da Educação no
Brasil - e eu acho que nós devemos a muitos indivíduos, não são absolutamente
instituições, as instituições brasileiras não trabalharam e nem trabalham sobre a filosofia
da educação, isso ainda é algo muito marginal, mas no sentido de “à margem” e não no
sentido pejorativo.
Então, não são instituições... o primeiro ponto que eu queria realmente dar
ênfase é que não se
trata de instituições trabalhando a questão da Filosofia da
Educação, nós não temos isso ainda no Brasil. Se trata de pessoas, são pessoas que, de
repente, começam a ler os filósofos e desses filósofos que falam sobre a educação...é
muito difícil fazer Filosofia da Educação a partir de uma leitura clássica da filosofia, eu
diria, inclusive, do próprio Schopenhauer, para poder chegar à educação. Pra mim é um
contemporâneo, Schopenhauer, século XXII, Nietzsche é do XXIV e Deleuze deve ser
do XXIII.
Mas havia um desejo e havia uma espécie de vazio, porque, por mais que a gente
queira pegar os textos sobre educação da história da filosofia, são textos muito... uma
espécie de pensamento imperial. Dentro da própria filosofia há ainda os traços do
preconceito que houve até o século XIX e um pouco depois do século XIX, quase
século XX ainda, em relação à criança. A criança é uma instituição muito nova,
novíssima, foi praticamente humilhada como entidade, não era sujeito nem era
categoria, era um ente, um ente do ser. Foi muito humilhada em toda a história da
filosofia, em toda história do pensamento até praticamente o final do século XIX,
comecinho do século XX.
Quando é que a criança deixa de ser humilhada e a educação passa a ter um
lugar na filosofia de fato? É com o Freud. Incrível a importância que teve o Freud nessa
história e que é tão pouco realçada, muito pouco. Mas Freud é a chave. Isso não quer
dizer que nós vamos aceitar todo o Freud, não! Quem vai dizer que a criança existe,
342
solenemente com o poder científico e o poder de infâmia e o poder de inteligência e o
poder de tudo que ele transformou, realmente, o mundo que a gente conheceu, pelo
menos, com o nascimento da psicanálise, para o bem e para o mal... eu estou pegando só
o lado positivo, que é o que me interessa.
Com o Freud, essa criança passa a ter uma visibilidade e mais do que isso, um
estatuto. Antes do Freud, evidentemente, já havia Rousseau, a gente sabe, toda a luta
quando Rousseau escreveu “Emílio”, não só o livro foi queimado em praça pública
como ele teve que se exilar porque era uma vergonha, essa é a palavra. Era uma
vergonha que um filósofo, um homem do nível do Rousseau possa perder seu tempo
com tantas asneiras.
Então, isso não dá... se você não fizer essa cartografia, muito mais que uma
mapeação, é muito difícil a gente chegar a uma compreensão dessa ausência trágica da
filosofia do ensino no Brasil, é uma ausência seríssima. E por que? Porque nós
guardamos toda essa distância em relação ao mais importante. O que é o mais
importante? A criança, porque é pivô, a criança é o rizoma. Se você transforma o
rizoma, que é movimento, em algo paralisado, aí você chega à história da filosofia atual,
à história da educação atual e à dificuldade que tem a educação de interagir com a
filosofia.
Então não dá pra não ter esse olhar histórico, é muito importante. A criança era
algo completamene negado, a própria Igreja, os próprios Jesuítas, que foram muito
importantes para essa libertação das crianças, os Jansenistas também, eles diziam que –
não vou nem falar de Platão porque é uma catástrofe, aí se a gente entrar na... é uma
catástrofe, eu salto isso, é quase um lugar comum – a própria Igreja dizia que a criança
era má, certamente tinha parte com o diabo (era a maneira de falar da época, de
escrever), mas que ela tinha uma alma e, tendo alma, ela podia ser salva. Isso vai se
repetir quando eles chegam no Brasil, os colonizadores, que vão encontrar nossos
índios, e vão repetir a mesma coisa. Carta de Pero Vaz de Caminha, um pouquinho
depois da descoberta do Brasil, inclusive na escola a gente fala “descoberta”, o que
mostra que educação, como é que aí a filosofia não entrou, porque se entrasse nós não
podíamos dizer, absolutamente... só é possível fazer a educação que a gente faz no
Brasil com a pedagogia, que é uma palavra de ordem, a gente vai chegar lá. Quando eu
digo que o Brasil foi descoberto e que eu ensino isso para as crianças, eu fechei a porta
343
a qualquer idéia de pensamento. Neste momento, eu imponho a opinião e a marca
registrada do país é a opinião na pedagogia e no ensino, contra o pensamento, a partir
daí você enterra a filosofia.
Então, voltamos ao começo quando não instituições, entendeu agora porque não
são as instituições? Personagens, personagens que são quase conceitos e que começam a
ler não mais Rousseau, Schopenhauer, porque já leram, e aí descobrem Deleuze. Mas
Deleuze não escreveu livro sobre educação, nunca escreveu um livro sobre educação. E
como é que se chega a Deleuze? Não tem jeito, tem que ler o Deleuze todinho, essa é
que é a história. Porque, se você ler Deleuze, você é capaz de escrever só tirando as
frases... eu fiz uma conta, daria um livro, mais ou menos, de 96 páginas se você retirasse
só o que Deleuze fala sobre educação. Como? De uma maneira outra. Por que? Porque
Deleuze não trabalha absolutamente com a dominação dos signos nem dos símbolos que
uma certa pedagogia – que no Brasil, em geral, é essa a pedagogia – impõe palavras de
ordem, não mais, absolutamente, pensar o que está escrito, mas executar. Nossos
programas vêm todos de Brasília, inclusive você está em Quixadá, quando você está em
Unijuí, onde você estiver, nossos programas vêm de Brasília, já está tudo feito, tudo
dominado.
E agora eu fiquei dois anos trabalhando para o Estado, são 74 municípios, como
formador de diretores, o que eles chamam agora de “executivos”, deviam chamar
mesmo de executivos, é o papel ao qual eles foram relegados, é isso mesmo... está
vendo? Palavra de ordem, nova nomenclatura, são os diretores. Então, quando a
educação funciona no processo de significação, significados... ponto 1: você perde
completamente a noção de sentido, o que é gravíssimo. Significado, significante,
significação, tudo isso é a tropa de elite da pedagogia, que essa é difícil, é a tropa de
elite completamente armada. Ela vem, portanto, totalmente ligada e fazendo desse trio
uma alma, a partir de que? Da representação. Ora, a representação é interessante se você
pensá-la, se você aplicar a representação você vai entrar em uma discriminação total e
jamais vai chegar a um processo de educação, porque a representação diz: “eu sou um
homem”, olha o filme!, “eu sou uma mulher”, olha o filme!, aí começa a dar
significados-significantes.
Quando eu dou um significado, eu posso chegar a uma situação – isso no quadro
de uma escola, no quadro de uma educação nacional nossa – eu posso chegar a uma
344
catástrofe, porque você diz “homem”, todo mundo já tem um filme e você acata isso em
uma escola como se já fosse... como se tivesse dado de uma vez por todas, “mulher” e
está dado de uma vez por todas, “negro”, está dado de uma vez por todas, “pobre”, está
dado de uma vez por todas, “favelado”, está dado de uma vez por todas.
Então, significado, significante, significação, eu dou o pacote e, a partir daí, não
há mais pensamento. Se não há pensamento, como vai ter filosofia? A filosofia é a arte
de criar conceitos, aquela ideia de Gilles Deleuze. E eu que não gosto muito do verbo
“criar”, eu digo “inventar”, criar pressupõe um criador, eu prefiro falar de inventar
como se falava no Renascimento. Então, chega a necessidade de pensar a educação no
Brasil, porque a gente só pensa por necessidade, pensar é como sair correndo porque
tem que ao banheiro... Só se pensa na necessidade. É muito físico, é muito fisiológico
também o pensamento, você não agarra o pensamento, é necessidade.
Se um país não tem necessidade de pensar é muito difícil ter uma pedagogia que
pense... A pedagogia é a pedagogia dos resultados, copiando países que já passaram por
todas as fases que nós não passamos e que nós estamos apenas chegando, a gente corta
todas as fases e dá uma coisa esquizofrênica, meio doida. Em um país de quase escolas,
quase professor, quase salário, quase tudo, em um país onde a educação, realmente, não
tem importância, é só uma espécie de discurso teórico, cheio de metáfora, e, geralmente,
levando os professores pra uma situação indigna, que é a situação do pobrezinho,
daquele que tem vocação ou, como diz o Governador daqui, aqueles que trabalham por
amor.
Então, em um espaço desse de tanta aridez e de tanta ausência de um programa
realmente pensado, sentido, um sentimento não mais como a significação, mas sim
como a pele, sensu, é isso em latim. Com tem a representação, a significação, o
significado, nós perdemos o sentido, perdemos o sentido do sentido, sentido tem a ver
com a pele, é o erógeno também, mas o sentido agora virou significação e a significação
é uma palavra de ordem, é isso. Dou um exemplo: Viril. O que que a gente fez com o
viril? Viril quer dizer força, o que que a gente fez? Discurso, inclusive, da educação,
porque tudo passa por aí, por isso que o tempo todo a gente tem que voltar, passa pela
educação, é lá que a gente aprende essa significações, significados, esses significantes e
a representação dominante. Palavra de ordem, dos valores ou não, dos signos e dos
símbolos.
345
Eu digo “viril”, “viril” que dizer força e como é que a gente vai traduzir isso?
Pelo menos no Brasil, nós vamos traduzir isso como virilidade, como sendo homem, e
homem no sentido de gênero. E aí o viril passa a ser uma força, quase um ideal
masculino. Como é força, o gênero aí não dá conta, mas o que aprendemos e
continuamos aprendendo na escola? Que viril quer dizer coisa de homem. E você ver
muitas vezes as professoras... por que não? Claro, e não é crítica nenhuma, é assim,
porque o que domina é a representação, é a significação, é o significado, é o
significando, tudo já dominado, chapado. “Menino, você tem que ficar um pouco mais
viril, que história é essa? Para aí de ficar dançando como uma menininha”. Aí vem o
outro, imediatamente você colocou a mulher em uma situação... uns exercícios de
linguagem que a gente ver o tempo todo, mas que a grande vítima, já organizada pela
representação, é a mulher, isso é histórico.
Quando você chega na escola, se escola não te abre a possibilidade de revisitar
toda essa gramática tão decantada, você nunca mais entrar no alfabeto. Uma coisa é a
gramática, palavras de ordem, toda língua, todo país precisa dessa gramática, ma não
precisa absolutamente aceitar essa gramática com toda a representação que a própria
gramática tem, não precisa, porque se não o alfabeto não existe. Qual a diferença entre o
alfabeto e a gramática? A gramática é uma palavra de ordem, é a escritura, são as tábuas
da lei. O alfabeto é aquele que vai lhe dar a possibilidade de invenção, escapa um pouco
à gramática, porque é um lugar onde há todas as possibilidades de erro. A gramática
não, não pode errar, a gramática é aquilo, pode ter depois uma reforma, como o
Vaticano faz uma reforma e mexe nos seus dogmas, mas a gramática é uma palavra de
ordem.
Se você não tiver o alfabeto que vai te dar uma possibilidade, não de sair da
gramática, mas estando dentro e fora, o alfabeto... se você não tiver isso vai ser muito
difícil você conseguir criar, porque o alfabeto é o lugar da respiração, o alfabeto seria
uma gramática sem a lei do pai mínima, porque a gramática é a lei do pai, uma coisa
bem masculina mesmo, inclusive nas concordâncias. Na França é madame, le President,
aqui é o maior problema para chamar “a” Presidenta, está entendendo onde eu quero
chegar?
346
Então, tudo isso pra dizer que se a filosofia, se o pensamento - e a filosofia não
está sozinha nisso, mas a filosofia tem uma força imensa, porque ela é a arte de duvidar,
se a filosofia encontrar a verdade, ela morre, aí vira uma religião.
CRISTIANE: O Lyotard é quem traz, de certa forma, essa discussão com aquela
categoria do diferendo, que foi traduzido para o português como “diferendo”, que
eu acho que em Francês está différend.
Em francês não tem problema, a palavra existe. Não sei se é por aí, pelo que eu
me lembro da discussão dele, mas poderíamos partir daí. Talvez tivéssemos que dizer
uma série de coisas que ele não disse, pois os filósofos são assim, isso é que é o legal...
você pega e homenageia o filósofo e então você continua. O sonho filósofo não é ter
discípulo, não é ter comentador, o sonho dele é ter um intérprete, que seria o papel da
escola. Aí quando esse vazio de pensamento... Mas o tempo todo a representação
ganhando, o tempo todo a opinião ganhando, o tempo todo o pensamento sendo
colocado atualmente como uma coisa pejorativa: “coisa chata, nossa! Aquele pessoal
pensa o tempo todo, gente. Coisa louca, né?”. Tem que ser, realmente... Primeiro,
considerar que o pensamento é difícil, é chato, é complicado, e ter opinião.
No Brasil tudo tem opinião, todo mundo tem opinião, não só no futebol, mas
todo mundo tem uma ideia sobre educação, todo mundo tem uma teoria porque a
educação no Brasil, segundo os dados oficiais, é um fracasso. Não precisa nem ter feito
todos esses municípios que nós fizemos nesses últimos dois anos trabalhando com o
Conselho de Educação daqui do Estado do Ceará, porque também trabalhei em Porto
Alegre, convidado por uma pessoa muito ligada à Deleuze e que de educação ela
conhece, o que ela fez foi isso, trabalhou Deleuze. Ada Kroef, que mora aqui
atualmente, foi uma pessoa que eu convidei para a nossa equipe para dar conselho nesse
projeto que a gente tinha e continua, porque eram só dois anos. Mas a Ada Kroef é um
dos nomes no Brasil que... eu estava dizendo, não são instituições, são indivíduos que
viram conceitos.
Ada Kroef trabalhou, desde a gestão do PT, na Secretaria de Educação de Porto
Alegre. Então, o que que ela fez? Ela pegou exatamente... porque era uma pessoa, e não
uma instituição, tinha sua equipe, os Secretários acharam interessantíssimas as ideias
dela, trabalhando com uma equipe muito boa e começando então a fazer o que? A
chamar pessoas que trabalhavam com Deleuze, com Guattari, com Nietzsche, com
347
Schopenhauer, com Derrida, enfim, com toda essa gente que mudou a história da
educação nesse meado do século XX até agora. Não pode esquecer que, cada vez que a
França faz uma reforma, a última, por exemplo, que foi feita com Mitterrand, os
convidados foram Pierre Bourdieu - é assim que se faz, se convida filósofos e não
técnicos, os técnicos são em um segundo momento – Bourdieu, Michel Serres, Derrida
e tem um outro, Morin, é assim que eles fazem. Este próprio Sarkozy fez uma reforma,
a mesma coisa.
Na Inglaterra, o que que os ingleses fazem? A mesma coisa. Convidam os
filósofos. Porque quem é que vai pensar a educação se os filósofos não pensarem? Não
vão ser as pedagogas, porque as pedagogas têm todo um processo de relação com a
cognição e elas trabalham, portanto, já com o que está dado antecipadamente, o que é
trágico. Porque, mesmo não sendo conhecedor de... não Vygotsky, vamos pensar em
Piaget, Piaget trabalha toda a relação, por exemplo, dos estágios. Mesmo não sendo
especialista, as professoras praticamente todas... eu não digo Vygotsky nem Wallon,
porque isso aí algumas estão trabalhando, mas não é como Piaget que foi quase uma
espécie de moda, tem até uma escola Método Piaget, como é que uma escola pode se
chamar Método Piaget? Não tem método Piaget, isso não existe, é um cientista.
Aí o Piaget tem toda aquela relação das fases. Basta ler Piaget pra você entender
que a escola não pode mais continuar totalmente baseada em palavra de ordem sem
querer pensar o conteúdo curricular, é impossível. Por quê? Porque você vai dar a uma
criança que tem sete anos - que a gente diz a idade da razão, coitadinha - a partir daí ela
só pode pensar o que deve ser pensado, só pode estudar o que deve ser estudado. Quem
decide o que deve ser pensado? E como é que fica todo o manancial, todo o
conhecimento que essa criança traz com ela? Como é que fica? Ela chega como uma
pessoa na mata? Ela está em uma floresta? Não. Ela chega com todo um capital cultural
e lingüístico, muitas vezes, importante, tudo depende do segmento social dos quais elas
vem, no geral.
Então, essa criança chega e é o domínio da representação, portanto, da cognição.
Eu vou trabalhar com uma idéia de conhecimento e de saber. Esta idéia vai me levar a
que? A aplicar. E eu me esqueço que eu estou aplicando para quem? Para crianças,
depois para adolescentes, jovens, adultos. No fundo, eu estou aplicando sempre para
sujeitos e, no caso da criança, eu já vou aplicar sem ter nenhuma preocupação com o
348
acontecimento na pedagogia, eu chamo de acontecimento na pedagogia dizendo que o
acontecimento seria o efeito surpresa que toda criança precisa para se desenvolver e
crescer e para ter também o amor pelo que ele não conhece, pelo desconhecido.
Como ter amor pelo desconhecido se toda programação do Brasil, com as
exceções de praxe... é claro que não dá para generalizar, mas o fato de não generalizar
não quer dizer que eu sou tão idiota de pensar que tem menos de 5% das escolas
brasileiras que conseguem fazer o que a gente fez, o que a Ada Kroef fez lá em Porto
Alegre - daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando de Porto Alegre,
porque tem tudo a ver com a experiência deleuzeana - às vezes, parece quase uma
caricatura, para quem não conhece, porque todas as palavras são as mesmas, todo o
sistema é o mesmo, não é por acaso que deu tão certo, é uma das melhores escolas do
Brasil...eu estou falando da pública, minha experiência com a Ada Kroef foi na pública.
Diante desse impasse de uma pedagogia que não pensa e uma pedagogia como
lugar da exclusão totalmente, quem está trabalhando na escola pública são as
coitadinhas, estão chegando também os coitadinhos agora, geralmente eram as
coitadinhas. Por quê? Porque o país inteiro, com exceção de Brasília e do Rio Grande
do Sul, não diria nem Paraná, primeiro Brasília, onde a professora tem o salário
igualzinho ao da Europa desde o começo, e Rio Grande do Sul, onde a professora tem
um salário muito interessante, inclusive com a coligação de direita que está agora, é
como se fosse a Finlândia. O fato de eu ter uma escola que está fazendo um trabalho, o
trabalho está funcionando, como é que a gente sabe que funciona? Quando começa a
criar competências, quando começa a dar sinais de etapas alcançadas, quando começa a
criar uma idéia de desejo de pensar e não só desejo de imitar.
Nós não estamos na relação da imitação, do decalque, se não você não vai ter
mais escola e vai ser uma formação péssima, você não vai ter mais mercado de trabalho,
isso é real. Então, a filosofia não foge disso. Se tivesse no Brasil...contando deve ter
umas dez experiências, quando você tem uma escola que trabalha com o pensamento e,
portanto, com os afetos, não dá pra retirar o pensamento dos afetos. Por quê? Porque o
pensamento é a abertura para pensar aquilo que está dado como certo. Esse é o lugar do
afeto, é essa abertura para uma diferença que difere, somos todos diferentes, mas não
tem hierarquia de diferença, não tem uma diferença melhor que a outra, se não a gente
vai entrar em um discurso da representação e chegamos, portanto, no mundo da
349
homoafetividade, onde parece que essa diferença se coloca como sendo melhor do que
todas as outras.
Então, quando você chega na interpretação, por exemplo, do racismo, da
violência, contra a homoafetividade, o fato é real, mas as interpretações dessa violência
fogem completamente à ideia do pensamento, porque ainda vem com o clichê, “ é
porque eu sou isso”, acredita que alguém é, que não estar em devir, entendeu o que quer
dizer? Então você encontra inclusive em um caso delicado, é seríssimo o problema da
homoafetividade no Brasil, as mortes, os assassinatos, etc, coisa de doido, é terrível o
que se faz aqui.
Entretanto, este caso é verdadeiro, é real, se mata o homoafetivo no Brasil, se
despreza o homoafetivo no Brasil, há um problema sério de classe social, inclusive,
entre eles. Eles também vivem em um sistema quase de guerra, porque as classes sociais
se encontram e, nesse momento, não tem mais diferença que seja igual, toda diferença,
inclusive, no meio de uma grande diferença, como a questão homoafetiva, em todas as
suas lástimas, as suas grandezas, mesmo aí existe uma luta não de classe, mas de
lugares. Isso, se você não tem o respaldo da escola, pensando o que você está
aprendendo e aprendendo com você, porque, como eu disse, você também não é uma
selva, você chega cheio de conhecimentos, de coisas magníficas... se a gente desse
tempo para os alunos, sobretudo para as crianças, como a gente aprenderia, e algumas
escolas minoritárias dão um tempo ... entre outras escolas, praticamente todo o sistema
público, não sei como é que tá, eu perdi o sistema de dois anos para cá, eu fiquei até
2008 acompanhando, até as últimas eleições, não... penúltimas, né? De 2008
praticamente eu não voltei mais, aí a Ada Kroef veio para cá trabalhar conosco.
Mas o que eles fizeram foi isso, foi trabalhar com a filosofia que saísse do lugar
comum, que não trabalhasse a cognição, portanto, que não desse para o aluno aquela
idéia de que está tudo dominado e que, quando o aluno chega na segunda já vai saber o
que ele vai fazer na sexta. Considerando que esse menino está começando, sobretudo na
relação seis, sete anos, que é quando ele começa realmente a alfabetização, porque, no
Brasil, nem todo mundo começa na mesma idade, aqui tem meninos que estão
começando a alfabetização com cinco anos, as escolas tem esse poder de fazer isso...
mas eu estou colocando a alfabetização nessa idade de seis, sete anos, pensando por aí.
350
Quando chega, está tudo controlado, tudo dominado, é o pensamento da
cognição, portanto é um conhecimento que é dado por antecipação, eu vou dizer para o
menino que ele vai ter isso segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não tem,
absolutamente, o acontecimento, aquilo que eu falei, o efeito surpresa que a criança
precisa ter para se desenvolver sua curiosidade e para descobrir o novo, o que está por
vir, o que não é ainda, tudo é dado.
Então, desestimula, a escola trona-se uma coisa chata, por isso que a maior parte
das escolas no Brasil é chata, se você faz entrevista com as crianças, trabalho que os
sociólogos já fizeram, muito mais que o pessoal da educação, porque isso é muito mais
um trabalho de sociologia, trabalhar com essas enquetes e tudo isso, tem trabalhos
muito bons feitos no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, mas não só. As crianças
acham chatas por quê? Porque a escola não tem o novo, até a comida, às vezes, repete.
É uma repetição, uma cópia tão grande do que não deu certo, que é o Brasil que não deu
certo, aí repete tudo, até a comida.
Tem um professor cearense que fez o doutorado dele sobre alimentação das
crianças daqui. São incríveis os resultados e isso devia ter interessado a todo o corpo de
professores, mas ficou lá, se falou muito pouco. Eu falo sempre que eu posso, porque
nesse trabalho que ele fez entra na relação do pensamento em cima de práticas
completamente histéricas, por exemplo, de alimentação. Aí vamos pensar o cardápio das
crianças... as crianças chegam e não querem. Por quê? É a mesma coisa que a gente tem
em casa, as que comem, eu estou falando: feijão, arroz, pedacinhos de tomate que elas
não comem, deixam de lado como deixam em casa, e ou um pedacinho de frango ou de
carne, etc. A mesma coisa, é a mesma coisa que tem em casa. O que é que essas
crianças querem? Elas querem coisa diferente também, que não tem em casa. Algumas
dão o exemplo do iogurte, que elas adorariam ter como sobremesa o iogurte, por que
uma banana todo dia?
Então, é muito interessante o trabalho dele. Por um lado... que também não tenha
interessado a muitas pessoas, talvez o próprio pesquisador. O que mais me interessou
foi ver que a criança tem também uma palavra, ela tem um lugar, inclusive naquilo que
ela come... “não, minha mãe já faz isso”. Ela está esperando da escola, inclusive na
alimentação, o novo, uma espécie de filosofia do estômago. Ela encontra a repetição.
351
Mas isso é marcado e o fracasso escolar tem muito a ver com isso. Uma escola
que trabalha com tudo já dado antecipadamente, é um programa às vezes feito para três
anos, e às vezes um programa que é feito para um Estado inteiro e podemos chegar a
loucura do Brasil, em algum momento, que era [...] no país inteiro, sabendo que não se
ler no Brasil. Inclusive, a escola é um lugar de não leitura, é um paradoxo, mas não se
ler. Está tudo feitozinho, tudo contado, você só ler aquilo. E muitas vezes... quantas
escolas eu já visitei no Brasil, não só no Ceará, onde aqueles livros maravilhosos estão
escondidos, guardados, velados lá porque se não os meninos vão estragar. Isso não é
mais folclore, isso e real.
CRISTIANE: Livro, material escolar ...
Material escolar, tudo na chave. Mas não é pra estragar mesmo?
CRISTIANE: Guardado pela Diretora.
Pois é, pela Diretora. Então, a filosofia surge aí, não tem jeito, por isso que eu
falei da necessidade. Porque você pode pegar o que a gente tá falando, retira todas essas
coisas e dá uma coisa linear.
CRISTIANE: Fica a vontade.
Porque eu só sei trabalhar assim, é muita coisa que vem ao mesmo tempo.
Então, quando eu te falei que era uma necessidade... acho que agora dá pra
entende, só se pensa por necessidade. Colocar o pensamento na filosofia é colocar os
afetos, colocar os afetos é ficar também na escuta desse capital cultural que são os
alunos, em qualquer que seja a faixa etária. Qualquer que seja a idade, chegam todos
com um capital cultura, inclusive os que vêm de lugares impensáveis, às vezes até mais
humilhantes, socialmente falando, do que as favelas, o rural e tudo isso.
Eu sei o que eu aprendi durante esses dois anos e todo o tempo que eu trabalhei
com educação, são anos... eu comecei a trabalhar com educação na maternal na França,
limpando bundinha de menino, dando banho. Todo mundo na França um dia tem que ir
para o liceu para ser professor... eu fui maternal, primário, liceu, colégio e só então
cheguei na Universidade. Então, é uma experiência muito longa e sei muito bem porque
é que a maternal na França é considerado como o melhor programa de ensino do
ocidente e porque é que os finlandeses copiaram a maternal francesa, porque tem a
estrutura necessária para ser desestruturado pela criança.
352
Você dá uma espécie de estrutura, mas essa estrutura tem linhas de fugas, essas
linhas de fugas que vão correr por todo lado, é a cabeça do menino com a sua invenção,
ele vai pegar o instituto que ele precisa, ele precisa ter uma espécie de eixo, mas esse
eixo não é, absolutamente, o lugar da verdade, esse eixo é o lugar da experimentação. É
só prática, isso. Então, ele precisa de um eixo, ele precisa de uma coisa bem centrada
para poder descentralizar, para poder sentir-se a vontade para poder entrar na invenção,
mas ele precisa voltar.
Por isso que há sempre um processo, não existe territorialização fora da
desterrotorialização e não existe desterrotorialização ... [sem territorialização] é como
Apolo-Dionísio, você não pode dizer Apolo “e”, não... quem nos disse que Apolo não é
ainda uma figura de Dionísio, uma figura conceitual, sobretudo, um personagem
conceitual, e que Dionísio não é uma figura de Apolo? Interessante isso, quando você
pega o jovem Nietzsche, da “A Origem da Tragédia”, que ainda está um pouco da
dualidade, Apolo e Dionísio. Quando você começa a ler você vai vendo que não, que é
impossível dividir essa história, porque aquilo dali é humano, demasiado humano está
tudo junto, entretanto em uma diferença que difere.
São diferenças que não têm hierarquia, mas são diferenças e, portanto,
singularidades. Apolo não é Dionísio, Dionísio não é Apolo, entretanto essas diferenças
que diferem participam de uma espécie de complementação, mas guardando cada uma
diferença a sua singularidade. Por isso que nunca é uma dualidade. O pensamento dual é
o pensamento da pedagogia, bem ou mal, aí quando a filosofia chega, a filosofia do
Deleuze ou do Nietzsche...bem ou mal? Mas isso não existe, existe bem-mal, bem e mal
não.
Quem vai decidir aquilo que é bem? Quem vai decidir o que que é mal? Vai ter
que ter uma fala. Essa fala vem de onde? Da escola, já começa aí. É mais ou menos
como diziam: o Brasil foi descoberto. Você repete, você está passando uma ideologia
terrível, porque quando você diz “o Brasil foi descoberto”, você não só mantém uma
ideologia, a escola torna-se, portanto, aquilo que faz com que...o livro de Pierre
Bourdieu, “A reprodução”, um livro com cinqüenta anos fazendo o sucesso que está
fazendo no mundo todo e foi muito escondido no Brasil por causa dos marxistas da
época, naquele momento da ditadura, quem era de esquerda não lia Bourdieu, sobretudo
353
aquele livro que ele mostra exatamente a escola como um lugar por excelência da
legitimação da dominação. Se alguém tinha alguma dúvida, hoje não dá mais.
Toda a América Latina, todos os países de leste, a Finlândia lê os livros em
finlandês, faz parte da formação das crianças que serão os novos chefes de amanhã. É
uma escola que deu certo, um sistema incrivelmente eficaz e sem nenhuma preocupação
de luxo, isso é que é interessante nas escolas da Finlândia... já estou entrando em outra
conversa, né? É porque é tanta coisa, são tanto anos de educação.
Então, quando você entra em uma estrutura que não pode mais pensar, onde está
tudo controlado, resultado: quem vai fazer essa criança na escola? Qual é a força de
Deleuze? É justamente quando fala...ele diz: “eu gostaria de dar um curso como se eu
estivesse em um concerto de rock”, quando ele faz o elogio de Bob Dylan. E por que
Deleuze trabalha na filosofia dele com coisas tão práticas que se tornam quase um
manual antipedagócico, mas só coisas práticas? E por que não dar um curso como se
fosse um concerto? E o que é esse concerto? Se você pensar que ele está falando de
rock, porque muitos alunos roqueiros eram alunos de Deleuze e tinham paixão pelo rock
de Bob Dylan... o lugar do rock, sobretudo, é muito interessante porque eles estão
tocando, mas você está dançando e não existe rock sem o público, podemos dizer que
não existe piano sem o público. Só que na relação do piano você está com toda emoção,
você está lá, mas não há participação física, há sim, mas ela é invisível, porque todas as
emoções... no caso do rock é uma loucura, porque é uma das raras músicas que é para
você dançar, se movimentar.
E como os roqueiros que Deleuze tanto gostava entram em um processo
contínuo de territorialização e desterritorialização, seria a idéia de uma pedagogia
filosófica baseada, pensada a partir de Deleuze e de outros, da desconstrução e tudo
isso, é um excelente exemplo. O roqueiro é capaz de improvisar dentro de uma estrutura
aparentemente fechada. Quando é que ele improvisa? Quando ele sai dessa estruturação,
vamos dizer, uma escola saindo de uma pedagogia fechada, e ele começa então... ao
mesmo tempo que ele está dentro (de dans), ele está fora (de hors). Fazendo o que?
Vibrando e, muitas vezes, se calando para que o público cante.
Por isso que ele falava. Pode ser dar até dar uma aula como se fosse um concerto
de rock. Então, nessa possibilidade de ter o rock nessa estrutura, mas essa estrutura foge
através das linhas de fugas. São coisas que não têm nada de abstrato, é muito prático e é
354
isso, mais ou menos, quando a gente trabalha com Deleuze e, sobretudo na experiência
de Porto Alegre, mas aqui também, foram dois anos... imagine o que aconteceu nesse
sertão, né? A gente levando tudo isso, a Ada Kroef e eu, porque nós éramos os únicos
em um grupo...o grupo chegou a ter 25. Então era um grupo... vou nem entrar por ai, é
outra história, mas éramos nós dois.
CRISTIANE: Seria importante posteriormente o senhor fazer um registro disso.
É, mas eu acho que a Ada está fazendo tudo isso e a Ada seria a pessoa mais
indicada para falar. No começo eu fui convidado para coordenar e convidei a Ada, foi
assim que ela veio e que fez e está fazendo um trabalho muito legal, apesar do ambiente
e do que é possível, quando o pensamento chega faz muito medo. A gente trouxe coisa
nova a partir de uma experiência que já tinha sido experimentada e, quando ela chega
aqui, nós não vamos mais em Porto Alegre. Aqui a diferença é uma diferença que difere
e nós não podemos mais copiar.
Então, quando você chega no Ceará, não tem mais na a ver com Porto Alegre, e
tem, porque, como a filosofia é nômade e o pensamento é nômade e esse nomandismo
significa que é uma filosofia órfã, ela pode, o tempo todo, se inventar pais e mães que
vão funcionando dentro de uma escola em uma relação de... esse meio aqui tem que
existir.
O que vai ser diferente é uma experiência que nós temos com a história do Rio
Grande do Sul, de Porto Alegre, com as escolas municiais, já... primeiro: a noção de
escola, em Porto Alegre existe escola. Nós não podemos dizer que existe escola pública,
eu digo físico, no Ceará. Eu visitei 89 e dei curso em, mais ou menos, 74. Quando a
gente conta uma escola que fisicamente corresponda à definição de escola tem muros,
tem banheiros, tem refeitório, tem lugar para os meninos comerem, é fantástico quando
você encontra isso. Biblioteca praticamente não tem, não há livros nas escolas, é o
último dos cuidados daqui, a biblioteca. É assustador.
Você chega em Porto Alegre, tem tudo disso. Eu dizia: “Ada, por favor, me
mostre uma escola pública”, aí ela: “Professor, o senhor está em uma escola pública”,
“mas o referencial de escola pública que eu tenho é a escola nossa do nordeste”. Mas é
um impacto que você não pode imaginar. Eu queria uma escola pública não acostumada
com essa não escola, não professor, não salário, essa quase escola, essa quase tudo. Mas
355
é uma coisa tão violenta e, ao mesmo tempo, os que estão com o poder de fazerem algo
pela escola sequer sabem o que é escola. Estão é desrespeitando os professores,
brincando com os professores, humilhando os professores.
É muito difícil você querer chegar aqui como a gente chegou e querer... em
primeiro lugar, pensar que isso é a França, em segundo lugar, pensar que é Rio Grande
do Sul. Não é! É um caso de pobreza extrema, de violência simbólica como eu nunca vi
em todas as minhas experiências de educação, inclusive na Índia, eu fiquei um ano
naquela região de Goli, de língua portuguesa, já fui quase quinze vezes. Então não
estamos mais comparando com a Finlândia, que diz o mesmo argumento nosso para não
encarar o real: “mas isso é um país pequeno”. É, há vinte anos era o país mais
miserável... eram os árabes da Escandinávia, como eles diziam, os suecos tinham
racismo com eles, os dinamarqueses, porque eram os pobres, ninguém gosta de pobre,
sobretudo o nordeste, detesta o pobre, e no Brasil em geral, mas lá também ninguém
gostavam.
Vinte anos depois, o que é que nós temos? O maior centro de formação de
educação do mundo, que está vendendo para o mundo inteiro a sua qualidade, só escola
de altíssimo nível sem se perder na relação do mercado, sem se perder na relação da
criação de emprego. Agora é outra história. Eu estou escrevendo um livro sobre a
Finlândia, eu tenho relações sentimentais com a Finlândia.
Então, você chega aqui e não pode colocar esse fenômeno, não dá pra ficar
imitando essas coisas, absolutamente. Você tem que pegar um Estado como o Estado do
Ceará e trabalhar com o que você vai encontrar. E o que você vai encontrar aqui
geralmente não é escola, é uma caricatura da escola. Você pode chegar na sala do
diretor, sala entre aspas, isso tudo é entre aspas, porque quando a gente diz sala, na
cabeça..está vendo? O significando, o significado, viu a importância de revisitar tudo
isso? Porque ou você pensa no que está afirmando ou você vai chamar de escola.
Primeiro: uma arquitetura de galpão, uma arquitetura de galinheiro, tudo é
galinheiro, um calor terrível, eu cheguei a ver dois banheiros para, mais ou menos, 360
pessoas. Outros colegas meus disseram que eu tive muita sorte porque eles viram dois
banheiros sujos e abandonados para 510. E aí a gente continuaria.
356
Então, quando você chega nessa situação, o que faz a filosofia? O que que ela
vai fazer? Como é que eu vou fazer? Eu estou trabalhando com a desconstrução, eu
estou trabalhando exatamente com o sentido e não com a significação. Eu não estou
trabalhando com a representação. Como é que fica Deleuze nisso tudo? Deleuze é
apenas o intercessor, que trabalha somos nós e quem faz o que a gente quer com o que
Deleuze escreveu somos nós. Ninguém está copiando Deleuze e nem teria que copiar,
até porque é impossível, filosofia não dá para copiar.
A gente trabalha com princípios interessantes, que são os princípios da ética, da
estética e dos afetos, portanto eu estou trabalhando com o pensamento, porque sem
afeto não há pensamento, porque pensar dói, pensar machuca, pensar não dá conforto.
Claro que não, é o novo, o novo é assustador, mas, ao mesmo tempo, o novo é o que as
crianças querem. Engraçado, né? “Ninguém aguenta mais”, dizem elas: “Todo dia a tia
faz a mesma coisa”.
Na prática, o que que você chega...você trabalha a Filosofia da Educação com
Deleuze, que ele nunca escreveu nada, nós é que dizemos isso, porque tá cheio, até a
leitura ele escreve, como é que se lê um livro, é incrível! Nas entrelinhas, em Deleuze
não tem recadinho, é como a entrevista, você vai pegar a entrevista e vai colocando as
coisas para que o leitor minimamente... Deleuze é assim, você vai ter que ler o livro
todinho para encontrar a educação, a obra dele inteira. Porque já foi professor de
colégio. Na França, todo professor tem que passar... a primeira experiência antes da
Universidade, tem que ser professor de colégio e Deleuze, como todo mundo, como
Foucault, como Sartre, como Simone de Beauvoir ...não chegaram a essa loucura minha
que começa com o maternal, que a minha situação não era a mesma, absolutamente.
Primeiro eu tive que fazer formação em uma escola de formação para ser
professor, eu era filósofo e não dá aula quem é filósofo, o filósofo só dá aula no colégio.
Mas eu queria começar, eu queria conhecer a educação francesa. Então, para dar aula no
maternal, primeira coisa, eu teria que ser francês, claro; em segundo lugar, eu teria que
fazer uma formação, na época eram os institutos universitários de formação, UFM, eu
tive que fazer.
Então, isso é uma coisa singular da minha parte, mas os professores não. Eles
terminam a filosofia e fazem um exame dificílimo, que se chama CAPS, ou Agregación,
aí vão poder dar aula, você ver o nível. Por quê? Porque a filosofia vai chegar. Quando
357
chega a filosofia, o que que você vai criar? Você vai criar a crítica e a autocrítica. O
velho Marx não está longe disso.
O que que é essa história de crítica? A crítica é como clínica, a crítica, portanto,
não absolutamente uma crítica para nada, uma crítica histérica, que não se trata disso,
mas uma crítica que está, ao mesmo tempo, criticando e a maneira de criticar já é uma
maneira de passar uma série de informações e possibilidades para que tudo isso cresça,
sabendo que essa crítica pode ser criticada por outra. Isso é um movimento rizomático,
não tem crítica verdadeira, tem crítica para aquele momento e vamos ver até quando
essa crítica não precisa ser revisitada.
É a história de como definir uma escola se a escola em si não suporta
absolutamente o olhar sequer de uma crítica da semântica! Uma escola que não é uma
escola. É, mais ou menos, como o Festival de Guaramiranga, é muito interessante. É um
festival de teatro sem teatro, pois o teatro teve problemas em Guaramiranga e, como
sempre, nós estamos no Estado e no país do quase, quase teatro, quase festival, tudo foi
feito na rua, o que desmontou... quem estava falando era uma grande autoridade, era o
Antunes. Ai eu falei: “Meu Deus do céu, como é que pode um festival de teatro, com o
silêncio que isso exige, com o cuidado... na rua!”. Foram para a rua. Por quê? É o
famoso jeitinho.
A rua teria importância se isso fosse feito como protesto, mas não para “quebrar
o galho”. E você encontra isso na educação. Você tem as escolas que são chamadas...
você tem a escola e você tem o anexo, é uma espécie de favelinha, mais favelinha ainda
que a escola principal. São exatamente os anexos, essa é a palavra. Esses anexos
continuam.
Então, imagine que chove – isso é coisa real, não vou dizer aqui porque não
quero humilhar o Prefeito nem as pessoas lá –, choveu e caíram dois anexos. Como
tinham mais três anexos... a favela, eu vou dizer favela, mas não, os favelados não
morariam em um lugar daqueles, favelado tem respeito para morar em um lugar daquele
onde eram aquelas escolas, algumas eram fundo de casa de farinha, sem comentários. Aí
cai. E quando cai, vamos fazer então o que? Como é que a falta de pensamento, como é
que a falta dessa crítica clínica, saúde, positiva, coisa forte... essa palavra “positiva” me
faz medo, porque positivo quer dizer que a gente aceita tudo, é o bobinho da corte, está
tudo ótimo.
358
Saúde, a clínica só funciona se for saúde. Se tiver qualquer coisa em uma crítica
que não traga algo de novo, você está perdendo seu tempo, você está criticando para
nada. Aí tem um enfarte, né? Porque a crítica pressupõe uma passagem imediata, não de
resolução, mas de criação de problema. A crítica não é para resolver, porque se não
quando anexo cai...
Então, vamos resolver a questão. A filosofia não trabalha com resolução,
trabalha com problemas. Vamos saber por que, desses anexos, quatro caíram e nós
estamos naturalizando o anexo, quer dizer que é normal? Eu dizia para eles, no
momento cruel que estava caindo eu estava lá. “A senhora vai colocar seus filhos
onde?”. “Em uma escola particular. Eu sei o sacrifício que eu passo com esse salário,
mas eu não vou colocar meus filhos nunca em uma escola pública”, o que é um drama
para os diretores e professores, porque eles queriam muito... vivem esse drama pelo fato
de terem colocado os filhos em uma escola particular com esses preços exorbitantes que
a gente sabe, são coisas monstruosas o que essas escolas cobram. Eu sei porque meu
filho estudou em uma dessas aí, coisa louca!
Quando eles então... “vamos fazer um mutirão e resolver”, e eu só
acompanhando. Como é que vai resolver? Faz-se um mutirão, aí fala-se em cidadania e
vamos ver com as duas professoras se cada um deles não podia catar... ao todos nós
tínhamos 26 alunos na rua, porque de qualquer forma está tudo jogado, mas pelo menos
essas que caíram eram cobertas.
Então, as professoras, cidadãs, aceitaram, houve aplausos e esse meninos
passaram a ser divididos em três anexos. Muito bem, é muito legal... hoje não, mas
amanhã eu continuo meu curso, amanhã a gente vai falar sobre a Filosofia não como
uma ciência humana que está aqui para resolver, mas para criar problemas.
Um mês nós trabalhamos isso, Filosofia como criação de problemas, e eles
entenderam, porque quando você faz isso você saiu da sua dignidade de homem, de ser
humano que pensa, porque nem os animais fazem isso. Os animais devem ter um
pensamento, a gente é que acha que não tem porque a gente decide por tudo, mais uma
coisa da representação. Nós achamos que nós somos os melhores na natureza, fizemos
essa divisão criminosa, tem início com Platão, “corpo e alma”, e agora estamos aí na
situação que a gente está, achando que a gente é o rei da cocada preta.
359
Aí vem exatamente nessa situação que, a cada hora, você tem que pensar não
para resolver, mas para criar problemas. Um mês, a Ada e eu, os outros... você não
podia formar todo mundo, a maior parte é de um trabalho que começou para ser um
trabalho filosófico e você sabe que politicamente é quase impossível, aí daqui a pouco
nós estávamos nós dois e uma maioria toda linda, da educação, porque não tinha mais
lugar para ficar, aí mandavam para a gente. Eu não queria falar disso porque a Ada
falaria muito melhor, se bem que eu estou fora, então é mais fácil.
Então, ficamos nós dois fazendo esse trabalho. Um mês, foram exatamente seis
escolas, foi uma revolução, em termos positivos. E como é que vocês estão esse tempo
todo querendo resolver o problema desde que o Brasil foi invadido? Foi invadido
porque nós tínhamos quatro milhões de índios, e não se descobre quatro milhões de
pessoas, só se descobre o que não existe. Se tem quatro milhões eu não descobri, eu
invadi.
Então, querer esquecer, isso que é histórico, e querer resolver este problema pelo
esquecimento significa mais do que amnésia, significa denegação. Se é verdade que o
Brasil foi descoberto, é uma palavra de ordem, eu passo isso para a escola. Não é
verdade, mas é uma palavra de ordem. Segundo discurso: se é verdade que o Brasil não
foi descoberto, pois havia quase quatro milhões de índios - eu não posso descobrir uma
coisa que já existe, eu posso descobrir as diferenças, mas não que o Brasil foi
descoberto – se é verdade que o Brasil não foi descoberto, a verdade não é verdadeira.
É, mais ou menos, um discurso um pouco psicótico, com todo o respeito aos psicóticos,
mas faz parte da síndrome. Aquela coisa que... se é verdade que o Brasil não foi
descoberto, porque é verdade que o Brasil não foi descoberto, claro, é que a verdade
não é verdadeira.
CRISTIANE: Esquizofrenia.
Esquizofrenia! Ao invés de eu simplesmente tentar criar problemas e discutir
essa grade curricular... nós chegamos em tudo na escola, tudo, tudo! Pegamos, por
exemplo, essa história da descoberta do Brasil, como é importante se você for criar um
problema e querer saber porque você está contando essa mentira para os meninos, você
está forjando pessoas que aprendem a mentir desde o começo dizendo que o Brasil foi
descoberto. Parece brincadeira, mas isso funciona, isso te dá uma espécie de direito... é
o que se chama no Brasil de medida social, o país todo que mente, e ai não são só os
360
políticos. É incrível como se mente nesse país! “Diga que eu não estou”, no telefone. É
a casa do cara... “diga que eu não estou” e você está.
Nosso problema aqui, quando a gente chegou com os nossos filhos... eles tem
outra educação, é outra diferença, “papai está, mas não pode receber agora porque ele
não pode”, precisa nem explicar. Os meninos todos dizem “papai não está”. De maneira
alguma. Eu pegava e dava esse exemplo, colocava filmezinhos, os franceses dizendo
para os meninos se manterem, “não mintam”, no maternal, “não minta”, porque você
vai ser feliz se você não mentir, a idéia da felicidade... aí começa a passar filmezinhos,
era o que a gente fazia.
Agora, eu estava no Ceará, onde, se você não mentir, você pode morrer,
entendeu a diferença na diferença, a diferença que difere? Se você não mentir, você
pode morrer, podem mandar matar você aqui. Eu fui expulso de uma sala de aula na
cidade de... onde tem uma que tem uma bica poluída, Ipu! Com este Prefeito que está ai
que teve problemas sérios com a Justiça, quando eu cheguei lá, fui dar meu curso e meio
dia terminei a minha primeira parte, quando eu voltei estavam todos os diretores do lado
de fora dizendo: “Professor, nós estamos com o senhor!”. Eu disse: “o que aconteceu?”,
“ o senhor está proibido de dar aula aqui, não pode fazer isso com o Prefeito, etc”.
CRISTIANE: Mas por quê? Qual o motivo?
Porque as minhas aulas falavam de coisas que poderiam tocá-lo politicamente,
pois eu estava falando da quase escola, da quase educação, quase salário, com um
documento do Haddad. Aí eu falei: “a primeira coisa que você vai mandar fazer é
prender o Ministro e a segunda coisa é que o senhor não tem nem autorização para falar
comigo, quanto mais para me prender”. Só que eles vão correndo ver o meu motorista...
eu não vou nem explicar porque que eu tive que comprar um carro, ter um motorista,
pra te dizer a quase escola... e como é que esse filósofos são importantes nessa história?
É tudo isso, é a importância desse pensamento filosófico, sobretudo Nietzsche e
Deleuze, nessa história, e Guattari, evidentemente. Vem correndo para avisar para o
motorista que tenho que ir embora porque o pessoal está lá para me matar.
Pego o carro, aí eu recebo um telefonema do professor: “você viu o mundo em
que nós estávamos e que a Ada continua?”. Professor Edgar Linhares, que é uma das
pessoas mais legais que você pode imaginar, uma cabeça de adolescente: “Professor
361
Daniel Lins, pelo amor de Deus, venha embora correndo!”. Saí correndo com o
motorista, o motorista desesperado, erramos o caminho... é assim que a gente faz
educação Deleuze e Nietzsche, no Brasil especificamente.
Pensar não dá conforto, é um perigo, é um perigo, é um perigo! Então, entendeu
aí a dimensão?
CRISTIANE: Professor, eu estou preocupada com o seu horário, eu já lhe tomei
muito tempo, mas queria só que o senhor retomasse uma questão que, de certa
forma, está presente nas minhas reflexões e também está presente no real. É uma
certa discriminação de alguns filósofos com relação à área da educação, alguns
supostos filósofos, por exemplo, e isso é histórico no Brasil, e a partir do século
XIX, a partir de Durkheim, quando ele coloca um certo manto positivista sobre a
educação e parece que isso é embebido pelo Brasil, alguma coisa próxima a isso... o
fato é que no Brasil e também no Ceará a gente tem essa posição de alguns
filósofos que compreendem, por exemplo, que filosofia da educação não é filosofia,
porque isso pressuporia uma ação mais concreta sobre a realidade, que fazer
filosofia estaria ligado mais àquelas questões dos uspianas que a gente já remeteu
ao momento estrutural. Filosofia não é você pensar a realidade, é você ler textos.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa coisa absurda que existe nas
academias brasileiras.
Nas pseudo academias, francamente! Eu conheço o que você está falando! Eu
diria como Deleuze: “discussão não é o meu problema”. O assunto é tão
subdesenvolvido, é de uma tristeza e de um niilismo típico de filósofos brasileiro que
não são filósofos, são professores de filosofia. Não temos o direito de criar um conceito,
o filósofo no Brasil que criou conceito está no dicionário, um grande filósofo, chama-se
Bento Caio Prado Junior, que morreu recentemente, ele é O filósofo. Por quê? Por que
ele criou um conceito.
CRISTIANE: Ele foi um dos primeiros a traduzir Deleuze no Brasil.
Pois é, eu sei! Mas o mais interessante é quando ele faz a tese dele, que ele
chega em Paris... ele não sabia que Deleuze trabalhava na Universidade, ele vai
descobrir lá e ele estava a frente do Deleuze. Deleuze ficou completamente apaixonado
e cada vez que ele falava do Bento, ele ficava emocionado, dizia: “que coisa bonita, em
362
um país onde praticamente todo mundo comenta, tem professores de filosofia e
comentadores de altíssimo nível, mas cadê a filosofia? Por que não tem filósofo?”...
inclusive grandes pensadores que nós temos aqui, de altíssimo nível, muito importante,
mas para ser filósofo...
CRISTIANE: E pior ainda, ser filósofo pensando a educação. Aí é que é um
sacrilégio.
Não dá pra separar. Se você pegar a história da filosofia, a filosofia passou a sua
vida a pensar a educação. Só que a educação não se referia à criança, pois a criança não
era nem uma categoria social, passa a ser praticamente no século XVIII com aquele
livro do Philippe Ariès, “A história social da criança”, mas pouco importa, o filósofo
sempre pensou sobre educação e quantos escreveram sobre educação.
CRISTIANE: Não pode pensar em algumas academias aqui no Brasil.
Porque o problema e o seguinte: quando você é professor de filosofia, você não é
um filósofo, você é um leitor, aí você lê aquilo, mastiga e dão as aulas, grande
professores, inclusive, com excelência retórica. Mas resultado: essa formação é uma
formação fracassada, que não conseguiu formar filósofos. Na hora que tem um filósofo
que cria um conceito ele está no dicionário de filosofia.
E eu procuro muito, que eu viajo esse mundo todo, eu procuro dicionário de
filosofia... eu peguei, na Finlândia eu só encontrei o Bento e encontra pessoas de
altíssimo nível, como Marilena Chauí, a grande e virtuosa, quase em uma linguagem
musical, comentadora de Spinosa, como não existe, praticamente, não existe no Brasil,
ela concorre com os grandes da França, que são muito maiores, muito mais que na
Alemanha. Aí são elogios infinitos.
Mas filósofo é quem produz conceito. Imagine Platão, professor de filosofia,
morrendo de tédio, sempre falando dos outros, se ele não tivesse criado o conceito de
idéia... não precisa estar de acordo com Platão, mas ele é filósofo porque criou conceito.
Quando eu, brasileiro, crio meus conceitos, e criei muitos conceitos, inclusive peguei o
rizoma, que é um conceito da biologia que Deleuze já pegou, e com Deleuze andei até
um certo momento e depois já parti para outra história dentro do rizoma quando eu
descobri uma coisa muito bonita que Deleuze dizia: “lugar bom para fazer filosofia são
os trópicos”.
363
Aí eu peguei essa brincadeira dele e comecei a trabalhar o rizoma, por exemplo,
pegando os mangues. Daí aquele texto que saiu e foi publicado não sei em quantos
lugares, que correu o mundo, Mangue’s School. Eu fiz questão de colocar em inglês,
uma espécie de sinal, sinalizando... se tratava de mangues, mangues, por acaso, aqui no
Ceará, porque foi na Ilha do Pinto, em Fortim, perto de Canoa Quebrada, que foi onde
eu descobri. Quando eu mergulhei que eu... “meu Deus, e pensar que Deleuze ficou
anos para pensar com Guattari o rizoma e eu pergunto para o pescador ‘me diga uma
coisa, mangue não tem nem começo e nem fim?’”. Aí ele disse assim: “ó doutor,
desculpa aí, eu estou vendo que o senhor é um senhor sábio, mas olha... tem começo e
fim não, aqui só tem meio”. Para Deleuze encontrar isso que ele me disse foram anos e
anos e anos.
CRISTIANE: Você pegou uma representação forte na cabeça da gente, né?
Eu fiquei pirado porque... cadê o começo? Quanto mais ele me levava... eu
peguei a máscara e mergulhei, quanto mais ele me levava... Eu digo: “uma loucura,
né?”. Então, a partir daí eu comecei a ler as árvores lá em Belém, tudo isso é por acaso,
ou então o Ibirapuera, com aquelas árvores magníficas que tem em São Paulo. Onde é
que está a raiz fundadora? Isso é que é criar conceitos, onde está a raiz fundadora?
Agora além de colegas professores de filosofia, eu não conheço um filósofo no
Brasil. São excelentes professores de filosofia, mas são duas coisas diferentes, temos
grandes professores, mas, mesmo assim, nada de novo, pois se repete. Não há mudança,
praticamente, no Brasil, é uma dominação dos signos na filosofia. É como se fosse
possível continuar a fazer filosofia sem criar filosofia, é um complexo de vira-lata. Isso
é terrível!
CRISTIANE: É como diz o Paulo Arantes, que escreveu o livro sobre a USP: “é
muito estranho um país onde você tem filósofos que não filosofam”.
São professores, e muita gente boa, de altíssimo nível, pessoas com uma
erudição... eu dou muita aula nas universidades brasileiras, participo muito de banca
nesse departamento de filosofia e eu vejo jovens. Você sabe onde é o trampolim para
eles? É Deleuze, Nietzsche, que a universidade recusa dizendo que não é filosofia,
porque filosofia boa para a academia brasileira é a filosofia que não pensa. E como é
que uma filosofia não pensa? Muito difícil.
364
Porque se você pensar... evidentemente que o investimento é imenso para
pensar, porque, eu já disse, pensar não dá conforto, pensar dói. Porque aí você vai ter
que ler Hegel, que eu leio como metodologia, que eu gosto muito de ler Hegel, mas eu
não posso absolutamente entrar no sistema de Hegel, porque, se eu sair, eu não sou mais
filósofo. É maravilhoso Hegel, agora você tem que pensar como ele, tem uma bela
metodologia... não estou dizendo que estou de acordo com todas aquelas tiradas racistas
que, as vezes, existe, eu estou falando do pensamento dele, as vezes ele começa a falar
dos africanos e dá medo.
CRISTIANE: Filosofia da História, né?
Pois é, eu estou pegando a metodologia. Eu gosto muito do Hegel, você aprende
a escrever com ele. Agora, evidentemente que o que eu mais gosto é pegar as idéias dele
- eu trabalho muito com ética, estética, crueldade – e desmontar como um quebracabeça, desmontar. A coisa do belo. Até hoje, isso é que é a nossa força. Deleuze dizia:
“eu só escrevo sobre filósofo que eu não gosto”, aí fez aquele livro lindo sobre Kant.
Não gostar é quase uma homenagem, é inspirador. Agora você não vai ficar
fazendo da teologia uma espécie de mosteiro, aí virou realmente religião e você virou
adepto. Mas eu encontrei tantos professores inteligentes no Brasil, meninos novos,
menos novos, garotas, porque entraram muitas mulheres na filosofia, mas a síndrome do
professoral ficou.
Como é que a gente vai fazer se não tiver filosofia no Brasil? Se não tiver
filósofos? Como é que a gente vai fazer? E quando eles entram nesse discurso terrorista
de que filosofia da educação...
CRISTIANE: Não é filosofia.
Eu acho que filosofia da educação não existe, eu não acredito que isso exista
como nominação. O que existe é a filosofia pensando a educação. Porque filosofia da
educação... eu acho até que devia retirar isso, não porque... é uma turminha, não sei da
USP porque a USP não tem muita representação na filosofia no Brasil, USP é muito
mais um feudo e não podemos falar de filósofo na USP a não ser se você pensar em
Marilena Chauí, grande e maravilhosa, e a Scarlet trabalhando Nietzsche há muito
tempo, não sei se ela se aposentou ainda, ela está em Paris. Mas se não, você não pode
365
ficar, porque a USP é um símbolo, é uma velha senhora, mas que não conseguiu
escapar, absolutamente, à loucura do envelhecimento do tempo.
Então, a USP não é um exemplo de filosofia. Quando eu penso USP, eu penso,
sobretudo, Marilena Chauí, porque além de ser uma grande comentadora, de altíssimo
nível, ela é uma mulher importantíssima naquela USP em relação à diferença, tanto ela
ao nível hiper alto – não preciso estar de acordo com a leitura dela, o problema não é
estar de acordo, é ter o mínimo de justiça, porque não é uma questão moral, e sim de
lucidez para reconhecer o valor dela – como a Scarlet, em outro nível, em outro lugar,
mas são lugares impossíveis. Porque na USP não é uma guerra de classes, é uma guerra
de lugares.
Por isso que foram totalmente comidos pelo próprio discurso de que só quem faz
filosofia são eles. Resultado: muito magrinho. Cadê os filósofos da USP? Onde é que
estão os livros? Onde e que estão as publicações? Onde é que está o conceito? São
professores, alguns tarimbados, outros menos, está muito fácil entrar na USP, já foi
mais difícil. A filosofia hoje não é uma história da USP, eu diria que a filosofia é uma
história do Brasil. Já tivemos safras melhores de professores, safras muito boas.
Hoje nós estamos em um momento de declínio porque há muitos curiosos
fazendo filosofia e aí vem o problema do autodidatismo, porque, às vezes são muito
bons, mas a filosofia não perdoa. Fazer filosofia sem ter feito uma licenciatura em
filosofia é um negócio muito sério. E quando você tem essa formação em filosofia...
para mim, a formação principal é a licenciatura, sem isso, eu não vejo como você pode
fazer filosofia, aí você sente os buracos, eu sinto. Você sente na hora, você está
conversando com a pessoa, a pessoa está fazendo filosofia... “essa pessoa fez um
doutorado, mas ela não fez licenciatura”. Licenciatura é a base, é aí onde você vai,
realmente, pegar toda a metodologia, é aí onde você vai estudar toda a história da
filosofia, não dá para correr.
E o que tem muito no Brasil são muitas pessoas fazendo doutorado em filosofia,
mas vindo de áreas bem diferentes e perderam a formação primeira, são os grandes
autodidatas, com muito valor, mas, muitas vezes, com muita desvantagem, porque você
sente que não estamos mais falando de filosofia.
366
Eu sinto, para mim está claro. Estão começando, são pessoas maravilhosas,
pessoas que inclusive fazem doutorado jovem e tudo, eu nem pergunto, você sente que a
maneira de falar não é absolutamente... porque o filósofo tem muito cuidado para não
ser interpretado como essa coisa terrível, essa espécie de tropa de elite do significado,
do significante, significação, o que vai dar como resultado a representação.
Então, é o pensamento já completamente montado, mas é um pensamento sem
pensamento. É um pensamento que engole o pensamento através de uma representação,
de uma palavra de ordem. Então você sente, essa confusão que tem... as pessoas estão
trabalhando sobre Deleuze e daqui a pouco começam a falar a essência da filosofia. A
essência? Eu estou trabalhando sobre Nietzsche ai entra essência, entra absoluto, entra
uma espécie de metafísica tacanha. Você sente que... “esse cara não fez licenciatura”. O
problema não é a formação, porque está cheio de doutores, nunca foi tão fácil ser doutor
no Brasil, entretanto deveríamos ter muito mais abertura para os doutores, muito mais
vagas, mas nunca foi tão fácil ser doutor no Brasil, apesar de termos poucos doutores.
Está na hora de começar a pensar, fazer da filosofia uma arte de criar conceitos e
não só uma arte de dar aula. Porque como se vai pensar um filósofo sem filosofia? É
muito complicado.
367
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE WALTER KOHAN
A importância de Deleuze...penso que pode ser localizada não apenas no
conteúdo do que Deleuze diz a respeito da educação, que de fato não é muito, Deleuze
se preocupa talvez por alguns tópicos específicos, por exemplo, pela questão do
aprender que, em várias obras, é algo importante para Deleuze... entender o significado
de aprender e, sobretudo, a relação entre aprender e pensar.
Mas a importância de Deleuze não é tão significativa, a meu ver, em relação
com o que ele afirma sobre as questões educacionais, mas em outras duas dimensões, eu
diria. Uma, que é o seu jeito de pensamento, sua postura, sua concepção da filosofia, da
tarefa da filosofia e da relação da filosofia com outras disciplinas. Ou seja, Deleuze era
um pensador que, por um lado, enquanto professor de filosofia, ele tinha entre seus
alunos não apenas estudantes e filosofia, mas pessoas de áreas muito diferentes e que
concebem a filosofia em um diálogo com a não filosofia.
Para Deleuze era essencial a relação entre filosofia e não filosofia, e isso é muito
importante como gesto porque na filosofia há uma tendência de fazer uma fala interior,
uma fala introspectiva, uma fala interna, que, de alguma forma, isola a filosofia das
outras disciplinas. Isso também é próprio da filosofia da educação, ou seja, embora a
filosofia da educação tenha como campo e como objeto algo concreto e renunciável que
é a teoria e a prática educacional, há uma tendência no campo da filosofia da educação
de somente ter relação com poucos saberes, e, de alguma maneira, um primeiro gesto
que é interessante de Deleuze é que ele abre a filosofia da educação ou a filosofia para
outras áreas, para a não filosofia.
Em segundo lugar, um outro campo, um outro aspecto que considero importante
do pensamento de Deleuze é que o pensamento de Deleuze é um pensamento que
desuniversaliza, que dessistematiza, que não procura totalidades, unificações, que não
procura sistemas, e isso é uma tendência muito forte na filosofia da educação que se
pratica no Brasil.
Então,
o
pensamento
de
Deleuze
é
uma
força
antissistemática,
antiuniversalizante, antitotalizadora, e isso tem uma potência muito grande em um
campo como o da filosofia da educação no Brasil, no qual se consegue, sobretudo, a
368
filosofia desde uma lógica dos fundamentos, do sentido, do valor, como se a filosofia
fosse uma sistematizadora, uma mãe, uma colonizadora, digamos assim, do pensamento
das diversas ciências, áreas e saberes da educação.
Em terceiro lugar, eu diria que o pensamento de Deleuze é importante pelo gesto
afirmativo que ele tem em relação com a filosofia como uma criação conceitual. Na
medida em que Deleuze considera que o trabalho, a tarefa da filosofia tem a ver com a
criação de conceitos, e isso na tríade do plano de consistência, plano de imanência,
personagem conceitual e o conceito, algo que o Silvio Gallo trabalhou e desenvolveu
bastante... então, ali a filosofia tem uma tarefa na educação que não pode ser apenas
elucidativa, apenas explicativa, apenas crítica, ela precisa ser criativa. Ela não apenas
precisa problematizar o que acontece na educação, mas ela precisa criar e não criar
qualquer coisa, criar conceito.
Então, eu acho que essa é uma terceira dimensão importante, importantíssima,
que leva a pensar que a filosofia da educação no Brasil tem que se recriar criativamente,
ela não pode apenas dar conta ou explicar ou fundamentar uma realidade, mas precisa
pensar criativamente essa realidade. Acho que é isso.
CRISTIANE: Você, nas suas investigações... eu tenho observado que você prioriza
basicamente, dentre outras coisas, três questões que são o ensino da filosofia para a
criança ( você foi orientando do Lipman), a questão da aprendizagem e a questão
do ensino, principalmente naquela perspectiva do Ranciére. Como é que você
poderia falar alguma coisa sobre essa influência deleuzeana nessas três
perspectivas que, pelo menos até onde eu compreendo, você tem se dedicado mais
nas suas pesquisas... na criança, ensino e aprendizagem, que obviamente está
dentro desse universo do ensino da filosofia da educação.
De fato, eu não sou um deleuzeano, não sou nem um pesquisador de Deleuze, ou
seja... eu reconheço uma inspiração deleuzeana.
CRISTIANE: Mas pegando essa inspiração.
Pegando essa inspiração, eu diria que, no caso do ensino de filosofia com
crianças, que eu trabalho e gosto muito de trabalhar na formação de professores, na
própria experiência, Deluze tem sido um inspirador em muitos sentidos.
CRISTIANE: O ensino da filosofia também, que você tem pesquisado.
369
Eu diria assim... o ensino da filosofia de uma maneira geral que eu entendo não
como o ensino de uma disciplina, como a história da filosofia, mas eu entendo o ensino
da filosofia como um propiciar da experiência filosófica, ou seja, como um... buscar,
criar as condições para que, de fato, a filosofia aconteça. Não para eu ensinar uma
filosofia, para eu transmitir um saber filosófico, mas para eu criar as condições para que
os estudantes filosofem, para que eles façam o que os filósofos fazem.
Então, a inspiração de Deleuze é forte, é grande nesses sentidos que eu colocava
anteriormente porque o ensino da filosofia tem uma tradição muito consolidada ligada
também à transmissão do saber, ligada a uma verdade que seria localizada na história da
filosofia e isso feito com criança também pode estar muito associado a uma visão da
criança de ser humano como ser em desenvolvimento, que a criança estaria em uma
certa etapa na qual ela ainda não seria capaz de desenvolver certas habilidades e
capacidades.
Então Deleuze ajuda a quebrar um pouco com isso, ajuda a quebrar tanto com a
ideia da infância como um ser em miniatura quanto como do ensino da filosofia como
uma transmissão do saber. Deleuze tem um conceito que é um conceito de devircriança, que é um conceito interessante porque não está associado especificamente às
crianças ou a uma idade cronológica, mas ele tem me servido também para
descronologizar a infância, ou seja, para tirar a infância da fase cronológica. Então, o
importante não é tanto a criança, não é tanto o número de anos que se tem, mas os
devires que se habitam.
Então, o ensino da filosofia como uma possibilidade de devir-criança também,
ou seja, de ter uma experiência, de ter uma possibilidade de um pensamento, de um
bloco de pensamento que fuja um pouco do controle, do normal, do que deve ser
pensado, do pensamento dominante.
Quanto ao aprender, Deleuze me ajudou muito a dissociar o ensinar do aprender.
Há uma tendência muito forte em pensar que se uma pessoa aprende é porque outra lhe
ensina, e que se ensina para que o outro aprenda, e que se aprende de alguém, e que se
ensina para alguém. Deleuze ajuda a quebrar isso, sobretudo em Diferença e repetição...
ele mostra que não aprendemos nada com quem pretende que aprendamos dele, com
quem pretende ser um modelo.
370
Na verdade, aprendemos sempre com alguém, mas nunca de alguém e
aprendemos quando podemos outorgar sentido e significado, aquilo que chama, aquilo
que comove o nosso pensamento, que pode ser involuntário, que não podemos
controlar. De modo que aprender tem muito a ver com sensibilidade e aprender filosofia
também é um ato de sensibilidade, pensar é um ato de sensibilidade, isso Deleuze me
ajudou a pensar.
Então, eu trabalho muito nessa ideia de que, para mim, ensinar filosofia
significa, sobretudo gerar as condições de uma certa atenção, de uma certa
sensibilidade.
CRISTIANE: A crítica que você faz ao Lipman iria nesse sentido? Porque, até
onde eu compreendo, você segue Lipman até determinada altura, depois você
rompe com algumas conceituações dele e faz uma crítica, né? Você poderia falar
um pouco dessa crítica que você faz ao Lipman e juntar isso com a questão
deleuzeana?
A crítica, digamos, tem várias instâncias: um nível mais prático, um nível mais
metodológico e um nível teórico. Deleuze tem me ajudado a criticar Lipman, digamos
assim, na concepção de filosofia de Lipman, que é uma concepção pragmatista e que
pressupõe uma ideia do pensamento muito calcada no que Deleuze diria “mundo da
representação”, uma imagem dogmática do pensamento, na moral, uma ideia forte de
que pensar é pensar bem. Lipman fala inclusive do bom pensador, fala do pensamento
do homem superior, fala do bom pensar. É um pensamento que é muito...
CRISTIANE: E essencialmente a questão da formação moral também, né?
Também, também tem uma formação moral, mas eu diria que são coisas
diferentes. Uma é a formação moral, que é criticável, mas outra é a imagem moral do
pensamento, a ideia do que é a boa vontade que pensa, que leva o pensador à verdade.
Agora, tem outras questões também que não são apenas deleuzeanas, no sentido
de uma visão da escola, eu diria, pouco crítica no sentido foucaltiano, no sentido da
sociedade disciplinar, tem uma imagem de infância que também é questionável, tem
uma relação entre filosofia e política que também pode ser questionada.
Então, eu diria que Deleuze tem sido importante sobretudo nessa ideia do que
significa pensar e que está na base da filosofia de Lipman.
371
CRISTIANE: Mas o que que você colocaria como extremamente positivo na
perspectiva do Lipman, só para fazer essa contraposição?
É extremamente positiva essa ideia de que a criança pode fazer filosofia, ou seja,
de que o mundo da filosofia está aberto para a criança. Isso é interessante porque não é
só que as crianças precisam da filosofia, a filosofia precisa das crianças também, ou
melhor, não só a infância precisa da filosofia, a filosofia também precisa da infância
porque a filosofia é uma senhora velha, já está cansada, já pensa muito repetidamente e
a infância pode interromper esse pensamento, pode gerar condições para um novo
pensar.
Então, eu acho que Lipman tem sido um pioneiro no sentido de ver que a
filosofia e a infância...talvez muita gente já tenha visto que tem muito a ver, que são
muito próximas a filosofia e a infância, mas Lipman foi quem deu a isso uma
sistematicidade muito forte e que apostou muito que isso podia render em termos de
uma prática pedagógica, educacional. Então é um pioneiro.
CRISTIANE: Você poderia falar rapidamente sobre o teu percurso de formação
filosófica até você chegar a essas filosofias contemporâneas francesas - Foucault,
Deleuze, Ranciére - que estão muito presentes nos seus textos...um rápido
percurso.
Eu estudei filosofia na Argentina na Universidade de Buenos Aires, sou
argentino, e a minha formação teve uma influência grande da filosofia grega, eu me
especializei muito na filosofia grega, pré-socrático, Sócrates e Platão. Trabalhei,
inclusive, um pouco na Argentina como professor assistente na Universidade de Buenos
Aires em filosofia grega.
Depois eu conheci Lipman, ele foi uma grande virada no meu pensamento, na
minha formação, porque ele me mostrou, digamos assim, a necessidade de recriar a
filosofia que se faz na academia. Então, foi um grande aporte para mim, porque ele me
mostrou a necessidade que a filosofia educada, a filosofia da educação fosse uma prática
da filosofia e não uma transmissão do saber filosófico. E também me permitiu um
caminho para chegar à infância, que depois eu critiquei, eu questionei, eu tentei refazer,
mas que foi um caminho importante, primeiro, e que eu não tinha jamais pensado... é
muito fácil você criticar uma coisa depois de fazê-la ou depois que está feita, mas ele
372
criou um sistema, um programa muito bom onde não tinha nada e que permitiu a muita
gente se aproximar de um mundo, um campo novo.
E paralelamente eu fui estudando, trabalhando autores da filosofia francesa já na
minha tese, que o Lipman orientou, eu trabalhava com alguns franceses. Depois eu fiz
um pós-doutorado em Paris VIII, aí estudei com pessoas do grupo de Ranciére que eu
apresentei uma tese para habilitar a orientação, a pesquisa, uma coisa assim, HDRhabilitação para dirigir pesquisa, e Ranciére esteve na minha banca (quem orientou isso
foi Stéphane Douailler), e eu fiz isso sobre Sócrates... é um livro que vai ser lançado
agora, hoje, se chama “Sócrates e a educação”, onde tem um capítulo sobre diversas
leituras contemporâneas de Sócrates: Foucault, Nietzsche, Ranciére, Kierkegaard,
Derrida.
Enfim, fui lendo cada vez mais. Tem um livro de Ranciére que influenciou
muito o meu trabalho, que é “O mestre ignorante”, que ajuda também a problematizar a
posição daquele que ensina e daquele que ensina filosofia.
CRISTIANE: Só para finalizar, como é que você vê essa discussão, principalmente
no Brasil, sobre a filosofia da educação, no caso, que filosofia da educação não
seria propriamente uma disciplina do âmbito da filosofia, e sim da educação... a
gente sabe que tem uma grande discussão em torno disso. Como é que você veria
essa discussão? Se você acha que é uma discussão banal ou é uma discussão que
você não perde tempo com ela...
É uma discussão que tem um lado chato... eu não diria mal, eu diria chato,
porque parece uma discussão coorporativa, “é minha”, “é tua”, “de quem é?”, uma coisa
de pertença.
CRISTIANE: Mas há, inclusive, por parte de alguns filósofos, um certo desrespeito
com a filosofia da educação como se ela fosse algo menor.
Sei. Ela é chata porque, digamos, a filosofia, por um lado, com áreas mais
“nobres”, ela não tem problema em aceitar a filosofia da arte, filosofia política, a
filosofia da religião. Por outro lado, eu acho que filosofia da educação é filosofia, não
tem como não ser filosofia, como todas as filosofias dela. Mas o que fazem os
departamentos de filosofia, faculdades de filosofia, às vezes tem tão pouco a ver, tão
373
pouco a ver com a filosofia que por isso eu digo... tem o lado institucional da discussão,
o lado chato que não me interessa entrar, “de quem é a filosofia da educação?”.
Agora tem o lado mais filosófico, eu diria, de que a filosofia da educação não é
de ninguém, ou seja, é um campo de filosofia e a filosofia não é de ninguém. A filosofia
é um sujeito que pára para pensar, problematiza sua vida, problematiza a relação com o
que sabe, problematiza o que pensa, procura criar outras maneiras de pensar, e isso
corresponde a todo mundo, isso não é de ninguém.
CRISTIANE: Você quer dizer mais alguma coisa que você não tenha dito?
Não, eu lhe agradeço.
CRISTIANE: Eu que te agradeço.
374
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE SÍLVIO GALLO
Você quer que comece como se chegou a Deleuze, né? Eu não sei.
CRISTIANE: Você não sabe.
Eu não sei. Eu lembro que, e aí como faz muito tempo, a memória fica difícil,
mas eu lembro que o meu primeiro contato foi ler O Anti-Édipo quando eu estava
fazendo Graduação em filosofia. Evidentemente que não leitura do curso, leitura feita
no contexto do curso de graduação, mas, na época, se eu bem me lembro, eu tive um
rápido momento de delírio de me interessar pela psicanálise. Ainda bem que durou
pouco.
Era lá 80 e pouco, começo da década de 80, essas coisas, tinha toda uma
discussão acadêmica em torno da psicanálise, ou coisas que o valha, e eu me interessei,
quis estudar um pouco sobre isso, li algumas coisas do Freud, especialmente os textos
do Freud já bem velhinho, O mal-estar da civilização, Totem e tabu, O futuro de uma
ilusão, essas coisas, mais na questão social. E aí o meu interesse era pensar como ler a
questão social pelo viés psicanalítico.
E aí, claro, cheguei no Reich, gostei muito mais do Reich do que do Freud, me
interessou muito a leitura do Reich, a crítica que o Reich fazia...
CRISTIANE: É mais gozo do que sexo, né? O Reich...
Mais gozo do que sexo? Não sei, teve sexo pra caramba! Mas assim...
CRISTIANE: A questão do orgasmo é mais...
Mas eu achava muito interessante a perspectiva reicheana nessa questão social.
E aí, lendo Reich, lendo Erich Fromm, com toda a questão da articulação marxismo e
psicanálise, eu não me lembro como, não lembro exatamente se alguém me indicou ou
se eu achei, me caiu nas mãos O Anti-Édipo, e foi um deslumbre, muito interessante o
tipo de leitura que o Deleuze e o Guattari propunham ali, inclusive porque eles faziam
uma leitura, digamos assim, muito alternativa ao marxismo e o meu curso de graduação
era um curso fortemente marxista.
375
E aí, por exemplo, quando eles fazem toda a leitura da gênese do capitalismo, é
uma leitura que se no marxismo se lia por uma necessidade histórica, pelo movimento
de construção de uma necessidade histórica, o Deleuze e o Guattari vão ali propor
justamente o que eles chamam de história universal da contingência. Então, o
capitalismo não se produziu por uma necessidade histórica, mas da confluência de três
fluxos livres, de três fluxos esquizos que, por acontecimento, por acaso, se encontraram
e aí gerou tudo isso que gerou.
Então, eles fazem justamente uma leitura na contramão da leitura da necessidade
histórica, isso me encantou muito na época, achei bacana, achei interessante e aí tem
uma relação um pouco com os autores, você descobre um livro que te interessa, gosto, e
eu vou atrás de outras coisas que os caras escreveram.
CRISTIANE: Mas isso aí já foi depois do anarquismo na sua vida?
Não. Depois do anarquismo na minha vida... é sempre difícil definir quem foi o
primeiro amante, o segundo amante. Mas assim... o anarquismo também é um pouco
antes, talvez eu tenha descoberto o anarquismo um pouco antes porque eu tinha uma...
na década de 80 era difícil não ter uma militância social, uma militância política, eu
estava nessa coisa da luta contra a ditadura já no finalzinho, o chute final na ditadura, e
militância e isso e aquilo, e eu tinha uma participação lá em Campinas em movimentos
de juventude, especialmente movimentos ligados aos movimentos de bairro, as
associações de bairro, que foi o começo dessa minha atividade política nessa
perspectiva que era o que me encantava mais. Eu não gostava dos movimentos de igreja,
eu não gostava dessa perspectiva mais partidária, então eu estava ligado aos
movimentos de bairro.
Via movimento de bairro, eu participei da fundação do PT em Campinas e
cheguei a militar um pouquinho no partido, um tempo bastante curto porque logo
percebi que o PT não era aquilo que me encantava na lógica do movimento de bairro. O
PT, pelo menos lá em Campinas, teve várias confluências, tinha um movimento muito
forte na igreja, tinha o movimento com as políticas de bairro, tinha o movimento
sindical e, sobretudo, tinha os movimentos dos grupos clandestinos, os grupos de
esquerda clandestinos que não podiam se transformar em partido.
376
Aí, a minha saída do partido acabou acontecendo no momento em que o pessoal
que era desses grupos da clandestinidade acabou assumindo o diretório do Partido e
aparelhando o Diretório do Partido e aliciando a meninada, aliciando estudantes de
ensino médio, etc., como sendo para o Partido, só que levavam os caras nos sábados e
nos domingos para reuniões de estudos marxistas da Libelu, do MR8, daqueles
movimentos todos.
E eu conhecia a meninada e a meninada... “ah, tô participando do PT. Tô
fazendo isso”. “Não, mas isso não é o PT, isso é outra coisa”. E comecei a brigar com o
pessoal do diretório porque os caras falavam isso em nome do PT, mas isso não era o
PT, o PT era mais do que isso. Que isso estivesse também no PT não era problema, mas
o PT, no meu ponto de vista, era mais do que isso. E aí, se eles chamassem a meninada,
“olha, vamos participar do MR8”...estou falando MR8, mas nem era, o MR8 já estava
do lado do PMDB, mas acho que a Libelu, principalmente, era uma das facções mais
fortes lá na cidade...sei lá, “vamos participar de um grupo assim, assim”, talvez a
moçada não fosse. Mas indo para o PT iam, só que serviam como uma coisa meio....
como uma coisa que eu não gostei. E aí acabei saindo do partido, fiquei só um
pouquinho, pouco tempo, de constituição, e saí. Tudo isso no começo da década de 80.
E aí, indo para a Universidade, eu acabei conhecendo um pessoal que me
apresentou a questão do anarquismo. Então, começamos a conversar e as primeiras
coisas que eu ouvi a respeito do anarquismo me interessaram e eu comecei a procurar
coisas para ler a esse respeito. Foi o momento que se começou a publicar alguma coisa,
não tinha praticamente nada, evidentemente por conta da ditadura, mas já estava
começando o processo de abertura e algumas coisas começaram a ser publicadas principalmente a LPM lá de Porto Alegre começou a publicar alguma coisa, uns textos
anarquistas e tal – e eu achei muito interessante porque aquela coisa casava com o que
eu pensava sem saber que isso tinha um nome.
Então, me aproximando dessa questão do anarquismo, eu fui cada vez me
abrindo mais, tentando me aprofundar, tentando conhecer, tentando encontrar
elementos. E isso talvez tenha sido um ou dois anos antes desse encontro com O AntiÉdipo, mas é tudo mais ou menos concomitante, digamos assim. Eu não diria o que vem
antes e o que vem depois.
377
Mas voltando nessa coisa do O Anti-Édipo, o interesse pelo livro me mobilizou
um interesse pelo Guattari, não pelo Deleuze. Eu li o livro todo, depois eu li o livro
sobre Kafka, depois eu fui ler o Mil Platôs, que na época não tinha, eu importei pela
Livraria Francesa, aquelas coisas, também na tinha internet, não tinha nada disso, por
sua sorte lá em São Paulo a gente tinha a Livraria Francesa, que a gente pegava, pedia o
livro e eles te mandavam pelo correio.
Então, foi esse percurso de ler O Anti-Édipo, o Kafka, que estavam em
português, e o Mil Platôs, que ainda não estava traduzido, e dessa leitura desses três
livros do Deleuze e Guattari, mobilizado por essa questão que eles colocavam, eu fui ao
Guattari, aí comecei a ler outras coisas do Guattari e não do Deleuze. Isso é curioso, não
do Deleuze.
CRISTIANE:
É
engraçado...
o
Sylvio
Gadelha
também
se
interessou
primeiramente pelo Guattari, depois foi que ele chegou á Deleuze.
E aí fui ler um monte de coisa, praticamente tudo que tinha publicado do
Guattari e sempre lendo por interesse aberto, digamos assim, não estava com uma coisa
específica.
CRISTIANE: Não era sistemático.
Não era sistemático, não era um estudo sistemático, não estava fazendo ainda a
pós-graduação... era um estudo paralelo àquilo que eu estava fazendo na Graduação
porque o meu curso era um curso marxista, ponto final. Então era uma espécie também
de você encontrar ar puro, conseguir respirar um pouco fora daquilo que era o ditame do
curso. Então foi essa a passagem para o Guattari.
Eu acho que eu comecei a me interessar mais pelo Deleuze depois da publicação
de O que é a Filosofia?. Assim que saiu em português eu comprei, já tinha essas leituras
do Deleuze e do Guattari de anos antes, e aí saiu O que é a Filosofia?, eu logo comprei
a tradução brasileira assim que saiu, e, evidentemente, por conta do percurso que já
tinha de leitura deles, eu gostei bastante, mas aí com essa pegada mais no âmbito da
Filosofia. E foi isso que me despertou para ir atrás dos textos do Deleuze. Então, é
depois de ler O que é a Filosofia? e, portanto, já na década de 90, que eu comecei a ir
procurar os textos do Deleuze, o Diferença e Repetição, A lógica do sentido e os
estudos dele de autores.
378
Então, a chegada foi uma chegada meio assim: me caiu às mãos, não sei bem
como, o livro do Guattari e do Deleuze, O Anti-édipo. Essa paixão pelo Guattari, de
estudar o Guattari, de ler o Guattari, de assistir palestras do Guattari e que, na época,
chegou a vir ao Brasil algumas vezes, e a partir disso, então, essa coisa vai se
delineando.
Mas como o mestrado e o doutorado eu fui fazer estudando os anarquistas, e aí
um estudo mais sistemático era dos anarquistas, esse tipo de leitura era uma leitura mais
de entorno porque, na minha tese, eu acabei usando um pouco do Foucault, um pouco
do Deleuze e do Guattari, um pouco do Sartre, que era um outro autor que me interessou
muito uma época, eu li muito também mais ou menos nessa mesma época de graduação
e começo de mestrado, mas não era o tema específico. Então, era uma coisa que eu
sempre dava um jeito de trazer, essas coisas que eu gostava, para dialogar com o texto,
mas não era um estudo específico sobre o Deleuze.
Eu acho que eu comecei a trabalhar mais especificamente com esses autores na
educação por conta da ANPED. Aí foi uma outra experiência curiosa. A primeira vez
que eu participei da ANPED foi em 94, eu terminei a minha tese de doutorado em 93, e
aí um dia estava vendo na Universidade onde eu trabalhava na época, estava andando
pelos corredores e vi um cartaz anunciando a reunião da ANPED do ano seguinte,
chamada de trabalhos, aquelas coisas... durante o mestrado e o doutorado eu nem sabia
o que era ANPED, nunca tinha ouvido falar, nunca participei de absolutamente nada, lá
na Unicamp na época não se tinha esse tipo de divulgação, a Unicamp se considerada
top na educação no Brasil, se bastava por si mesma, essa coisa de congresso... diálogo
com os outros nem pensar, “somos nós e ponto, mais nada interessa no resto do
mundo”.
Aí eu vi o cartaz e o tema da ANPED... estou dizendo isso porque a gente está
aqui na ANPED agora e eu estava vendo a contracapa do caderninho de programação
que tem lá todas as reuniões e justamente nessa reunião que eu participei em 94 o tema
era “ética, política e educação”, e nessa capa saiu “ótica, política e educação”, então
ficou engraçado.
CRISTIANE: É ética! É que eu não tinha entendido.
379
Foi “ética, política e educação”. Eu me lembro bem porque eu vi “ética, política
e educação” e falei: “vou escrever um texto sobre ética, política e educação tal como
visto pelos anarquistas”. E aí escrevi, eu tinha estudados os anarquistas e tal, então não
é um texto que dissesse respeito à minha tese propriamente dita, mas tentando articular
com esse tema da reunião, que era “ética, política e educação”, segundo a visão dos
anarquistas.
E como eu não conhecia a estrutura da ANPED, não sabia que existiam grupos
de trabalho, essas coisas todas, eu mandei para a ANPED. Aí recebi, meses depois, com
surpresa, uma carta dizendo que o meu texto tinha sido aprovado para apresentação no
Grupo de Trabalho Currículo. Aí eu falei: “Currículo? Não sei o que é currículo, não
tenho nada a ver com isso, mas aprovaram o trabalho, vou lá apresentar”. E aí foi uma
experiência muito interessante essa apresentação, fui muito bem acolhido pelo grupo e
trabalho de Currículo, tiveram muito interesse pelo trabalho, gerou muita discussão
interessantíssima, e o curioso é que nesse meio tempo tinha colegas que mandaram
trabalhos justamente para o Grupo de Trabalho de Filosofia da Educação que estava
nascendo naquele ano, era a primeira reunião em que se instituía o GT de Filosofia da
Educação.
Como eu não sabia, fui para o Currículo sem entender porque se eu citei
Filosofia da Educação, era em Filosofia da Educação que tinham que ter me colocado,
mas me colocaram no Currículo. Aí disseram: “não, mas não são eles, você que tinha
que ter indicado”. Eu não sabia que tinha que indicar, como chegou sem indicação
nenhuma, acho que meio que jogaram para o alto e o pessoal do currículo viu, o título
deve ter interessado, “tá bem, vamos trazer para cá, então”.
Mas aí foi uma conversa muito interessante com o pessoal de Currículo, gostei
da experiência, e aí, no ano seguinte, eu resolvi escrever um texto para o GT de
Currículo... aí sim endereçando para a discussão. Como eu descobri que a conversa
sobre currículo que eles faziam era uma conversa muito mais ampla, muito mais geral
do que o específico do técnico curricular, aí eu resolvi escrever sobre isso.
E uma das coisas que eu senti ao participar da reunião é que tinha um interesse
forte pela questão da interdisciplinaridade na época, e eu já tinha um nó com a questão
da interdisciplinaridade desde a época que eu tinha sido professor no ensino médio, que
na escola se falava muito de interdisciplinaridade e ninguém fazia nada de
380
interdisciplinaridade. E era aquela coisa: parecia que bastava falar para mudar a
realidade educacional, porque todo mundo falava, todo mundo falava e ninguém agia
interdisciplinarmente.
E aí eu falei: “eu quero escrever algo sobre isso, eu quero pensar sobre isso”. E
aí, na época, justamente me lembrei da ideia de rizoma do Mil Platôs e fui buscar o Mil
platôs para trazer o conceito de rizoma, trazer a noção de rizoma para pensar o campo
do conhecimento, pensar a questão do conhecimento, pensar a possibilidade de um
conhecimento rizomático, de uma articulação rizomática dos conhecimentos, que seria
algo distinto de uma perspectiva disciplinar.
Então, um primeiro uso de conceitos deleuzeanos ou Deleuze-guattarianos para a
educação se deu nesse contexto. Então, era para pensar essa questão específica e eu
também fui especificamente, não foi um estudo da obra do Deleuze e do Guattari, mas...
bom, o que eu posso captar deles, como eles próprios evidenciam, chamam a atenção, o
que eu posso capturar deles para transformar em ferramentas e para pensar a questão
educacional. Foi por aí.
Você ia perguntar alguma coisa?
CRISTIANE: Você conhece aquele texto do Guattari sobre interdisciplinaridade,
transdisciplinaridade?
Do Guattari?
CRISTIANE: É. Saiu na Revista Tempo Brasileiro, eu acho.
Na Tempo Brasileiro? Não sei, pode ser que eu conheça, pode ser que não.
Aí foi isso. Eu comecei a trabalhar nessa direção de trazer primeiro ali no
Currículo. Aí eu mandei um trabalho em 95 que deu uma discussão muito interessante.
Para 96 eu fiz um outro trabalho também para o Currículo que era uma certa
continuidade desse, que também deu uma discussão curiosa, interessante e tal. E assim
foi indo.
Só que nesse meio tempo, participando do GT de Currículo, eu ia lá, apresentava
o meu trabalho e ficava também sapeando o GT de Filosofia da Educação porque o
pessoal, os meus colegas da área... “ah, você tem que vir aqui para o GT de Filosofia da
Educação e tal”, e foi mais ou menos a época que eu conheci o Paulo (Ghiraldelli) e ele
381
estava lá na articulação do GT de Filosofia da Educação, então eu fiquei um tempo
participando basicamente dos dois GT´s, um pouquinho em um, um pouquinho em
outro, pulando aqui e acolá.
E aí, no GT de Filosofia da Educação estava sendo feita uma discussão sobre o
sentido da Filosofia da Educação, várias maneiras de se ver a Filosofia da Educação, e
aí eu tentei também fazer uma leitura da Filosofia da Educação a partir do Deleuze e do
Guattari, do O que é Filosofia?, com aquela ideia da Filosofia, das várias discussões que
se fazia da Filosofia da Educação e tentar trazer essa contribuição: se a filosofia é um
processo de criação de conceitos, que a Filosofia da Educação seria então...
CRISTIANE: Isso em que ano?
Eu acho que eu apresentei esse trabalho no GT de Filosofia da Educação em 98
ou 99, se não me engano. Deve ter sido 99. Bom... eu não lembro se isso foi antes ou
depois que o Paulo lançou o livro O que é Filosofia da Educação ... eu acho que 2000,
pela DP&A, e esse texto que eu escrevi saiu como um capítulo do livro do Paulo. Aí eu
não lembro...
CRISTIANE: São Notas Deleuzianas, né?
É. Eu não sei se primeiro eu fiz o texto para a ANPED e depois ampliei para sair
no livro. Eu acho que foi isso, foi 99, e aí eu ampliei e saiu como capítulo no livro que o
Paulo organizou. Eu acho que foi isso.
Então assim, por conta desses usos mais, digamos assim, direcionados mesmo.
Não era um estudo sistemático de Deleuze e Guattari, mas sim coisas que eu fui lendo
meio que ao léu, digamos assim, e aí... “bom, vou escrever sobre isso, vou pensar essa
questão”. Então eu me lembrava: “bom, mas eu li isso lá, eu acho que pode ser legal”,
então ia, recuperava, retomava e tentava produzir nessa direção. O movimento foi um
pouco esse.
Porque, na verdade, eu só fui começar a desenvolver um estudo mais sistemático
desses autores quando eu assumi o tempo integral na Unicamp, no começo de 2005.
Porque até então eu trabalhava na Universidade Metodista e lá eu fiquei anos a fio em
cargos de gestão acadêmica e isso, evidentemente, complicava um pouco o fato de o
estudo mais sistemático.
382
Então, eram essas coisas... eu ia lendo nos horários vagos e tal. Aí quando eu fui
pra Unicamp em 2005 com a exigência de ter um projeto de pesquisa, foi que eu acabei
circunscrevendo um programa de pesquisa para estudar mais sistematicamente o que eu
chamava na época, e talvez chame até agora, de “Filosofias da Diferença”, tentando
focar nessa dinâmica da Diferença, do pensamento da Diferença em conexão com a
educação. Aí passei alguns anos fazendo o estudo mais sistemático do Deleuze, de 2005
até 2008, 2009, e de lá para cá eu estou fazendo um estudo mais sistemático do
Foucault.
CRISTIANE: Eu acho que você podia falar agora mais conceitualmente. Quer
dizer, o que de fato você percebe que o pensamento deleuzeano...
Já deu quinze minutos, o cheiro de querosene está forte, o barulho está
aumentando.
CRISTIANE: Conceitualmente, como é que seria essa lupa deleuzeana sobre a
educação, em termos conceituais.
Aí você quer demais! (Risos)
CRISTIANE: Faz uma síntese.
Dá preguiça de falar disso, pelo amor de Deus! Mas eu acho que essa discussão
que a gente tem feito... o que estava acontecendo no GT ontem, por exemplo. O que me
encanta muito no Deleuze – e aí eu diria bem mais no Deleuze do que no Guattari, nele
também, mas acho que isso no Deleuze é mais forte – é justamente essa busca de uma
alternativa ao pensamento.
Alternativa no sentido de que você tem um pensamento que se constrói como
tradição, digamos assim, que o Deleuze vai chamar de pensamento da representação, de
forma mais geral, e essa busca de um pensamento outro que a gente poderia caracterizar
das mais diversas maneiras... eu posso chamar de filosofia da diferença, por exemplo,
dessa ênfase da diferença, mas poderíamos chamar de pós-estruturalismo ou poderíamos
chamar de qualquer outra coisa.
De toda forma, o que eu acho é que, no campo da educação, a gente tem muito
forte esse pensamento da tradição, esse pensamento da representação. Toda a teoria
educacional é uma teoria representacional e a Filosofia da Educação que se tem
produzido no Brasil, no meu ponto de vista, é uma Filosofia da Educação de natureza
383
representacional e nos coloca essa leitura de mundo, essa visão de mundo do âmbito da
representação.
E aí, o que me encanta no Deleuze é justamente essa alternativa que ele dá.
“Olha, vamos pensar de outro modo. Vamos pensar não no uno, mas vamos pensar no
múltiplo. Mais do que pensar o múltiplo, vamos fazer o múltiplo, vamos fazer a
multiplicidade”. E acho que... eu, pelo menos, vejo a Filosofia como algo meio assim,
você se identifica mais ou se identifica menos com determinadas visões de mundo, e,
para mim, eu me identifico muito mais com essa visão de mundo da multiplicidade do
que com a visão da unidade.
Você falou lupa, né? Lupa, chave de leitura, óculos, não sei... uma vez o Roberto
Machado deu uma palestra falando dos óculos filosóficos, que você tira um, põe outro,
ver de uma maneira, ver de outra. Mas eu acho que é mais do que isso, mais do que só
um instrumento, nesse aspecto da multiplicidade. Porque eu acho que você tem certas
inquietações ou certos problemas com aquilo que se constrói, com a forma que se vê, aí
de repente você lê um autor que você percebe que pensa de um modo que está mais
próximo daquilo que você pensa ou daquilo que você achava que pensava... não sei
explicar bem isso, não sei dizer, não tenho boas palavras para dizer isso. Mas é essa
coisa. Você lê um autor, “esse aqui tá mais de acordo com o que eu quero ver do que
aquele outro que eu li”.
E isso me acontece, me aconteceu um pouco com o Deleuze, com o Guattari,
com o Foucault também, de certa maneira. Nessa perspectiva, eles sacam determinadas
coisas da realidade que me parecem coisas interessantes de serem olhadas. E, no âmbito
da educação, isso me parece muito importante porque, de forma geral, independente da
perspectiva teórica que você adote, você está vendo as mesmas coisas quando você
pensa no âmbito disso aí que a gente poderia com Deleuze chamar de representação, de
pensamento da representação, filosofia da representação.
Seja um marxista, seja um tomista... claro, aí você vai ter posições teóricopráticas talvez distintas, posições políticas distintas, mas você está vendo a mesma
coisa, você está vendo o mesmo fenômeno. Então, você tem interpretações diferentes,
mas acaba olhando o mesmo fenômeno.
384
Uma filosofia como a do Deleuze, como a do Foucault, para mim, nos fazem ver
outros fenômenos. Não é só um outro ponto de vista, não só uma outra maneira de ver,
eles nos permitem ver outras coisas que nessas teorias a gente não ver. Me parece que aí
está o ponto interessante de investir com eles, de investigar com eles e de pensar a
educação junto com eles.
E, mais especificamente no campo da Filosofia da Educação, o que me parece
interessante pensar com eles estaria no campo daquilo que o Deleuze chama de tentar
sair de uma imagem dogmática do pensamento. A gente tem essas várias imagens,
imagens dogmáticas, que nos dizem o que é pensar, “eu vou pensar”. Então você pensa
segundo aquele pressuposto, segundo... a palavra que o Deleuze não usa, mas eu acho
que ajuda, segundo determinado paradigma ou segundo um determinado referencial
teórico, digamos assim. Especificamente na pós-graduação, em que todo mundo diz
para os estudantes que você tem que ter um referencial teórico, que você tem que definir
o seu referencial teórico e assim por diante: Fazer pesquisa é definir um referencial
teórico e pensar segundo aquele referencial.
Só que quando você pensa segundo aquele referencial, você não pensa porque
aquele referencial já te dá as respostas. Uma pesquisa em que você vai a campo, por
exemplo... você não vai a campo para descobrir coisas, você vai a campo para
comprovar aquilo que você já sabe. Você vai a campo para ver aquilo que você já sabe
que você vai ver... “Tá vendo? A minha hipótese era essa, eu fui a campo e se
confirmou a minha hipótese”, ou então “não se confirmou a minha hipótese”, mas
dentro daquela perspectiva de pensamento.
E o Deleuze e o Foucault, por exemplo, nos convidam a ver o pensamento como
uma criação. Não o pensamento como uma recognição, nas palavras de Deleuze, mas o
pensamento como uma criação, o pensamento como... você se encontrar com coisas
inusitadas, você tem que pensar a partir dessas coisas inusitadas.
Eu acho que em educação é justamente isso que falta. Em educação falta isso, na
Filosofia da Educação falta isso, pensar o inusitado. Por exemplo, na discussão que a
gente acompanhava agora... então tem um avanço imenso na tecnologia, você tem todo
um aprendizado na visualidade, diferente do que você tinha tempos atrás... as coisas
mudam e se ressignificam completamente.
385
E o que a gente faz com isso? A gente se lamenta e diz: “os alunos já não leem”.
Mas a gente não vai entrar na lógica da imagem para trabalhar com eles na lógica da
imagem. A gente vai dizer: “poxa, perdeu-se toda uma cultura, toda uma tradição, que é
a tradição da escrita, porque os alunos não leem”, mas os alunos estão fazendo um
monte de coisas que a gente nem imagina que eles fazem. Os caras estão fazendo... na
minha época se passava bilhetinho na sala de aula, hoje eles passam bilhetinho por SMS
e estão o tempo todo ali se comunicando sem precisar passar o bilhetinho físico, de
papel, o bilhetinho é virtual. Mas o bilhetinho virtual atrapalha menos a aula do que o
bilhetinho físico, que incomodava muito os professores. Hoje eles passam os bilhetinhos
por SMS e o professor nem vê porque manipulam o celular por baixo da carteira.
Mas aí, a gente olha para isso e a gente faz o que? A gente se lamenta de um
passado perdido, a gente quer recuperar, a gente acha que tudo isso é um problema
porque com isso se perde coisas e a gente não vê o que a gente ganha com isso.
E o que eu acho que o Deleuze e o Foucault, por exemplo, nos convidam a
pensar em uma situação como essa é: “bom, isso está acontecendo. E aí? O que a gente
pensa a partir disso que está se constituindo?”. Isso se constitui como problemático para
nós porque a gente já não sabe ensinar nessa perspectiva.
Então, como é que nós nos mobilizamos para ressignificar o ensino, para buscar
novas formas de ensinar, para produzir outras teorias sobre isso, outro pensamento
sobre isso e não ficar usando o pensamento da recognição, o pensamento do já pensado,
o pensamento do já instituído para que ele leia esses fenômenos como aquilo que já foi
colocado.
O que eu gosto de pensar com esses caras é justamente, não para transformá-los
em uma nova recognição, até porque isso é facinho de fazer, todo mundo vira
deleuzeano, todo mundo vira foucaulteano, e transformam cada um deles em uma outra
imagem de pensamento, isso é mole, é fácil, em educação isso é ainda mais fácil porque
a educação adora modismo... então, de repente, todo mundo virar deleuzeano na
educação é legal, todo mundo virar foucaulteano em educação é legal, até aparecer o
novo “ismo”, o novo “ano” ali na frente e todo mundo mudar de casaca. O risco disso é
forte.
386
Mas eu acho que, por outro lado, eles têm essa imposição. Se a gente de fato
entra na obra deles com firmeza, você tem essa imposição de pensar, de usá-los como
ferramentas de pensamento e não usá-los como um novo pressuposto, um novo
paradigma, um novo arcabouço daquilo que vai ser aplicado. Então, o que me parece
interessante é justamente essa mobilização em torno dessa possibilidade.
Eu estava falando disso e me lembrei do Michel Serres, que não é exatamente
alguém da mesma laia, digamos assim, do Deleuze e do Foucault, mas é também um
sujeito bastante provocador, bastante interessante, e no livro dele, Hominescências, que
ele faz uma discussão muito interessante. Ele faz toda aquela discussão daquilo que nós
perdemos, mas também faz a discussão daquilo que nós ganhamos e ele diz: “bom,
quando a gente está em uma situação nova, enfrenta uma novidade ou uma nova
emergência, a gente tem que justamente fazer esse paralelo, o que a gente perde e o que
a gente ganha”.
Aí ele fala, por exemplo, da questão das bibliotecas digitais, da questão da
internet, desse novo suporte da informação e ele fala do pessoal que faz a critica, “as
bibliotecas físicas vão desaparecer”. Isso é uma imbecilidade... as bibliotecas não vão
desaparecer, elas vão ser ressignificadas. E diz o Serres: “a gente está perdendo um
certo acesso ao livro, mas o que que a gente está ganhando quando você tem as
bibliotecas digitais?”. Ele diz: “Olha, as crianças de hoje já não se lembram do que
viram na televisão ontem a noite. Como você tem um suporte muito eficiente para a
memória pelos meios digitais, a tendência é que você esqueça com mais rapidez”. Mas
aí, diz ele em uma determinada passagem, “a gente está perdendo o recurso da memória,
a gente não exercita mais o uso da memória, mas o que a gente ganha com isso? A gente
ganha mais espaço mental, mais espaço mental, mais espaço no cérebro para ser
criativo”.
CRISTIANE: O Vattimo também diz isso, que é o texto que eu te falei.
Pois é! Você perde algumas coisas sim, mas... era isso que eu estava falando de
visão de mundo, de forma de ver a realidade, uma postura frente à vida, digamos assim.
Você pode ter uma postura que é a de ficar lamentando tudo aquilo que se perde
querendo recuperar e querendo segurar aquilo que está escorrendo entre os dedos, isso é
uma postura que a gente vê muito disseminada. Mas você também pode ter uma postura
de dizer: “bom, tem coisas que a gente está perdendo, mas tem coisas que a gente está
387
ganhando. Então, como é que a gente vai à diante? Como é que a gente surfa o
conhecimento?”, como diria Deleuze. Como é que a gente aproveita essa questão e
avança com ela, vai à diante com ela? É basicamente essa a posição que eu acho
interessante de se pensar em Filosofia da Educação com o Deleuze.
CRISTIANE: Sílvio, aquele livrinho... uma hora já falou.
Então, tempo esgotado. Chega! (Risos)
CRISTIANE: Não, uma hora não, quarenta minutos.
Já chega! O Walter falou vinte, chega! Eu já compensei (Risos)
CRISTIANE: Escuta... o livro da Autêntica, “Deleuze e a educação”, você
considera o que você tem produzido sobre esse assunto de mais expressivo ou você
apontaria um outro escrito seu que seria representativo dessa reflexão.
Eu não apontaria nada. Aquele livro já foi reescrito inúmeras vezes sem se
materializar. Na verdade, como é que ele aconteceu? Ele aconteceu por um convite do
Alfredo (Veiga-Neto), que é o coordenador da coleção (pensadores & educação, Editora
Autêntica), para escrever o livro para a coleção. E é uma coleção que tem um interesse
didático, a pegada dela é uma pegada didática.
Aí, o que eu procurei fazer, na verdade, foi tomar coisas que eu já tinha escrito.
Então, basicamente, o livro é composto por esses artigos que eu comentei com você que
eu escrevi para a ANPED sobre a questão da transversalidade do rizoma, sobre a
questão da Filosofia da Educação e, basicamente, o que eu fiz foi escrever uma
introdução sobre o Deleuze e trazer esses textos como possibilidades de pensar o
Deleuze na educação. A ideia era um pouco essa.
O Deleuze não foi um filósofo da educação, então não dá para dizer o que
Deleuze pensa sobre educação porque ele não pensou a educação, mas o que nós
podemos pensar sobre a educação a partir de Deleuze. E a ideia do livro é: aqui estão
algumas linhas, algumas possibilidades, que não tem a menor intenção de ser exaustivo
nem definidora do campo, pelo contrário, é de indicar algumas possibilidades. Mas
aquilo foi escrito em um determinado momento, como eu te disse, em que eu não tinha
feito ainda um estudo mais sistemático da obra do Deleuze. Foi mais essa coisa de pegar
uma coisa aqui, uma coisa acolá.
388
Então, eu já pensei várias vezes eu propor ao Alfredo uma nova... não é nem
uma nova edição, mas uma reorganização daquilo, até porque eu acho que o livro é
muito injusto com Guattari porque o título dele é “Deleuze e a educação”, ele está todo
centrado no Deleuze, só lá quando eu faço o histórico do Deleuze que falo do encontro
dele com o Guattari, da produção dele com o Guattari, mas, por outro lado, tudo aquilo
que se fala sobre possibilidades de pensar educação se fala a partir da obra conjunta do
Deleuze e do Guattari. Então, a rigor ele deveria... Ele deveria se chamar “DeleuzeGuattari e a educação”, e não “Deleuze e a educação”. E aí, uma coisa que eu já pensei
em propor é de justamente retrabalhar um pouco aquele livro e ele virar um “Deleuze e
Guattari e a educação” e escrever um outro “Deleuze e a educação” centrado na obra do
Deleuze.
CRISTIANE: A lógica do sentido, Diferença e Repetição...
Exato.
Aí eu acho que dá pra pegar toda essa questão do aprender que o Deleuze vai
trabalhar e a própria questão da diferença, a própria noção deleuzeana da diferença que,
do meu ponto de vista, é algo que precisa ser trabalhado em educação, especialmente
quando a gente pensa toda a política de educação inclusiva, porque a política de
educação inclusiva que vem sendo construída no Brasil faz uma afirmação da diferença,
mas ela faz uma afirmação da diferença a partir do princípio de identidade. Ela faz
justamente essa afirmação da diferença com a aparência que o Deleuze vai fazer a
crítica.
E aí, eu acho que pensar uma educação inclusiva a partir de uma filosofia da
diferença, da diferença em si mesma, da diferença por si mesma, seria algo bastante
importante, bastante interessante.
CRISTIANE: Fora a banalização que foi feita do conceito de diferença, né?
Exato, exato.
Então, eu não acho que aquele livro seja um livro significativo. Eu acho que é
uma coisa muito introdutória, muito geral e...
CRISTIANE: Você apontaria um outro texto seu que esteja publicado?
Não, não.
389
CRISTIANE: Uma outra coisa que eu queria perguntar, eu tenho feito essa
pergunta a todos aqueles que eu tenho conversado e que tem uma importância
para a minha pesquisa, é essa questão da Filosofia da Educação. A Filosofia da
Educação ela é tida como algo menor, como algo marginal, como algo que pertence
à educação, que a filosofia não tem nada a ver com isso, enfim... toda aquela
discussão que a gente conhece. Então, eu queria que você também se colocasse com
relação a essa questão.
Do que é a Filosofia da Educação? Qual o sentido dela?
CRISTIANE: Sim, se ela é efetivamente algo que mereça um olhar nobre da
filosofia...
Se é Filosofia, se não é...
Se eu disser que não, eu sou obrigado a me enterrar, porque a minha vida é isso.
Agora, eu acho que... também não dá para ter uma visão rancorosa, né? Por exemplo, eu
fui trabalhar com Filosofia da Educação, não tinha muito claro isso. Mas uma vez eu
conversando com o Antônio Joaquim Severino, ele falando da trajetória dele e ele falou
algo muito parecido com isso que eu senti na minha trajetória.
Por que eu fui fazer mestrado em Educação? Porque o que eu queria fazer, eu
senti que na Filosofia não tinha espaço. Que na Filosofia, pelo menos na Filosofia como
a gente tem lá... eu estava pensando em Campinas, eu sou de Campinas, estava
pensando “eu vou fazer lá na Unicamp”, coisa de família, naquele momento eu não
tinha como pensar “ah, eu vou fazer pós-graduação no Ceará, no Rio Grande do Sul”,
era ali em Campinas mesmo que eu faria.
A gente nem tinha o curso de graduação em Filosofia na Unicamp, mas tinha
uma pós-graduação já consolidada, reconhecida. Mas entrando em contato lá com a
área, o que se faria? O que seria possível de fazer? Eu teria que escolher um autor,
escolher um assunto nesse autor e fazer um comentário sobre esse tema em um
determinado autor. E eu sentia que com isso você não teria espaço para... eu não fala
assim na época, mas você não teria espaço para a criação, para o pensamento, etc. E eu
senti que na Educação você tinha essa abertura.
Então, uma das coisas que me fez ir fazer o Mestrado em Educação foi, no caso
em Filosofia da Educação, que uma área de concentração que a gente tem lá no
390
programa, é de sentir que a gente podia, na época, tomar o tema que eu queria trabalhar,
que era o anarquismo, as produções anarquistas em Educação, e abordá-lo
filosoficamente com uma liberdade de trabalho filosófico que na Filosofia eu não tinha,
e ao mesmo tempo com uma certa transversalidade, uma certa abertura. Porque eu
queria estudar – ou estudava o anarquismo ou eu queria estudar, em termos de pósgraduação, o anarquismo – porque com o anarquismo eu consegui articular os meus
interesses na época, que eram interesses em antropologia e em política, basicamente.
Só que se eu fosse para a filosofia e fosse fazer um trabalho em antropologia
filosófica, esse trabalho seria um trabalho de antropologia filosófica, não de política. Se
eu fosse fazer um trabalho de filosofia política, seria um trabalho de filosofia política, e
não de antropologia. E na educação eu conseguia fazer uma coisa que ao mesmo tempo
era antropologia, era política e era educação. Então, eu sentia na filosofia da educação
essa possibilidade de percurso, de movimento e de liberdade de pensamento e de criação
que eu não via na filosofia.
Aí, depois disso tudo que eu, começando a tomar um contato maior com o
campo, que a gente vai descobrindo, sabendo como cada campo ver o outro. Aí vim a
conhecer essa ideia da área da Filosofia de que a Filosofia da Educação é uma área
menor.
Agora, do meu ponto de vista, isso é um absoluto desconhecimento da área de
Filosofia para a Filosofia da Educação, por um lado. Com isso eu não estou dizendo que
só se faça coisa boa na Filosofia da Educação, se faz muita porcaria em Filosofia da
Educação, evidente, como também se faz muita porcaria em Filosofia e também se faz
muita coisa boa em Filosofia.
Mas, do meu ponto de vista, a Filosofia comete um equívoco sério quando diz
que a Filosofia da Educação é uma outra coisa. Por quê? Porque deixa a Filosofia da
Educação para os pedagogos, para os educadores. E os pedagogos, do meu ponto de
vista, não tem competência teórica para fazer Filosofia da Educação, e isso não é
diminuir o pedagogo. Do meu ponto de vista, você só faz Filosofia da Educação usando
o instrumental filosófico para pensar a Educação.
Um pedagogo, por formação, não tem acesso ao instrumental filosófico. Isso não
significa que ele não possa ter, de repente o cara estuda Pedagogia e estuda Filosofia.
391
Não precisa fazer graduação em filosofia, não precisa ter carteirinha de filósofo se o
cara domina o instrumental, mas a grande maioria não domina porque o curso não leva a
esse...
CRISTIANE: Eu concordo contigo e até acrescentaria que para se fazer um bom
trabalho em História da Filosofia é necessário que você tenha essa formação
filosófica.
Claro, sem dúvida, por que se não você vai fazer História.
CRISTIANE: Você não vai saber o que está falando.
Você vai fazer estritamente História, não História da Filosofia. É um pouco isso
que eu penso da Filosofia da Educação.
Para fazer Filosofia da Educação, você tem que conhecer Educação, não pode
não conhecer Educação porque aí não adianta também... “ah, eu sou filósofo e vou falar
de educação, mas não conheço educação”. Mas você também não pode ser “ah, eu sou
um educador, sou pedagogo, sou alguém formado no campo da educação e por isso eu
posso pensar filosoficamente a educação”. Não pode.
Eu acho que você tem que estar na confluência dessas duas coisas, tem que se
colocar aí nesse turbilhão e ou vir de uma formação em Filosofia, mas se deixar afetar
pelo campo educacional, ou vir do campo educacional, mas fazer todo um trabalho de
apropriação do instrumental filosófico. Acho que aí você faz Filosofia da Educação.
O problema que a gente tem no Brasil, o que acaba sendo? Ou quando a área de
Filosofia diz “não, isso não é nosso, isso não é com a gente, isso não nos interessa
porque não é nobre”, ou você deixa para o pedagogo, o educador de forma geral, ou
você deixa para aqueles caras que fazem Filosofia, mas fazem Filosofia porque foram
para o Seminário, por exemplo, e depois desistem de ser padre ou desistem de fazer
qualquer coisa desse tipo e não encontram muito campo e não têm um domínio teórico
maior da filosofia, conhecem Filosofia, estudam Filosofia, mas não tem aquela
competência teórica mais forte na Filosofia e acabam não sendo reconhecidos no campo
da Filosofia propriamente dito e acaba indo para o campo da Educação. “Então eu vou
fazer minha carreira no campo da Educação, vou trabalhar com Filosofia da Educação
que é uma coisa mais tranquila”.
392
Eu acho que muitas pessoas que vêm da Filosofia, mas vêm da Filosofia dessa
forma. E eu estou aqui falando do Seminário, dos padres e tal, mas é evidente que não
são todos, é uma parte e não são só esses, tem outros também que passam pela Filosofia
dessa maneira, mas acabam encontrando na Filosofia da Educação um campo em que
você consegue enganar mais fácil, digamos assim, ou acham que é um campo em que
você consegue enganar mais fácil, que você consegue mais maleabilidade. Aí eu acho
que com isso a gente acaba fazendo um desserviço à Filosofia da Educação.
Eu acho que o papel da Filosofia seria justamente o de cobrar esse rigor, essa
sistematicidade da Filosofia da Educação e não dizer “isso não é conosco”. Agora, a
gente tem essa perspectiva imposta no Brasil, talvez não só no Brasil, em outros países
também, mas certamente aqui no Brasil a gente tem essa perspectiva imposta e é uma
questão contra a qual a gente tem que lutar.
E a gente vai lutar contra ela como? Fazendo produções significativas no campo
da Filosofia da Educação. Eu acho que é a única forma de lutar contra ela não é ficar
fazendo discurso contra, é fazendo uma produção teórica consistente e de qualidade no
campo da Filosofia da Educação.
CRISTIANE: E essa associações também, eu acho que ajudam...
Claro! É uma forma de você começar a circunscrever o campo, a cuidar mais de
campo, dar elementos para que essa produção mais consistente seja feita. Eu acho que
esse é o nosso desafio hoje.
393
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE PAULO GHIRALDELLI
... Eu nunca concordei com ele. Aliás, eu acho que o Saviani não concordava
com ele mesmo, que aquele grupo saísse como um grupo de História. Aquele grupo era
para ser um grupo de Filosofia e História, não um grupo de História.
CRISTIANE: Mas ali eu creio que foi uma jogada política dele. Por quê? Porque
se fosse só de filosofia seria mais difícil levar para a condução, que, a meu ver, era
o que ele queria, de uma politização do negócio, que seria levar para o Marxismo.
É uma leitura minha.
Pode ser, porque o Marxismo naquela época no campo da História tinha mais
trânsito, você tem razão. Se fosse para o campo da Filosofia, ele teria que enfrentar
outras correntes ali na Unicamp que ele não queria enfrentar.
CRISTIANE: E que era uma coisa que ele ainda estava, de certa forma, dentro do
seu papel.
Mas eu acho que isso fez mal para ele. Se ele fosse para a Filosofia, ele teria
crescido mais, teria enfrentado, e ele tinha mais condição de enfrentar, teria estudado,
teria se desenvolvido. Eu acho que o Saviani, naquele momento... sei lá o que aconteceu
naquele momento. Hoje, quando eu vejo o partido que ele foi parar, ele foi parar no
PCdoB por relações familiares, saber que o PCdoB vai lançar o Netinho para Prefeito de
São Paulo. Será que o Saviani está contente com esse destino que ele deu a ele próprio?
Porque ele foi para aquilo por família, tinha irmão no PCdoB e tal.
Ele foi cedendo ao marxismo não por uma coisa... por convicção ideológica, e
não por convicção acadêmica. O Saviani sempre foi um cara que, se tivesse ficado na
filosofia, teria crescido, se ele tivesse ficado na filosofia teria talvez hoje fazendo parte
de um grupo de filósofos que teria extrapolado a área da educação, mas não extrapolou.
O Saviani é uma referência, mas na educação, você sai da educação e ele já não é mais
uma referência. Por quê? Porque ele castrou a profissão dele, ele castrou a possibilidade
dele.
CRISTIANE: É isso que eu digo, creio que por convicção ideológica.
394
Convicção ideológica e talvez um pouco de ficar cativo do público que ele
formou. Porque quando você aposta muito em um público e essas coisas começam a
entrar em crise, sobra para você só esse público. Teve um tempo que ele era uma figura
que prometia para além do marxismo, mas depois, conforme as coisas foram andando,
só o público marxista que foi ficando com ele.
CRISTIANE: Mas tu não achas que ele apostou na questão da educação mais por
uma questão de formação, quer dizer, “vou ser um formador de formadores”,
visando sempre a questão política e ideológica da expansão.
Pode ser. Mas hoje veja só, pensa bem, o curso de pedagogia ficou restrito à
formação de professores do ensino básico, que é isso que a gente critica. As chances de
o Saviani hoje falar para mais gente do que essa área reduziu muito, né?
CRISTIANE: Principalmente com o avanço de outras vertentes filosóficas, né? O
próprio segmento que o... o comunismo real deu a si próprio...
E o mais estranho é que ele não defendia aquilo lá que depois acabou
defendendo. Quer dizer, quando todo mundo saiu daquilo, sobrou ele como se ele fosse
o responsável por aquilo. Na verdade, ele nunca fez uma defesa da União Soviética ou
daquele tipo de marxismo, não em sala de aula pelo menos, como meu orientador nunca
fez. Depois caiu nas costas dele aquela coisa que, na verdade, nem era responsabilidade
dele.
CRISTIANE: Mas Paulo, a questão...
Eu sinceramente amargo, porque eu convidei o Saviani para vir para o GT de
Filosofia da Educação, não precisava sair do GT de História... eu convidei ele para vir
para o GT de Filosofia da Educação, fiz um evento, “Qual o papel do filósofo no
Conselho de Educação”. Chamei ele, o Cury [Carlos Roberto Jamil Cury]... era uma
mesa do Cury, ele e eu, onde eu fazia uma mediação deles dois. Um filósofo que foi
para o Conselho de Federal de Educação, para o Conselho Estadual... qual seria o papel.
Na ANPED, foi um evento... era uma mesinha de nada que a gente fez e lotou,
tiveram que abrir o anfiteatro pra gente porque foi mais do que o evento que eles tinham
montado, foi o maior sucesso aquilo lá, mas ele não respondeu. Ele fez o evento, mas
depois voltou lá para a história do HISTEDBR [História, Sociedade e Educação no
Brasil], voltou lá para as mesmas pessoas, para os mesmos vínculos, alimentou uma
395
série de marxistas ruins, publicou junto. Aquilo, para mim, foi assim: “ele está se
enterrando”.
CRISTIANE: E hoje, para mim, eu vejo que ele parou naquela história que
chamam de pedagogia crítica, né?
Sim, ele ficou naquilo ali. Ele tomou aquilo como sendo uma coisa dele, para
ele, se vinculou a pessoas que não trazem absolutamente nada de reflexão maior, aquele
HISTEDBR, por exemplo, pelo amor de Deus, ele é de uma doutrinação quase que
religiosa, aquilo não é o que o Saviani fazia nos anos 80 na aula dele, não é! Se você
pegar o Saviani nos anos 80 ela era muito mais aberto que é aquele negócio lá hoje,
embora seja um reflexo em todas as áreas marxistas, os marxistas desapareceram e
tomaram o lugar de marxismos mais abertos. Você percebe que na Escola de Frankfurt,
uma série de posições mais abertas foram ganhas por marxistas mais ortodoxos depois
do final do comunismo.
CRISTIANE: Se bem que tem um grupo no Brasil que são os remanescentes de
Lukács, que é o pessoal lá de Alagoas, por exemplo, o Sérgio Lessa, o Ivo Tonet, é o
pessoal que foi formado Chasin. Eu fui aluna do Chasin, mas eu sou dissidente por
uma série de motivos, mas esse pessoal continuou e outros colegas lá da UECE
também foram dissidentes do Chasin. Mas esse pessoal tem ainda uma certa
ortodoxia marxista.
Aqui na UFRRJ também tem. Aqui na UFRRJ tem umas coisas assim, de gente
que foi muito aberta e que retrocedeu. Você quer um grupo altamente radical e fechado
que existe aqui na UFRRJ? O grupo do Carlos Nelson Coutinho, do Leandro Konder,
que foram figuras, nos anos 80, que estavam indo para o eurocomunismo, estavam indo
para posições de discussão aberta e de repente retrocederam. Esses dias o Carlos
Nelson Coutinho soltou uma carta condenando a Universidade por ter recebido um
dinheiro da Fundação Ford, porque vinha dinheiro do imperialismo. Ora... ele, na
maturidade dele nos anos 80, ele não falava uma coisa dessas, isso aí é uma
radicalização quase como se você estivesse com saudade de que se reproduzisse aquele
tempo.
Sinceramente, a coisa que mais me fez entender o que se passou na cabeça desse
pessoal foi o dia que o Bobbio falou que ele precisava morrer. Ele, Bobbio, quando
396
estava com 92 anos, deu uma entrevista dizendo que o mundo que ele conhecia, o
mundo da guerra fria, o mundo dual que ele conhecia, não existia mais e que ele não
tinha mais condição de entender o mundo de novo, porque ele entendia aquele mundo.
Ele se sentia deslocado como uma pessoa que estava viva, mas que tinha acabado o
tempo dele, ele falou isso.
O Hobsbawm é assim. Outro dia o Hobsbawm deu uma entrevista dizendo que
foi uma coisa ruim o que aconteceu, o fim do comunismo, porque o capitalismo na
Europa agora está livre. Enquanto que, naquele tempo, os operários no Ocidente
ameaçavam os patrões com a União Soviética. Falavam assim: “se vocês não cederem
como a Social Democracia, vem o comunismo soviético”. Mas isso é um raciocínio que
alguém faça? Como se o povo soviético fosse instrumento da nossa felicidade, nós
vamos ter um socialismo com liberdade graças a não liberdade dos outros. Isso não é
coisa que se fale! O Hobsbawm falou isso.
CRISTIANE: É igual ao Porchat falando sobre a questão do método estruturalista,
quer dizer, só existe filosofia se você seguir o método estruturalista do
Goldschmidt, quem trouxe foi o Porchat. E depois daquela famosa aula dele lá na
Bahia em que ele pede desculpas aos alunos dele, às pessoas que trabalham com
Filosofia no Brasil, porque ele próprio foi um dos responsáveis de plantar no Brasil
o método que supostamente seria o verdadeiro, a exegese de textos, né?
Agora tem uma outra coisa que desapareceu também, felizmente, que foi essa
história do método, essa discussão metodológica, desapareceu também. Foi a mesma
coisa dos anos 80.
CRISTIANE: Que, de certa forma, é até bom, né?
Eu acho excelente. Eram discussões intermináveis em cima de método que você
dispensava o conteúdo. Aquela menina que nós conversávamos ainda a pouco, ela quer
discutir o método de uma coisa que ela não faz.
CRISTIANE: E Paulo, nessa história toda, como é que você vê essa história dessa
emergência do pensamento deleuzeano dentro dessa questão da educação, mais
especificamente da Filosofia da Educação?
Cris, eu estava pensando a seguinte coisa esses dias: será que esse pessoal está
falando alguma coisa diferente do marxismo? Eu tenho dúvidas. Porque, quando você
397
conversa em termos abstratos parece diferente, mas quando você vê todos eles, de várias
correntes, se relacionarem com o cotidiano, com a prática cotidiana, a vida de cada um
de nós, a conversa deles é muito parecida com a conversa do marxismo que, por sua
vez, é muito parecida com a conversa dos padres.
Está tendo um seminário esses dias para montar mais um daqueles volumes que
o Novaes faz, aquelas antologias que ele costuma fazer. Antigamente ele fazia um
grande evento para montar a antologia, agora ele mais monta antologia do que faz
evento. Aí eu fui ver o discurso do Giacóia, estudou Nietzsche, não tem nenhuma
relação com o marxismo, uma escola do Nietzsche, aí vai, vai... na hora que chega nas
questões do cotidiano, os inimigos: consumismo, consumismo é um grande inimigo, as
pessoas não podem consumir, senão elas ficam alienadas; mercado; vida moderna... só
falta ele dizer que é o capitalismo.
Mas isso os padres falavam, os padres falavam que o capitalismo era uma coisa
ruim, a usura é uma coisa ruim, o consumo era uma coisa que... o marxismo também já
falou isso. Quer dizer, esse discurso parece ser uma... ele unifica a academia, unifica em
um grau muito maior que qualquer coisa. Você pega de uma Olgária Matos, passando
por um Demerval para chegar em um Giacóia, Marilena Chauí, e é fantástico, porque ao
mesmo tempo que um cara como o Lula diz “gente, eu quero que todo mundo
consuma”, essas pessoas de esquerda tem pavor do consumo, elas falam que tem que
diferenciar o consumo do consumismo, mas não é isso não! Qualquer coisa para elas é
consumismo, a pessoa não pode ir em um shopping, não pode se vestir bem, não pode
ter qualquer... é uma coisa meio assim do...
CRISTIANE: Religioso.
Uma coisa que volta ao catolicismo contra o protestantismo, católico contra
usura. Leonardo Boff, Frei Beto, Severino, aí você vai para os foucaulteanos,
deleuzeanos, aquelas pessoas que você espera que façam um discurso diferente desse, e
não, é igual. E se você pega o discurso do próprio Deleuze em algumas circunstâncias
desse tipo, também é igual, também tem uma mágoa contra a sociedade ocidental, a
economia de mercado da sociedade ocidental, essas coisas que parece que... e aí entra a
tal da crise de educação.
398
Todos eles quando vão falar de educação, não falam coisas diferentes. É a crítica
contra uma certa pedagogia que eles identificam no John Dewey como sendo uma
liberalização de certos elementos que não poderiam ser liberalizados.
CRISTIANE: Uma coisa que eu pude identificar foi que boa parte desse pessoal
toma para si e defende uma filosofia da educação a partir daquela posição clássica
do Deleuze de filosofia sendo criação de conceitos (O que é a Filosofia?), Filosofia é
uma criação de conceitos.
Quer dizer, eu acho que eles não saíram da capa do livro até agora.
CRISTIANE: Aí a Filosofia da Educação deveria ser feita a partir dessa criação de
conceitos.
Mas a criação de conceitos tem um problema grave, toda vida que você cria
conceitos você cria preconceitos, para cada conceito, dez preconceitos. O preconceito é
fruto de você ter criado o conceito, se você não criar o conceito não tem preconceito,
uma sociedade sem preconceito é uma sociedade sem conceito. Você cria o conceito de
criança, pronto... metade das crianças já fica de fora da escola, isso é o que eu tenho
visto. Toda vida que se cria o conceito de quem é criança, mais da metade das crianças
não cabem nesse conceito e elas ficam de fora dos elementos que são do conceito, por
exemplo, a escola.
Eu tenho pavor desse negócio de criação de conceitos por causa disso, porque
ela circunscreve as coisas... o conceito é uma circunscrição. Ele é bom para a gente
fazer discussão, para conversar, mas quando ele vem para o campo prático, o campo do
cotidiano, e a educação é o cotidiano – no fundo é uma prática, a metodologia pode ser
uma teoria, mas a educação é uma prática, acontece – quando você vai usar isso na
prática não parece uma boa coisa.
CRISTIANE: Mas Paulo, nesse sentido, o que seria Filosofia da Educação?
É uma conversação sobre educação, mas contanto que ela seja uma conversação
que tenha a ver com a tradição filosófica. Porque, no fundo, como é que as pessoas
falam que elas são filósofas se elas são herdeiras de um outro filósofo? Não tem um
outro mecanismo para você definir, né? Porque, veja, se for por objeto... não é estanho
se for por objeto ou por método? Se você for por objeto ou por método você não diria
399
que Marx é filósofo se você disser que Foucault é filósofo. Se você disser que Foucault
é filósofo, Marx não cabe, se você disser que é Marx, Foucault não cabe.
CRISTIANE: Mas aí, nesse sentido, o Deleuze diria que todos os filósofos foram
criadores de conceitos. Quer dizer, o mundo das ideias foi um conceito criado por
Platão.
Por Platão não, porque Platão não conhecia o conceito de conceito, né?
CRISTIANE: Eu estou te falando o que o Deleuze diz, que cada filósofo vai
criando conceitos, então filosofia é criação de conceitos, é nesse sentido.
Não, tudo bem, eu conheço o livro do Deleuze, mas o que eu estou dizendo para
você é que quando você desce para questões da política, da educação... vamos supor que
eu conceitue “democracia”, é um perigo, não é uma boa coisa. As pessoas adoram
conceituar, mas elas esquecem que a cada conceito cabe muita pouca gente dentro desse
conceito.
CRISTIANE: Ele é excludente, né?
Ele é excludente! Porque é do conceito ser excludente. Então, talvez seja um
bom instrumento teórico, mas não seja um bom instrumento para a ação, talvez não seja
um bom instrumento para você utilizar. Aí quando você vem para as áreas tipicamente
da razão prática, moral, política, educação, essas áreas, ele não me parece ser uma coisa
legal.
CRISTIANE: Aí, nesse sentido, a nível de provocação, como é que você vê a
questão da criação do conceito nesse sentido deleuzeano, essa ideia poderia se
aproximar da questão da redescrição rortyana, quer dizer, criar conceitos também
não é redescrever?
Não, porque criar conceitos é criar conceitos, ela elimina a outra descrição. A
outra descrição passa a ser um não conceitual, passa a ser o que ficou aquém do
conceito, é o não científico e a redescrição obrigatoriamente não. Obrigatoriamente não
porque ela própria já se toma como redescrição, ela é mais uma, é uma interpretação a
mais, ela não tem final, não tem começo nem fim.
O que que eu posso por contra o seu livro? Um outro livro. Agora se eu puder
por contra o seu livro um livro definitivo que tenha um conceito, o seu livro não merece
400
mais ser lido ou então ele merece ser lido como história. Eu acho que são coisas
diferentes. Quando eu falo em redescrição, eu estou imaginando que eu ofereci para
você... contra o seu argumento eu ofereci um argumento, contra a sua descrição eu
ofereci a minha descrição, que eu estou chamando de redescrição.
CRISTIANE: E o método de uma criação de conceitos não seria...
A não ser que a palavra conceito tenha perdido o seu conceito, porque o conceito
de conceito é necessariamente uma delimitação, tanto é que quando a gente faz o
conceito, logo depois vem a definição que é a explicitação do conceito, e tem coisas que
cabem na definição e coisas que não cabem na definição. Eu acho que essa ideia da
filosofia como criação de conceitos expulsa pela janela o essencialismo e ele reaparece
pela... você expulsa pela porta e ele reaparece pela janela. Ele é a reentrada de um certo
platonismo.
CRISTIANE: Que seria exatamente o inverso do que Deleuze quer, né? Porque ele
já funda a filosofia dele antiplatônica, né?
Fran (Chegando da aula): Eu aprontei mais uma hoje. Hoje chegou um aluno típico
daqueles que a gente conhece... que não sei o que, e a professora falou “gente, não
existe verdade absoluta”, aí ele disse: “existe professora”. Aí ela: “ah...”. Aí eu: “não,
não, pára tudo. E qual é?”. Aí a professora riu, o pessoal continuou rindo, aí eu falei:
“silêncio, não fala agora não, professora. Qual é?”. Aí o cara ficou assim meio...aí eu
falei pra ele assim: “você não sabe qual é?”.“Ah não, que não sei o quê...”. “Quem te
falou que existe também não soube te responder qual é, né?”. Aí o pessoal já
fechando o livro, aí eu disse: “calma gente... sabe por quê? Porque não existe!”. Aí a
menina disse: “ele vai se matar depois dessa”. Não... você não gostou?
É, tem que fazer isso.
Fran: Não é o cúmulo a pessoa chegar dizendo que a verdade absoluta existe? Tchau,
tchau, gente!
Mas que ele vai ficar pensando isso, ele vai!
CRISTIANE: Hoje ele não dorme. Bom... voltando à questão da redescrição e da
criação de conceitos, você falava que o conceito perdeu a ideia de conceito que
tinha dentro da tradição.
401
Quer dizer, nós estamos tentando aproximar duas coisas. Se o Deleuze está
falando que conceito é alguma coisa como é a interpretação ou a redescrição, então tudo
bem. Mas, pelo que eu sei, ele não está falando disso, pelo contrário. Aliás, ele parece
deixar bem claro. Agora, se o conceito não é alguma coisa do âmbito do platonismo,
não do Platão, mas do platonismo, então do que que ele está falando?
CRISTIANE: É, pelo menos o lá no O que é a Filosofia?, aquele livrinho dele que
vai falar exatamente que a filosofia não é uma posição definitiva, não é uma
reflexão, é uma percepção da realidade, ela não tem esse sentido tradicional do
conceito
nem
da
representação,
por
exemplo.
Pelo
contrário,
ele
é
antirepresentacionista, é, inclusive, nesse sentido que eu coloco uma pergunta: essa
aproximação antirepresentacionista do Deleuze, que ele se coloca contra a
possibilidade de você conhecer a realidade tal qual a filosofia da representação e
ele faz a defesa da categoria da diferença... Aí, nesse sentido, por exemplo, não
haveria também uma aproximação com algumas questões do pragmatismo
rortyano?
Eu penso o seguinte: o Deleuze tem lá uma série de razões para falar o que ele
falou...
CRISTIANE: Só um parêntese, eu não sou deleuzeana...
Ele tem uma série de razões para falar o que ele falou, eu só não acho que as
pessoas que se apropriam desse discurso estejam indo a fundo dessas razões.
CRISTIANE: Esse ponto aí é importante. Dá para você estender mais isso,
principalmente voltando para a questão da Filosofia da Educação.
Elas falam: a filosofia é criação de conceitos. OK, mas, se o conceito não é
alguma coisa que expulsa o diferente, então o Deleuze já está falando de outra coisa que
não o conceito tradicional. Só que isso se explicita nos trabalhos? Não se explicita...
CRISTIANE: Na filosofia da educação no Brasil...
Não só na filosofia da educação, mas na filosofia em geral que se inspira no
Deleuze. Por isso que eu digo para você, a matriz pela qual as pessoas leem essas coisas
ainda é a velha. As pessoas leem coisas novas, mas absorvem isso em uma matriz velha.
A filosofia nossa é muito herdeira de padres e marxistas, então a tendência nossa de ler
as coisas com esses olhos é muito forte.
402
Vou dar um exemplo pra você, você já deve ter encontrado por aí vários... o
Foucault. Tem várias pessoas que leem errado o Foucault, mas errado mesmo, e absorve
Foucault... a hipótese repressiva que ele combate, você já deve ter visto isso por aí. Na
área de educação você já deve ter visto pessoas que vão denunciar a repressão usando
Foucault, enquanto, na verdade, Foucault está denunciando a denúncia da repressão. E
elas não se tocam que elas estão erradas simplesmente porque a matriz marxista e
católica, é de tal ordem forte, que o que elas tem que reproduzir é a ideia da alienação,
estamos alienados por alguma coisa, estamos incapazes de ver a verdade.
Aí os padres dizem que nós estamos incapazes de ver a verdade porque nós não
estamos com Jesus e os marxistas dizem que nós somos incapazes de ver a verdade
porque estamos imersos no mercado, que causa a reificação e o fetichismo. Pronto,
estamos cegos. Aí elas vão ler qualquer outra filosofia e leem sob esses olhos.
CRISTIANE:
Então
a
leitura
deleuzeana
contemporânea
está
também
enveredando...
Olha, não pense que isso que eu estou falando é assim: “ah, os deleuzeanos”.
Não. Se você vê as pessoas lendo Rorty, você vai ver que muitas delas fazem a mesma
coisa, eu tenho colegas que leem Rorty lá no norte e nordeste e tem algumas leituras lá
que são marxistas, eles querem que o Rorty fale como se ele estivesse defendendo uma
sociedade revolucionária, socialista, como se a redescrição fosse um instrumento de
desalienação. Enquanto, na verdade, a noção da alienação não passa pelo discurso do
Rorty, não tem essa noção, porque não é uma filosofia metafísica que permite você ter
ilusão e não ilusão em um sentido metafísico.
A ilusão que você pode ter com o Rorty é uma ilusão comum, ilusão psicológica,
uma ilusão de percepção psicológica, de erro comum, mas não uma ilusão metafísica,
aquela ilusão que só o metafísico pode denunciar, como, no caso, a alienação o a
reificação. Essa palavra, para o Rorty, não significa nada, ela não tem significado
teórico, porque se não ele entraria naquilo que ele chama de um platonismo, né?
Trabalharia novamente com um esquema dual e ele não faz isso.
Mas se você pega algumas leituras, mesmo no nosso grupo, no nosso GT de
Pragmatismo da ANPOF, aparecem várias pessoas ali que acham que o Rorty está
falando de alguma coisa que é uma esquerda marxista. Não, não está falando disso de
403
jeito nenhum! A política do Rorty se aproxima a uma política de esquerda, mas a
filosofia não, a filosofia do Rorty não tem vinculação de política, ela é uma
antimetafísica, você não tem um mundo dual próprio do sistema metafísico.
CRISTIANE: A partir desse princípio que você está colocando, se há uma
repetição que vem sendo retomada desde a tradição dos Jesuítas, do próprio
catolicismo, a partir desses pensadores contemporâneos, Filosofia da EducaçãoDeleuze, então poderia também dizer que há uma repetição dos resultados nessa
reflexão deleuzeana sobre a Filosofia da Educação?
Quando você vai ver o que que eles propõem para as escolas ou para a política
ou para questões do multiculturalismo, seja o que for, você vai ver que é muito parecido
ao que já foi proposto por outras correntes educacionais, você vai ver que na prática...
você sabe uma pessoa que falava isso também, mas de outro autor, que ela percebia? A
Nadja Hermann. Ela estudava o Habermas e ela falava assim: “sabe o que eu noto? Que
o Habermas dos meus colegas é um padre, eles não podem mais buscar fundamentos em
uma filosofia religiosa, então agora eles buscam fundamentos na linguagem e usam o
Habermas, mas no fundo eles estão buscando fundamentos, é uma reconstrução de uma
filosofia tradicional com uma linguagem nova”. E isso no Habermas foi bem verdade.
CRISTIANE: Que é mais ou menos aquilo que o próprio Foucault coloca, o
Foucault e o Vattimo. A modernidade seria, de certa forma, uma retomada da
tradição católica, a gente queria salvar a alma, agora a gente quer salvar o Homem
na modernidade, né?
Isso vem pelas duas vias. Pode vir por uma leitura correta, bem estruturada, e aí
você faz uma apropriação legítima, e pode vir por uma leitura errada, completamente
burra, do erro. Não estou dizendo que é só um erro, pode ser um erro, mas tem gente
que sabe fazer bem feito, sabe pegar o Habermas e trazer o Habermas para um campo
exclusivamente metafísico e falar: “está aqui um defensor da metafísica como a
metafísica pode ser hoje”, tem gente que faz isso bem feito.
Eu não tenho condição de distinguir, pontuar, quem estar fazendo bem feito e
quem está fazendo mal feito porque eu não tenho esse quadro na cabeça, eu vou
encontrando... mas tem as duas coisas. Eu vejo assim: se você pegar os vários núcleos
de estudo de filosofia e de filosofia da educação você vai ver que esse fenômeno se
404
repete porque você vai encontrar pessoas nesses núcleos dizendo isso que eu estou
dizendo.
Você vai encontrar, no núcleo da Escola de Frankfurt, a Nadja falando isso. No
pragmatismo você vai encontrar eu falando isso. Eu não estou falando isso dos
deleuzeanos, estou falando do pragmatismo também, falando isso do próprio Rorty. E se
você for notar, tem gente lendo Foucault que vai falar isso. Esses dias eu vi um
professor aqui mesmo na Rural [UFRRJ] falando isso, que ele foi em uma banca sobre
Foucault na filosofia e o cara estava fazendo exatamente isso, lendo Foucault como se
Foucault fosse uma continuidade do marxismo.
Aí o cara usa daqueles mecanismos mais malucos para justificar aquelas últimas
entrevistas do Foucault, ele dizendo que ele estava fazendo mais ou menos o que a
escola de Frankfurt estava fazendo, mas se você ler a entrevista, isso é, na verdade, é
uma ironia do Foucault. Não é que ele está fazendo a mesma coisa, é que ele está dentro
de um veio que tem a ver, mas não é a mesma coisa, é outra coisa! Foucault de um lado,
Marcuse do outro.
Marcuse é um cara que está dizendo que a sociedade capitalista é repressora e
que a sociedade soviética também é repressora da libido. O Foucault está dizendo que
não é, essa é a questão. Não é dizer que é ou não é, essa não é a questão.
CRISTIANE: O controle não se exerce somente pela repressão, muito pelo
contrário. Tem uma coisa que me intriga...
Porque, na verdade, o Foucault é genial, ele é um gênio. O Marcuse pode ser um
gênio, mas o Foucault é um gênio ao dizer o que ele disse: se uma coisa é reprimida,
como é que ela pode produzir tanta coisa? Como uma coisa tão negativa pode gerar
tanta coisa positiva? Ele não está falando bom e mau, ele está falando positivo e
negativo. Não estamos dizendo que as coisas positivas são boas, elas são positivas
porque elas se põem, enquanto que o negativo não se põe, ele se encolhe.
Então, se você reprime, você faz a coisa encolher, recolher, sumir, aí produz esse
mundo aqui. Como?
CRISTIANE: E ele se torna mais genial ainda porque ele tem essa percepção a
contrapelo de toda tradição, que afirmava exatamente o inverso, quer dizer, o
poder não se exerce somente pela repressão.
405
Você quer ver um erro fantástico? Agora pelo outro lado, não pelo lado de você
repetir a esquerda tradicional, mas por você repetir a direita tradicional. Quando o Rorty
começou a ser por, a aparecer no Brasil, eu ia nos congressos de educação... as pessoas
liam tão errado ao ponto de dizerem assim: “o Rorty é o filósofo do consenso e,
portanto, ele é um filósofo do Consenso de Washington”. Eu escutei isso na Anped de
pessoas que foram da CAPES, do CNPQ, aquela moça lá que morreu que até eu
publiquei o livro dela, a Célia, de Santa Catarina... eu publiquei um livrinho dela, não
sei se ela faleceu mesmo, me disseram que ela faleceu. Essa moça ia lá no... era
representante na CAPES e ia lá para falar essas coisas e publicou, inclusive na minha
coleção, eu endossando, eu endossei isso, “publica, ué?! Quer publicar, publica”.
Mas é um erro bárbaro, a pessoa escutou o galo cantar e... e na área nossa, na
área nossa. A área da educação, pelo amor de Deus... cá entre nos, tem barbárie, né?
Tem barbárie, né?
CRISTIANE: Mas tem uma coisa que me intriga, não sei como você veria, se você
parte do princípio que você teve e tem no Brasil diversas matrizes filosóficas que
vêm marcando, vêm influenciando tanto as práticas como as teorias educacionais
e, se você for ver esse movimento de influência filosófica, você vai compreendendo
que essa influência foi aceita por conta disso, disso e daquilo outro, a Ratio
Studiorum dos Jesuítas, a influência tomista, o Tomismo, uma série de questões
sociais, econômicas, você vai compreendendo, a própria industrialização no Brasil
acaba, de certa forma, também favorecendo a aceitação do pensamento norteamericano. Enfim, a cada período você tem as suas respectivas influências. Mas
uma coisa que eu não compreendi ainda é como que se explica essa aceitação
contemporânea, por exemplo, não é de grande monta, mas já é representativa,
desse pensamento deleuzeano no Brasil.
Eu gostaria que você fizesse essa reflexão comigo porque... aí você diz: “ah,
mas não é de grande monta”. É, não, mas, de certa forma, já está se tornando
expressivo. Você ver a questão editorial, você já tem uma coisa que está sempre
aparecendo, você tem grupos pelo Brasil inteiro. Por exemplo, no meu trabalho, eu
já mapeei, no Ceará você tem um núcleo, na Unicamp você tem outro núcleo, no
Rio Grande do Sul você tem outro núcleo, no Rio você tem outro núcleo, quer
dizer, de certa forma, você tem uma representatividade, né?
406
Eu gostaria de saber como é que você vê, dentro desse raciocínio que eu
tracei de diversas matrizes filosóficas, elas acabam influenciando uma série de
fatores por uma série de motivos. Como é que a gente poderia compreender isso?
Eu acho que, nesse caso aí, talvez a situação seja meio banal pelo seguinte:
quem são essas pessoas? Se você vê, todas elas são pessoas que já estudavam filosofia
francesa, a maioria. No limite, os mais velhos foram sartreanos, os mais novos,
foucaulteanos. Ora, a filosofia francesa é a nossa matriz, fundou a USP e se espalhou,
então não saímos do mesmo lugar. Nesse caso dos deleuzanos, é até natural que seja, até
acho que eles são muito fracos perto da base que eles têm.
Veja, aqui na Universidade, essa Universidade que tem um departamento de
Filosofia de gente jovem, esse departamento de Filosofia de gente jovem ainda tem
professores...
CRISTIANE: E tem curso?
Tem um Curso de Filosofia. Esse departamento de Filosofia de gente jovem
ainda tem professores cuja língua estrangeira é o francês, não é o inglês. A minha língua
estrangeira é o inglês, se for optar entre o francês e o inglês, eu opto pela minha segunda
língua como sendo o inglês. Mesmo o italiano eu colocaria como terceira língua e o
francês como segunda.
Mas aqui você tem uma série de pessoas que não leem em inglês, é mais fácil as
pessoas arranharem um alemão do que o inglês. Isso é a filosofia no Brasil, filosofia
voltada para a Europa, conhece muito pouco o pensamento liberal, lê poucos ingleses,
conhece a Europa continental e assim mesmo... agora, o que que a Europa continental
tem produzido de filosofia? Ela está emperrada, a Europa está emperrada
economicamente também. Então, é até natural.
Outra coisa: psicanálise. A nossa linha de leitura de psicanálise, tirando o grupo
do Jurandir [Freire Costa] aqui no Rio, é inteirinha francesa. O Bento [Prado Jr],
quantos anos o Bento deu aula lá na Unicamp, de quê? De Deleuze. Falando do quê? De
psicanálise.
CRISTIANE: Ele foi o tradutor de duas obras do Deleuze.
Agora tem uma outra coisa que a gente tem que notar, é o seguinte: não é só por
essa relação com a França de inicial e posterior, é também por uma relação com a
407
França por uma filosofia também que foi base para além da França, que foi o
existencialismo. Nos anos 50, quem não era existencialista? Quem foi educado dos anos
50 para os anos 60 que não teve alguma leitura do Sartre pesada na sua formação?
Poucas pessoas, pouquíssimas mesmo.
Você pega o próprio Rorty. O Rorty tem uma bolsa, ele vai para a Europa
estudar Sartre, o próprio Rorty. Até os americanos naquela época. Hoje é o inverso, hoje
o sonho do professor europeu é conseguir dar aula nos Estados Unidos, o grande sonho
do cara é ser reconhecido...
CRISTIANE: O Foucault conseguiu, né?
O Foucault não só por conta da questão acadêmica, muito menos... por conta da
questão pessoal. Ele queria se livrar da situação de desconforto europeu que ele vivia
como homossexual. Aí ele vai para os Estados Unidos e, obviamente, vai para lugares
onde tem um pouco mais de liberdade, né? O Derrida, o sucesso do Derrida filosófico é
onde? Nos Estados Unidos. As universidades inglesas nem quiseram reconhecer ele
como filósofo, ele sai da França para os Estados Unidos, foi onde ele é reconhecido
como filósofo.
Quer dizer, você tem uma tradição francesa poderosa... porque, cá entre nós, o
Deleuze não é uma filosofia fácil de ler. Então, como é que faz sucesso, como é que
engaja pessoas em uma coisa que afasta os educadores? Não é uma coisa que ganha os
educadores, não é uma coisa que ganha.
CRISTIANE: A Lógica do sentido é um livro muito pesado. Tem que ter toda uma
bagagem.
É uma literatura que envolve um conhecimento técnico e, portanto, envolve uma
certa erudição naquela tradição. Você tem que estar envolvido com aquela conversa do
neoestruturalismo, do pós-estruturalismo, tem que estar envolvido com aquilo ali, com
uma noção de psicanálise, se não você não avança nos livros. Ele não é uma filosofia
que dá serviço para você, não é aquela filosofia que o cara dá o serviço, ele diz para
você o que você precisa para entendê-lo e dá... não é! No entanto, como é que justifica
isso se...
CRISTIANE: Eu tenho uma suspeita, não sei se você vai concordar comigo. É uma
coisa um pouco boba, mas eu acho que tem fundamento na realidade. Essa questão
408
do Deleuze ser o filósofo da diferença, quer dizer, a diferença que ele fala é uma
categoria técnica filosófica que nós, como especialistas, a gente sua pra entender
aquilo, envolve um universo inteiro, conceitual, categorial, da história da filosofia,
etc. Mas como a palavra diferença caiu na boca do povo, inclusive de forma muito
deturpada... tudo é a diferença. Mas é uma coisa que não é propriamente aquilo
que a categoria, o conceito de diferença de Deleuze quer dizer. Então, de certa
forma, a própria realidade mediática também se apropriou disso e deu uma certa
popularização do pensamento deleuzeano, só que o povo não entende porra
nenhuma!
Você lembra quando aconteceu isso com a palavra paradigma? Você lembra
quando aconteceu isso com a palavra estrutura, estruturalismo? Já tivemos esses
fenômenos. Essa é uma coisa que os filósofos não gostam de estudar, mas que eu
aprendi a estudar com o Demerval, porque o Gramsci era um cara preocupado com isso,
ou seja, como é que o homem do povo entende certas palavras do discurso erudito... o
Gramsci tinha preocupação com isso, a formação do senso comum, como que é a
formação do senso comum.
A formação do senso comum é uma coisa que os filósofos não gostam de estudar
porque eles acham que estudar o senso comum é se transformar no senso comum. No
máximo, eles estudam o senso comum filosófico, o senso comum dos autores do senso
comum, a filosofia do senso comum inglesa, mas eles não gostam de estudar o senso
comum mesmo.
CRISTIANE: O filósofo metafísico não gosta de “sujar as mãos”, né?
Não gosta, até porque eles deixam isso para a área da política. Quem vai estudar
jargão? Estudar jargão, eles acham que é para jornalista, é para o cara da comunicação,
para o cara do marketing. Por exemplo, no Brasil... mas esse estudo é importante, é um
estudo importante, como é que uma palavra perde completamente o seu sentido técnico
e abre portas. O paradigma... nem lia o Thomas Kuhn, o Thomas Kuhn não era uma
figura da literatura nossa porque vinha do mundo inglês, do mundo angloamericano, no
entanto teve uma época que não se falava outra coisa.
Eu tenho medo disso aí, tanto é que quando eu percebo que... o Adorno tinha
tanto medo disso que ele dizia que quando ele escrevia um texto, depois ele passava
409
corrigindo mudando as palavras para ficar mais difícil. Aí falavam que era elitismo do
Adorno, não é elitismo, é preocupação com esse deslize. Eu fico até triste porque o
Adorno é um dos que mais aconteceu isso.
Indústria cultura. A palavra indústria cultural está na boca do povo, qualquer
um... mas não é absolutamente nada do que o frankfurtianos falavam. Os caras
confundem indústria cultural com cinema comercial e não é bem isso, é quase isso, mas
não é bem isso.
CRISTIANE: Nesse sentido aí, eu acho que a filosofia da diferença ou as filosofias
da diferença...
Sem contar que a história da diferença vem lá do Derrida também, né? O
different que não tem a ver com Deleuze. Aí vão emendando...
CRISTIANE: Tem o Lyotard, na Condição pós-moderna, ele tem toda uma
abordagem sobre essa questão da diferença. O próprio Hegel, se você pegar A
Grande Lógica, a diferença é uma das categorias do percurso do espírito. Mas o
mundo contemporâneo se apropriou dessa categoria...
A definição de verdade do Adorno é algo fantástico.
CRISTIANE: O mundo contemporâneo se apropriou dessa categoria e, a meu ver,
o terreno da educação é muito fértil para semear essas...
É um terreno de popularização ruim por razões óbvias, né? Nós temos hoje mais
de 50 programas de pós-graduação em educação no Brasil, eu acho até que se for contar
tem mais, calculando dá por aí... deve ter mais, mas funcionando legal deve ter uns 50, a
quantidade de mestres e doutores na educação é enorme e nós somos os últimos na
escala internacional em educação, nós estamos lá embaixo, nos exames do PISA
[Programa Internacional de Avaliação de Alunos] nós somos os últimos.
Então, isso significa que nós temos uma produção imensa de pensadores sobre
educação sobre um objeto que não existe, porque nós não temos educação. A própria
escola pública nossa, que era onde nós poderíamos estudar educação, não está
acontecendo. Isso é uma barbárie e isso vai revelar a nossa...
CRISTIANE: Uma certa esquizofrenia teórica, né?
410
Vai revelar que, por falta de objeto e esse objeto ser o responsável pela própria
formação dos pensadores, já revela a qualidade do pensador. Teve até uma época... eu
me lembro que teve uma época, e eu acho que eu fui o responsável, não o único,
obviamente, mas eu acho que eu fui um dos grandes responsáveis de quebrar o
preconceito da área de filosofia com educação e vice-versa. Se olhar a história da
educação brasileira você vai dizer: “o Paulo tem um mérito”. Porque eu bati nessa tecla,
eu pegava nego da Filosofia e levava na ANPED, pegava nego da ANPED e levava na
Filosofia, brigava, “não... tem que ter formação filosófica, mas não pode ter preconceito
com a Educação”, “tem que ter formação em Educação, mas não pode ter preconceito
com a Filosofia...”. É visível que eu fiz isso durante muito tempo, né?
Eu consegui trazer várias pessoas que haviam feito graduação em Filosofia para
pensar filosoficamente a educação e elas não estavam fazendo mais isso. O Sílvio é um,
é um que fazia anos que não lia mais nada de filosofia. Voltou a ler filosofia porque no
GT de Filosofia da Educação na ANPED eu comecei a cobrar dos filósofos leitura em
Filosofia.
Voltar a recuperar essa nossa tradição de filósofo da educação... ser, antes de
tudo, filósofo. Isso foi uma coisa que eu briguei e isso criou um mal estar geral nas duas
áreas contra mim, até hoje, de vez enquanto, aparece isso aqui no departamento...
CRISTIANE: O preconceito continua. Apesar de ter melhorado muita coisa, o
preconceito continua.
Mas se você pensar no preconceito de hoje com o que era nos anos 80, não tem
nem medida! Uma pessoa não era chamada para um lugar... porque hoje tem publicação
conjunta, você ver várias pessoas publicando conjuntamente, você ver eventos
conjuntos
CRISTIANE: Os próprios Programas de Educação têm departamentos de filosofia
da educação.
Tem! As pessoas não recebiam umas as outras. Houve agressão física lá em São
Carlos, o pessoaL da Filosofia quis pegar o Demerval de pau.
CRISTIANE: Por quê?
Porque o Demerval falava em Filosofia da Educação e o pessoal falava: “ele
quer transformar pedagogo em filósofo”, eles não reconheciam no Demerval uma
411
pessoa da Filosofia porque ele fez a graduação e já no mestrado e doutorado foi
encaminhado para pensar a Educação, “pô, isso não é filósofo”. E vice-versa, várias
pessoas da educação não toleravam o pessoal da Filosofia porque achavam que o
pessoal da Filosofia era soberbo e tal, não sabia botar a mão na massa.
CRISTIANE: E para o pessoal da Filosofia, a educação é uma coisa menor, que
não deve ser pensada. Quem deve pensar é pedagogo.
Eu não estou dizendo a você que isso não existe, mas se você pensar na época
que eu comecei essa batalha...
CRISTIANE: Isso foi em que ano, Paulo?
Quando eu comecei isso aí, eu comecei praticamente sozinho, depois eu
consegui alguns aliados. Por exemplo, Severino foi um aliado que começou ele próprio
a ir no departamento de Filosofia – ele não conhecia mais nem quem eram as pessoas –
e tentar conversar. Aquela coleçãozinha que ele lançou, que até tem um Rorty meu lá, já
foi uma tentativa... ir lá no departamento de Filosofia, mostrar a coleção para as
pessoas. De 85 para cá, 84, 85 para cá. Chegou uma época de... isso me obrigou a fazer
dupla formação.
CRISTIANE: E eu acho legal quando você estampa o seu currículo e você faz
questão de mostrar tanto a formação filosófica quanto a formação na educação.
A minha formação da educação não é educação, é Filosofia da Educação.
Até pouco tempo os concursos eram completamente separados. Aqui, onde nós
estamos aqui, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, uma pessoa do
departamento de educação dá aula na Filosofia, em Filosofia, eu dou Filosofia da
Linguagem para eles. E lá agora na UFRJ, a Suzana [Castro], que dá Filosofia da
Educação para a Filosofia. Até pouco tempo nem isso podia, era um fosso.
Tudo bem, há os estranhamentos e tal, mas não tem comparação ao que foi. Eu
ganhei várias pessoas que tinham feito graduação em Filosofia para pensar Filosofia e
Educação conjuntamente. Nadja foi uma, fez a graduação e nunca mais voltou para a
Filosofia, ingressou na área da Educação, inclusive em áreas técnicas. O Sílvio estava
nessa, o Severino estava nessa. O Demerval fez o caminho contrário e isso foi uma
perda, ele fez o caminho contrário, ele foi abandonando. Aquele grupo lá de São Carlos,
o pessoal da Teoria Crítica também, é um pessoal que estava na área da educação.
412
Chegou uma época que ser educador e ser filósofo eram duas coisas separadas.
Hoje várias pessoas dão risada disso, de o cara querer ser filósofo e não ser educador e
vice-versa. É até um contra senso, né?
CRISTIANE: Pegando essa vertente aí que você está explanando, hoje, no Brasil,
quais são as principais matrizes filosóficas que pensam a educação? Eu vejo o
pragmatismo, você, a meu ver, a pessoa mais representativa dessa vertente; tem os
deleuzeanos; tem o pessoal que trabalha com Adorno, outros com Habermas; os
marxistas que a gente não pode esquecer. Como é que se faz um balanço dessas
vertentes filosóficas que hoje fazem essa reflexão em torno da educação dentro
dessa perspectiva da Filosofia da Educação?
Cris, eu sou uma pessoa completamente decepcionado com isso. Eu acho que
nós todos... eu talvez menos porque agora decididamente é uma questão secundária, eu
realmente quero escapar dessa ideia de que educação tem a ver com o curso de
pedagogia, eu quero escapar disso. Eu acho que educação é uma coisa maior e maior,
inclusive, do que lidar com formação de professores. É um negócio que tem que ser
pensado maior no Brasil.
CRISTIANE: Pois então, essas vertentes filosóficas...
Mas eu acho que essas vertentes filosóficas... nós estamos rodando em círculos
em falso. Por quê? Porque nós não estamos conversando coisas... não estamos
conversando sobre um objeto existente. Eu posso pensar a educação ampla, porém eu
não posso pensar a educação sem voltar a um dos elementos educacionais centrais, que
é a escola, e eu não estou tendo escola. Se nós falarmos que hoje no Brasil existe uma
escola, nós estamos nos enganando, não existe. Não existe uma escola pública
funcionando, nós estamos nos enganando.
Nós estamos disputando migalha... Rio de Janeiro vai indo mal, São Paulo vai
indo mal, mas quando a gente pega o bolo nosso e vai para o exterior, a gente não
compete. Nós não somos competitivos em educação no exterior, nós somos
competitivos em educação superior e assim mesmo com muito esforço e com queda,
porque a USP já não está mais entre as 100 primeiras. A China já tem uma universidade
entre as 100 primeiras e a gente não tem mais. Então, já está refletindo na nossa
educação superior.
413
Agora, a quinta economia do mundo... o brasileiro lê um livro por ano, o
americano ler onze. Não é normal, nós estamos muito fora.
CRISTIANE: Paulo, fazendo uma ligação com essa questão da Filosofia da
Educação e do ensino da filosofia. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas
também que, na sua fala, você fizesse um viés... não sei se você conhece a Coleção
Explorando o ensino que o MEC lançou, está no site do MEC, e que uma das
disciplinas é Filosofia para o ensino médio. Seria, mais ou menos, uma diretriz
nacional da Filosofia. Nela você tem um universo que representa essas diversas
correntes, matrizes, que a gente estava falando, que pensam a filosofia da educação
hoje.
Ou o ensino de filosofia?
CRISTIANE: Tanto o ensino da filosofia como a Filosofia da Educação, tem as
duas coisas nessa coleção Explorando o ensino. Tem uma disciplina... são várias
disciplinas, e uma das disciplinas é a Filosofia e lá você tem nomes de repercussão
nacional que tratam sobre essa questão e que seria, mais ou menos, formar uma
matriz nacional para professores de segundo grau.
Eu queria que você fizesse esse link.
Os filósofos dos anos 80 que queriam pensar a educação falavam Filosofia da
Educação, não existia ensino de filosofia, era muito restrito esse negócio de ensino de
filosofia porque filosofia não estava ainda no ensino médio.
CRISTIANE: E voltou por conta da obrigatoriedade, né?
Aí voltou. Para você ter uma ideia, no dia da votação para voltar, a única pessoa
da filosofia que estava lá era eu. Só, sozinho. Até aqueles colegas que no passado
lutaram a favor, não foram. A Filosofia voltou graças ao Sindicato dos Sociólogos, eles
conduziram todo o processo e o pessoal realmente abandonou o negócio. De tão
depreciativo que estava o ensino médio, nem os próprios filósofos queriam. Agora que
voltou, tem licenciatura, tem emprego, tem concurso, voltou a ser um negócio... está
voltando. Mas se você pensar em termos do que chega no professor...
CRISTIANE: Inclusive, quando eu vi o material, eu particularmente fiquei
surpresa por o seu nome não estar lá, eu acho que deveria estar lá pelo que você
representa dentro do ensino da filosofia.
414
Mas não vai estar, não vai estar, pelo menos nesse Governo não vai estar.
CRISTIANE: Eu sei, mas é lamentável, né?
Nesse Governo não vai estar e duvido que tenha em algum outro, porque essas
coisas são negociadas politicamente, não tenha dúvidas de que elas são “toma lá, dá cá”.
CRISTIANE: Tem umas pessoas da UNB, tem outras pessoas da...
Claro, isso aí é negociado, até porque isso tem a ver com dinheiro. É compra de
livro e a compra de livro no Brasil é muito dinheiro.
CRISTIANE: Você já leu esse materal?
Esse eu acho que ainda não li, mas, veja só, se você for chegar na sala de aula...
o que que chega na sala de aula para o professor? O que que o governo compra e
distribui? Não é plural, é uma vertente só que chega, só chega Marilena Chauí. Por quê?
Porque o MEC comprou e ele distribui Marilena Chauí.
CRISTIANE: Mas hoje estão em análise três livros.
Três, vai ver se chega os outros dois.
CRISTIANE: É Chauí...
Bom... um já chegava, que é aquele da Aranha, Filosofando, que já chegava por
conta da editora, que é aquela Editora Moderna... pelo amor de Deus, ela vai nas
escolas, enfia, você está lidando com um negócio poderoso.
Mas esse ai não tem nada a ver, porque ele chegava até aparecer o outro, o da
Marilena. Enquanto o da Marilena tinha que ser comprado, tudo bem. Agora que ele é
dado... até porque o da Marilena é melhor mesmo, ele predomina.
CRISTIANE: É bom, mas eu acho que ele poderia ser mais leve.
Não é questão de ser mais leve ou mais pesado, é questão de não ser plural, a
visão da Marilena não é plural.
Se você pegar os meus livros, você vai ver que não tem uma doutrina
pragmatista predominante ali, você vai ver que não tem. Meus livros para os jovens são
completamente plurais. Você não me vê dando aula de Rorty ou falando de Rorty, você
não vê aqui na Universidade. Agora, se você pegar o da Marilena Chauí, ele é filosofia
415
crítica, ele tem um paradigma de filosofia crítica. Filosofia é uma reflexão para
desvendar as coisas que estão escondidas.
Agora, esse livro custa quanto? Ele custa R$ 120,00. Portanto, o brasileiro só vai
ter esse livro se ele for dado. Agora eu pergunto para você: como é que pode um livro
didático que vai ser vendido para o Governo custar R$120,00? Então eu sei que eu vou
ganhar a concorrência, porque se não eu não boto esse livro a R$ 120,00. Esse livro já
foi feito para vender para o Governo.
Eu, se fosse a Marilena, não deixava, eu não topava essa jogada, eu não topava.
Porque você ir para o palanque da Presidente, fazer campanha e depois teu livro é
vendido para as escolas a R$ 120,00, o Governo compra e dá... por mais que você se
ache bom, seria prudente você não participar disso. Não é questão de... “ah, eu fiz o
livro e agora eu vou me abster porque eu apoiei o Governo”, não é isso, não é essa a
questão. Não dá... R$120,00 é um livro caro.
CRISTIANE: O salário mínimo está quanto, né?
Veja só, a Ática jogou o preço do livro lá em cima porque ela sabia que o livro ia
ser comprado pelo Governo, se não ela não jogaria esse preço, se não ela jogaria o preço
que é o livro. Aquele livro é um livro de R$ 80,00 para ter lucro, a Ática jogou lá em
cima.
Agora, em que mãos estão a Ática hoje? Na mão do grupo que mais questiona o
Governo e que, portanto, é interessante conquistar, que é o Grupo Veja, o Grupo Abril,
a Ática voltou para lá.
A Marilena tem todos os méritos... meu Deus do céu, não vamos tirar o mérito
da Marilena, quem sou eu para tirar o mérito da Marilena, mas esse tipo de coisa mostra
uma coisa unidirecional. O Estadão fez um manual mais plural, eu não sei se você
chegou a ver, fez uma coleção para o ensino médio de todas as matérias, eles
publicaram junto com a Editora Moderna, inclusive o de Filosofia.
No de Filosofia aconteceu o seguinte: não tinha nada do pragmatismo. Aí o cara
que foi editor geral da coleção me chamou para eu fazer a parte de Pragmatismo. Não
ficou nada de fora, um manual de ensino médio, fez de todas as matérias, muito bom,
por sinal. Saiu na banca, foi vendido.
CRISTIANE: Mas não está digital não, né?
416
Não, acho que eles ainda não puseram esse material digital não, mas vai acabar
sendo. É da Editora Moderna, foi vendido na banca como volumes.
CRISTIANE: Deve ter saído só em São Paulo, né?
Eu acho que saiu mais em São Paulo por causa do Estadão, mas como a Editora
Moderna é muito grande, deve ter enfiado isso aí nas bancas. Mas foi “vupt” porque
todo mundo comprou. Foi um material para matemática, química, física, tudo e livros
muito bons, muito bem feito, desenhado... o de Filosofia, um primor, eu comprei para o
meu filho que está fazendo Filosofia lá na Unesp, em Marília, comprei e dei para ele.
Um puta dum compêndio eles fizeram. Isso é uma coisa legal de o aluno ter, uma coisa
plural, sem...
CRISTIANE: Você lembra do título?
Da coleção? Tem a ver com coisa de vestibular, uma coisa assim. Mas logo
lança isso de novo. Esse tipo de coisa eu acho que é uma coisa legal de se fazer.
Agora, quando você pega um negócio muito marcadamente ideológico... o
manual da Marilena tem uma pegada marxista muito forte, um neomarxismo muito forte
que... aí você ver todo mundo repetindo que filosofia é aquilo. Por mais que ela fale de
um autor ou outro, a filosofia é aquilo, ela tráz o outro autor para aquela definição de
filosofia dela. Isso é chato, isso eu não acho legal não, que o ensino médio entre por
essa via meio doutrinária.
CRISTIANE: É, acaba sendo uma filosofia oficial, né?
Aí eu peguei e falei assim: “aí é? É assim que eles vão fazer? Então eu vou fazer
a mesma coisa contra eles. A filosofia é isso? Então, a filosofia não é isso, filosofia é o
que eu digo”. Aí eu formulei aquela história da desbanalização do banal para competir
mesmo. Se é jargão por jargão, vamos botar o meu jargão para ver quem... porque pelo
menos vão ficar dois jargões.
CRISTIANE: A multiplicidade...
A filosofia é o platonismo, é você sair da caverna, para eles, né? Então vamos
fazer diferente, vamos por pelo menos por um outro jargão na jogada para competir.
CRISTIANE: Mas é interessante, no Brasil... recentemente eu estive na UNB
assistindo um colóquio sobre História da Filosofia no Brasil e eu fiquei
417
impressionada com os extremos que estavam presentes lá. Você tinha o Cerqueira,
que trabalha com a Filosofia no Brasil, trabalha com o Domingos de Magalhães, o
Ecletismo Espiritualista, e que ele próprio acredita que a Filosofia é o que falava
Aristóteles e acabou-se não tem outra história, como se a filosofia fosse, no
máximo, até Platão e Aristóteles. Do outro lado você tem o Cabreira. Não sei se
você conhece, também da UNB, e que ele tem toda uma bandeira de lutar a favor
do renascimento de uma filosofia brasileira, que a gente não faça somente as
exegeses dos textos, etc. Mas a coisa ficou polarizada nisso, é como se no Brasil
hoje não se pensasse outra coisa para além desses dois extremos. Foi um colóquio,
a meu ver, muito esvaziado em ermos do que é representativo da multiplicidade de
filosofia no Brasil. E uma coisa também que eu senti muita falta – eu vou até
escrever um artigo sobre isso, apesar de o material ser muito pouco acho que
merece um artigo – além desse esvaziamento teórico, eu constatei o esvaziamento
com relação a uma reflexão em torno da Filosofia da Educação, que, a meu ver, é
muito forte dentro da tradição brasileira. Como é que se faz um encontro de
História da Filosofia no Brasil onde você não tem uma mesa temática, uma mesa
que seja, em torno da Filosofia da Educação?
Eu, particularmente, até sou suspeito para falar, não sei se hoje ainda sou
suspeito... mas eu tenho dúvidas se a gente tem no Brasil, em Filosofia, alguma coisa
original que não seja Filosofia da Educação, eu tenho dúvidas. Eu acho que o resto que
a gente faz em filosofia é a cópia da cópia. Eu acho que o grande lance nosso, em
termos históricos, de inovação, em termos de filosofia, é o objeto educacional.
CRISTIANE: Concordo plenamente.
É onde apareceu um Anísio, onde apareceu um Paulo Freire, onde apareceu um
Darcy Ribeiro, onde apareceu um Florestan, onde apareceu o Fernando Henrique, a
própria Ruth Cardoso, quer dizer, antropólogos... hoje, se você pegar essa geração mais
jovem que está aí agora na jogada, na universidade, talvez esteja mudando um pouco,
talvez você já veja alguns novos objetos aparecendo como objetos importantes.
Por exemplo, o Renato Janine Ribeiro já tem uma produção em política que eu
acho que é significativa, já é uma coisa pensada para Brasil, que é dele, é um cara que
tem uma coisa... a Olgária já tem uma coisa que é dela, pegar a Escola de Frankfurt e
pensar a cidade brasileira, essas coisas que já tem. Acho que a Marilena tem na área de
418
cultura, aquele tempo que ela escrevia muito sobre cultura, feminismo, que era uma
coisa que ela pensava... você já começa a ver uma coisa diferente aqui e ali, de pessoas
que já estão agora chegando nos 60 para 70.
CRISTIANE: Você também tem. Eu acho que você tem uma originalidade. Esse
negócio que você faz de trazer as questões cotidianas para as grandes matrizes
clássicas da filosofia...
Eu estou brigando, eu estou brigando desesperadamente para ver se eu consigo
criar uma situação dessa. É lógico que em uma situação inferior porque, primeiro, não
tenho mais uma pós-graduação na mão, não tenho mais contato com Governo... eu
publico sozinho, mas esse pessoal tem uma máquina na mão, quase todos eles que estão
fazendo filosofia têm uma máquina na mão. Ou um programa de pós, ou uma
Universidade poderosa por trás ou um governo por trás. Eu brigo bem, para a minha
mãozinha aqui eu até que brigo bem.
Mas a ideia de você começar a fazer uma reflexão que seja sobre o Brasil. Por
exemplo, um cara que tem... o Jurandir, Jurandir Freire Costa. Esse tem mesmo! Se
você pegar, no mundo todo não tem uma reflexão sobre a sexualidade brasileira como
ele fez, com pesquisa empírica. Benilton Bezerra Jr. Também.
Esse grupo aqui que eu fiz o pós-doutorado com eles é assim... um grupo de
médicos, psiquiatras, com formação filosófica pesada e eles realmente pensam objetos
que não é... e que tem uma tradição no Brasil também. Se você pegar Nice da Silveira...
e você ver uma tradição de psicanalistas que pensam o cotidiano e que vieram... no
passado ficavam muito nas clínicas, mas agora estão produzindo coisas populares.
CRISTIANE: Acho que o Benedito Nunes também, que morreu recentemente.
Acho que eles fez uma coisa muito interessante dentro da filosofia...
Você viu o artigo que eu fiz sobre o Benedito e o Bento, né? Que eu botei no
meu blog. Por quê? Porque quando foram fazer o evento sobre o Bento, não fizeram um
evento sobre o Bento. Usaram do Bento para apresentar trabalhos próprios, não pegaram
o original do Bento. O original do Bento não é a tese do Bento, são as ideias dele.
CRISTIANE: Pois é, eu acho muito legal aquele negócio que você coloca ali
naquele artigo e em outros também, que é essa necessidade, quer dizer, essa
ausência que a gente tem no Brasil de ler o outro, de discutir, de escutar...
419
É, mas a gente fazia na PUC e a gente perdeu isso. A gente perdeu isso por uma
razão boba.
CRISTIANE: O que se tem é o contrário disso. É uma rivalidade absurdamente
imbecil e o desmerecimento do trabalho do outro, né?
O desmerecimento sabe como é que vem? Vem assim: eu faço de conta que
nego não existe. Eu nunca faço de conta que as pessoas não existem, nunca. Nego fala
assim: “ah, fulano de tal escreveu tal coisa”. Eu vou lá, ou faço uma coisinha contra ou
a favor, faço um vídeo, alguma coisa, mas nunca fico na posição do “ah, eu sou tão bom
que não vi o outro” ou então do “ah, eu estou com medo de falar porque vão falar que
eu estou com inveja”. Não, esquece esse negócio.
O cara pôs uma coisa e eu tenho alguma coisa para dizer, eu digo! Esse foi um
período bom no Brasil, os anos 80, período onde esses medos não apareceram. Foi um
período onde muita gente debateu abertamente e foi muito bom. Por exemplo: os
debates que saiam entre o Rubens Rodrigues, o Rouanet [Sergio Paulo Rouanet], o
Merquior [José Guilherme Merquior]... eram debates que foram para a imprensa, foram
para a praça e que hoje não pode mais.
Hoje ninguém pode brigar com mais ninguém, cada um na sua área, cada um
fala aqui, ninguém ofende mais ninguém, mas também ninguém reconhece mais
ninguém, é cada um com a sua turminha. Isso é porque não tem base. Quem estudou
História do Brasil lá atrás e lembra daquela Academia dos Felizes, o começo do
movimento poético... é isso, cada um se reduziu a um grupinho porque não tem
população lendo.
CRISTIANE: O fenômeno é mais amplo, né?
Se tivesse população lendo e debatendo junto, as pessoas teriam que conversar.
CRISTIANE: Nesse sentido aí também eu queria que...
Hoje, o que a população está lendo é o Chalita [Gabriel Chalita], a população
está lendo autoajuda. Nós entregamos o ouro para o bandido, nós brigamos entre nós e
entregamos o ouro para o bandido. Essa que é a verdade.
CRISTIANE: Chalita, Paulo Coelho...
420
Eu, por exemplo, me arrependo de várias brigas que eu tive, me arrependo. Se eu
pensar no que o cara fez para mim eu não me arrependo, mas eu deveria ter passado por
cima, eu devia ter esquecido e passado por cima.
O Renato [Renato Janine Ribeiro] foi um. Ele me deu um telefonema no Jornal
Estadão, sendo ele da CAPES, para me tirar do Estadão, eu não perdoei e devia ter
perdoado. Hoje eu me arrependo, foi um erro porque quebrou o elo de debate, embora
eu continue criticando e falando a mesma coisa... se ele não quer responder, tudo bem.
Ele tem medo de responder porque ele sabe que fez uma coisa errada, uma coisa feia.
CRISTIANE: Pensando a partir disso aí, eu acrescentaria, não sei se você
concorda comigo, que a gente não se lê, não se discute nem entre nós a nossa
produção e eu acrescento a isso aí também um outro problema, que é a perda da
História da Filosofia no Brasil. Porque, se você for falar de Ratio Studiorum, dos
Jesuítas e do Tomismo para alguns filósofos recém-formados, eles não vão saber
nem que diabo é isso.
O caso do Demerval foi o seguinte... esse livro que ele soltou aí, eu mandei a
crítica para ele.
CRISTIANE: Eu li a sua crítica.
Sabe o que ele fez? Ele corrigiu o livro na segunda edição, refez o parágrafo que
eu falei, mandou o texto para mim, mas não fez a referência oficial. Então, continua do
mesmo jeito que ele fazia no passado, ou seja, eu me relaciono pessoalmente com as
pessoas, mas não dou o crédito porque, se eu der o crédito, nasce o debate e se nascer o
debate, eu vou ter que estudar, vou ter que enfrentar... que o que é chamado lá por eles
no grupo HISTEDBR de posição olímpica, eles não se envolvem.
Desse jeito você não vai para frente.
CRISTIANE: Até porque a filosofia nasce pelo diálogo...
Desse jeito não vai pra frente mesmo. Ao contrário dos americanos que fazem
livros... pegam um filósofo, vários criticando e ele respondendo. O cara faz um livro!
Aqui não sai, aqui quando você convida o cara para fazer um livro de debate não sai. É
impressionante o grau de recolhimento das pessoas.
421
CRISTIANE: Paulo, a gente está com mais de uma hora e meia de conversa, eu
não quero é te incomodar...
Imagina, eu estou aqui disponível para você.
CRISTIANE: Eu queria... se você quisesse falar mais alguma coisa aí sobre essas
questões de Filosofia da Educação no Brasil, Deleuze...
Você está me trazendo um assunto que eu tenho força para me desligar, porque é
um assunto que me chateia. Não que você esteja trazendo um assunto que me chateia e
eu vou ficar chateado com você, mas me chateia que a gente tenha feito tanto e não feito
nada.
Se você for ver hoje a formação das pessoas, você vai ver que está se perdendo
rapidamente muita coisa. Você vai ver professores jovens nas universidades públicas
não sabendo quem é foi Anísio Teixeira, não sabendo que houve esse debate, tomando
as coisas já como se elas estivessem... sei lá!
Aqui, por exemplo, na Rural, tem um culto ao Paulo Freire, mas não se lê Paulo
Freire. Eu, às vezes, até brinco porque eu não sou um freireano e faço uma leitura muito
particular do Paulo Freire que a maioria das pessoas que gostam dele não concordam
com a minha leitura. Mas quando eu digo que fui aluno do Paulo Freire aqui, aí
“ohhhh”, ganho status. Aí eu vou explicar... não pode mais, se não estraga. Não pode
porque os caras não querem saber da leitura, eles querem só o mito.
Então, está tendo essa coisa superficial, cada vez mais superficial, doutorado e
mestrado rapidinho para carreira rápida. Isso está povoando a mentalidade das pessoas.
Ao mesmo tempo um debate restrito, ninguém quer... por exemplo, esse grupo aqui que
tenho de leitura, tem professores, hoje não veio o professor, mas há uma tendência dos
professores de não participar dos grupos de outros professores.
Se montar grupo com outro professor é falso, ele não ocorre. Esse grupos do
diretório do CNPQ, abre lá... tem quaro ou cinco professores, é falso, eles não se
reúnem. É o professor com os seus alunos, uma relação sempre vertical. Não tem aquilo
que nos anos 80 tinha, por exemplo, na USP e na PUC, os professores assistiam aula
dos outros professores... hoje é impensável. Às vezes eu faço isso aqui, entro na sala de
um colega, o cara pára, se sente intimidado, não tem o prazer do diálogo que a gente
tinha.
422
Defesa de tese. Na PUC e na USP defesa de tese lotava, era um momento de
debate mesmo. Agora é feito à noite, ninguém sabe onde foi, onde aconteceu.
CRISTIANE: A Faculdade de Direito de Recife no século XIX era um acontecimento
na cidade. O Tobias Barreto, o Sílvio Romero...
Era um acontecimento! Quantas e quantas vezes a gente... eu fico pensando
assim: a ANPED, nunca mais fui. Deixei o GT e nunca mais fui. Mas o nível de
mediocridade que aquilo virou, o próprio GT, chega uma hora que... me disseram,
também não acompanhei para saber direito, mas teve uma hora que já não era mais nem
Filosofia da Educação, estava se discutindo antropologia e outras coisas e diminuindo o
volume de apresentação, inclusive de âmbito da pluralidade que a gente tinha colocado.
CRISTIANE: Eu tive a curiosidade de pegar essa última publicação da ANPOF, os
resumos...
Você sabe que a ANPOF... eles não me citam. Eles só não me expulsam da
entidade porque eles não têm coragem, mas elas não me citam. Se eu lanço um livro
elas não põem na ANPOF, no correio da ANPOF, eles não põem. Eles fingem que eu
não existo, mas eles não têm coragem de chegar lá e falar assim: “o Paulo não vai
participar”, eles não têm coragem.
CRISTIANE: Mas eu peguei os anais e tive a curiosidade de ver... coisa de doido.
Aí eu olhei comunicação por comunicação, há mais de... para ver quantos
trabalhos, quantos resumos, tratavam de alguns dos nossos teóricos brasileiros
dentro da filosofia. Diz aí quantos!
Não tenho ideia.
CRISTIANE: Um, no meio de um calhamaço. Aí tem a ver com essa história que a
gente está falando, a gente não pensa sobre o que a gente está fazendo, não pensa...
é representativo isso, é sintomático.
Só o fato de os filósofos brasileiros não saberem o que é o Paulo Freire, no
entanto, eles rechaçarem, já mostra a indignidade do pensamento. Porque não é possível
você entrar em uma universidade no exterior, você sendo brasileiro... você entrar e a
pessoa não perguntar para você do Paulo Freire, não é possível.
423
Eu fui para os Estados Unidos trabalhar, fui em uma universidade no centro dos
Estados Unidos, no interior do interior. Cheguei lá... não no departamento de educação,
na filosofia e nas ciências sociais. Nas ciências sociais, leitura obrigatória de sociologia
a Pedagogia do Oprimido, leitura obrigatória.
No Brasil, a maioria dos meus colegas do departamento de Filosofia falam assim
para mim: “ah Paulo, você protege, você não fala mal do Paulo Freire porque é
conveniente para você, para você poder se relacionar com os seus amigos lá da
educação, porque, no fundo, você sabe que é um lixo, né?”. Eu falo assim: “Você leu?
Não, você não leu. E se você leu você não entendeu, você não está entendendo o que ele
está fazendo. Você quer que o Paulo Freire faça citações do John Dewey? É isso que
você quer? Não, o Paulo Freire não é isso, é outra conversa, é um outro modo de fazer
filosofia”.
CRISTIANE: É aquela questão, se você não faz filosofia dentro daqueles moldes
do método estruturalista do Goldschmidt, você não faz filosofia. Se você trabalhar
só com aquelas categorias... é essa a questão. É essa mentalidade subserviente,
estrangeirada, né?
Eles têm medo. Eu concordo. Por exemplo, há uma bana