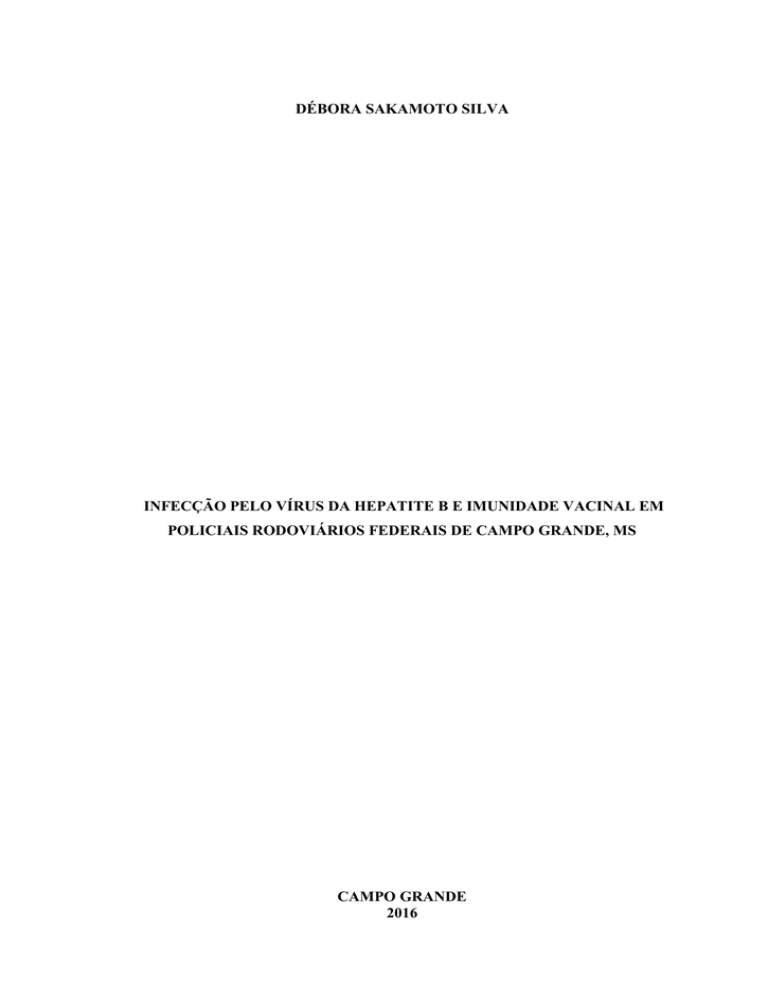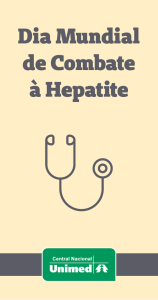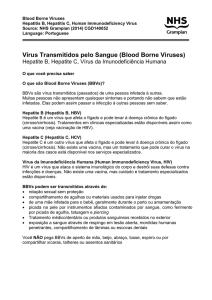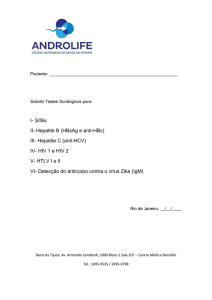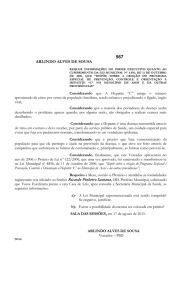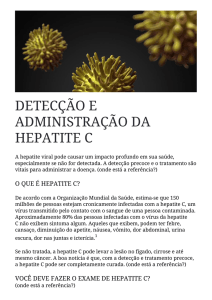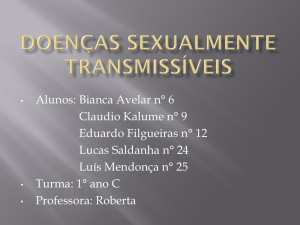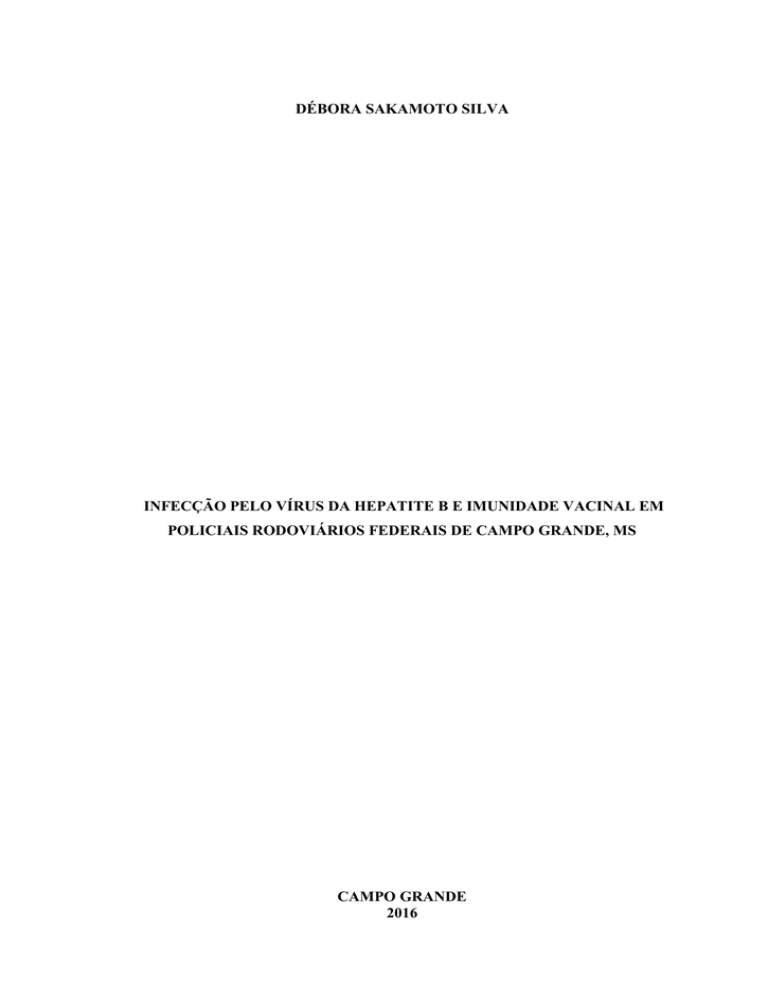
0
DÉBORA SAKAMOTO SILVA
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B E IMUNIDADE VACINAL EM
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DE CAMPO GRANDE, MS
CAMPO GRANDE
2016
1
DÉBORA SAKAMOTO SILVA
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B E IMUNIDADE VACINAL EM
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DE CAMPO GRANDE, MS
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul como requisito
para obtenção do título de mestre, sob a
orientação da Profª Dra. Luciana Contrera e coorientação da Profª Dra Maria Lúcia Ivo.
CAMPO GRANDE
2016
2
À Deus, quando algumas vezes, sentindo-me
desacreditada e perdida nos meus objetivos,
ideais ou minha pessoa, me fez vivenciar a
graça de me reerguer.
À minha família, por sua capacidade de
acreditar е investir em mim. Pai e Mãe, sua
presença significou segurança е certeza de
que não estou sozinha em minha caminhada.
3
AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus, que com suas infinitas graças não permitiu que eu desistisse durante os
obstáculos que surgiram nesta trajetória. Obrigada Senhor por estar sempre presente em
minha vida!
Aos meus pais, que são a base de tudo, por todos os ensinamentos, carinho e apoio em tudo
que me proponho a fazer, inclusive nesta etapa, e por toda paciência e compreensão nos vários
momentos de ausência.
Aos meus irmãos por todo o amor e carinho que me fazem mais feliz a cada dia e me dão
ânimo para seguir em frente.
Ao meu namorado Wilson pelo amor, incentivo diário, paciência e compreensão nos
momentos de ausência e por todo o auxílio para que este trabalho fosse concretizado,
inclusive as noites mal dormidas.
À minha orientadora Profa Dra Luciana Contrera, primeiramente pelo carinho, apoio,
paciência, compreensão e incentivo durante toda minha graduação e principalmente nos
últimos 3 anos e meio. Pelos ensinamentos e auxílio na construção de todas as etapas deste
trabalho. Você é um exemplo para mim!
À minha co-orientadora Profa Dra Maria Lúcia Ivo, pelo apoio e auxílio na realização deste
trabalho.
Às alunas de iniciação científica Ariane Mendonça e Letícia Costa e à enfermeira Bruna
Cotrin por toda disponibilidade e auxílio na coleta de dados.
À equipe do laboratório de Imunologia Clínica da UFMS, em especial à farmacêutica Larissa
Bandeira pela paciência e todo auxílio, bem como às farmacêuticas Tayana Tanaka e Gabriela
Alves.
À Profa Dra Ana Rita Coimbra, responsável pelo laboratório de Imunologia Clínica, por
permitir a realização dos testes, por auxiliar na redação da dissertação e por todo o apoio
necessário.
À Profa Dra Elenir Pontes por todo o auxílio na construção deste trabalho, principalmente
com relação à análise estatística.
À Profa Dra Ana Paula Sales por aceitar participar das bancas de qualificação e defesa e por
todas as contribuições realizadas.
À 3º Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, localizada em Campo Grande – MS, por
permitir a realização desta pesquisa, em especial aos PRFs Joana D’arc e Elias Santos por
todo o apoio concedido para que esse estudo fosse realizado e por toda a paciência com as
várias solicitações realizadas por mim.
À todos os Policiais Rodoviários Federais que aceitaram participar desta pesquisa.
4
Aos enfermeiros colegas de plantão: Caroline, Renata e Fábio pelo apoio, cedendo folgas e
cobrindo a maternidade durante minhas ausências para que eu pudesse participar das aulas,
coletas e demais atividades do mestrado.
À minha amiga Camilla, pelo apoio e companhia, tornando a vida em Dourados e a distância
da família, namorado e amigos menos difícil.
5
“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito.
Não sou o que deveria ser, mas Graças a Deus, não sou o que era antes”.
(Martin Luther King)
6
RESUMO
A hepatite B se caracteriza como problema de saúde pública no âmbito mundial. Profissionais
de saúde e de segurança pública, como os Policiais Rodoviários Federais, são uns dos grupos
de maior risco para a infecção, uma vez que o contato direto com sangue e fluidos corporais
são formas de transmissão da mesma. Estudos com a população em questão se mostram
escassos no país e no estado de Mato Grosso do Sul, ainda que as características de seu
trabalho a torne mais suscetível à infecção. Este estudo de corte transversal com abordagem
quantitativa teve por objetivo caracterizar a infecção pelo vírus da hepatite B e a imunidade
vacinal em Policiais Rodoviários Federais do município de Campo Grande - MS e foi
realizado no ano de 2015 com 118 policiais lotados na Superintendência e na 1º Delegacia da
Polícia Rodoviária Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de entrevista
estruturada e coleta sanguínea, com posterior realização de testes sorológicos em laboratório.
Para a análise estatística, foram utilizados os testes Qui-quadrado, Qui-quadrado de tendência
e Teste Exato de Fisher, e calculadas as razões de prevalência, com intervalo de confiança de
95%. Para estimar as razões de prevalência ajustadas foi utilizada a Regressão de Cox (com
tempo igual a uma unidade), utilizando as variáveis com significância ≤ que 20%. A faixa
etária predominante foi de 36 a 45 anos (46,6%), 83,9% eram do sexo masculino e 89%
possuía ensino superior. A prevalência global da infecção pelo HBV foi de 7,6% (2,8% a
12,4% IC 95%). Não foi encontrada positividade para o HBsAg. A presença do marcador
anti-HBc total isolado foi encontrada em 0,8% (0,3% a 1,4% IC 95%) e o anti-HBc total
associado ao anti-HBs em 6,8% (2,2% a 11,3% IC 95%). Observou-se que 46,6% (37,6% a
55,6% IC 95%) apresentou anti-HBs isolado, indicando imunidade vacinal e a taxa de
indivíduos suscetíveis foi de 45,8% (36,8% a 54,8%). Acidentes de trabalho com material
biológico se mostraram presentes em 24,6% dos casos, sendo que o tabagismo e a realização
de outra atividade remunerada apresentaram associação estatística significativa em relação à
ocorrência dos mesmos. Os resultados mostraram taxa de infecção pelo HBV nos policiais
semelhante à população em geral, contudo os mesmos se encontram em risco constante de
adquirir a infecção devido à exposição ocupacional, principalmente pela não utilização de
EPI. Baixa taxa de vacinação contra a hepatite B e elevado índice de suscetibilidade também
foram encontrados. Evidencia-se assim, a necessidade de estratégias mais eficazes de
promoção e prevenção e de adequado fluxo pós-exposição ocupacional.
Descritores: Hepatite B. Policiais. Material biológico. Vacinação. Acidentes de trabalho.
7
ABSTRACT
Hepatitis B is characterized as a public health problem worldwide. Health workers and public
security, as the Federal Highway Police, are one of the highest risk groups for infection, since
the direct contact with blood and body fluids are its forms of transmission. Studies arround
the population in question are scarce in the country and in the state of Mato Grosso do Sul,
although the characteristics of their work makes they to be more susceptible to infection. This
study of cross-sectional cohort with a quantitative approach aimed to characterize the
infection by hepatitis B virus and the vaccinal immunity in Federal Highway Officers of
Campo Grande - MS and was conducted in 2015 with 118 police officers of the
Superintendency and at the 1st Federal Highway Police Station of the state of Mato Grosso do
Sul, through structured interviews and blood collection, with subsequent serological tests in
the laboratory. For statistical analysis, were used chi-square tests, chi-square of trend and
Fisher's Exact test, and was calculated prevalence ratios with 95% confidence interval. To
estimate the reasons adjusted prevalence was used Cox Regression (with period equal to one
unit) using the significance variables ≤ 20%. The predominant age group was 36-45 years
(46.6%), 83.9% were male and 89% had higher education. The overall prevalence of HBV
infection was 7.6% (2.8% to 12.4%; CI 95%). Was not founded positive for HBsAg. The
presence of anti-HBc isolated marker was found in 0.8% (0.3% to 1.4% CI 95%) and the antiHBc associated with the Anti-HBs in 6.8% (2.2 % to 11.3% CI 95%). It was observed that
46.6% (37.6% to 55.6% CI 95%) showed a isolate anti-HBs, indicating vaccinal immunity
and the rate of susceptible individuals was 45.8% (36.8% to 54,8%). Work accidents with
biological material was showed present in 24.6% of the cases, and still, the cigarette smoking
and performing other gainful activity showed statistically significant association in relation to
the occurrence thereof. The results showed rates of HBV infection in police officers similar to
the general population, however they were at constant risk of acquiring infection due to
occupational exposure, mainly by not using IPE. Low rate of vaccination against hepatitis B
and high susceptibility index were also found. It is evident therefore, the need for more
effective strategies of promotion and prevention and adequade post-exposure flow.
Keywords: Hepatitis B. Police officers. Biological material. Vaccination. Work Accidents.
8
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1– Estrutura do vírus da Hepatite B. ............................................................................. 16
Figura 2 – Representação do genoma do HBV. ....................................................................... 18
Figura 3 – Curso sorológico do HBV na hepatite aguda. ......................................................... 21
Figura 4 – Curso sorológico do HBV na hepatite crônica. ....................................................... 22
9
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo variáveis
demográficas e laborais, Campo Grande/MS – 2015 (n=118). ................................................ 39
Tabela 2 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo fatores
associados à ocorrência de hepatite B, Campo Grande/MS – 2015 (n=118). .......................... 40
Tabela 3 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo estilo de vida
e doenças com diagnóstico médico, Campo Grande/MS – 2015 (n=118). .............................. 41
Tabela 4 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo o
conhecimento em relação à transmissão da hepatite B, Campo Grande/MS - 2015. ............... 42
Tabela 5 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a situação
vacinal, Campo Grande/MS – 2015 (n=118). .......................................................................... 43
Tabela 6 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a utilização de
equipamentos de proteção individual (EPI), Campo Grande/MS – 2015 (n=118). ................. 44
Tabela 7 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência e
o número de acidentes de trabalho com material biológico, Campo Grande/MS – 2015 ........ 44
Tabela 8 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo relato da
situação causadora do acidente de trabalho com material biológico, Campo Grande/MS –
2015 (n=29). ............................................................................................................................. 45
Tabela 9 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo as
características dos acidentes de trabalho com material biológico, Campo Grande/MS – 2015
(n=29). ...................................................................................................................................... 46
Tabela 10 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo o relato dos
acidentes de trabalho de acordo com as características da exposição percutânea, Campo
Grande/MS – 2015 (n=5).......................................................................................................... 47
Tabela 11 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo o relato das
condutas adotadas após o acidente de trabalho com material biológico, Campo Grande/MS –
2015 (n=29). ............................................................................................................................. 48
10
Tabela 12 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de acidentes de trabalho com material biológico e as variáveis de estudo, Campo Grande/MS
(n=118). .................................................................................................................................... 50
Tabela 13 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de acidentes de trabalho com material biológico e variáveis relacionadas à saúde, Campo
Grande/MS – 2015 (n=118)...................................................................................................... 51
Tabela 14 – Razão de prevalência bruta e ajustada na análise multivariada para acidente de
trabalho. .................................................................................................................................... 51
Tabela 15 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo marcadores
sorológicos para hepatite B, Campo Grande/MS – 2015 (n=118). .......................................... 52
Tabela 16 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo dados
sociodemográficos e laborais e infecção pelo HBV, Campo Grande/MS – 2015 (n=63). ....... 53
Tabela 17 – Número e porcentagem de Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de infecção pelo HBV e variáveis de estudo, Campo Grande/MS – 2015 (n=63). .................. 54
Tabela 18 – Número e porcentagem de Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de infecção pelo HBV e biossegurança na atividade laboral, Campo Grande – 2015 (n=63). .55
Tabela 19 – Número e porcentagem de Policiais Rodoviários Federais segundo imunidade
vacinal contra hepatite B e variáveis de estudo, Campo Grande/MS – 2015 (n=110). ............ 56
Tabela 20 – Razão de prevalência bruta e ajustada na análise multivariada para imunidade
vacinal....................................................................................................................................... 57
11
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13
2 REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................... 15
2.1 Hepatite B .......................................................................................................................... 15
2.1.1 Breve histórico ................................................................................................................. 15
2.1.2 Classificação e estrutura do vírus da hepatite B .............................................................. 16
2.1.3 Genótipos do HBV .......................................................................................................... 19
2.1.4 Diagnóstico laboratorial da hepatite B ............................................................................ 20
2.1.5 Apresentação clínica da infecção pelo HBV ................................................................... 22
2.1.6 Transmissão do HBV....................................................................................................... 23
2.1.7 Tratamento ....................................................................................................................... 25
2.1.8 Epidemiologia .................................................................................................................. 26
2.2 Vacina contra hepatite B .................................................................................................. 27
2.3 Polícia Rodoviária Federal .............................................................................................. 30
2.3.1 PROSSERV ..................................................................................................................... 31
3 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 34
3.1 Objetivo geral .................................................................................................................. 34
3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 34
4 METODOLOGIA .............................................................................................................. 35
4.1 Tipo de pesquisa .............................................................................................................. 35
4.2 Local e período da pesquisa ........................................................................................... 35
4.3 População da pesquisa .................................................................................................... 35
4.3.1 Critérios de inclusão da pesquisa ................................................................................ 35
4.3.2 Critérios de exclusão da pesquisa ................................................................................ 35
4.4 Fontes, instrumentos/procedimentos para coleta de dados......................................... 35
4.4.1 Entrevista ....................................................................................................................... 35
4.4.2 Testes sorológicos .......................................................................................................... 36
4.4.3 Entrega dos resultados dos testes sorológicos ............................................................. 36
4.5 Recursos financeiros ....................................................................................................... 36
4.6 Organização e Análise dos dados................................................................................... 37
4.7 Aspectos éticos ................................................................................................................. 37
5 RESULTADOS .................................................................................................................... 38
12
5.1 Dados sociodemográficos, laborais e associados à ocorrência de infecção pelo
HBV.......................................................................................................................................... 38
5.2 Resultados referentes à situação vacinal e uso de equipamentos de proteção
individual............................................................................................................................. ......42
5.3 Resultados referentes aos acidentes de trabalho com material biológico relatados
pela população estudada...................................................................................................................44
5.4 Infecção pelo Vírus da Hepatite B e imunidade vacinal nos profissionais
estudados............................................................................................................................................51
6 DISCUSSÃO.........................................................................................................................58
7 CONCLUSÃO......................................................................................................................65
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................66
REFERÊNCIAS......................................................................................................................67
APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA.................................................................. 80
APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .......... 86
APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA PRF ..................... 89
APÊNDICE D – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE
IMUNOLOGIA CLÍNICA DA UFMS ................................................................................ 90
APÊNDICE E – TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DE ATENDIMENTO
E TRATAMENTO PELO HOSPITAL DIA DO NHU/UFMS .......................................... 91
APÊNDICE F - MODELO DE CARTA SIMULTANEA À ENTREGA DOS
RESULTADOS DOS EXAMES - CURADO ....................................................................... 92
APÊNDICE G - MODELO DE CARTA SIMULTANEA À ENTREGA DOS
RESULTADOS DOS EXAMES – IMUNIZADO ............................................................... 93
APÊNDICE H - MODELO DE CARTA SIMULTANEA À ENTREGA DOS
RESULTADOS DOS EXAMES - NEGATIVO ................................................................... 94
ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP ............................................... 95
13
1 INTRODUÇÃO
Com elevado impacto na morbimortalidade e nos gastos dos recursos de saúde, a
hepatite B se caracteriza como um problema de saúde pública no âmbito mundial
(CHACALTANA; ESPINOZA, 2008).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 240 milhões de pessoas
encontram-se cronicamente infectadas pelo vírus da hepatite B e aproximadamente 780.000
morrem todos os anos devido às consequências dessa infecção (WHO, 2015).
O Brasil costumava ser considerado como área de intermediária endemicidade para a
infecção, porém em estudo multicêntrico de base populacional foram encontrados resultados
que o classificam como sendo de baixa endemicidade (PEREIRA et al., 2009).
Alguns grupos populacionais são considerados mais expostos ao HBV, em função das
atitudes comportamentais adotadas ou devido à atividade profissional exercida. Entre estes
grupos encontram-se os trabalhadores de saúde, uma vez que estão constantemente em
contato com sangue e fluidos corporais. A exposição ocupacional que pode submetê-los ao
risco de infecção pelo HBV pode ser lesão percutânea, tal como corte com objeto pontiagudo
e picada por agulha, ou contato de mucosas e pele não intacta (ferida, dermatite, rachaduras,
entre outros) com material potencialmente infectante (AQUINO et al., 2008; GALON;
MARZIALE; SOUZA, 2011; WHO, 2015).
O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) considera além dos
profissionais de saúde, os indivíduos cujas atividades abrangem contato com indivíduos ou
com sangue e outros fluidos corporais destes em instituições de cuidados à saúde, laboratórios
ou de segurança pública, como profissionais com risco potencial para exposição à infecção
ocupacional (CDC, 2001).
Dentre estes profissionais, os de segurança pública, incluindo os Policiais Rodoviários
Federais, pouco se mostram como população alvo de estudos relacionados à temática, embora
executem uma atividade perigosa, considerada como desgastante, vivenciando situações
geradoras de estresse mental e físico e que também podem resultar em exposição a material
biológico. Além disso, possuem o paradigma de garantir a segurança de outrem e não zelar
pela sua própria (LORENTZ; HILL; SAMINI, 2000; CDC, 2001; MORAIS; PAULA, 2010;
ALMEIDA et al., 2012; CANO, 2013).
Os Policiais Rodoviários Federais possuem a missão de fiscalizar diariamente mais de
61 mil quilômetros de rodovias e estradas federais, zelando pela vida daqueles que as
utilizam. Sua base de atuação é o trânsito. Ao longo da malha viária federal estes policiais
14
fiscalizam o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, previnem e reprimem os abusos,
como embriaguez e excesso de velocidade ao volante e prestam atendimento às vítimas de
acidentes (BRASIL, 2015a).
Devido às particularidades de seu serviço, estes profissionais em grande parte dos
casos, são os primeiros a se apresentar nas cenas de acidentes de trânsito nas estradas e iniciar
o socorro às vítimas como é estabelecido pelo Decreto 1.655/95 para a Polícia Rodoviária
Federal, o qual os responsabiliza pelo atendimento de acidentes, salvamento de vítimas nas
rodovias federais e as perícias do local (BRASIL, 1995).
As atividades desempenhadas por estes profissionais, bem como a pressão que lhes é
imposta, justifica a realização deste estudo. Além disso, esta população demonstra interesse
no desenvolvimento de novas pesquisas, uma vez que há escassez de estudos e ações voltadas
à mesma.
Os dados obtidos possibilitarão o conhecimento da situação de saúde em relação à
infecção, permitindo o planejamento de ações voltadas à prevenção, tais como a vacinação
contra a hepatite B e a educação em saúde, contendo, entre outros temas, as formas de
infecção, riscos ocupacionais, prevenção de acidentes de trabalho e o uso de equipamentos de
proteção individual e coletiva, e também ações diagnósticas e assistenciais, incluindo a
profilaxia pós-exposição ocupacional. Enfim, poderá subsidiar o desenvolvimento de ações e
políticas públicas que auxiliem na redução da morbimortalidade ocasionada por esta doença.
Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a infecção pelo vírus
da hepatite B e a imunidade vacinal em policiais rodoviários federais do município de Campo
Grande, MS.
15
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Hepatite B
2.1.1 Breve Histórico
Os relatos mostram que a história das hepatites iniciou-se há milênios. Surtos de
icterícia foram descritos há mais de 2500 anos na Babilônia. Em 752 d.C. o Papa Zacarias
relatou em carta para o Arcebispo de Mainz (Alemanha), um surto de icterícia contagiosa
entre os residentes de tal cidade (REUBEN, 2002).
Algumas epidemias de icterícia conhecidas ocorreram durante as Guerras da Sucessão
Austríaca (1743), de Napoleão no Egito (1798), Franco-Prussiana (1870) e a Guerra Civil
Americana (1861-1865) (REUBEN, 2002).
A primeira menção à hepatite cujo agente etiológico sabe-se atualmente ser o vírus da
hepatite B ocorreu entre 1883 e 1884 quando foi descrito um surto de icterícia entre
trabalhadores do porto de Bremen (Alemanha), após administração de vacina contra varíola,
cujo agente estabilizador era linfa humana. Dos 1289 trabalhadores vacinados, 191
desenvolveram icterícia de 2 a 8 meses após a aplicação da dose, enquanto que 500 outros
trabalhadores do mesmo porto vacinados com um diferente lote de linfa permaneceram livres
da infecção. Dessa forma, deduziu-se que o primeiro lote de vacinas continha linfa humana
contaminada pelo agente infeccioso (BEESON, 1943).
Durante a Segunda Guerra Mundial houve grandes epidemias de hepatite B nos
Estados Unidos associadas à administração de vacinas contra febre amarela. Na época foram
desenvolvidos importantes estudos com voluntários e estudos epidemiológicos, os quais
contribuíram para o reconhecimento de dois tipos de hepatite viral que se diferenciavam pela
via de transmissão e período de incubação do agente (PURCELL, 1993).
No ano de 1947 MacCallum introduziu os termos “vírus da hepatite A” para designar
o agente etiológico das hepatites infecciosas e que apresentavam período de incubação curto e
“vírus da hepatite B” para o agente da hepatite soro homóloga e que apresentavam período de
incubação longo (HOLLINGER; LIANG, 2001). Em 1967 Krugman e colaboradores
confirmaram a existência dos dois agentes etiológicos, os quais possuíam características
clínicas, imunológicas e epidemiológicas distintas e foram denominados como MS-1
(responsável pela hepatite A) e MS-2 (responsável pela hepatite B) (KRUGMAN; GILES;
HAMMOND, 1967).
Em 1964 Blumberg e colaboradores detectaram no soro de um aborígene australiano
um antígeno que reagia com soro de hemofílicos e que foi denominado de antígeno Austrália
16
(BLUMBERG; ALTER; VISNICH, 1965). Posteriormente, este antígeno foi associado à
hepatite B.
No início da década de 1970 o vírus da hepatite B já se apresentava caracterizado e
assim, Dane e colaboradores demonstraram a partícula viral completa, a qual passou a ser
denominada de partícula de Dane (DANE; CAMERON; BRIGGS, 1970).
2.1.2 Classificação e estrutura do vírus da hepatite B
O vírus da hepatite B (HBV) é um vírus DNA, que possui tropismo pelas células
hepáticas e pertence à família Hepadnaviridae e gênero Orthohepadnavirus, sendo o principal
hospedeiro o homem. Existe ainda outro tipo de HBV pertencente ao gênero
Avihepadnavirus, o qual infecta as aves (GOMES, 2007; MURRAY; ROSENTHAL;
PFALLER, 2010).
O HBV apresenta diferentes tipos de partículas virais: partículas incompletas
filamentosas, partículas incompletas esféricas e partículas completas infecciosas. A partícula
viral infecciosa (virion), também denominada de partícula de Dane, é esférica e apresenta um
diâmetro de aproximadamente 42 nm. É formada por um envelope externo proteico que
consiste no antígeno de superfície do HBV (HBsAg) e internamente pelo nucleocapsídeo, o
qual apresenta simetria icosaédrica e constitui-se pela proteína do core (HbcAg) e pelo
genoma viral (GOMES, 2007; SEEGER; ZOULIM; MASON, 2013). A figura 1 simula a
estrutura geral do vírus da hepatite B.
Figura 1 – Estrutura do Vírus da Hepatite B.
Fonte: Adaptado de Perkins (2002).
17
O genoma do HBV é um dos menores entre aqueles que infectam o ser humano e
possui cerca de 3200 pares de bases, sendo formado por uma molécula de DNA circular de
fita parcialmente dupla. Este genoma possui quatro cadeias de leitura aberta: pré-S/S, pré C/C,
P e X, as quais se sobrepõem e codificam as proteínas virais (GANEM; PRINCE, 2004;
GOMES, 2007; GLEBE; BREMER, 2013).
A região pré S/S compreende as regiões pré-S1, pré-S2 e S (GOMES, 2007). Esse
gene codifica as proteínas do envelope viral (HBsAg): L (large), M (middle) e S (small). A
maior proteína “L” é codificada pelas regiões pré-S1, pré-S2 e S e é composta por
aproximadamente 400 aminoácidos. É responsável pela entrada do vírus na célula hospedeira
por meio da identificação do HBV por receptores específicos, montagem do vírus e sua
liberação a partir da célula. (GANEM; PRINCE, 2004; BARRERA et al., 2005; GOMES,
2007). A proteína com tamanho médio “M” é codificada pelas regiões pré-S2 e S e é
composta por 281 aminoácidos e não possui função bem definida, contudo acredita-se que
possa fazer parte do processo de adsorção e penetração do HBV nos hepatócitos. A menor
proteína “S” é sintetizada pela região S e mostra-se como a mais abundante, sendo composta
por 226 aminoácidos e responsável pela resposta imunológica protetora em indivíduos
infectados (GANEM; PRINCE, 2004; GOMES, 2007; HOLLINGER, 2007).
A região pré C/C inclui dois códons de iniciação na mesma fase de leitura aberta, o
que resulta na síntese das proteínas HBcAg e HBeAg (SUGIYAMA et al., 2007). A tradução
do HBeAg ocorre a partir do único códon de iniciação da região pré-C, onde de início é
produzido um polipeptídeo precursor de 214 aminoácidos que é translocado para o retículo
endoplasmático, onde é processado e resulta na formação do HBeAg com 159 aminoácidos, o
qual é então secretado na circulação sanguínea, normalmente ligado a proteínas do soro e
sendo marcador de replicação viral (GOMES, 2007).
O códon de iniciação para o HBcAg está localizado após o sítio de iniciação da região
pré-C. O polipeptídeo do core é formado por 185 aminoácidos e o nucleocapsídeo viral
forma-se a partir de 180 monômeros dessa proteína, os quais se unem formando a partícula
icosaédrica. O HBeAg e o HBcAg são traduzidos distintamente. A translocação do HBeAg
pro retículo endoplasmático é responsável pela alteração da antigenicidade do mesmo,
diferenciando-a do HBcAg. O HBcAg não é detectado no soro e sim no citoplasma e núcleo
de células infectadas e apresenta como função o empacotamento viral e independentemente
das células T é capaz de induzir a produção de anticorpos (TONG, 2005; GERLICH; GLEBE;
SCHUTTLER, 2007; GOMES, 2007).
18
O gene polimerase cobre cerca de ¾ do genoma e codifica uma enzima com atividade
de DNA polimerase, transcriptase reversa e RNAse H (GOMES, 2007). Essa região se
sobrepõe a todos os outros genes, iniciando no gene core e terminando no gene X. É composta
por três domínios funcionais: domínio aminoterminal, atuando como proteína terminal ou
primase, sendo necessária para o início da síntese da fita de DNA de polaridade negativa,
domínio de transcriptase reversa, domínio C-terminal que apresenta atividade de RNAse H e
uma região denominada de “espaçadora”, cuja função é desconhecida (SEEGER, ZOULIM,
MASON, 2013).
O gene X é o menor gene do HBV e é responsável pela codificação da proteína X, a
qual possui 154 aminoácidos e é encontrada apenas em células infectadas. Sua função não é
bem conhecida, contudo, sabe-se que é um gene regulador que pode ativar a transcrição de
certos genes virais e celulares. Além disso, alguns estudos demonstram que mutações neste
gene podem estar relacionadas ao processo de hepatocarcinogênese (GOMES, 2007;
BARBINI et al., 2012). A figura 2 representa o genoma do HBV.
Figura 2 – Representação do genoma do HBV.
Fonte: Perkins (2002).
19
2.1.3 Genótipos do HBV
O HBV possui nove genótipos, os quais são denominados de A a I e um putativo
genótipo J. Esses genótipos são ainda classificados em subgenótipos e possuem distribuições
geográficas distintas, sendo utilizados para traçar rotas de transmissão (CAO, 2009).
Os primeiros genótipos descobertos foram: A, B, C e D (OKAMOTO et al., 1988),
sendo seguido pelos genótipos E e F (NORDER et al., 1992; NAUMANN et al., 1993), G
(STUYVER et al., 2000) e H (ARAUZ-RUIZ et al., 2002). Os genótipos I (OLINGER et al,
2008) e J (TATEMATSU et al., 2009) foram propostos mais recentemente.
Os genótipos apresentam distinção entre si com relação à estrutura e tamanho do
genoma, divergindo no mínimo 7,5% e são distribuídos mundialmente de forma característica.
(NORDER et al., 1992; KIDD-LJUNGGREN; MIYAKAWA; KIDD, 2002).
Quanto a essa distribuição geográfica, o genótipo A é prevalente na Europa, África
subsaariana e nas Américas. Os genótipos B e C se mostram mais comuns na Ásia, sendo
também encontrados em algumas localidades da Oceania. O genótipo D é o mais
disseminado, sendo encontrado predominantemente nos países mediterrâneos, Oriente Médio
e Índia (OKAMOTO et al., 1988; KIDD-LJUNGGREN; MIYAKAWA; KIDD, 2002;
HANNOUN et al., 2005). O genótipo E é encontrado na África ocidental. O genótipo F é
encontrado nas Américas Central e do Sul, principalmente nas populações ameríndias; o
genótipo G foi encontrado nos Estados Unidos e Europa e o genótipo H nas Américas Central
e do Norte (NORDER et al., 1992; STUYVER et al., 2000; ARAUZ-RUIZ et al., 2002;
HOLLINGER, 2007).
O genótipo I foi proposto em estudo utilizando cepas do Vietnã (OLINGER et al.,
2008) e o genótipo J em estudo realizado no Japão (TATEMATSU et al., 2009). Apesar
dessas proposições, é necessário ainda melhor definição de características genéticas,
epidemiológicas, virológicas e clínicas dos novos genótipos (KURBANOV; TANAKA;
MIZOKAMI., 2010).
No Brasil, os genótipos predominantemente encontrados são A, D e F, sendo o
genótipo A mais prevalente nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste e o genótipo D mais
prevalente na região Sul. Na região Centro-Oeste há distribuição equilibrada entre genótipos
A e D e o genótipo F não se mostra predominante em nenhuma das cinco regiões, estando
ausente na região Sul (MELLO et al., 2007).
20
2.1.4 Diagnóstico laboratorial da hepatite B
O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HBV pode ser realizado através de
métodos bioquímicos, histológicos, virológicos, sorológicos e moleculares (GONÇALES
JUNIOR, 2005).
As formas clínicas da hepatite B podem ser diagnosticadas por meio de técnicas
sorológicas. Os marcadores sorológicos são utilizados no diagnóstico e estudos
epidemiológicos da infecção pelo HBV, para definição do estágio da doença, atualização a
respeito das opções de tratamento e monitorização da resposta às terapias (PAWLOTSKY et
al, 2008; ALAZAWI; FOSTER, 2008). No diagnóstico sorológico são pesquisados os
antígenos HBsAg e HBeAg e os anticorpos anti-HBc, anti-HBe e anti-HBs, sendo essencial a
correta interpretação dos resultados para estabelecimento de um diagnóstico adequado. Além
disso, podem ser realizados também testes moleculares que pesquisam quantitativamente e
qualitativamente o genoma do HBV (GONÇALES JUNIOR, 2005; LIANG, 2009).
Os primeiros marcadores virais a serem encontrados no soro do indivíduo na fase
aguda da infecção são o HBV DNA, HBsAg e HBeAg (GONÇALES JUNIOR, 2005;
GONÇALES; GONÇALES JUNIOR, 2007; LIANG, 2009)
O HBsAg passa a ser detectado de 1 a 6 semanas antes do início da sintomatologia
clínica, podendo persistir por até 12 semanas após a exposição, sendo que em caso de
persistência pode indicar cronicidade da infecção. O HBeAg é marcador de replicação e
infectividade do HBV, sendo sua presença geralmente associada à positividade do HBV
DNA. Estes marcadores normalmente permanecem no soro durante o período de sintomas
clínicos e são eliminados após a recuperação, quando surge então o anticorpo anti-HBs
(LIANG; GHANY, 2002; GONÇALES; GONÇALES JUNIOR, 2007; LIANG, 2009).
O anti-HBs trata-se de um anticorpo neutralizante, o qual concede imunidade contra a
infecção pelo HBV, sendo que cerca de 80% a 90% dos adultos infectados se recuperam e
desenvolvem positividade para o anti-HBs após a fase aguda da doença. Porém, uma vez que
10 a 15% dos indivíduos que evoluem para cura não desenvolvem anti-HBs detectável no
soro, o anticorpo anti-HBc isolado se mostra como melhor meio de detecção de infecção
passada, enquanto que a presença do anti-HBs é utilizada para avaliar a imunidade e resposta
à vacina contra hepatite B (LIANG; GHANY, 2002; LIANG, 2009).
Cerca de um mês após o aparecimento do HBsAg começam a ser identificados
anticorpos contra o HBcAg (antígeno core do HBV). Primeiramente surge a fração IgM (antiHBc IgM), a qual indica a fase aguda da infecção, persistindo por aproximadamente 6 meses e
21
posteriormente, surge a fração IgG (anti-HBc IgG), a qual também está presente na fase aguda
e persiste, mesmo após a cura,
durante toda a vida na maioria dos indivíduos
(LIANG;GHANY, 2002; GRANATO, 2005).
O HBeAg é marcador de replicação viral, sendo que com a soroconversão e o
aparecimento do anticorpo anti-HBe ocorre a redução da replicação e queda da
infecciosidade. A persistência deste marcador (HBeAg) por mais de 6 meses indica a
evolução para infecção crônica (EL KHOURI; SANTOS, 2004).
No caso de indivíduos que evoluem para infecção crônica existe um padrão inicial dos
marcadores semelhante, com o surgimento do HBV DNA, HBsAg, HBeAg e anti-HBc,
porém com a evolução da infecção há persistência da replicação viral e os marcadores HBV
DNA, HBsAg e HBeAg permanecem a ser detectados no soro, geralmente em níveis
elevados. O HBsAg permanece positivo por anos ou até por toda a vida na maioria dos
indivíduos (LIANG, 2009).
As figuras 3 e 4 demonstram o curso sorológico nas hepatites aguda e crônica.
Figura 3 – Curso sorológico do HBV na hepatite aguda.
Fonte: Ministério da Saúde (2008).
22
Figura 4 – Curso sorológico do HBV na hepatite crônica.
Fonte: Ministério da Saúde (2008).
2.1.5 Apresentação clínica da infecção pelo HBV
O desenvolvimento da hepatite B é influenciado por vários fatores, incluindo a idade
em que a infecção é adquirida, fatores virais do HBV como carga viral, genótipo e mutações,
fatores do hospeiro como o sexo e resposta imunológica e fatores externos como coinfecções
e consumo excessivo de alcool. A infecção pelo HBV pode levar a quadros clínicos que
variam entre as formas aguda e crônica (KIDD-LJUNGREEN; MIYAKAWA; KIDD, 2002;
MOHR; BOESECKE; WASMUTH, 2014).
A maioria dos casos de infecção aguda e crônica mostram-se assintomáticos, porém as
manifestações clínicas na infecção aguda, iniciam-se após o período de incubação, o qual
pode variar de 30 a 180 dias, com média de 70 dias, e são inespecíficas, tais como astenia,
mal-estar, anorexia, náuseas, vômitos e febre baixa. Outras manifestações descritas incluem
artralgias, artrites, mialgias e exantemas cutâneos. Dor abdominal, no hipocôndrio direito,
colúria e hepatomegalia também podem compor o quadro. Posteriormente, pode ser instalada
a icterícia, a qual ocorre em 30% a 50% dos adultos e em cerca de 10% das crianças
(FOCACCIA, 2005; SILVA et al, 2012; MOHR; BOESECKE; WASMUTH, 2014).
O período ictérico normalmente dura cerca de 2 a 4 semanas e a recuperação dos
indivíduos costuma ser completa. As principais alterações bioquímicas encontradas na
infecção aguda na época do surgimento da icterícia são: elevações de alanina
aminotransferase (ALT) e de aspartato aminotransferase (AST). Os níveis de ALT na maioria
23
das vezes excedem os de AST e é observado também grande variação nas dosagens de
bilirrubinas dos pacientes. Algumas anormalidades hematológicas podem estar presentes, com
presença de leucopenia e neutropenia acompanhadas de elevação dos linfócitos e presença de
linfócitos atípicos. Após a recuperação total da doença é observada, cerca de 1 a 3 meses
depois, a normalização das aminotransferases e bilirrubinas na maior parte dos indivíduos
(GONÇALES JUNIOR, 2007; SILVA et al., 2012).
A hepatite B crônica é definida como uma doença necroinflamatória do fígado,
causada por uma infecção persistente pelo HBV, com permanência do HbsAg por período
maior que seis meses. O risco de evolução para hepatite crônica é de 5% a 10% em adultos e
90% em recém-nascidos (LEE, 1997; GONÇALES JUNIOR, 2007). Os indivíduos portadores
de infecção crônica são na maioria das vezes assintomáticos ou apresentam sintomas leves ou
inespecíficos (SILVA et al., 2012).
A hepatite B crônica pode ser dividida em hepatite B crônica HBeAg positiva (com
replicação viral persistente); hepatite B crônica HBeAg negativa (com supressão da replicação
viral) e o portador inativo do HBsAg, o qual se aplica ao paciente HBsAg positivo por mais
de seis meses que normalmente permanece assintomático, sem alterações bioquímicas séricas
e sem marcadores de replicação no soro, caracterizando um quadro de infecção persistente do
fígado sem evidências de doença necroinflamatória (GONÇALES JUNIOR, 2007).
Os indivíduos com hepatite B crônica na maioria das vezes são assintomáticos ou
oligossintomáticos, não referindo história pregressa de icterícia. Os fatores determinantes que
levam os mesmos a procurarem tratamento normalmente são fadiga, anormalidades em testes
bioquímicos ou mesmo a presença de marcadores sorológicos em exames laboratoriais
rotineiros. A maioria dos doentes segue com a hepatite compensada por vários anos. As
hepatites crônicas ativas geralmente progridem para cirrose hepática e desenvolvimento de
hipertensão portal. Nos estágios finais da hepatite crônica surgem, hemorragias, coma e
síndrome hepatorrenal (GONÇALES JUNIOR, 2007).
2.1.6 Transmissão do HBV
O Vírus da hepatite B é transmitido via contato com sangue ou outros fluidos
corporais contaminados e o homem se mostra como hospedeiro natural. Está presente no
sangue, sêmen, secreção vaginal, leite materno e saliva. Assim, as vias de transmissão
incluem a via sanguínea, sexual, perinatal ou horizontal (HOU; LIU; GU, 2005; HUTSE et
al., 2005).
24
A transmissão por via sanguínea ocorre por meio da exposição direta a sangue
contaminado, como em transfusão sanguínea, tatuagens, procedimentos cirúrgicos com
materiais não esterilizados devidamente, compartilhamento de seringas, acidentes com
materiais contaminados, entre outros (BENNET; DOLIN; BLASER., 2010).
A transmissão por via sexual se mostra como uma das principais, devido estar
associada a comportamentos como uso irregular de preservativos, múltiplos parceiros sexuais
e histórico de doenças sexualmente transmissíveis (LUGOBONI et al., 2009).
A transmissão por via perinatal se dá quando mães infectadas transmitem o vírus para
os filhos via contato com sangue ou líquido amniótico no útero, durante o nascimento no
canal de parto ou depois do mesmo através da amamentação (HOLLINGER; LIANG, 2001).
A transmissão por via horizontal ocorre quando há contato com indivíduos HBsAg
positivos através do compartilhamento de objetos pessoais (SALKIC et al., 2007).
Alguns grupos são considerados mais expostos ao HBV devido aos seus
comportamentos ou atividade profissional, dentre estes encontram-se os trabalhadores de
saúde, uma vez que estão em constante contato com sangue e outros fluidos corporais. Além
deste grupo, indivíduos cujas atividades abrangem contato com pacientes ou com sangue e
fluidos corporais de pacientes em instituições de cuidados à saúde, laboratórios ou de
segurança pública, também são considerados pelo CDC como profissionais com risco
potencial para exposição à infecção ocupacional (CDC, 2001; AQUINO et al., 2008).
O risco de transmissão está diretamente relacionado ao nível de contato com o sangue
no ambiente de trabalho, bem como com a taxa de replicação viral do paciente, a qual é maior
naqueles que possuem positividade para o HbeAg. Dessa forma, a exposição a fluidos
contaminados de paciente fonte que apresenta taxa de replicação viral elevada pode acarretar
de 22 a 31% de risco de desenvolvimento da hepatite clínica e 37 a 62% de risco de
desenvolvimento de evidência sorológica de infecção. Já nos casos em que o paciente fonte da
contaminação apresentar taxa de replicação viral reduzida, o risco oscila entre 1 a 6% para
desenvolvimento da hepatite clínica e 23 a 37% para desenvolvimento de evidências
sorológicas (CDC, 2001; SHIFFMAN, 2010).
Além disso, outros fatores que favorecem a contaminação são a presença de lesão
profunda, sangue visível no dispositivo envolvido no acidente, presença de lesões da pele ou
mucosa exposta (cortes, arranhões, queimaduras), área extensa exposta, bem como maior
tempo de exposição ao material biológico contaminado. Outro fato a ser considerado é o de
que o vírus conserva-se estável em sangue seco a temperatura ambiente por cerca de 7 dias, o
25
que pode levar a infecção indireta por meio de materiais previamente contaminados
(GALON; ROBAZZI; MARZIALE, 2008; MAÇÃO et al., 2013).
2.1.7 Tratamento
O tratamento para hepatite B possui como principal objetivo a redução do risco de
progressão da doença e de seus desfechos, tais como a cirrose, hepatocarcinoma e o óbito. O
nível de HBV DNA, enzimas hepáticas e marcadores sorológicos tem sido usados para
avaliação dos benefícios da terapêutica a longo prazo, uma vez que a supressão sustentada da
replicação viral e a redução da atividade histológica diminuem o risco de cirrose e
hepatocarcinoma (PAPATHEODORIDIS et al., 2002; PERRILO et al., 2004; MARZIO;
HANN, 2014).
O tratamento é indicado apenas para portadores crônicos, porém para estes é
necessário basear-se em três principais critérios: os níveis de HBV DNA; os níveis de
transaminases hepáticas e o estágio da lesão hepática (EASL, 2012).
O avanço na terapêutica da hepatite B foi significativo nos ultimos anos, sendo que
atualmente existem sete medicamentos aprovados: interferon alfa, interferon alfa peguilado 2a
e 2b e os análogos nucleosídeos lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina e tenofovir
(EASL, 2012; MARZIO; HANN, 2014).
O interferon alfa convencional, primeiramente aprovado, tem sido substituído pelo
interferon peguilado, uma vez que o mesmo apresenta propiedades farmacocinéticas mais
adequadas e necessidade de menor frequência de injeções. Essa medicação mostra-se eficaz
para o controle da replicação viral e redução da incidência de descompensação hepática e
carcinoma hepatocelular e oferece a possibilidade de tratamento em tempo determinado de 48
semanas. Contudo, a taxa de resposta a esta medicação ainda é baixa, sua via de
administração é a injetavel e os pacientes apresentam efeitos adversos que muitas vezes
dificultam o término do tratamento (MARZIO; HANN, 2014; COFFIN; LEE, 2015).
Os análogos nucleosídeos são medicações de uso oral que promovem rápida e potente
inibição da replicação viral, de forma segura e com presença de poucos efeitos colaterais o
que resulta na redução da progressão da fibrose hepática, da evolução para a cirrose e do
carcinoma hepatocelular. Contudo, modificações nas taxas de soroconversão do HBeAg e a
negativação do HbsAg raramente ocorrem, sendo o tratamento de duração indeterminada.
(EASL, 2012; MARZIO; HANN, 2014; COFFIN; LEE, 2015).
26
A diferença entre os análogos nucleosídeos encontra-se na potência de inibição da
replicação viral e na capacidade mantê-la. A indicação da medicação a ser utilizada será
realizada com base na situação clínica do paciente (EASL, 2012; MARZIO; HANN, 2014).
2.1.8 Epidemiologia
A hepatite B apresenta distribuição universal, estando presente em todos os
continentes e mostrando-se como problema de saúde pública mundial. Estima-se que mais de
240 milhões de pessoas possuam a infecção crônica, que cerca de 30% a 50% dos adultos
cronicamente infectados desenvolvam cirrose ou hepatocarcinoma e aproximadamente
780.000 morram todos os anos devido à essas consequências (WHO, 2015).
Observa-se que a prevalência de infecção pelo HBV e os padrões de transmissão
diferem bastante nas diferentes localidades, de acordo com a taxa de infecção crônica,
quantidade de indivíduos que apresentam replicação viral e o modo de transmissão que
predomina em cada região. Dessa forma, as regiões são divididas de acordo com a
endemicidade da hepatite B, a qual é classificada baseando-se na prevalência de positividade
ao HBsAg. As áreas consideradas de alta endemicidade são aquelas em que a prevalência do
HBsAg é maior que 8%; as áreas com endemicidade intermediária são aquelas em que a
prevalência encontra-se entre 2% a 8% e as áreas denominadas de baixa endemicidade são
aquelas cuja prevalência de HBsAg encontra-se inferior a 2% (WHO, 2008; MERRIL;
HUNTER, 2011).
Áreas de elevada endemicidade incluem a África subsaariana, Ásia Oriental, regiões
da Amazônia e do sul da Europa Central e Oriental. As áreas de baixa endemicidade incluem
Europa Ocidental, América do Norte, Austrália e partes da América do Sul. O Oriente Médio,
Índia e demais regiões do mundo são consideradas como áreas de endemicidade intermediária
(MERRIL; HUNTER, 2011; WHO, 2015).
O padrão de transmissão difere de acordo com a endemicidade da região. Sabe-se que
em áreas altamente endêmicas é mais comum a transmissão via perinatal, de mãe para filho
no nascimento ou através da transmissão horizontal (contato com sangue contaminado),
especialmente de uma criança infectada para outra não infectada nos primeiros 5 anos de vida.
Já nas áreas de baixa endemicidade a via de transmissão sexual, durante a fase jovem e adulta,
se mostra como a mais importante (SILVA et al., 2015; WHO, 2015).
No Brasil, até a década de 1990, os estudos realizados classificavam-no como área de
intermediária endemicidade, porém com diferença entre as diversas regiões (SOUTO, 1999).
27
A implementação da vacinação contra hepatite B, em 1989, primeiramente em áreas de alta
prevalência, como a região amazônica, e posteriormente em todo o país, contribuiu para a
redução dessas taxas nas diferentes regiões, o que também ocorreu em outros países
(BRAGA, 2004; WHO, 2015).
Atualmente, sabe-se que o Brasil é considerado como região de baixa endemicidade
para a hepatite B, como foi evidenciado em estudo de base populacional realizado no conjunto
das capitais brasileiras, onde a prevalência global do HBsAg foi menor que 1% (PEREIRA et
al., 2009).
Apesar dos avanços encontrados na redução da prevalência da infecção, a erradicação
do HBV ainda consiste em um desafio a ser superado.
Sendo as hepatite virais consideradas no Brasil, como doenças de notificação
compulsória pela Portaria GM/MS Nº 104, de 25 de janeiro de 2011, sabe-se que no ano de
2015 foram confirmados e notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) 10.256 casos de hepatite B, sendo 8.511 na forma clínica crônica e as regiões Sul e
Sudeste as que apresentaram o maior número de casos (BRASIL, 2011; BRASIL, 2016a).
Portanto, no Brasil ainda existe um considerável reservatório de portadores crônicos,
principalmente nas áreas onde há histórico de alta prevalência de HBsAg, sendo que estes se
mostram como importante fonte de infecção para indivíduos suscetíveis, os quais, segundo
inquérito nacional, em algumas regiões como o Nordeste, a taxa chega a 75% da população
(PEREIRA et al., 2009).
2.2 Vacina contra hepatite B
Sabe-se que a imunização ativa por meio da vacinação contra a hepatite B é a principal
forma de prevenção da infecção, demonstrando elevada efetividade e segurança (PAIVA,
2008).
No início dos anos 1980, foi disponibilizada a primeira vacina para prevenção da
hepatite B, sendo esta elaborada a partir de plasma humano e usufruída apenas por alguns
países. Subsequentemente, em 1986, foi introduzida também a vacina elaborada por meio de
DNA-recombinante (CHEN; GLUUD, 2005).
No ano de 1989, foi detectada a circulação do vírus da hepatite B no Brasil, sendo
iniciada a implantação da vacina contra a doença (obtida a partir de plasma humano), por
meio de campanhas nas áreas de alta prevalência na Amazônia legal. Em 1991, a OMS
recomendou a inclusão da vacina nos programas nacionais e esta passou a fazer parte do
28
calendário básico do Amazonas, para crianças menores de 1 ano de idade. Somente no ano de
1992 começou a ser introduzida no Brasil a vacina elaborada por meio de DNArecombinante, passando a fazer parte do calendário básico da Amazônia legal, Paraná,
Espírito Santo, Santa Catarina e Distrito Federal para crianças menores de 5 anos de idade. Já
no ano de 1994 esta vacina passou a ser ofertada também aos profissionais de saúde do setor
privado, bombeiros, policiais, militares, estudantes de medicina, enfermagem, bioquímica e
odontologia (BRASIL, 2003).
Em 1995, o Instituto Butantan, localizado em São Paulo, desenvolveu um projeto e
passou a produzir industrialmente a vacina contra a hepatite B por meio de engenharia
genética. Uma redefinição das recomendações para a vacinação contra a infecção ocorreu no
ano de 1996, onde foi ampliada a oferta da vacina para toda a população brasileira menor de 1
ano de idade, com exceção dos estados que já eram contemplados, os quais passaram a ofertar
a vacina para toda a população menor de 15 anos de idade. Contudo, essas novas
recomendações foram efetivadas apenas a partir de 1998, uma vez que o produto se
apresentava escasso no país. Em 2000, a vacina contra a hepatite B, juntamente com outras,
passou a integrar o calendário vacinal básico brasileiro e sua oferta foi gradativamente
ampliada, em todo o país, para menores de 20 anos até o ano de 2003 (BRASIL, 2003).
No calendário vacinal básico de 2010, a vacina contra a hepatite B contemplou
também os grupos de risco (gestantes; trabalhadores de saúde; bombeiros; policiais militares,
civis e rodoviários; caminhoneiros; carcereiros; coletores de lixo; profissionais do sexo; entre
outros) tanto no calendário adulto (20 a 59 anos), como no calendário do idoso (60 anos ou
mais) (BRASIL, 2010).
O Calendário Nacional de Vacinação, que entrou em vigor em julho de 2013,
estabelece um esquema de 1 dose da vacina contra hepatite B ao nascer e 3 doses da vacina
pentavalente (difteria, tétano, pertussis, haemophilus influenzae B e hepatite B) com 2, 4 e 6
meses de idade para a criança; 3 doses da vacina contra hepatite B (0,1 e 6 meses) para o
adolescente e também 3 doses desta vacina (0,1 e 6 meses) para o adulto até 49 anos caso não
tenha recebido o esquema completo na infância e a Nota Técnica Conjunta nº 02/2013 da
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização atentava para a continuidade da
garantia de vacinação contra a hepatite B para os grupos de risco mesmo fora da faixa etária
estabelecida pelo calendário em questão (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b).
Contudo, por meio da Nota Informativa Nª 149, de 2015/CGPNI/DEVIT/SVS/MS,
foram estabelecidas mudanças para o Calendário Nacional de Vacinação do ano de 2016,
onde a oferta da vacina contra hepatite B é ampliada para toda a população,
29
independentemente da idade ou vulnerabilidade, uma vez que com a melhoria da expectativa
e qualidade de vida da população, os idosos representam uma parcela crescente da sociedade,
com frequência da atividade sexual em ascensão e grande resistência ao uso de estratégias de
proteção, aumentando assim o risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, tal como
a hepatite B. Além disso, vale ressaltar que nessa população a infecção apresenta quadro
clínico mais grave, sendo importante a vacinação universal (BRASIL, 2015b).
A vacina contra hepatite B é eficaz, apresentando resposta vacinal de cerca de 98% e
ausência de efeitos adversos graves, conforme apresentado em estudo realizado com adultos
sobre a imunogenicidade da vacina brasileira (MORAES; LUNA; GRIMALDI, 2010). A dose
recomendada varia conforme o fabricante e a via de administração é a intramuscular (IM), não
podendo ser realizada no músculo glúteo. A gestação e a lactação não são contraindicações
para seu uso. Apesar de os esquemas vacinais objetivarem a administração de todas as doses
da vacina, níveis protetores de anticorpos podem se desenvolver após uma dose em 30% a
50% da população adulta e após duas doses em 75% da mesma (FERREIRA; SILVEIRA,
2004).
O esquema de vacinação contra a hepatite B deve respeitar alguns aspectos, tais como
o intervalo mínimo de 1 mês entra a primeira e a segunda dose e de 2 meses entre a segunda e
a terceira dose. Quando o intervalo entre as doses for maior que o preconizado no calendário
vacinal, não é necessário reiniciar o esquema, apenas completá-lo, além disso, não é
recomendada dose de reforço após a finalização do esquema vacinal, uma vez que a
imunidade contra a hepatite B é prolongada (BRASIL, 2001).
Em crianças, adolescentes e adultos sadios não há a necessidade de determinação da
resposta laboratorial de anticorpos, contudo, nos grupos de risco esta é indicada por meio do
teste de anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBs) após o
término do esquema vacinal. Nos casos onde o indivíduo apresentar o anti-HBs negativo após
a finalização do esquema é indicado a repetição do mesmo. Caso após o término do segundo
esquema vacinal o anti-HBs continuar negativo o indivíduo é considerado não respondedor,
estando suscetível à infecção (FERREIRA; SILVEIRA, 2004).
A eficácia da resposta à vacina pode ser diminuída devido ao modo de conservação da
mesma, local de aplicação, idade acima de 40 anos, sexo masculino, obesidade, tabagismo,
etilismo e condição imunológica fragilizada (FERREIRA; SILVEIRA, 2006).
30
2.3 Polícia Rodoviária Federal
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é uma instituição criada pelo presidente
Washington Luiz, no dia 24 de julho de 1928, através do Decreto nº 18.323, onde recebeu o
nome de “Polícia de Estradas”. Em 23 de julho de 1935, foi criado o primeiro quadro de
servidores daqueles que, hoje, compõem a PRF, os quais eram chamados de “Inspetores de
Tráfego” (BRASIL, 2016b).
No ano de 1937, um importante passo foi dado para o exercício das atividades da
Polícia das Estradas: a Comissão Nacional de Estradas de Rodagem foi transformada no
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) pela Lei nº 467 de 31 de julho de
1937. O Decreto-lei nº 8463 de 27 de setembro de 1945 passa a dar autonomia financeira ao
DNER, podendo o mesmo gerir seus próprios recursos, inclusive para as demandas da PRF
(BRASIL, 2016b).
Com a Constituição Federal de 1988, a PRF passou a compor o Artigo 144 da Carta
Magna, onde é integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública, tendo como missão
realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Desde 1991, a instituição faz parte
da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, como Departamento de Polícia
Rodoviária Federal (BRASIL, 2016b).
A PRF tem suas competências definidas pela Constituição Federal e algumas de suas
atribuições encontram-se na Lei nº 9.503, que define o Código de Trânsito Brasileiro; no
Decreto nº 1655, de 03 de outubro de 1995 e no seu Regimento Interno, estabelecido pela
Portaria nº 1375, de 02 de agosto de 2007 (BRASIL, 2016b).
Esta instituição está presente em todo o território nacional e sua estrutura conta com
uma unidade administrativa central, a Sede Nacional, localizada em Brasília, e Unidades
Administrativas Regionais, formadas por 22 Superintendências (GO, MT, MS, MG, RJ, SP,
ES,PR, SC, RS, BA, PE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, SE, RO, TO) e 5 Distritos (DF, AC,
AM, AP e RR). Possui ainda 150 Subunidades Administrativas, chamadas de Delegacias e
413 Unidades Operacionais (UOPs), totalizando, portanto, mais de 550 pontos de
atendimento no país (BRASIL, 2016b).
A PRF trabalha como polícia cidadã, visando a garantia de policiamento ostensivo, a
segurança, a fiscalização e o salvamento daqueles que utilizam as rodovias e estradas
federais e em alguns casos, devido a extensão territorial do Brasil, se mostra como único
representante do poder público em determinadas regiões, sendo o elo principal entre o
Governo e a sociedade brasileira (BRASIL, 2016b).
31
Dentro da PRF existem duas carreiras efetivas: a de policial rodoviário federal e a de
agente administrativo. Os policiais rodoviários federais trabalham executando as atividades
fim da PRF, como planejamento de operações, fiscalizações de trânsito, combate à
criminalidade e salvamento de vítimas. Podem exercer atividades de cunho administrativo
e/ou operacional (nas rodovias), contudo, todos os policiais que executam atividades
administrativas estão sujeitos à convocações para exercer atividades operacionais. Já os
agentes administrativos realizam apenas as atividades meio, as quais permitem a execução das
atividades fim, como pagamento de folha de servidores, confecção de documento e
movimentação de processos (BRASIL, 2016b).
Durante as atividades operacionais estes policiais encontram-se em constante risco
de contaminação por doenças infecciosas, inclusive hepatite B, uma vez que estão expostos a
contato com material biológico contaminado no processo de cumprimento de suas atribuições.
Contudo, esta população não se mostra alvo de pesquisas em relação à temática, dificultando
o estabelecimento da situação de saúde da mesma.
2.3.1 PROSSERV
O Programa de Saúde do Servidor da Polícia Rodoviária Federal (PROSSERV) visa o
planejamento, coordenação e implementação das ações necessárias à efetivação da Política de
Atenção à Saúde dos Servidores da PRF, cujo objetivo fundamental é o cuidado integral à
saúde do servidor, com ênfase em ações preventivas, visando a promoção e a proteção da
saúde no ambiente de trabalho, com a consequente redução das causas de adoecimento
decorrentes das atividades desenvolvidas no órgão (BRASIL, 2016c)
O PROSSERV possui como princípios e diretrizes: universalidade e equidade;
integralidade; acesso à informação para os servidores; descentralização; comunicação,
formação e capacitação; multideterminação da saúde; abordagem biopsicossocial;
interdisciplinaridade; gestão participativa; ambientes de trabalho saudáveis; inter-relação
entre atenção à saúde e gestão de pessoas e humanização na atenção ao servidor (BRASIL,
2016c)
Este programa deve contemplar todos os servidores e colaboradores do órgão,
priorizando pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade, sendo estes identificados
e definidos a partir da análise da situação de saúde local e regional. As ações devem ainda,
sempre que possível, ser estendidas aos servidores aposentados (BRASIL, 2016c)
32
Os objetivos do programa são: fortalecer a Vigilância em Saúde do Servidor e a
integração com os demais componentes da Vigilância em Saúde do Governo Federal,
Estadual e Municipal; promover a saúde em ambientes e processos de trabalhos saudáveis;
garantir a integralidade na atenção à saúde do servidor, o que pressupõe a inserção de ações
de saúde em todas as unidades administrativas e operacionais da PRF; ampliar o
entendimento de que a saúde do servidor deve ser concebida como uma ação transversal;
ampliar a conscientização sobre a condição do trabalho como determinante do processo
saúde-doença dos indivíduos e da coletividade, incluindo-o nas análises de situação de saúde
e nas ações de promoção em saúde; assegurar que o diagnóstico sobre as características do
trabalho e suas condições de execução sejam considerados nos estudos epidemiológicos com
vistas à identificação dos possíveis agravos à saúde do servidor; preservar a qualidade de vida
no trabalho para os servidores da PRF; promover e articular ações com foco nos Direitos
Humanos dos Servidores da PRF e representar a PRF nos fóruns e instâncias internas e
externas, com foco no tema de Direitos Humanos do Servidor (BRASIL, 2016c)
Quanto ao planejamento e execução do programa, a Política de Atenção à Saúde do
Servidor sé planejada e coordenada pela Coordenação Geral de Recursos Humanos, sendo que
a mesma orienta o planejamento e execução das ações do PROSSERV pelas Unidades
Desconcentradas, as quais devem realizar as adequações necessárias e designar servidores que
serão responsáveis pela execução das ações do programa (BRASIL, 2016c).
Embasando-se nos princípios e objetivos do PROSSERV, devem ser executadas as
seguintes ações: Patrulha da Saúde e acompanhamento assistencial.
A Patrulha da Saúde é formada por um conjunto de atividades avaliativas e de cunho
pedagógico, objetivando a promoção de conhecimento quanto ações de prevenção de doenças,
bem como a conscientização dos servidores e colaboradores a respeito da necessidade de
preservar a qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. É desenvolvida a partir
da participação voluntária de servidores e colaboradores, os quais são submetidos a
questionário sobre o histórico de saúde e atividades diárias, recreativas e esportivas, qualidade
do sono e relações interpessoais, aferição de dados biométricos e outros parâmetros clínicos
(BRASIL, 2016c).
Para que as atividades da Patrulha da Saúde possam ser executadas, os responsáveis
pelo PROSSERV devem atuar previamente, buscando apoio de outros órgãos e instituições,
públicas e/ou privadas, ligados à área da saúde, recreação, esportes e direitos humanos, os
quais serão convidados a participarem do evento como colaboradores (BRASIL, 2016c).
33
Esta ação deve ser realizada ao menos uma vez a cada ano, constituindo-se como meta
da mesma o alcance de todo o efetivo lotado na unidade organizacional, devendo ser
corretamente justificado o seu não atendimento (BRASIL, 2016c).
O acompanhamento assistencial é caracterizado pelo conjunto de atividades realizadas
pelos setores de gestão de recursos humanos da PRF, objetivando prestar apoio
biopsicossocial aos servidores diante de enfermidades físicas ou mentais ou outras condições
que possam refletir no seu bem-estar no trabalho (BRASIL, 2016c).
34
3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Caracterizar a infecção pelo vírus da hepatite B e a imunidade vacinal em Policiais
Rodoviários Federais de Campo Grande, MS.
3.2 Objetivos Específicos
a) Estimar a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite B em Policiais Rodoviários
Federais de Campo Grande, MS;
b) Identificar os fatores associados à infecção pelo vírus da hepatite B na população estudada;
c) Caracterizar os acidentes de trabalho com material biológico potencialmente contaminado;
d) Verificar a situação de imunização contra hepatite B na população estudada.
35
4 METODOLOGIA
4.1 Tipo de pesquisa
Trata-se de um estudo de corte transversal com abordagem quantitativa.
4.2 Local e período da pesquisa
A pesquisa foi realizada na Superintendência e 1º Delegacia da Polícia Rodoviária
Federal, localizadas no município de Campo Grande, MS, no período de abril a julho de 2015.
4.3 População da pesquisa
Participaram da pesquisa o efetivo de Policiais Rodoviários Federais do Município de
Campo Grande, MS, o qual corresponde a um total de 169 policiais, alocados na
Superintendência e 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.
4.3.1 Critérios de inclusão da pesquisa
Todos os Policiais Rodoviários Federais do município de Campo Grande, MS,
que realizam ou já realizaram patrulhamento nas rodovias federais desde o ingresso na
carreira.
4.3.2 Critérios de exclusão da pesquisa
Todos os Policiais Rodoviários Federais do município de Campo Grande, MS,
que nunca realizaram patrulhamento nas rodovias federais; gestantes; indígenas e aqueles que
não forem encontrados durante o período da pesquisa por motivos de férias, folgas,
afastamentos, licença maternidade, entre outros.
4.4 Fontes, instrumentos/procedimentos para coleta de dados
A coleta de dados foi realizada durante a Patrulha da Saúde, desenvolvida no
âmbito do Programa de Saúde do Servidor da Polícia Rodoviária Federal (PROSSERV), que
ocorreu na Superintendência e 1º delegacias, no ano de 2015.
4.4.1 Entrevista
O formulário de entrevista foi adaptado a partir do instrumento do Projeto Risco
Biológico.org (EQUIPE RISCO BIOLÓGICO. ORG, 2008), a fim de identificar as variáveis
necessárias para o estudo. Este instrumento já foi validado em estudos anteriores
(CONTRERA-MORENO, 2012; MORAIS, 2013).
36
A entrevista teve duração de aproximadamente 20 minutos e foi realizada por
pesquisadores treinados, em local reservado dentro do ambiente de trabalho a fim de manter a
privacidade do participante.
4.4.2 Testes sorológicos
As amostras de sangue foram coletadas por meio de punção venosa, a vácuo,
utilizando-se materiais estéreis e descartáveis e técnica asséptica. O material obtido foi
armazenado em tubos de ensaio numerados conforme o número do formulário de entrevista.
Todas as amostras foram testadas para detecção do antígeno de superfície do vírus
da hepatite B (HBsAg); anticorpo total contra o antígeno core do vírus da hepatite B (antiHBc total) e anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBs)
através do ensaio imunoenzimático (ELISA), empregando-se kits comerciais.
A coleta de sangue e os testes sorológicos foram realizados pela equipe do
Laboratório de Imunologia Clínica do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
As amostras obtidas foram ainda estocadas em refrigerador a – 20ºC neste
laboratório, permanecendo no mesmo por um período de cinco anos, possibilitando estudos
posteriores. Ao término deste período as amostras de sangue serão submetidas ao processo de
autoclavagem à temperatura de 120ºC, durante 30 minutos, e em seguida encaminhadas para
coleta seletiva e posterior incineração.
4.4.3 Entrega dos resultados dos testes sorológicos
A entrega dos resultados foi realizada pessoalmente pela pesquisadora, garantindo
o sigilo e anonimato dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Juntamente com o resultado foi
entregue uma carta elucidativa a respeito do mesmo. Foi realizada orientação em relação a
situação vacinal e imunológica contra a hepatite B de cada participante, encaminhando os
casos necessários para a realização de vacinação, conclusão do esquema vacinal e/ou reforço
da vacina da Hepatite B. Não foram necessários encaminhamentos ao Hospital Dia Professora
Esterina Corsini do Núcleo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul.
4.5 Recursos financeiros
Foi utilizado recurso financeiro próprio dos autores envolvidos no projeto, bem
como materiais remanescentes provenientes de outras pesquisas dos mesmos.
37
4.6 Organização e Análise dos dados
Os dados obtidos com a pesquisa foram organizados em um banco de dados e
posteriormente em tabelas para serem submetidos à estatística descritiva e analítica. Para
verificar possíveis associações entre as variáveis de estudo foram utilizados os testes Quiquadrado, Qui-quadrado de tendência e Teste Exato de Fisher, e calculadas as razões de
prevalência, com os respectivos intervalos de confiança de 95%. Para estimar as razões de
prevalência ajustadas, foi utilizada a Regressão de Cox (com tempo igual a uma unidade),
utilizando as variáveis com significância ≤ a 20%. Foram utilizados os programas estatísticos
BioEstat versão 5 e Epi Info versão 7 (AYRES et al., 2007; CDC, 2015).
4.7 Aspectos éticos
O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sendo respeitados todos os referenciais
bioéticos da pesquisa envolvendo seres humanos, contidos na Resolução nº466/2012, tais
como a autonomia, a não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros,
visando assegurar os direitos e deveres relativos aos participantes da pesquisa, à comunidade
científica e ao Estado (BRASIL, 2012) e foi aprovado sob o parecer Nº 691337 de 18 de
junho de 2014.
38
5 RESULTADOS
5.1 Dados sociodemográficos, laborais e associados à ocorrência de infecção pelo HBV
A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul possui uma equipe composta por
489 policiais, dos quais 169 estão lotados na Superintendência e 1º delegacia, situadas na
cidade de Campo Grande. Do total de policiais lotados na capital (n=169), participaram da
pesquisa 118 profissionais (69,8%), uma vez que 19 policiais não aderiram às ações da
Patrulha da Saúde, 6 se recusaram a participar da entrevista e dos testes sorológicos, 1 se
recusou a realizar a entrevista e 25 não estavam presentes no serviço devido a férias,
convocações, licenças médica, maternidade e para capacitação.
Do total de participantes (n=118), a maior parte encontra-se lotada na
Superintendência (56,8%), sendo 83,9% do sexo masculino. A maioria autodeclarou-se
branca (58,5%), encontra-se na faixa etária entre 36 a 45 anos (46,6%), é casada (72,9%) e
concluiu ensino superior (89%). Com relação à função laboral principal, 48,3% exerce a
função operacional, lembrando que aqueles cuja função principal é a administrativa também
já realizaram atividade operacional desde seu ingresso na academia. Outra atividade
remunerada é praticada por 5,1% dos policiais e 22,9% realizam hora extra.
A Tabela 1 apresenta os dados sociodemográficos e laborais dos policiais rodoviários
estudados.
39
Tabela 1 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo variáveis
demográficas e laborais, Campo Grande/MS – 2015 (n=118).
Variáveis
Local de Trabalho
Delegacia
Superintendência
Sexo
Feminino
Masculino
Cor
Branca
Parda
Negra
Outra
Tempo de serviço
Menos de 1 ano
Entre 1 a 5 anos
Entre 6 a 10 anos
Entre 11 a 15 anos
Entre 16 a 20 anos
Mais de 20 anos
Faixa etária
Até 35 anos
De 36 a 45 anos
Mais de 45 anos
Estado civil
Solteiro
Casado/União estável
Divorciado/Separado
Escolaridade
Ensino médio
Ensino superior
Função laboral
Administrativo
Operacional
Ambas
Outra atividade remunerada
Sim
Não
Faz horas extras
Sim
Não
Nº
%
51
67
43,2
56,8
19
99
16,1
83,9
69
43
5
1
58,5
36,4
4,2
0,8
3
20
16
16
32
31
2,5
16,9
13,6
13,6
27,1
26,3
29
55
34
24,6
46,6
28,8
25
86
7
21,2
72,9
5,9
13
105
11,0
89,0
17
57
44
14,4
48,3
37,3
6
112
5,1
94,9
27
91
22,9
77,1
40
Na Tabela 2 são apresentados os possíveis fatores associados à infecção pelo HBV,
dos quais os mais frequentes foram: o uso irregular de preservativo (83%) e cirurgia prévia
(67,8%). O acidente de trabalho com material biológico foi o terceiro fator mais frequente
(24,6%).
Tabela 2 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo fatores
associados à infecção pelo HBV, Campo Grande/MS – 2015 (n=118).
Variáveis
Nº
%
Uso irregular de preservativo
98
83,0
Cirurgia prévia
80
67,8
Acidente de trabalho com material biológico
29
24,6
Compartilhamento de objetos perfurocortantes
21
17,8
Realizou transfusão sanguínea
11
9,3
Mais de um parceiro sexual (últimos seis meses)
10
8,5
Histórico de Doença Sexualmente Transmissível (1)
9
7,6
Presença de tatuagem
8
6,8
Presença de piercing
3
2,5
Comportamento homossexual
1
0,8
Uso de droga injetável
1
0,8
Nota: cada policial poderia apresentar um ou mais fatores.
(1) Os antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis (DST) citadas foram HPV (n=4),
gonorreia (n=2), herpes (n=2) e 1 não foi informada.
Com relação ao estilo de vida, verificou-se que apenas 5,9% dos participantes são
tabagistas. Já quanto ao consumo de bebida alcoólica, 44,1% referiu fazer uso ao menos uma
vez na semana. Observou-se também que, relacionado ao índice de massa corpórea, a maioria
encontra-se na faixa de sobrepeso (52,5%), não havendo nenhum caso de baixo peso,
conforme mostra a Tabela 3.
Além disso, quanto à presença de doença com diagnóstico médico (n=118), 26,3%
afirmaram possuir alguma (Tabela 3), havendo 2 policiais que citaram mais de 1 doença. As
doenças relacionadas (n=31) foram: hipertensão arterial sistêmica (51,6%), asma (6,5%),
diabetes mellitus (6,5%), hipotireoidismo (6,5%), refluxo gastroesofágico (6,5%), cardiopatia
(3,2%), lesão no nervo ulnar direito (3,2%), depressão (3,2%), espondilite (3,2%), gastrite
(3,2%), hérnia de disco (3,2%), hepatite C (3,2%), rinite alérgica (3,2%), síndrome vaso vagal
(3,2%) e transtorno esquizofrênico (3,2%).
41
Tabela 3 - Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo estilo de vida e
doenças com diagnóstico médico. Campo Grande – 2015/MS (n=118).
Variáveis
Nº
%
Tabagismo
Sim
7
5,9
Não
111
94,1
Sim
52
44,1
Não
66
55,9
Baixo peso (≤18,5)
-
-
Eutrofia (18,6-24,9)
34
28,8
Sobrepeso (25,0-29,9)
62
52,5
Obesidade (≥30)
22
18,6
Sim
31
26,3
Não
87
73,7
Etilismo
IMC
Doença com diagnóstico médico
Ao serem questionados sobre o conhecimento com relação à transmissão da
hepatite B (n=118), 50,8% responderam ter conhecimento, porém, ao serem questionados a
respeito de quais são as formas, observou-se que ainda existem certas duvidas, uma vez que
apesar de a maioria ter citado o sangue e a relação sexual, existem aqueles que acreditam que
a hepatite B é transmitida por alimento e ar (Tabela 4).
42
Tabela 4 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo o
conhecimento em relação à transmissão da hepatite B, Campo Grande/MS –
2015.
Variáveis
Possui conhecimento
n
Nº
%
118
Sim
60
50,8
Não
58
49,2
Sangue/Transfusão
53
88,3
Relação sexual
29
48,3
Secreções
10
16,7
Saliva
6
10,0
Alimentos
1
1,7
Ar
1
1,7
Forma de transmissão (1)
(1)
60
ocorreu uma ou mais respostas por participante.
5.2 Resultados referentes à situação vacinal e uso de equipamentos de proteção
individual
Considerando as medidas de prevenção da hepatite B e outras doenças infecciosas, os
participantes foram questionados a respeito da imunização e suas condições de trabalho.
A maioria (73,7%) dos participantes (n=118) referiu possuir a carteira de vacinação,
porém somente 22 policiais (18,6%) apresentaram a mesma na data da coleta de dados, apesar
de ter sido solicitado anteriormente via email institucional da PRF.
Quanto à vacinação contra hepatite B (n=118), observou-se que a maioria
desconhece a situação vacinal (40,7%), enquanto que 36,4% afirmaram possuir o esquema
completo com as três doses da vacina. De mesmo modo, 56,8% desconhece a situação vacinal
em relação à sarampo, caxumba e rubéola. As vacinas contra febre amarela e contra tétano e
difteria mostraram-se as mais realizadas, sendo referidas respectivamente por 65,3% e 59,3%
dos participantes. Outras vacinas citadas foram a contra gripe (10,2%) e contra raiva (0,8%)
(Tabela 5).
43
Tabela 5 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a situação
vacinal. Campo Grande/MS – 2015 (n=118).
Variáveis
Possui carteira de vacinação
Sim
Não
Vacinação contra Hepatite B
Desconhece
Completa (3 doses)
Incompleta (1 ou 2 doses)
Não vacinado
Vacinação contra tétano
Sim
Desconhece
Não
Vacinação contra Febre Amarela
Sim
Desconhece
Não
Vacinação contra Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR ou SR)
Desconhece
SRC
SR
Não vacinado
Outras Vacinas
Contra gripe
Contra raiva
Nº
%
87
31
73,7
26,3
48
43
22
5
40,7
36,4
18,6
4,2
70
43
5
59,3
36,4
4,2
77
39
2
65,3
33,1
1,7
67
42
7
2
56,8
35,6
5,9
1,7
12
1
10,2
0,8
A Tabela 6 apresenta os resultados relacionados ao uso de equipamentos de proteção
individual (EPI) (n=118), sendo que botas e luvas de procedimento foram os equipamentos
citados como sempre utilizados por 94,9% e 66,1% dos participantes, respectivamente.
Apenas cinco participantes referiram o uso de outros equipamentos de proteção, sendo citados
o colete, gandola e luva de raspa.
44
Tabela 6 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a utilização de
equipamentos de proteção individual (EPI). Campo Grande/MS – 2015 (n=118).
Variáveis
Utilização de luvas de procedimento descartáveis
Sempre
Às vezes
Nunca
Utilização de óculos de proteção
Sempre
Às vezes
Nunca
Utilização de máscara
Sempre
Às vezes
Nunca
Utilização de botas
Sempre
Às vezes
Nunca
Outros equipamentos de proteção individual
Colete
Gandola
Luva de raspa
Nº
%
78
28
12
66,1
23,7
10,2
8
20
90
6,8
16,9
76,3
11
24
83
9,3
20,3
70,3
112
6
94,9
5,1
2
2
1
1,7
1,7
0,8
5.3 Resultados referentes aos acidentes de trabalho com material biológico relatados
pela população estudada
Em relação ao histórico de acidentes de trabalho com material biológico (n=118), 29
policiais (24,6%) declararam ter sofrido o acidente, sendo que destes (n=29), 44,8%
afirmaram ter sido expostos 2 ou mais vezes, como é observado na Tabela 7.
Tabela 7 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência e
o número de acidentes de trabalho com material biológico, Campo Grande/MS –
2015.
Variáveis
Acidentes de trabalho com material biológico
Sim
Não
Quantidade de acidentes
1 acidente
2 acidentes ou mais
n
118
Nº
%
29
89
24,6
75,4
16
13
55,2
44,8
29
45
Ao serem questionados sobre as circunstâncias em que os acidentes aconteceram
(n=29), 84,7% relatou que o mesmo foi devido à não utilização de EPI, sendo que 51,3%
referiu a não utilização de luvas. Do total, 7,7% foi devido à falha no EPI e também 7,7%
devido à confrontos.
A Tabela 8 apresenta essas situações geradoras de acidentes, conforme relato dos
participantes.
Tabela 8 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo relato da
situação causadora do acidente de trabalho com material biológico, Campo
Grande/MS – 2015 (n=29).
Variáveis
Nº
%
Falha nos equipamentos de proteção individual
Ruptura da luva
3
7,7
Não utilização de luvas
20
51,3
Ausência de roupa adequada
12
30,8
1
2,6
3
7,7
Não utilização de equipamento de proteção individual
Não utilização de máscara
Confronto
(1)
Nota: ocorreu uma ou mais respostas por participante.
(1)
Os confrontos referidos como situação causadora incluem a resistência e agressividade de
indivíduos durante abordagem ou prisões realizadas pelos policiais.
A maior parte da exposição a material biológico que ocorreu pela não utilização de
EPI foi devido ao esquecimento ou ausência de luvas ou vestimenta adequada (gandola)
durante socorro, remoção/transporte de vítimas ou recolhimento de documentos em acidentes
de trânsito. Com relação à falha de EPI, foi citada apenas a ruptura de luva, também durante
essas atividades. Um número pequeno de acidentes (3/29; 7,7%) foi causado devido à
confronto com indivíduos durante abordagem ou prisão.
Aproximadamente 59% dos participantes (n=29) souberam informar a data de
ocorrência do acidente, sendo que alguns daqueles que sofreram mais de um acidente não
recordaram a data de todos. O ano com maior ocorrência de acidentes foi o de 2009 (10,3%) e
quanto ao local, todos ocorreram nas rodovias do estado.
A Tabela 9 traz as características desses acidentes de acordo com o relato dos
indivíduos expostos.
46
Tabela 9 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo as
características dos acidentes de trabalho com material biológico, Campo
Grande/MS – 2015 (n=29).
Variáveis
Nº
%
Tipo de exposição (1)
Pele íntegra
24
80,0
Percutânea
5
16,7
Agressões
1
3,3
Sangue
26
76,5
Saliva
6
17,6
Escarro
1
2,9
1
2,9
Mãos
22
37,3
Dedos
18
30,5
Membros superiores
15
25,4
Tronco
2
3,4
Membros inferiores
1
1,7
Face
1
1,7
18
62,1
Moderada (de 5ml a 50ml)
9
31,0
Grande (acima de 50ml)
2
6,9
Mais de 30 minutos
9
31,0
De 11 a 30 minutos
9
31,0
De 6 a 10 minutos
4
13,8
De 1 a 5 minutos
5
17,3
Menos de 1 minuto
2
6,9
Tipo de material biológico (1)
Outro (2)
Área corporal atingida
(1)
Estimativa da quantidade de material biológico
Pequena (menos de 5ml)
Duração da exposição
(1)
Ocorreu uma ou mais respostas por participante.
(2)
O outro material biológico citado foi vômito.
A exposição à pele íntegra foi relatada por 80% daqueles que sofreram acidente com
material biológico (n=29), embora alguns não a considerem como acidente de trabalho. A
agressão relatada por um participante (3,3%) como tipo de exposição, foi uma mordida de
traficante durante o processo de prisão. O material biológico presente na maior parte das
exposições foi o sangue (76,5%), seguido da saliva (17,6%).
47
As áreas corporais mais atingidas, segundo relato dos profissionais (n=29), foram as
mãos (37,3%), seguido de dedos (30,5%) e membros superiores (25,4%).
No que se refere à quantidade de material biológico com o qual os policiais entraram
em contato durante os acidentes de trabalho (n=29) nota-se que a maioria dos participantes
relata exposição à pequena quantidade de material biológico (62,1%) e apenas 6,9% refere
exposição à grande quantidade.
O tempo de exposição dos profissionais (n=29) ao material mostrou-se elevado na
maioria dos casos, sendo que 31% permaneceu em contato por mais de 30 minutos e também
31% ficou em contato de 11 a 30 minutos. Quando questionados quanto ao motivo de tal
duração, os mesmos referiram que foi o tempo necessário entre a realização do atendimento
ou transporte da vítima e o acesso a meios de realizar os cuidados locais na área atingida.
Com relação aos acidentes em que ocorreram exposição percutânea (n=5), observa-se
pela Tabela 10 que em 40% dos mesmos havia sangue no objeto perfurocortante e a maior
parte das lesões (60%) foram superficiais (escoriações). A exposição através de EPI também
ocorreu em 40% dos casos e o objeto causador de 80% das lesões foram as ferragens dos
veículos.
Tabela 10 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo o relato dos
acidentes de trabalho de acordo com as características da exposição percutânea,
Campo Grande/MS – 2015 (n=5).
Variáveis
Sangue no objeto perfurocortante
Sim
Não
Desconhecido
Profundidade da lesão
Superficial (escoriações)
Moderada (penetração na pele)
Profunda (feridas)
Exposição ocorreu através de EPI
Sim
Não
Desconhecido
Objeto causador
Ferragens
Outro objeto cortante(1)
Nº
%
2
2
1
40,0
40,0
20,0
3
2
-
60,0
40,0
-
2
2
1
40,0
40,0
20,0
4
1
80,0
20,0
(1) O outro objeto cortante citado trata-se de lâmina de barbear.
48
A Tabela 11 apresenta as condutas que foram adotadas pelos participantes (n=29) após
os acidentes. Observou-se que nenhum dos pacientes-fonte do material biológico eram
conhecidos e não houve a realização de sorologia para hepatite B em nenhum dos casos.
Apenas 17,2% procurou assistência médica, sendo relatados o posto de saúde, hospital e
consultório de infectologia como os locais de atendimento. O principal motivo relacionado
pelos profissionais para não haver procurado assistência foi o fato de não acharem necessário
tal medida por acreditar não haver risco de contaminação.
Do total de 29 policiais, apenas dois participantes (6,9%) referiram ter notificado o
acidente com material biológico, porém tais notificações foram realizadas somente no livro de
ocorrências da polícia. Quanto à profilaxia, dois participantes realizaram a vacinação contra
hepatite B e nenhum realizou o acompanhamento medicamentoso.
Tabela 11 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo o relato das
condutas adotadas após o acidente com material biológico, Campo Grande/MS –
2015 (n=29).
Variáveis
Paciente fonte do material biológico
Conhecido
Não conhecido
Sorologia para hepatite B no paciente fonte
Positivo
Negativo
Não realizado
Procura de atendimento médico
Procurou
Não procurou
Local do atendimento médico
Posto de saúde
Hospital
Consultório médico - Infectologista
Notificação do acidente de trabalho
Notificou
Não notificou
Local de registro
Livro de ocorrências
Profilaxia após a exposição
Vacinação contra Hepatite B
n
Nº
%
29
29
100,0
29
100,0
5
24
17,2
82,8
2
2
1
40,0
40,0
20,0
2
27
6,9
93,1
2
100,0
2
100,0
29
29
5
29
2
2
Com relação à análise bivariada, observou-se que não houve associação entre a
ocorrência de acidente de trabalho e as variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, função
49
laboral, fazer horas extras, uso de luvas, máscara, óculos, botas, possuir carteira de
vacinação, vacinação para Hepatite B, Etilismo, ter alguma doença, e conhecer ou não as
formas de transmissão do HBV (Tabelas 12, 13 e 14). Na análise multivariada com as
variáveis que apresentaram p ≤ 0,20 na análise bivariada, também foi observada ausência
de associação entre a ocorrência de acidentes e o tempo de serviço, no entanto, houve
associação entre a ocorrência de acidentes e as variáveis: realizar outra atividade
remunerada e tabagismo. A frequência de acidentes foi aproximadamente 3 vezes maior
em policiais que realizam outra atividade remunerada e entre os fumantes.
50
Tabela 12 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de acidentes de trabalho com material biológico e as variáveis de estudo, Campo
Grande/MS – 2015 (n=118).
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa etária
Até 35 anos
De 36 a 45 anos
Mais de 45 anos
Escolaridade
Ensino médio
Ensino superior
Tempo de serviço
Menos de 1 ano
Entre 1 a 5 anos
Entre 6 a 10 anos
Entre 11 a 15 anos
Entre 16 a 20 anos
Mais de 20 anos
Função laboral
Operacional
Administrativo
Ambas
Outra atividade remunerada
Sim
Não
Faz horas extras
Sim
Não
Uso de luvas no trabalho
Sim
Não
Uso de máscara no trabalho
Sim
Não
Uso de óculos de proteção no
trabalho
Sim
Não
Uso de botas no trabalho
Sim
Não
(1)
Teste Qui-quadrado.
Teste Qui-quadrado de tendência.
(3)
Teste Exato de Fisher.
(2)
n
Acidente de trabalho
No.
%
p
(1)
19
99
4
25
21,1
25,3
0,949
29
55
34
5
15
9
17,2
27,3
26,5
(2)
0,417
13
105
5
24
38,5
22,9
(3)
0,367
3
20
16
16
32
31
2
4
5
10
8
10,0
25,0
31,3
31,3
25,8
(2)
0,126
57
17
44
18
3
8
31,6
17,6
18,2
(1)
0,232
6
112
4
25
66,7
22,3
(3)
0,063
27
91
7
22
25,9
24,2
(1)
0,853
78
40
17
12
21,8
30,0
(1)
0,327
11
107
2
27
18,2
25,2
(3)
0,924
8
110
3
26
37,5
23,6
(3)
0,616
112
6
29
-
25,9
-
(3)
0,353
51
Tabela 13 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de acidentes de trabalho com material biológico e variáveis relacionadas à saúde,
Campo Grande/MS – 2015 (n=118).
Variáveis
Possui carteira de vacinação
Sim
Não
Vacinação contra hepatite B
Completa
Incompleta
Sem informação
Tabagismo
Sim
Não
Etilismo
Sim
Não
Possui doença
Sim
Não
Conhece formas de transmissão do HBV
Sim
Não
(1)
(2)
Acidente de trabalho
No.
%
n
p
87
31
23
6
26,4
19,4
(1)
0,432
43
22
53
14
6
9
32,6
27,3
17,0
(1)
0,201
7
111
4
25
57,1
22,5
(2)
0,122
52
66
15
14
28,8
21,2
(1)
0,339
31
87
7
22
22,6
25,3
(1)
0,764
60
58
17
12
28,3
20,7
(1)
0,335
Teste Qui-quadrado.
Teste Exato de Fisher.
Tabela 14 – Razão de prevalência bruta e ajustada na análise multivariada para acidente de
trabalho.
Variáveis
Tempo de serviço
Outra atividade
remunerada
Tabagismo
(1)
Razão de Prevalência
Bruta (IC95%)
3,27 (0,84 a 12,76)
0,049
Razão de Prevalência
Ajustada (IC95%)
1,20 (0,92 a 1,55)
0,177
2,99 (1,54 a 5,80)
0,063
3,15 (1,08 a 9,21)
0,036
2,54 (1,23 a 5,26)
0,122
3,10 (1,06 a 9,10)
0,039
p
p
Nota: Regressão de Cox com as variáveis com p ≤ 0,20 na análise bivariada.
(1)
Acima de 5 anos versus até 5 anos
5.4. Infecção pelo Vírus da Hepatite B e imunidade vacinal nos profissionais estudados
A Tabela 15 traz os resultados quanto aos marcadores sorológicos da infecção e
imunidade contra o HBV.
52
Tabela 15 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo marcadores
sorológicos para hepatite B, Campo Grande/MS – 2015 (n=118).
Categoria
Positivos
Marcadores Sorológicos
Nº
Infectados
% (IC 95%)
HBsAg
-
-
anti-HBc total
1
0,8 (0,3 a 1,4)
anti-HBc total/anti-HBs
8
6,8 (2,2 a 11,3)
Marcador de infecção
9
7,6 (2,8 a 12,4)
Vacinados
anti-HBs isolado
55
46,6 (37,6 a 55,6)
Suscetíveis
Ausência de marcador sorológico
54
45,8 (36,8 a 54,8)
A prevalência global para a infecção pelo HBV foi de 7,6% (2,8% a 12,4% IC 95%).
Do total de 118 policiais, nenhum apresentou sorologia positiva para HBsAg,
indicando ausência de infecção ativa. Um participante apresentou sorologia positiva isolada
ao anti-HBc total (0,8%), indicando presença de infecção curada.
Oito participantes mostraram terem sido infectados, evoluindo para cura com
produção de imunidade, uma vez que apresentaram teste positivo para anti-HBc total
associado ao anti-HBs (6,8%).
Cinquenta e cinco participantes apresentaram positividade ao anti-HBs isolado
(46,6%), sugerindo imunidade vacinal e cinquenta e quatro (45,8%) apresentaram sorologia
negativa para todos os marcadores investigados, mostrando-se suscetíveis à infecção pelo
HBV.
Nas tabelas 16, 17 e 18 está apresentada a análise bivariada das variáveis de estudo e a
infecção pelo HBV. Para a realização da análise estatística excluíram-se todos os casos onde
os participantes apresentaram sorologia positiva para o anti-HBs isolado, o que indica
vacinação prévia contra hepatite B, resultando assim em 63 policiais investigados.
Posteriormente à análise verificou-se que não houve associação entre as variáveis de
estudo e a infecção pelo HBV.
53
Tabela 16 – Número e porcentagem dos Policiais Rodoviários Federais segundo dados
sociodemográficos e laborais e infecção pelo HBV, Campo Grande/MS – 2015
(n=63).
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa etária
Até 35 anos
De 36 a 45 anos
Mais de 45 anos
Escolaridade
Ensino médio
Ensino superior
Cor
Brancos
Não-Brancos
Estado civil
Casado
Solteiro/divorciado
Tempo de serviço
Menos de 1 ano
Entre 1 a 5 anos
Entre 6 a 10 anos
Entre 11 a 15 anos
Entre 16 a 20 anos
Mais de 20 anos
Função laboral
Operacional
Administrativo
Ambas
Outra atividade remunerada
Sim
Não
Faz Horas extras
Sim
Não
n
Anti-HBC positivo
No.
%
p
10
53
2
7
20,0
13,2
(1)
0,877
14
26
23
1
4
4
7,1
15,4
17,4
(2)
0,412
7
56
9
16,1
(1)
0,640
35
28
5
4
14,3
14,3
(1)
1,000
51
12
8
1
15,7
12,5
(1)
0,580
2
8
9
9
20
15
1
1
1
4
2
12,5
11,1
11,1
20,0
13,3
(2)
0,572
32
10
21
3
2
4
9,4
20,0
19,0
2
61
9
14,8
(1)
1,000
13
50
1
8
7,7
16,0
(1)
0,802
1
0,484
(1)
0,320
(1)
Nota: Excluiu-se todos os casos de anti-HBS positivo isolado, o que indica
vacinação prévia e consequentemente não-exposto.
(1)
Teste Exato de Fisher.
(2)
Teste Qui-quadrado de tendência.
54
Tabela 17 – Número e porcentagem de Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de infecção pelo HBV e variáveis de estudo, Campo Grande/MS – 2015 (n=63).
Variáveis
Uso de droga ilícita
Sim
Não
Possui tatuagem
Sim
Não
Utiliza piercing
Sim
Não
Realizou transfusão sanguínea
Sim
Não
Cirurgia prévia
Sim
Não
Parceiro sexual nos últimos 6 meses
Mais de um parceiro
Nenhum ou um parceiro
Utiliza preservativo
Não
Sim
Sem resposta
Orientação sexual
Homossexual
Heterossexual
Possui histórico de DST
Sim
Não
Compartilha objetos pessoais
Sim
Não
Vacinação contra hepatite B
Completa
Incompleta
Sem informação
Conhece formas de transmissão da
hepatite B
Sim
Não
n
Anti-HBC positivo
No.
%
p
2
61
9
14,8
(1)
1,000
3
60
9
15,0
(1)
1,000
2
61
9
14,8
(1)
1,000
7
56
9
16,1
(1)
0,640
40
23
6
3
15,0
13,0
(1)
1,000
2
61
9
14,8
(1)
1,000
52
10
1
8
1
-
15,4
10,0
-
(1)
1,000
1
62
9
14,5
(1)
1,000
5
58
9
15,5
(1)
0,900
12
51
2
7
16,7
13,7
(1)
1,000
23
13
27
4
2
3
17,4
15,4
11,1
30
33
4
5
13,3
15,2
1
1,000
(1)
0,815
(1)
(1)
1,000
Nota: Excluiu-se todos os casos de anti-HBS positivo isolado, o que indica vacinação prévia e
consequentemente não-exposto.
(1)
Teste Exato de Fisher.
55
Tabela 18 – Número e porcentagem de Policiais Rodoviários Federais segundo a ocorrência
de infecção pelo HBV e biossegurança na atividade laboral, Campo Grande/MS
– 2015 (n=63).
Variáveis
Uso de luvas no trabalho
Sim
Não
Uso de máscara no trabalho
Sim
Não
Uso de óculos de proteção no trabalho
Sim
Não
Uso de botas no trabalho
Sim
Não
Acidente de trabalho com material
biológico
Sim
Não
n
Anti-HBC positivo
No.
%
P
48
15
7
2
14,6
13,3
(1)
1,000
5
58
1
8
20,0
13,8
(1)
1,000
4
59
1
8
25,0
13,6
(1)
0,938
59
4
9
-
15,3
-
(1)
1,000
17
46
2
7
11,8
15,2
(1)
1,000
Nota: Excluiu-se todos os casos de anti-HBS positivo isolado, o que indica vacinação prévia e
consequentemente não-exposto.
(1)
Teste Exato de Fisher.
Com relação à imunidade vacinal, as tabelas 19 e 20 expõem a análise bivariada
realizada após exclusão dos casos em que os participantes apresentaram sorologia positiva
para anti-HBc total associado ao anti-HBs (n=8), indicando imunidade por infecção prévia.
Constatou-se que não houve associação entre ter imunidade e as variáveis: sexo,
escolaridade, possuir carteira de vacinação, vacinação contra hepatite B, Índice de Massa
Corporal (IMC) e etilismo (Tabela 19 e 20). Foram selecionadas as variáveis que
apresentaram p ≤ 0,20 na análise bivariada, e estas foram submetidas à análise
multivariada, no entanto, também foi observada ausência de associação entre imunidade e
as variáveis: faixa etária, estado civil, tabagismo e possuir alguma doença.
56
Tabela 19 – Número e porcentagem de Policiais Rodoviários Federais segundo imunidade
vacinal contra hepatite B e variáveis de estudo, Campo Grande/MS – 2015
(n=110).
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa etária
Até 35 anos
De 36 a 45 anos
Mais de 45 anos
Escolaridade
Ensino médio
Ensino superior
Estado civil
Solteiro/Divorciado
Casado
Possui carteira de vacinação
Sim
Não
Vacinação contra hepatite B
Completa
Incompleta
Sem informação
Faixa de IMC
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade
Tabagismo
Não
Sim
Etilismo
Não
Sim
Possui doença
Não
Sim
n
Imunidade vacinal
No.
%
p
17
93
9
46
52,9
49,5
(1)
0,792
28
51
31
15
29
11
53,6
56,9
35,5
(2)
0,152
13
97
6
49
46,2
50,5
(1)
0,768
31
79
20
35
64,5
44,3
(1)
0,056
81
29
42
13
51,9
44,8
(1)
0,516
39
21
50
20
9
26
51,3
42,9
52,0
(1)
0,766
31
59
20
17
29
9
54,8
49,2
45,0
(2)
0,479
103
7
54
1
52,4
14,3
(3)
0,113
61
49
28
27
45,9
55,1
(3)
0,443
82
28
44
11
53,7
39,3
(1)
0,189
Nota: Foram excluídos da amostra os casos positivos para anti-HBc total associado ao anti-HBs,
indicando imunidade por infecção prévia.
(1)
Teste Qui-quadrado.
(2)
Teste Qui-quadrado de tendência.
(3)
Teste Exato de Fisher.
57
Tabela 20 – Razão de prevalência bruta e ajustada na análise multivariada para imunidade
vacinal.
Variáveis
Faixa etária (1)
Estado Civil
Tabagismo
Possui doença
Razão de Prevalência
Bruta (IC95%)
1,57 (0,94 a 2,62)
1,60 (1,12 a 2,28)
0,27 (0,04 a 1,69)
0,73 (0,44 a 1,21)
p
0,152
0,056
0,113
0,189
Razão de Prevalência
Ajustada (IC95%)
1,48 (0,73 a 2,99)
1,35 (0,76 a 2,38)
4,31 (0,59 a 31,36)
1,18 (0,59 a 2,36)
Nota: Regressão de Cox com as variáveis com p ≤ 0,20 na análise bivariada.
(1)
até 45 anos versus acima de 45 anos
p
0,278
0,300
0,149
0,636
58
6 DISCUSSÃO
O presente estudo trata-se do primeiro a ser realizado com Policiais Rodoviários
Federais no Brasil, a respeito da infecção pelo vírus da hepatite B e imunidade vacinal contra
a infecção.
Ao serem analisadas as características sociodemográficas, observou-se que a maioria
dos participantes era do sexo masculino, uma vez que apesar dos avanços existentes, o
trabalho policial ainda é tido como atribuição masculina, assim como a maioria também
mostrou ser casado, dado que também foi observado em outros estudos com policiais civis e
militares (SACRAMENTO, 2007; SILVA, 2012; LIZ, 2014). Além disso, observou-se ainda
que todos os policiais apresentam como nível de escolaridade mínimo o ensino médio, uma
vez que trata-se de um dos requisitos para investidura no cargo (BRASIL, 2016b).
A prevalência global para infecção pelo HBV encontrada neste estudo foi de 7,6%
(2,8% a 12,4% IC 95%), e quando comparada com estudos envolvendo outros profissionais
que também são submetidos ao risco de infecção ocupacional por este vírus, esta prevalência
mostrou-se maior que em bombeiros ingleses, onde foi encontrada prevalência de 0,42%
(SPRINGBETT et al., 1994), em militares peruanos, cuja prevalência foi de 0,91%
(CHACALTANA; ESPINOZA, 2008) e em trabalhadores de saúde de hospitais do Paquistão,
onde a prevalência foi de 2,18% (ATTAULLAH et al., 2011).
Ainda em relação à prevalência global, o resultado encontrado foi semelhante a
estudos com dentistas de Mato Grosso do Sul e Goiás, onde foram encontradas prevalências
de 10,8% e 6%, respectivamente (BATISTA et al., 2006; PAIVA et al., 2008), profissionais
de segurança pública e recrutas militares dos Estados Unidos - 8,6% e 4%, respectivamente
(AVERHOFF et al., 2002; BROWN et al., 2011), agentes penitenciários de Ghana – 11,7%
(ADJEI et al., 2008), profissionais de saúde da atenção primária e bombeiros de Mato Grosso
do Sul – 11,1% e 6,5%, respectivamente (SANCHES et al., 2008; CONTRERA-MORENO et
al., 2012), profissionais de saúde de um hospital de São José do Rio Preto – 9,4% (CIORLIA;
ZANETTA, 2005) e profissionais de enfermagem do setor de emergência do Piauí - 9,2%
(ARAÚJO; SILVA, 2014)
Em comparação com outros grupos populacionais considerados expostos ao risco de
infecção, a prevalência nos policiais rodoviários também mostrou-se superior a de doadores
de sangue de um município de Minas Gerais, uma vez que estes apresentaram prevalência de
1,83% (DIOGO et al, 2012), assim como em estudos envolvendo gestantes de Mato Grosso
do Sul, onde as prevalências foram de 0,3% (FIGUEIRÓ-FILHO, 2007) e 0,9% (BOTELHO,
59
2008). Foi semelhante à estudos realizados com doadores de sangue e profissionais do sexo
de Mato Grosso do Sul - 9,4% e 9,3%, respectivamente (AGUIAR et al., 2001; MOUSQUER,
2011), em relação a estudo de base populacional realizado na região Centro-Oeste, onde a
prevalência encontrada foi de 5,3% (PEREIRA et al, 2009) e inferior quando comparada às
prevalências encontradas em população de afrodescendentes e na população encarcerada de
Mato Grosso do Sul – 19,8% e 17,9%, respectivamente (MOTTA-CASTRO et al, 2005;
STIEF et al, 2010) e em pacientes com tuberculose em Goiás – 25,6% (AIRES, 2011).
Em relação ao HBsAg, não foi encontrado nenhum caso com sorologia positiva para o
mesmo, assemelhando-se ao estudo com profissionais de enfermagem de emergência do Piauí
(ARAÚJO; SILVA, 2014).
Não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o tempo de
exercício profissional e a infecção pelo HBV. Entretanto, há relatos de estudos anteriores nos
quais houve maior número de casos em indivíduos com maior tempo de carreira, dos quais
cita-se: estudo com bombeiros (CONTRERA-MORENO et al., 2012), dentistas (PAIVA et
al., 2008) e profissionais de saúde da atenção básica de Mato Grosso do Sul (SANCHES et
al., 2008). Essa informação mostra a possibilidade de infecção ocupacional, pois muitos
policiais referiram que no início de suas carreiras não havia muita disseminação de
informações a respeito dos riscos ocupacionais, assim como não eram disponibilizados
equipamentos de proteção individual.
Os profissionais que participam de atividades operacionais, sejam elas exclusivas ou
associadas à atividades administrativas, geralmente apresentam maiores taxas de infecção
pelo HBV, bem como aqueles que possuem cirurgia prévia, como demonstrado em estudo
com homens em tratamento hemodialítico (GUIMARÃES; LIMA; SANTOS, 2014) e aqueles
que não fazem uso regular de preservativo, como descrito em pesquisa com profissionais de
segurança pública, onde inclusive houve associação com história prévia de doenças
sexualmente transmissíveis (AVERHOFF et al., 2002). Na presente pesquisa, essas variáveis
não se associaram à maior prevalência de infecção pelo HBV.
Este estudo apresentou 29 policiais (24,6%) que relataram ter sofrido acidente de
trabalho com material biológico ao menos uma vez durante sua trajetória profissional.
Contudo, cabe ressaltar que houve a limitação com relação à memória dos profissionais sobre
os acidentes, uma vez que pode ter ocorrido esquecimento, bem como a exposição em pele
íntegra pode não ter sido considerada pelos mesmos como acidente de trabalho.
60
Na análise estatística observou-se associação significativa dos acidentes de trabalho
com material biológico apenas com relação às variáveis ”outra atividade remunerada” e
”tabagismo”.
Realizar outra atividade remunerada nos horários de folga mostrou elevar a
prevalência de ocorrência de acidentes de trabalho, uma vez que conforme observado em
estudos com profissionais de saúde, isso gera sobrecarga de trabalho, levando à exaustão e
consequentemente acabam por contribuir para a ocorrência de acidentes ocupacionais
(MEDEIROS JUNIOR, 2005; BARBOSA; FIGUEIREDO; PAES, 2009).
As outras atividades remuneradas (n=6) relatadas pelos policiais foram: topografia,
pecuária, professor, empreiteira, construtor e personal trainer.
A prevalência de acidentes de trabalho com material biológico também mostrou-se
cerca de três vezes maior em indivíduos tabagistas. Tal associação foi similarmente observada
em estudo com profissionais de saúde de Porto Alegre (PAZ; SANTOS; LAUTERT, 2014),
sendo que em pesquisa com enfermeiros do Rio Grande do Sul foi apontado que o uso do
tabaco pode reduzir a capacidade funcional para o trabalho (HILLESHEIN et al., 2011).
A variável tempo de serviço apresentou p<0,20 na análise bivariada, porém ao ser
realizada a Regressão de Cox, a mesma não mostrou-se estatisticamente significativa.
Contudo, é demonstrado na literatura, que o maior número de acidentes de trabalho ocorre em
profissionais com mais tempo de serviço, conforme o estudo realizado com trabalhadores de
saúde de São José do Rio Preto, onde a chance de ocorrência de acidente de trabalho
aumentou 4% a cada ano a mais de serviço (CIORLIA; ZANETTA, 2004) e a estudo
realizado também com profissionais de enfermagem no Distrito Federal, onde indivíduos com
6 a 10 anos ou mais de serviço apresentaram maior frequência de acidentes, deduzindo-se
assim que os profissionais com maior experiência não cumpram as medidas necessárias para
se prevenir durante a realização de suas atividades (RIBEIRO; SHIMIZU, 2007). Além disso,
estudo indica ainda que quanto maior o tempo de atividade profissional, maior a exposição ao
risco de infecção devido ao contato constante com as fontes de transmissão (PINHEIRO;
ZEITOUNE, 2008).
Apesar de não apresentar significância estatística, é possível relacionar a ocorrência de
acidentes com a função laboral, sendo que os indivíduos que atualmente praticam atividades
operacionais, assim como maior prevalência de infecção pelo HBV, apresentam também
maior número de ocorrência de acidentes do que aqueles que exercem atividades
administrativas, pois estão mais expostos ao risco, tal como é demonstrado em estudo com
61
profissionais da saúde e administrativos de São José do Rio Preto (CIORLIA; ZANETTA,
2005) e em bombeiros de Mato Grosso do Sul (CONTRERA-MORENO, 2012).
Neste estudo, apesar de não ter sido apontado na análise estatística a associação entre
o nível de escolaridade e a ocorrência de acidentes de trabalho com material biológico, esses
achados divergiram do encontrado em estudos com profissionais de enfermagem do Piauí e de
São Paulo, onde a maior parte dos acidentes com material biológico ocorreram em indivíduos
com ensino fundamental ou médio, sugerindo que quanto menor o grau de qualificação
profissional, maior o risco para acidentes (SILVA, 1988; LIMA et al., 2011).
Com relação ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), observou-se que a
maior parte dos policiais não usa o mesmo de forma completa, sendo que a maioria utiliza
apenas luvas de procedimento descartáveis, se acidentando mais aqueles que não usam
máscara e óculos em suas ocorrências. Tal comportamento os expõe ao risco de contaminação
de mucosas, como também foi evidenciado em pesquisa com bombeiros de Mato Grosso do
Sul (CONTRERA-MORENO, 2012). Adicionalmente, sabe-se que o uso de EPI durante as
atividades operacionais dificulta a aquisição de infecções, sendo este fato demonstrado em
estudo com dentistas, onde o maior número de casos de infecção pelo HBV ocorreu naqueles
que utilizavam o EPI de forma incompleta (PAIVA et al., 2008).
Contudo, constatou-se que apesar de a luva ser o EPI mais utilizado, a maior parte dos
acidentes ocorreu devido à não utilização da mesma, conforme relato dos policiais. Os
mesmos relataram ainda que na maioria dos casos houve esquecimento ou o equipamento não
era disponibilizado. Este esquecimento pode ser entendido, com base nas falas dos
profissionais, como uma resistência ao uso dos EPIs (incluindo máscaras e óculos), uma vez
que assim como observado em estudo com profissionais de enfermagem, os mesmos não
consideram tais equipamentos necessários (FROTA et al., 2012).
Vale destacar também que vários policiais referiram os membros superiores como
principal área corporal atingida durante o acidente, o que se justifica não somente pela não
utilização das luvas, como também pelo fato de as mesmas serem curtas e estes profissionais
não fazerem uso da gandola a maior parte do tempo, ou durante seu uso, mantê-las
remangadas.
O contato com sangue em pele íntegra, maior parte das exposições referidas nesta
pesquisa, já foi associado anteriormente à infecção pelo HBV em estudo com bombeiros
(WOODRUFF et al., 1993).
Neste estudo foi observado também que os casos em que ocorreu acidente de trabalho
com material biológico não foram notificados, sendo registrados apenas 2 dos mesmos no
62
livro de ocorrências da instituição. O motivo mais frequentemente relatado para não ter
realizado a notificação foi a crença de que o acidente não oferecia riscos ao policial,
evidenciando a desinformação do real risco ocupacional a que estão expostos.
A subnotificação dos acidentes de trabalho com material biológico impede o
entendimento da situação epidemiológica destes, dificultando assim a recomendação e a
implementação de ações com vistas à prevenção dos mesmos (ALVES et al, 2013).
Quanto à imunização contra a hepatite B, apenas 36,4% dos policiais referiram possuir
a vacinação completa, com 3 doses, sendo que este dado não pôde ser confirmado, uma vez
que apenas 18,6% destes profissionais apresentaram a carteira de vacinação para conferência,
ainda que solicitado a mesma via instituição da PRF.
Essa taxa encontrada, apesar de se mostrar superior a estudo envolvendo trabalhadores
da Atenção Primária de Minas Gerais – 6,2% (MARTINS et al, 2015), ainda é considerada
baixa, uma vez que policiais rodoviários estão em risco para infecção ocupacional e até o ano
de 2015 encontravam-se no grupo vulnerável do Calendário Nacional de Imunização, o qual
foi atualizado para o ano de 2016, expandindo a oferta da vacina para toda a população
independentemente da idade ou condições de vulnerabilidade devido ao aumento da
ocorrência de doença sexualmente transmissível em idosos (BRASIL, 2015b).
Outros estudos que avaliaram a taxa de vacinação (completa com 3 doses) em
profissionais que também correm risco de contaminação encontraram resultados superiores,
tal como em estudo com profissionais de enfermagem do Ceará – 69% (DIAS et al., 2013),
trabalhadores da saúde da Bahia – 59,9% (SOUZA et al., 2015), profissionais de enfermagem
atendidos em um centro de referência para profissionais de saúde vítimas de acidente de
trabalho com material biológico no Rio de Janeiro – 66,8% (FRAGUÁS et al., 2013),
bombeiros de Mato Grosso do Sul – 51,6% (CONTRERA-MORENO et al., 2012),
trabalhadores de saúde de Minas Gerais – 74,9% (ASSUNÇÃO et al, 2012) e dentistas de
Mato Grosso do Sul – 73,1% (BATISTA et al, 2006).
Em relação aos resultados para o marcador sorológico anti-HBs isolado, foi
encontrada positividade em 46,6% (37,6% a 55,6% IC 95%) dos participantes, indicando
imunidade vacinal contra a hepatite B. Este resultado mostrou-se maior que o encontrado em
pesquisa conduzida com profissionais de laboratório em São Paulo – 10,4% (MOREIRA et al,
2007), profissionais de saúde do Rio Grande do Norte – 5,2% (FERNANDES et al, 1999),
hemofílicos em Goiás – 14,7% (TAVARES et al, 2004) e população encarcerada de Mato
Grosso do Sul – 24% (STIEF et al, 2010), semelhante aos resultados de estudos conduzidos
com adultos jovens do sexo masculino da força aérea no sul do Brasil – 41% (PASSOS;
63
TREITINGER; SPADA, 2011) e profissionais de unidades de hemodiálise de Goiás – 49,3%
(LOPES et al, 2001) e inferior à taxa encontrada em dentistas, profissionais de saúde da
atenção básica e bombeiros de Mato Grosso do Sul – 74,5%, 65,7% e 66,9%, respectivamente
(BATISTA et al., 2006; SANCHES et al., 2008; CONTRERA-MORENO et al., 2012), em
profissionais de laboratório de Goiás – 89,9% (SILVA et al., 2005) e em trabalhadores de
saúde de São José do Rio Preto - 86,4% (CIORLIA; ZANETTA, 2005).
Dos indivíduos que referiram possuir vacinação completa, apenas 51,3% apresentaram
imunidade vacinal, o que é considerado pouco, uma vez que a vacina contra hepatite B
apresenta eficácia acima de 98% (MORAES; LUNA; GRIMALDI, 2010). Já com relação aos
indivíduos que afirmaram desconhecer a sua situação vacinal, 52% apresentaram imunidade
contra a doença pela vacina. Esses dados mostram que essa situação pode não ser fidedigna,
uma vez que, conforme citado anteriormente, a ausência do cartão de vacinação foi elevada,
sendo a maior parte dos dados coletados com base na informação dos participantes, os quais
podem não se recordar ou confundir as vacinas realizadas e os números de doses.
Na análise estatística, após realização da Regressão de Cox, não foi encontrada
associação significativa entre a ocorrência de imunidade vacinal e as variáveis de estudo.
Contudo, observa-se que a maior parte dos policiais que apresentam imunidade vacinal
contra hepatite B encontra-se dentro da faixa etária de até 45 anos, o que pode ser explicado
devido ao fato de a implantação da vacina no Brasil ter sido iniciada apenas há 27 anos atrás,
em 1989, nas áreas de alta prevalência da infecção na Amazônia, passando a compor o
calendário vacinal básico brasileiro apenas no ano 2000, onde a oferta foi ampliada
gradativamente para menores de 20 anos (BRASIL, 2003), além disso, os grupos de risco,
onde incluíam-se os policiais, passou a ser contemplado somente no calendário de 2010
(BRASIL, 2010). Outro aspecto trata-se do fato de que a resposta vacinal pode ser diminuída
em indivíduos com idade acima de 40 anos (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). Essa relação
entre imunidade vacinal e menor faixa etária é observada também em outros estudos como o
realizado com profissionais de laboratório em Goiás (SILVA et al., 2005) e com comunidades
ribeirinhas do Pará (ALMEIDA, 2012).
No presente estudo, não houve associação entre estado civil e imunidade vacinal, o
que diverge de outros estudos, tais como os com trabalhadores de saúde de Minas Gerais e
puérperas em Teresina, onde participantes sem companheiro apresentaram prevalências
menores (ASSUNÇÃO et al., 2012; FEITOSA, 2012).
Apesar de não ter sido encontrada associação entre imunidade vacinal, tabagismo,
obesidade e ser portador de doenças sistêmicas, conforme a literatura, esse fatores contribuem
64
para a diminuição da eficácia vacinal (BRANDI, 1998; COUTINHO, 2010; MORAES;
LUNA; GRIMALDI, 2010). Isso se deve ao fato de essas características interferirem no
quadro de saúde geral do indivíduo, incluindo seu sistema imunológico (MARTINS et al.,
2015).
Tabagistas podem responder menos a estímulos desse sistema, uma vez que é sugerido
que o consumo de tabaco estaria ligado à diminuição da função macrofágica e linfocítica
(KOFF, 2002; MARTINS et al., 2015). Ademais, os tabagistas atuais possuem menores
índices de vacinação completa do que indivíduos não tabagistas, o que pode ser também
entendido como comportamento que repercute em negligência com a própria saúde
(GARCIA; FACHINI, 2008). A resposta imunológica diminuída e a presença de doenças
crônicas, tais como diabetes, contribuem para gradativa diminuição da eficácia à vacina
(MARTINS et al., 2015). Além disso, a obesidade pode dificultar a administração da vacina
na região intramuscular, o que modifica a exposição do antígeno a fagócitos ou a células
apresentadoras de antígenos (SHAW et al., 1989).
A baixa prevalência de imunidade vacinal acarreta em um elevado número de
profissionais ainda suscetíveis à infecção pelo HBV- 45,8% (36,8% a 54,8% IC 95%), o que é
superior ao encontrado em bombeiros e profissionais de enfermagem de Mato Grosso do Sul,
onde apenas 28,2% e 24,7% respectivamente, apresentaram susceptibilidade à infecção
(CONTRERA-MORENO et al, 2012; MORAIS, 2013). Tal dado somado ao uso irregular de
equipamentos de proteção indivual eleva o risco de transmissão ocupacional do vírus entre os
mesmos. Dessa forma, é necessário a recomendação imediata da vacinação, bem como
vigilância da situação de imunização pela própria instituição.
65
7 CONCLUSÃO
A prevalência global de infecção pelo HBV nos policiais rodoviários foi de 7,6%.
Não
houve
associação
significativa
entre
as
variáveis
de
estudo,
pessoais,
comportamentais e ocupacionais com a infecção pelo HBV.
Os acidentes de trabalho com material biológico mostraram-se 3 vezes mais frequentes em
policiais que realizam outra atividade remunerada e em tabagistas, conforme análise
binomial.
A maior parte das exposições ocorreram devido à não utilização de equipamentos de
proteção individual, os quais muitas vezes não estavam disponíveis, conforme relatado
pelos participantes. Entende-se dessa forma, que é necessário a disponibilização do EPI
completo pela PRF a todos os policiais que estejam em atividades operacionais, assim
como deve haver conscientização sobre riscos ocupacionais e treinamento sobre
precauções padrão com posterior supervisão, observando o cumprimento das diretrizes por
todos os profissionais.
Não existe padronização quanto aos cuidados pós-acidente e não houve notificações de
acidentes de trabalho com material biológico. Portanto, a instituição deve implantar um
protocolo com cuidados e fluxo de atendimento após o acidente, bem como informar os
profissionais do risco ocupacional e iniciar a vigilância e devida notificação de todos os
casos de acidentes de trabalho.
Apenas 46,6% dos policiais apresentaram imunidade vacinal contra a hepatite B.
Alto índice de susceptibilidade à infecção pelo vírus da hepatite B (45,8%) foi
demonstrado nos profissionais estudados, apesar do risco ocupacional e da
disponibilização gratuita e elevada imunogenicidade da vacina.
66
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há um déficit de cobertura das ações realizadas pelo Programa de Saúde do Servidor da
PRF, uma vez que 26% dos policiais não foram contemplados com as ações
desenvolvidas: 19 policiais se recusaram a participar da Patrulha da Saúde e 25 não
participaram das ações por estarem de licença, férias ou convocados para operações ou
eventos. Por se tratar de uma instituição pública, onde os profissionais realizam atividades
diárias que os expõem a todos os tipos de risco, a cobertura destas ações deveria estar o
mais próximo de 100%, sendo inclusive aconselhado que essa Patrulha fosse realizada em
outros momentos durante o decorrer do ano, a fim de contemplar aqueles que não
puderam estar presentes anteriormente.
A PRF deve trabalhar na promoção da saúde e prevenção à doenças de forma mais efetiva.
Deve haver periodicamente a solicitação de comprovantes de imunização para os
profissionais suscetíveis e ingressantes na carreira, bem como orientação quanto à
realização do teste anti-HBs a fim de verificar a produção de imunidade. Para aqueles que
não mostrarem resposta à vacina deve ser orientado repetição do esquema vacinal e
precauções extras quanto à acidentes com material biológico.
Sugere-se a incorporação ao PROSSERV de um profissional responsável pela saúde do
trabalhador, como por exemplo, o enfermeiro do trabalho, o qual se mostra mais
capacitado a realizar as ações com vistas à promoção da saúde e prevenção de doenças.
É necessário aperfeiçoamento das estratégias presentes nas políticas públicas voltadas à
saúde do trabalhador.
67
REFERÊNCIAS
ADJEI, A. A.; ARMAH, H. B.; GBAGBO, F.; AMPOFO, W. K.; BOAMAH, I.; ADUGYAMFI, C.; ASARE, I.; HESSE, I. F. A.; MENSAH, G. Correlates of HIV, HBV, HCV
and syphilis infections among prison inmates and officers in Ghana: A national multicenter
study. BMC Infectious Diseases, v. 33, n. 8, 2008.
AGUIAR, J.I.; AGUIAR, E.; PANIAGO, A.; CUNHA, R.; GALVÃO, L.; DAHER, R.
Prevalence of antibodies to hepatites B core antigen in blood donos in the middle west region
of Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 96, n. 2, p. 185-187, 2001.
AIRES, R. S. Infecção pelo vírus da hepatite B em pacientes com tuberculose em hospital
de referência em Goiânia – Goiás. 101 f. Tese (Doutorado em Medicina Tropical).
Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2011.
ALAZAWI, W.; FOSTER, G. R. Advances in the diagnosis and treatment of hepatitis B.
Current Opinion in Infectious Diseases, Philadelphia, v. 21, n. 5, p. 508-515, 2008.
ALMEIDA, C.W.N.C. et al. Transtorno por estresse pós-traumático como causa de acidente
de trabalho. Revista Brasileira de Medicina no Trabalho, João Pessoa, v. 10, n. 1, 2012.
ALMEIDA, M. K. C. Soroepidemiologia das hepatites virais B e C nas comunidades
ribeirinhas residentes na região do lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, estado do
Pará. 2012. 82 f. Dissertação (Mestrado em Patologia das Doenças Tropicais) – Programa de
Pós-graduação em Doenças Tropicais. Universidade Federal do Pará, Belém, 2012.
ALVES, A. P.; FERREIRA, M. D.; PREARO, M. F.; GIR, E.; CANINI, S. R. M. S.
Subnotificação de acidentes ocupacionais com material biológico pela enfermagem no bloco
cirúrgico. Revista Eletrônica de Enfermagem [online], v. 15, n. 2, p. 375-381, 2013.
AQUINO, J. Q.; PEGADO, K. A.; BARROS, P. MACHADO, L. F. A. Soroprevalência de
infecções por vírus da hepatite B e vírus da hepatite C em indivíduos do estado do Pará.
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 41, n.4, p. 419-429, 2008.
ARAÚJO, T. M. E.; SILVA, N. C. Hepatite B: prevalência de marcadores sorológicos em
profissionais de enfermagem de emergência. Revista de Enfermagem da UERJ, Rio de
Janeiro, v. 22, n. 6, p. 784-789, 2014.
ARAUZ-RUIZ, P.; NORDER, H.; ROBERTSON, B. H.; MAGNIUS, L. O. Genotype H: a
new Ameridian genotype of hepatitis B vírus revealed in Central America. Journal of
General Virology, v. 83, p. 2059-2073, 2002.
ASSUNÇÃO, A. A.; ARAÚJO, T. M.; RIBEIRO, R. B. N.; OLIVEIRA, S. V. S. Vacinação
contra hepatite B e exposição cupacional no setor saúde em Belo Horizonte, MG. Revista de
Saúde Pública, v. 46, n. 4, p. 665-673, 2012.
68
ATTAULLAH, S.; KHAN, S.; NASEEMULLA, M.; AYAZ, S.; KHAN, E.; ALI, I.; HOTI,
N.; SIJAJ, S. Prevalence of HBV and HBV vaccination coverage in health care workers of
tertiary hospitals of Peshawar, Pakistan. Virology Journal, v. 8, n. 1, 2011.
AVERHOFF, F. M.; MOYER, L. A.; WOODRUFF, B. A.; DELADISMA, A. M.;
NUNNERY, J.; ALTER, M. J.; MARGOLIS, H. S. Occupational exposures and risk of
hepatitis B virus infection among public safety workers. Journal of Occupational and
Environmental Medicine, Baltimore, v. 44, n. 6, p. 591–596, 2002.
AYRES, M.; AYRES JR, M.; AYRES, D. L.; SANTOS, A. A. S. BioEstat: aplicações
estatísticas das Ciências Biomédicas [programa de computador]. Versão 5.3. Belém (PA):
Sociedade Mamirauá, 2007.
BARBINI, L.; TADEY, L.; FERNANDEZ, S.; BOUZAS.; CAMPOS, R. Molecular
characterization of hepatitis B vírus X gene in chronic hepatitis B patients. Virology Journal,
v. 9, p. 131, 2012.
BARBOSA, M. A.; FIGUEIREDO, V. L.; PAES, M. S. L. Acidentes de trabalho envolvendo
profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar: um levantamento em banco de dados.
Revista Enfermagem Integrada, Ipatinga, v. 2, n. 1, 2009.
BARRERA, A.; GUERRA, B.; NOTVALL, L.; LANFORD, R. E.. Mapping of hepatitis B
virus pré-S1 domain involved in receptor recognition. Journal of virology, v. 70, n. 15, p.
9786-9798, 2005.
BATISTA, S. M. F.; ANDREASI, M. A. S.; BORGES, A. M. T.; LINDENBERG, A. S. C.;
SILVA, A. L; FERNANDES, T. D.; PEREIRA, E. F.; BASMAGE, E. A.; CARDOSO, D. D.
P. Seropositivity for hepatitis B virus, vaccination coverage, and vaccine response in dentists
from Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
Rio de Janeiro, v. 101, p. 263-267, 2006.
BEESON, P. B. Jaundice occurring one to four months after transfusion of blood or plasma.
The Journal of American Medical Association, v.12, n.17, p. 1332-1334, 1943.
BENNETT, J. E.; DOLIN, R.; BLASER, M. J.
and practice of infectious diseases. 7. ed. New York: Churchill Livingstone, 2010.
BLUMBERG, B.S.; ALTER, H. J.; VISNICH, A. A “new” antigen in leukemia sera. The
Journal of the American Medical Association, v. 191, n. 1, p. 541-546, 1965.
BOTELHO, M. A. O. Prevalência da soropositividade dos marcadores de hepatite B
(HBsAg e anti-HBc) em gestantes do programa de proteção à gestante de Mato Grosso
do Sul, 2004 a 2007. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade de
Brasília, Brasília, 2008.
BRAGA, W. S.; BRASIL, L. M.; SOUZA, R. A. B.; MELO, M. S.; ROSAS, M. D. G.;
CASTILHO, M. C.; FONSECA, J. C. F. Prevalência da infecção pelos vírus da hepatite B
(VHB) e da hepatite Delta (VHD) em Lábrea, Rio Purus, Estado do Amazonas.
Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 13, suppl. 1, p. 35-46, 2004.
69
BRANDI, S.; BENATTI, M. C. C.; ALEXANDRE, N. M. C. Ocorrência de acidente de
trabalho por material biológico perfuro-cortante entre trabalhadores de enfermagem de um
hospital universitário da cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Revista da Escola de
Enfermagem da USP, v. 32, n. 2, p. 124-133, 1998.
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução º466, de 12 de dezembro de 2012.
Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
Brasília, 2012. Disponível em: < http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>.
Acesso em: 04 jan. 2014.
______. Ministério da Justiça. Departamento de Polícia Rodoviára Federal. Acesso à
informação. Institucional. História da PRF. Brasília: Ministério da Justiça, 2016b.
Disponível em: < https://www.prf.gov.br/portal/acesso-a-informacao/institucional/historia>.
Acesso em: 23 jan. 2016.
______. Ministério da Justiça. Departamento de Polícia Rodoviára Federal. Conheça a PRF.
Brasília: Ministério da Justiça, 2015a. Disponível em: <
https://www.prf.gov.br/PortalInternet/conhecaPRF.faces;jsessionid=68C6A3723A1C7BAA49
006F099F3E56E4.node30187P00>. Acesso em: 02 out. 2015.
______. Ministério da Justiça. Departamento de Polícia Rodoviára Federal. Decreto nº 1.655,
de 3 de outubro de 1995. Define a competência da Polícia Rodoviária Federal, e dá outras
providências. Brasília: Ministério da Justiça, 1995. Disponível
em:<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/8213cons.htm>. Acesso em: 04 jan. 2014.
______. Ministério da Justiça. Departamento de Polícia Rodoviára Federal. Instrução
Normativa 2016. Estabelece princípios e diretrizes para implementação de ações da política
de atenção à saúde do servidor no âmbito da Polícia Rodoviária Federal; cria o Programa de
Saúde do Servidor – PROSSERV, e dá outras providências. Brasília: Ministério da Justiça,
2016c.
______. Ministério da Saúde. DATASUS. Informações de Saúde: Epidemiológicas e
morbidade.
Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2016a.
Disponível
em:
<
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/hepabr.def>. Acesso em: 15 mar.
2016.
______. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Capacitação de pessoal em sala
de vacinação: manual do treinando. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
______. Ministério da Saúde. Portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011. Define as
terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento
Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde
pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios,
responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Brasília, 2011.
Disponível
em:
<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html>. Acesso em:
02 jan. 2014.
70
______. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1498, de 19 de julho de 2013. Redefine o
Calendário Nacional de Vacinação, o Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas
e as Campanhas Nacionais de Vacinação, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações
(PNI), em todo o território nacional. Brasília, 2013a. Disponível em: <
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1498_19_07_2013.html>. Acesso em:
02 jan. 2014.
______. Ministério da Saúde. Portaria Nº 3318, de 28 de outro de 2010. Institui em todo o
território nacional, o Calendário Básico de Vacinação da Criança, o Calendário do
Adolescente e o Calendário do Adulto e Idoso. Brasília, 2010. Disponível em<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3318_28_10_2010.html>. Acesso em:
10 jan. 2014.
______. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações: 30 anos. Brasília, 2003.
______. Ministério da Saúde. Secretaria da Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
das Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.
Nota Informativa Nº 149/2015 CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Informa as mudanças no
Calendário Nacional de Vacinação para o ano de 2016. Brasília, 2015b. Disponível em:<
http://www.cvpvacinas.com.br/pdf/nota_informativa_149.pdf.>. Acesso em: 20 mar. 2016.
______. Ministério da Saúde. Secretaria da Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
das Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.
Nota Técnica Nº 02/2013 CGPNI/DEVEP. Ampliação da oferta da vacina hepatite B para a
faixa etária de 30 a 49 anos em 2013. Brasília, 2013b. Disponível
em:<http://www.saude.rs.gov.br/upload/1372685606_11%20Nota%20Tecnica%20N%C2%B
A%20022013%20-%20vacina%20hepatite%20B%2030%20a%2049%20anos.pdf.>. Acesso
em: 10 jan. 2014.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Hepatites virais: o Brasil
está atento. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
BROWN, A. E.; ROSS, D. A.; SIMPSON, A. J. H.; ERSKINE, R. S.; MURPHY, G.;
PARRY, J. V.; GILL, O. N. Prevalence of markers for HIV, hepatitis B and hepatitis C
infection in UK military recruits. Epidemiology and Infection, v.139, p. 1166-1171, 2011.
CANO, I. Uma polícia para o século XXI: comentário sobre o artigo de Minayo e Adorno.
Revista Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro. v. 18, n. 3, p. 596-598, 2013.
CAO, G. W. Clinical relevance and public health significance of hepatitis B virus genomic
variations. World Journal of Gastroenterology, v. 22, n.2., p.37-44, 2009.
CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION. Division of Public Health
Surveillance and Informatics. Epi Info, versão 7, 2015. Disponível em
<http://www.cdc.gov>. Acesso em: 19 mar. 2015.
________. Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management of
occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure
71
prophylaxis. Morbidity and Mortality Weekly Report, Atlanta, v. 50, n. RR-11, p. 1-54,
2001. Disponivel em: < http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5011.pdf>. Acesso em: 04 out.
2014.
CHACALTANA, A; ESPINOZA, J. Seroprevalence of the infection and risk factors of
hepatitis B and C healthy military personnel. Revista de Gastroenterología del Perú, Lima,
v. 28, n. 3, p. 217-225, 2008.
CHEN, W.; GLUUD, C. Vaccines for preventing hepatitis B in health-care workers.
Cochrane Databases Syst Rev, n.4, 2005.
CIORLIA, L. A. S.; ZANETTA, D. M. T. Hepatitis B in healthcare workers: prevalence,
vaccination and relation to occupational factors. The Brazilian Journal of Infectious
Diseases, Salvador, v.9, n. 5, p. 384-389, 2005.
________. Significado epidemiológico dos acidentes de trabalho com material biológico:
hepatites B e C em profissionais da saúde. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v.
2, n. 3, p. 191-199, 2004.
COFFIN, C. S.; LEE, S. S. New paradigms in hepatitis B management: only diamonds are
forever. British Medical Bulletin, v. 39, 2015.
CONTRERA-MORENO, L.; ANDRADE, S. M. O.; PONTES, E. R. J. C.; STIEF, A. C. F.;
POMPILIO, M. A.; MOTTA-CASTRO, A. R. C. Hepatitis B virus infection in a population
exposed to occupational hazards: firefighters of a metropolitan region in central Brazil.
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Brasília, v. 45, n. 4, p 463-467,
2012.
CONTRERA-MORENO, L. Condições Associadas à Ocorrência de Doenças Infecciosas
no Trabalho Operacional de Bombeiros de Campo Grande, MS. 2012. 140 f. Tese
(Doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias) – Programa de Pós-graduação em Doenças
Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande,
2012.
COUTINHO, M. F. G. Adolescência: vacina contra hepatite B. Adolescência & Saúde, v. 7,
n. 1, 2010.
DANE, D. S.; CAMERON, C. H.; BRIGGS, M. Virus-like particles in serum of patients wyhi
Australia-antigen-associate hepatitis. Lancet, v. 1, n. 7649, p. 695-698, 1970.
DIAS, M. P.; LIMA, C. J. M.; NOBRE, C. S.; FEIJÃO, A. R. Perfil vacinal dos profissionais
de enfermagem em hospital referência para doenças infecciosas de Fortaleza – Ceará.
Ciência, Cuidado e Saúde, v. 12, n. 3, p. 475-482, 2013.
DIOGO, F. V.; SOUZA, V. A. S. M.; DIOGO, F. L.; CHAVASCO, J. K. Estudo da
soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite B entre os doadores de sangue do Núcleo
Hemoterápico da Santa Casa de Alfenas (Alfenas/MG) por meio do marcador anti-HBc.
Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde, v. 14, n. 2, p. 59-64, 2012.
72
EL-KHOURI, M.; SANTOS, V. A. Hepatitis B: epidemiological, immunological, and
serological considerations emphasizing mutation. Revista do Hospital das clínicas da
Faculdade de Medicina de São Paulo, São Paulo, v. 59, n. 4, p. 216-224, 2004.
EQUIPE RISCO BIOLÓGICO. ORG. Risco de infecção ocupacional pelo HIV. 2008.
Disponível em:<http://www.riscobiologico.org/patogenos/hivaids.asp?e=12509>. Acesso em:
04 jan 2014.
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER – EASL. EASL clinical
practice guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection. Journal of
Hepatology, v. 57, p. 167-185, 2012.
FEITOSA, V. C. Situação sorológica para hepatite B de puérperas em uma maternidade
pública de teresina. 2012. 86 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade
Federal do Piauí, Teresina, 2012.
FERNANDES, J. V.; BRAZ, R. F. S.; NETO, F. V. A.; COSTA, N. F.; FERREIRA, A. M.
Prevalência de marcadores sorológicos do vírus da hepatite B em trabalhadores do serviço
hospitalar. Revista de Saúde Pública, v. 33, n. 2, p. 122-128, 1999.
FERREIRA, C. T.; SILVEIRA, T. R. da. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da
prevenção. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 7, n. 4, 2004.
_______. Prevenção das hepatites virais através de imunização. Journal of Pediatrics, v.82,
n.3, 2006.
FIGUEIRÓ-FILHO, E. A.; SENEFONTE, F. R. A.; LOPES, A. H. A., MORAIS, O. O.;
SOUZA-JÚNIOR, V. G.; MAIA, T. L.; DUARTE, G. Freqüência de infecções pelo HIV-1,
rubéola, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes simples, hepatite B, hepatite C, doença
de chagas e HTLV I/II em gestantes do Estado de Mato Grosso do Sul. Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, Uberaba, v. 40, n. 2, p. 181-187, 2007.
FOCACCIA, R. Hepatites virais: quadro clínico das formas agudas. In: Veronesi R. Tratado
de Infectologia. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2005, p . 425-427.
FRAGUÁS, S. A.; SILVINO, Z. R.; FLACH, D. M. A. M.; COUTO, I. R. R.; ANDRADE,
M. Immunization against hepatitis B: a matter of ccupational health nursing. Revista de
pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, v. 5, n. 1, p. 3150-3158, 2013.
FROTA, O. P.; FERREIRA, A. M.; LOUREIRO, M. D.; CHEADE, M. F. M.; REIS, M. G. O
uso de equipamento de proteção individual por profissionais de enfermagem na aspiração
endotraqueal. Revista de enfermagem da UERJ, v. 20, n. 1, p. 625-630, 2012.
GALON, T.; ROBAZZI, M. L. C. C.; MARZIALE, M. H. P. Acidentes de trabalho com
material biológico em hospital universitário de São Paulo. Revista Eletrônica de
Enfermagem [online], v. 10, n. 3, p. 673-685, 2008.
GALON, T.; MARZIALE, M. H. P; SOUZA, W. L. A legislação brasileira e as
recomendações internacionais sobre a exposição ocupacional aos agentes biológicos. Revista
Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 64, n. 1, p. 160-167, 2011.
73
GANEM, D.; PRINCE, A. M. Hepatitis B virus infection natural history and clinical
consequences. The New England Journal of Medicine, v. 359, n.11, p. 1118-1129, 2004.
GARCIA, L. P.; FACCHINI, L. A. Vacinação contra hepatite B entre trabalhadores da
atenção básica à saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 5, p. 11301140, 2008.
GERLICH, W. H.; GLEBE, D. SCHUTTLER, C. G. Deficiencies in the standardization and
sensitivity of diagnostic tests for hepatitis B virus. Journal of Viral Hepatitis, v. 14, n. 1, p.
16-21, 2007.
GLEBE, D.; BREMER, C. M. The molecular virology of hepatitis B virus. Seminars in liver
disease, v. 33, p. 103-112, 2013.
GOMES, S. A. Genoma viral. In: FOCACCIA, R. Tratado de hepatites virais. 2 ed. São
Paulo: Atheneu, 2007. Cap. 3.1, p. 107-113.
GONÇALES JUNIOR, F. L. Hepatite B. In: VERONESI, R., FOCCACIA, R. Tratado de
Infectologia. 3. ed. São Paulo, Atheneu, 2005. p. 445-466.
_________. História natural, apresentação clínica e complicações. In: FOCACCIA, R.
Tratado de hepatites virais. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. Cap. 3.4, p. 129-137
GONÇALES, N. S. L.; GONÇALES JUNIOR, F. L. Diagnóstico laboratorial da hepatite B.
In: FOCACCIA, R. Tratado de hepatites virais. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. Cap. 3.7,
p. 153-158.
GRANATO, C.F.H. Hepatites virais: diagnóstico laboratorial específico. In: VERONESI, R.,
FOCCACIA, R. Tratado de Infectologia. 3.ed. São Paulo, Atheneu, 2005. p. 354.
GUIMARÃES, M. S. F.; LIMA, M. F. G.; SANTOS, I. M. M. Descrição das características
de homens em tratamento hemodialítico com vírus da hepatite B, C e HIV. Escola Anna
Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p.622-627, 2014.
HANNOUN, C.; DERSTRO, M. A. S.; NORKRANS, G.; MAGNUS, L. M. Phylogeny of
African complete genomes reveals a West African genotype A subtype of hepatitis B virus
and relatedness between Somali and Asian A1 sequences. Journal of General Virology,
v.86, n. 8, p. 2163-2167, 2005.
HILLESHEIN, E. F.; SOUZA, L. M.; LAUTERT, L.; PAZ, A. A.; CATALAN, V. M.;
TEIXEIRA, M. G.; MELLO, D. B. Capacidade para o trabalho de enfermeiros de um hospital
universitário. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 32, n. 3, p. 509-515, 2011.
HOLLINGER, F. B. Hepatitis B virus diversity and its impact on diagnostic assays. Journal
of Viral Hepatitis, London, v. 14, suppl. 1, p. S11-S15, 2007.
HOLLINGER, F. B.; LIANG, T. J. Hepatitis B virus. In: KNIPE, D. M.; HOWLEY, P. M.
Fields Virology. 4 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. Cap.86, p. 29713036.
74
HOU, J.; LIU, Z.; GU, F. Epidemiology and prevention of hepatitis B infection.
International Journal of Medical Sciences, v. 2, n. 1, p.50-54, 2005.
HUTSE, V.; VERHAEGEN, E.; COCK, L. D.; QUOILIN, S.; VANDENBERGHE, H.;
HORSMANS, Y.; MICHIELSEN, P.; DAMME, P. V.; VLIERBERGHE, H. V.; CLAEYS,
F.; VRANCKX, R.; OYEN, H. V. Oral fluid as a medium for the detection of hepatitis B
surface antigen. Journal of Medical Virology, v. 77, n. 1, p. 53-56, 2005.
KIDD-LJUNGGRER, K.; MIYAKAWA, Y.; KIDD, A. H. Genetic variability in hepatitis B
viruses. Journal of General Virology, v. 83, p. 1267-1280, 2002.
KOFF, R. S. Immunogenicity of hepatitis B vaccines: implications of immune memory.
Vaccine, v. 20, p. 3695-3701, 2002.
KRUGMAN, S.; GILES, J. P.; HAMMOND, J. Infectious hepatitis: evidence for two
distinctive clinical, epidemiological, and immunological types of infection. The Journal of
the American Medical Association , v. 200, p. 365-373, 1967.
KURBANOV, F.; TANAKA, Y.; MIZOKAMI, M. Geographical and genetic diversity of the
human hepatitis B virus. Hepatology Research, v. 40, p. 14-30, 2010.
LEE, W. M. Hepatitis B vírus infection. The New England Journal of Medicine, v. 337, n.
24, p. 1733-1745, 1997.
LIANG, T. J.; GHANY, M. Hepatitis B e antigen- the dangerous endgame of hepatitis B. The
New England Journal of Medicine, v. 347, p. 208-210, 2002.
LIANG, T. J. Hepatitis B: the virus and disease. Hepatology, v.49,n.5, 2009.
LIMA, L. M.; MOURA, A. M. C.; MOURA, M. E. B.; NUNES, B. M. V. T.; OLIVEIRA, F.
B. M. Incidência de acidentes ocupacionais envolvendo profissionais de enfermagem em um
hospital público. Revista Interdisciplinar NOVAFAPI, Teresina, v. 4, n.3, p. 39-43, 2011.
LIZ, C. M. L.; SILVA, L. C.; ARAB, C.; VIANA, M. S.; BRANDT, R.; VASCONCELLOS,
D. I. C.; ANDRADE, A. Características ocupacionais e sociodemográficas relacionadas ao
estresse percebido de policiais militares. Revista Cubana de Medicina Militar, v. 43, n. 4,
2014.
LOPES, C. L. R.; MARTINS, M. R. B.; TELES, S. A.; SILVA, S. A.; MAGGI, P. S.;
YOSHIDA, C. F. T. Perfil soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite B em
profissionais das unidades de hemodiálise de Goiânia – Goiás, Brasil Central. Revista da
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Uberaba, v. 34, n. 6, p. 543-548, 2001.
LORENTZ, J.; HILL, L.; SAMIMI, B. Occupational Needlestick Injuries in a Metropolitan
Police force. American Journal of Preventive Medicine, New York, v. 18, n. 2, p. 146-150,
2000.
75
LUGOBONI, F.; QUAGLIO, G.; CIVITELLI, P.; MEZZELANI, P. Bloodborne viral
hepatitis infections among drug users: the role of vaccination. International Journal of
Environmental Research an Public Health, v. 6, p. 400-413, 2009.
MAÇÃO, P. et al. Exposição acidental a picada de agulha: protocolo de actuação. Acta
Pediátrica Portuguesa, Lisboa, v. 44, n. 3, p. 138-142, 2013.
MARTINS, A. M. E. B. L.; COSTA, F. M.; FERREIRA, R. C.; SANTOS-NETO, P. E.;
MAGALHÃES, T. A.; SÁ, M. A. B. de.; PORDEUS, I. A. Fatores associados à imunização
contra Hepatite B entre trabalhadores da Estratégia Saúde da Família. Revista Brasileira de
Enfermagem, v. 68, n. 1, p. 84-92, 2015.
MARZIO, D. H. D.; HANN, H.W. Then and now: the progress in hepatitis B treatment over
the past 20 years. World Journal Gastroenterology, v. 20, p. 401-413, 2014.
MEDEIROS JUNIOR, A. Representação social sobre o acidente de trabalho na área da
saúde. 2005. 172f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, 2005.
MELLO, F. C. A.; SOUTO, F. J. D.; NABUCO, L. C.; VILLELA-NOGUEIRA, C. A.;
COELHO, H. S. M.; FRANZ, H. C. F.; SARAIVA, J.C.P.; VIRGOLINO, H. A.; MOTTACASTRO, A. R. C.; MELO, M. M. M.; MARTINS, R. M. B.; GOMES, S. A. Hepatitis B
virus genotypes circulating in Brazil: molecular characterization of genotype F isolates. BMC
Microbiology, v. 7., p. 103-111, 2007.
MERRIL, R. M.; HUNTER, B. D. Seroprevalence of markers for hepatitis B viral infection.
International Journal of Infectious Diseases, v. 15, 2011.
MOHR, R.; BOESECKE, C.; WASMUTH, J. C. Hepatitis B. In: MAUSS, S.; BERG, T.;
ROCKSTROH, J.; SARRAZIN, C.; WEDMEYER, H. Hepatology: a clinical textbook. 5.ed.
Germany: Flying Publisher, 2014, cap. 2, p. 35-44.
MORAES, J. C.; LUNA, E. J. A.; GRIMALDI, R. A. Imunogenicidade da vacina brasileira
contra hepatite B em adultos. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 353-359,
2010.
MORAIS, L. L. P.; PAULA, A. P. P. Identificação ou Resistência? Uma Análise da
Constituição Subjetiva do Policial. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v.
14, n. 4, p. 633-650, 2010.
MORAIS, L. Q. Infecção pelo Vírus da Hepatite B em Profissionais de Enfermagem em
Campo Grande – MS. 2013. 91 f. Dissertação (Mestrado em Doenças Infecciosas e
Parasitárias) – Programa de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2013.
MOREIRA, R. C.; SARACENI, C. P.; OBA, I. T.; SPINA, A. M. M.; PINHO, J. R. R.;
SOUZA, L. T. M.; OMOTO, T. M.; KITAMURA, C.; OSELKA, G. Soroprevalência da
hepatite B e avaliação da resposta imunológica à vacinação contra hepatite B por via
intramuscular e intradérmica em profissionais de um laboratório de saúde pública. Jornal
Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 45, n. 5, p. 313-318, 2007.
76
MOTTA-CASTRO, A. R. C.; MARTINS, R. M. B.; YOSHIDA, C. F. T.; TELES, S. A.;
PANIAGO, A. M.; LIMA, K. M. B.; GOMES, S. A. Hepatitis B vírus infection in isolated
Afro-Brazilian communities. Journal of Medical Virology, v. 77, n. 2, p. 188-193, 2005.
MOUSQUER, G. J. Infecção pelo vírus da hepatite B em mulheres profissionais do sexo
em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 120 f. Dissertação (Mestrado em Doenças
Infecciosas e Parasitárias). Programa de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2011.
MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiologia Médica. 6. ed. São
Paulo: Elsevier, 2010.
NAUMANN, H.; SCHAEFER, S.; YOSHIDA, C. F. T.; GASPAR, A. M. C.; REPP, R.;
GERLICH, W. H. Identification of a new hepatitis B vírus (HBV) genotype from Brazil that
expresses HBV surface antigen subtype adw4. Journal of General Virology, v. 74, p. 16271632, 1993.
NORDER, H.; HAMMAS, B.; LOFDAHL, S.; COUROUCÉ, A. M.; MAGNIUS, L.O.
Comparison of the amino acid sequences of nine different serotypes of hepatitis B surface
antigen and genomic classification of the corresponding hepatitis B virus strains. Journal of
General Virology, n. 73, p. 1201-1208, 1992.
OKAMOTO, H.; TSUDA, F.; SAKUGAWA, H.; SASTROSOEWIGNJO, R. I.; IMAI, M.;
MIYAKAWA, Y.; MAYUMI, M. Typing hepatitis B virus by homology in nucleotide
sequence: comparison of surface antigen subtypes. Journal of General Virology, v. 69, p.
2575-2583, 1988.
OLINGER, C. M.; JUTAVIJITTUM, P.; HUBSCHEN, J. M.; YOUSUKH, A.;
SAMOUNTRY, B.; THAMMAVONG, T.; TORIYAMA, K.; MULLER, C. P. Possible new
hepatitis virus genotype, Southeast Asia. Emerging Infectious Disease, Atlanta, v. 14, n. 11,
p. 1777-1780, 2008.
PAIVA, E. M. M. Soroprevalência da Infecção pelo Vírus da Hepatite B e Avaliação da
Imunidade Vacinal em Cirurgiões Dentistas de Goiânia – GO. 2008. 141 f. Tese
(Doutorado em Ciências da Saúde) – Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde
Convênio Rede Centro-Oeste – UNB/UFG/UFMS, Goiânia, 2008.
PAIVA, E. M. M.; TIPLLE, A. F. V.; SILVA, E. P.; CARDOSO, D. D. P. Serological
markers and risk factors related to hepatitis B virus in dentists in the central west region of
Brazil. Brazilian Journal of Microbiology, São Paulo, v.39, n. 2, p. 251-256, 2008.
PAPATHEODORIDIS, G. V.; DIMOU, E.; LARAS, A.; PAPADIMITROPOULOS, V.;
HADZIYANNIS, S. J. Course of virologic breakthroughs under long-term lamivudine in
HBeAg-negative precore mutant HBV liver disease. Hepatology, Orlando, v. 36, n. 1, p. 219226, 2002.
PASSOS, A. M.; TREITINGER, E.; SPADA, C. Hepatitis B immunity and vaccination
coverage among young adult males in the Air Force in South Brazil. Vaccine, 2011.
77
PAWLOTSKY, J.M.; DUSHEIKO, G.; HATZAKIS, A.; LAU, G.; LIANG, T. J.;
LOCARNINI, S.; MARTINS, P.; RICHMAN, D. D.; ZOULIM, F. Virologic monitoring of
hepatitis B vírus therapy in clinical trials and practice: recommendations for a standardized
approach. Gastroenterology, v. 134, n. 2, p. 405-415, 2008.
PAZ, A. A.; SANTOS, C.; LAUTERT, L. Fatores associados aos acidentes de trabalho em
instituição hospitalar. Enfermagem em foco, v. 5, n. 1/2 , p. 28-26, 2014.
PEREIRA, L. M. M. B; MARTELLI, C. M.; MERCHAN-HAMANN, E.;
MONTARROYOS, U. R.; BRAGA, M. C.; DE LIMA, M. L.; CARDOSO, M. R., TURCHI,
M. D.; COSTA, M. A.; DE ALENCAR, L. C.; MOREIRA, R. C.; FIGUEIREDO, G. M.;
XIMENES, R. A. A population-based multicentric survey of hepatitis B infection and risk
factor differences among three regions in Brazil. The American Journal of Tropical and
Hygiene, Deerfield, v. 81, n.2, p. 240-247, 2009.
PERKINS, J. A. Hepatitis B virus. 2002. Disponível em:
<http://www.ibibiobase.com/projects/hepatitis/hepatitis-aB.htm>. Acesso em: 12 dez. 2015.
PERRILLO, R.; HANN, H. W; MULTIMER, D.; WILLEMS, B.; LEUNG, N.; LEE, W. M.;
MOORAT, A.; GARDNER, S.; WOESSNER, M.; BOURNE, E.; BROSGART, C. L.;
SCHIFF, E. Adefovir dipivoxil added to ongoing lamivudine in chronic hepatitis B with
YMDD mutant hepatitis B virus. Gastroenterology, Philadelphia, v. 126, n. 1, p. 81-90,
2004.
PINHEIRO, J.; ZEITOUNE, R. C. Hepatite B: conhecimento e medidas de biossegurança e a
sade do trabalhador de enfermagem. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 12, n. 2,
p. 258-264, 2008.
PURCELL, R. H. The discovery of the hepatitis viruses. Gastroenterology, v. 104, n.4
p.955-963, 1993.
REUBEN, A. Landmarks in hepatology: the thin red line. Hepatology, v. 36, n.5, p.770-773,
2002.
RIBEIRO, E. J. G.; SHIMIZU, H. E. Acidentes de trabalho com trabalhadores de
enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 60, n. 5, p. 535-540,
2007.
SACRAMENTO, J. S. Polícia e Gênero: percepções de delegados e delegadas da Polícia
Civil do Rio Grande do Sul acerca da mulher policial. 2007. 130 f. Dissertação (Mestrado em
Sociologia) – Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
SALKIC, N. N.; ZILDZIC, M.; MUMINHODZIC, K.; PAVLOVIC-CALIC, N.; ZEREM, E.;
AHMETAGIC, S.; MOTT-DIVKOVIC, S.; ALIBEGOVIC, E. Intrafamilial transmission of
hepatitis B in Tuzia region of Bosnia and Herzegovina. European Journal of
Gastroenterology & Hepatology, v. 19, p. 113-118, 2007.
SANCHES, G.B.S.; HONER, M. R.; PONTES, E. R.J.C.; AGUIAR, J. I. IVO, M. L.
Caracterização soroepidemiológica da infecção pelo vírus da hepatite B em profissionais de
78
saúde da atenção básica no Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Revista Panamericana de
Infectologia, São Paulo, v. 10, n. 2 , p.17-22, 2008.
SEEGER, C.; ZOULIM, F.; MASON, W. S. Hepadnaviruses. In: KNIPE, D. M.; HOWLEY,
P. M. Fields Virology. 6 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013. Cap.68, p.
2185-2221.
SHAW, F. E.; GUESS, H. A.; ROETS, J. M.; MOHR, F. E.; COLEMAN, P. J.; MANDEL, E.
J. Effect of anatomic injection site, age and smoking on the immune response to hepatitis B
vaccination. Vaccine, v. 7, p. 425-430, 1989.
SHIFFMAN, M. L. Management of acute hepatitis b. Clinics in Liver Disease, v.14, n.1, p.
75-91, 2010
SILVA, A. C. B.; SOUZA, L. F. B.; KATSURAGAWA, T. H.; LIMA, A. A.; VIEIRA, D. S.;
SALCEDO, J. M. V. Perfil sorológico da hepatite B em localidades ribeirinhas do rio
Madeira, em Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil. Revista Pan-amazônica de Saúde, v.
6, n. 2, p. 51-59, 2015.
SILVA, A. L.; VITORINO, R. R.; ESPERIDIÃO-ANTONIO, V.; SANTOS, E. T.;
SANTANA, L. A.; HENRIQUES, B. D.; GOMES, A. P. Hepatites virais B, C e D:
atualização. Revista Brasileira de Clinica Medica, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 206-2018, 2012.
SILVA, P. A.; FIACCADORI, F. S.; BORGES, A. M. T.; SILVA, S. A.; DAHER, R. R. R.;
MARTINS, R. M. B. Seroprevalence of hepatitis B virus infection and seroconvertion to antiHBsAg in laboratory staff in Goiânia, Goiás. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical, Uberaba, v. 38, n. 2, 2005.
SILVA, R.; SCHLICHTING, J. P.; SCHLICHTING, P. J.; GUTIERRES FILHO, F.;
ADAMI, F.; SILVA, A. Aspectos relacionados à qualidade de vida e atividade física de
policiais militares de Santa Catarina – Brasil. Motricidade, v. 8, n. 3, p. 81-89, 2012.
SILVA, V. E. F. Estudo sobre acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de
enfermagem de um hospital de ensino. São Paulo, 1988. 176 f. Dissertação (Mestrado –
Escola de enfermagem). Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.
SOUTO, F. J. D. Distribuição da hepatite B no Brasil: atualização do mapa epidemiológico e
proposições para seu controle. Revista GED, v. 18, p. 143-150, 1999.
SOUZA, F. O.; FREITAS, P. S. P.; ARAÚJO, T. M.; GOMES, M. R. Vacinação contra
hepatite B e anti-HBs entre trabalhadores da saúde. Cadernos de Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, v. 23, n. 2, p. 172-179, 2015.
SPRINGBETT, R. J.; CARTWRIGHT, K. A.; WATSON, B. E.; MORRIS, R.; CANTLE, A.
Hepatitis B markers in Gloucestershire firemen. Occupational Medicine, Chicago, v. 44, n.1,
p. 9-11, Feb. 1994.
STIEF, A. C. F.; MARTINS, R. M. B.; ANDRADE, S. M. O.; POMPILIO, M. A.;
FERNANDES, S. M.; MURAT, P. G.; Mousquer, G. J.; TELES, S. A.; CAMOLEZ, G. R.;
FRANCISCO, R. B. L.; MOTTA-CASTRO, A. R. C. Seroprevalence of Hepatitis B virus
79
infection and associated factors among prison inmates in the State of Mato Grosso do Sul,
Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Uberaba, v. 43, n.5, p. 512515, 2010.
STUYVER, L.; DE GENDT, S.; VAN GEYT, C.; ZOULIM, F.; FRIED, M.; SCHINAZI, R.
F.; ROSSAU, R. A new genotype of hepatitis B virus: complete genome and phylogenetic
relatedness. Journal of General Virology, v. 81, p. 67-74, 2000.
SUGIYAMA, A. M; TANAKA, A. Y.; KURBANOV, A. F.; NAKAYAMA, B. N.;
MOCHIDA, B. S.; MIZOKAMI, M.. Influences on hepatitis B vírus replication by a naturally
occurring mutation in the core gene. Virology, v. 365, n. 2, p. 285-291, 2007.
TATEMATSU, K.; TANAKA, Y.; KUBANOV, F.; SUGAUCHI, F.; MANO, S.;
MAESHIRO, T. NAKAYOSHI, T.; WAKUTA, M.; MIYAKAWA, Y.; MIZOKAMI, M. A
genetic variant of hepatitis B virus divergent from know human and ape genotypes isolated
from a Japanese patient and provisionally assigned to new genotype J. Journal of virology, v.
83, p. 10538-10547, 2009.
TAVARES, R. S.; BARBOSA, A. P.; TELES, S. A.; CARNEIRO, M. A. S.; LOPES, C. L.
R.; SILVA, S. A.; YOSHIDA, C. F. T.; MARTINS, R. M. B. Infecção pelo vírus da hepatite
B em hemofílicos em Goiás: soroprevalência, fatores de risco associados e resposta vacinal.
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 26, n. 3, p. 183-188, 2004.
TONG, S.; KIM, K. W.; CHANTE, C.; WANDS, J.; LI, J. Hepatitis B virus e antigen
variants. International Journal of Medical Sciences, Baltimore, v. 2, n. 1, p.2-7, 2005.
WOODRUFF, B. A.; MOYER, L. A.; O’ROURKE, K. M.; MARGOLIS, H. S. Blood
exposure and the risk of hepatitis B virus infection in firefighters. Journal of Occupational
Medicine, Chicago, v. 35, n. 10, p. 1048 – 1054,1993.
WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. Hepatitis B. Fact Sheet, 2008.
_________. Hepatitis B, Genebra, 2015. Disponível em:
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/>. Acesso em: 05 fev. 2015.
80
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA
ENTREVISTA: POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
Superintendência (
Delegacia (
)
Nº identificação:___________
)
Seção I – Dados Pessoais
1) Qual a sua idade?
2) Sexo: M ( )
Anos
F( )
3) Escolaridade:
4) Estado Civil:
5) Cor : ( ) Branca ( ) Negra ( ) Parda ( ) Outra:
6) Peso:
Altura:
IMC:
7) Tabagista atualmente? ( ) Sim
( ) Não
8) Possui alguma doença? ( ) Sim
( ) Não
Se sim, qual(is)?
Seção II – Dados relativos ao trabalho
9) Local de trabalho: Superintendência ( ) Delegacia ( )
10) Função (operacional, administrativo ou misto):
11) Cargo:
12) Tempo de atuação na Polícia Rodoviária Federal:
( ) < 1 ano
( ) 1 a 5 anos
( ) 16 a 20
(
( ) 6 a 10 anos
( ) 11 a 15 anos
) > 20 anos
13) Possui mais de um tipo de atividade profissional? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual?
Quantas horas semanais?
14) Você faz horas extras? ( ) Sim ( ) Não.
Se sim, quantas horas mensais?
15) Faz uso de alguma medicação? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual (is)?
Seção III – Fatores de Risco
16) Você já usou ou utiliza algum tipo de droga? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, a droga era injetável? ( ) Sim ( ) Não
17) Possui tatuagem? ( ) Sim ( ) Não. Caso afirmativo, nº de tatuagens:
18) Possui Piercing? ( ) Sim ( ) Não. Caso afirmativo, nº de Piercing:
81
19) Realizou alguma transfusão de sangue? ( ) Sim ( ) Não
Caso afirmativo, antes de 1994: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe
20) Realizou alguma cirurgia? ( ) Sim ( ) Não. Se sim há quanto tempo?
21) Número de parceiros sexuais nos últimos seis meses:
22) Utiliza preservativo nas relações sexuais?
( ) Sempre ( ) Quase sempre ( ) algumas vezes ( ) Nunca
23) Orientação sexual: ( ) Heterossexual ( ) Homossexual ( ) Bissexual
24) Já teve DST ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual (is)?
25) Compartilha objetos de uso pessoal? (giletes, alicates) ( ) Sim ( ) Não
Seção IV – Conhecimento de Transmissão da doença e Imunização
26) Você sabe como pode ser adquirida a hepatite B?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, de que forma?
27) Possui carteira de vacinação? Sim ( ) Não ( )
28) Vacinação contra Hepatite B
Vacinação completa ( ) Data das doses:________, ________, ________.
Vacinação incompleta ( ) Nº de doses:_________.
Data das doses:__________, __________.
Não vacinado ( )
Não sabe ( )
29) Vacinação Prévia com antitetânica:
( ) Sim
( ) não ( ) desconhecido. Se sim, data da última dose:
30)Vacinação contra Febre Amarela:
( ) Sim
( ) não ( ) desconhecido. Se sim, data da última dose:
31) Vacinação contra Sarampo, Caxumba e Rubéola:
( ) Sim (SCR) ( ) Sim (SR) ( ) Não
32) Outras vacinas realizadas:
( ) desconhecido
Seção V – Condições de trabalho e acidentes com material Biológico
33) Quais EPIs você utiliza durante suas atividades de socorro a vitimas de acidentes de
trânsito?
( ) Luvas de procedimento (látex)
(S) - Sempre
82
( ) Óculos
(AV) - As vezes
( ) Máscaras
(N) - Nunca
( ) Botas
( ) Outros:
34) Seu trabalho lhe expõe a riscos à saúde? Quais?
35) Você sabe quais são os procedimentos a serem tomados em caso de acidente de trabalho
com material biológico? (sangue, secreções [escarro, urina, fezes], tecidos.)
( ) Sim
( ) Não
Se sim, quais?
36) Já sofreu algum acidente de trabalho envolvendo material biológico (sangue e secreções)?
( ) Sim
( ) Não
Se Sim quantas vezes?
37) Situação sorológica prévia a do acidente de trabalho:
( ) Nunca teve diagnóstico confirmado de Hepatite B ou alguma outra doença infecciosa;
( ) Já tem ou teve diagnóstico confirmado de Hepatite B;
( ) Já tem ou teve diagnóstico confirmado de outras doenças infecciosas?
Qual (is)?
38) Descreva em que situação e como ocorreu o(s) acidente (s)?
83
39) Data da exposição:________________
Horário da Exposição______________
Data da exposição:________________
Horário da Exposição:______________
Data da exposição:________________
Horário da Exposição:______________
40) Local do acidente:
41) Tipo de Exposição:
( ) Percutânea
( ) Mucosa (olhos, nariz e boca) ( ) Pele íntegra
( ) Pele Não íntegra
( ) Agressões Tipo:
42) Material Biológico:
( ) Sangue
( ) Tecidos corporais
( ) Fluídos e secreções corporais com sangue visível
( ) Fluídos e secreções corporais sem sangue visível
43) Que tipos de secreções corporais:
( ) Escarro
( ) Líquido amniótico
( ) Fezes
( ) Saliva
( ) Urina
( ) Outros: _______________
44) Área corporal Atingida
( ) Dedos das mãos
( ) Face sem aparente contato com mucosas
( ) Mãos
( ) Boca
( ) Membros superiores
( ) Nariz
( ) Tronco ou abdômen
( ) Olhos
( ) Outra área corporal:______________
( ) Membros inferiores
Preencher as seguintes perguntas se houver exposição percutânea:
45) Havia sangue visível no objeto perfuro cortante causador do acidente?
( ) Sim
( ) Não
( ) Desconhecido
46) Profundidade da Lesão
( ) Superficial - escoriações superficiais
( ) Moderada com penetração na pele
( ) Profunda (feridas)
47) A exposição ocorreu através de luvas, roupas ou sapatos/botas?
( ) Sim
( ) Não
( ) Desconhecido
84
48) Objeto causador da exposição:
( ) Cacos de vidro
( ) Outro objeto
cortante
( ) Agressão
( ) Agulha
( ) Mordida
( ) Desconhecido
Outros:______________
( ) Ferragens
Para exposição em Mucosa ou em pele:
49) Se houve exposição cutânea a pele do acidentado estava íntegra?
( ) sim
( ) Não
( ) Desconhecido
50) Estimativa de quantidade de material biológico:
( ) Pequena (<5ml) ( ) Moderada (5 a 50 ml) ( ) Grande (acima de 50 ml)
51) Duração da exposição: (tempo em que a área corporal ficou exposta antes de ser lavada)
( ) < 1 minuto (
)
( ) 11 a 30 minutos
( ) 1 a 5 minutos
( ) > 30 minutos
( ) 6 a 10 minutos
( ) desconhecido
52) Paciente Fonte Conhecido?
( ) Sim
( ) Não
Sorologia para Hepatite B ( ) Positivo ( ) Negativo
( ) Não realizado
53) Procurou atendimento médico?
( ) Sim
Local:___________________________________________
( ) Não
Porquê?_________________________________________
54) Registrou o acidente de Trabalho?
( ) Sim
Onde?__________________________________________
( ) Não
55) Profilaxia pós-exposição:
( ) Uso de antirretrovirais
( ) Vacinação contra Hepatite B
( ) Gamaglobulina hiperimune para Hepatite B
( ) Outros?_________________________________________________
56) Acompanhamento: Apresentou sinais e sintomas clínicos e/ou eventos adversos à
medicação durante o acompanhamento?
( ) Sim ( ) Não Quais?_______________________________________
85
57) Conclusão do Caso:
( ) Alta - não precisou fazer acompanhamento (paciente fonte negativo)
( ) Alta – sem soro conversões ( realizou todo o tratamento)
( ) Abandono do tratamento
( ) Houve soro conversão para HB
Seção VI – Testes Sorológicos
58) Você aceitaria fazer testes sorológicos para o vírus da Hepatite B?
( ) Sim
( ) Não
59) Podemos entrar em contato com você para entregar os resultados dos exames que faremos
para a infecção pelo HBV?
( ) Sim
( ) Não
Caso afirmativo, como poderemos entrar em contato com o senhor?
( ) Telefone:____________________________________________________
( ) Correio:_____________________________________________________
( ) E-mail:______________________________________________________
( ) Visita Pessoal:________________________________________________
( ) Outra Forma:_________________________________________________
Observações:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
86
APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado (a) senhor (a),
Você está sendo convidado a participar, como voluntário, de uma pesquisa de
mestrado intitulada “Infecção pelo vírus da hepatite B e imunidade vacinal em Policiais
Rodoviários Federais de Campo Grande, MS” e que será conduzida pela enfermeira e
mestranda da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Débora Sakamoto Silva.
Este documento irá lhe fornecer informações importantes em relação ao estudo. Por favor, leia
atentamente o que está exposto abaixo e, em caso de dúvidas, esclareça-as junto à
pesquisadora, para decidir se participa ou não do mesmo. Caso decida participar, assine ao
final deste documento. Caso decida não participar, você não será prejudicado de forma
alguma.
OBJETIVOS DO ESTUDO: Este estudo possui como objetivo geral caracterizar a
infecção pelo vírus da hepatite B e a imunidade vacinal em Policiais Rodoviários Federais do
município de Campo Grande, MS. Os objetivos específicos são: estimar a prevalência das
infecções pelo vírus da hepatite B em Policiais Rodoviários Federais do município de Campo
Grande, MS; identificar os fatores de risco para infecção pelo vírus da hepatite B em Policiais
Rodoviários Federais do município de Campo Grande, MS; relacionar o status vacinal dos
Policiais Rodoviários Federais do município de Campo Grande, MS com as infecções pelo
vírus da hepatite B e relacionar o número de doses vacinais realizadas contra a hepatite B com
a produção de imunidade em Policiais Rodoviários Federais do município de Campo Grande,
MS.
Se necessário, poderão ser realizadas outras pesquisas, incluindo o estudo de outras
infecções.
CONDUÇÃO DO ESTUDO: Serão convidados a participar do estudo todos os
Policiais Rodoviários Federais do município de Campo Grande, MS, alocados na
Superintendência e 1º delegacia e que estão expostos ao risco de contaminação por doenças
infecciosas.
A pesquisa se constitui de duas etapas e você poderá decidir se quer ou não participar
de cada etapa da mesma.
87
Na primeira etapa você será entrevistado, em local reservado, por aproximadamente 20
minutos. O formulário de entrevista é composto por 59 questões, porém, fica garantida a
possibilidade de respostas parciais, caso seja de seu desejo.
Na segunda etapa serão realizados os testes sorológicos para hepatite B.
Primeiramente será realizado o aconselhamento pré-teste a respeito da infecção e então serão
coletados 10 ml de sangue por meio de punção venosa. Caso os resultados dos exames sejam
positivos, uma nova amostra de sangue será colhida posteriormente para confirmação dos
resultados.
As amostras obtidas serão estocadas em refrigerador a – 20ºC no Laboratório de
Imunologia Clínica da UFMS, por um período de cinco anos, possibilitando a realização de
estudos posteriores. Ao término deste período as amostras de sangue serão descartadas da
seguinte forma: serão submetidas a um processo de esterilização em autoclave à temperatura
de 120ºC, por 30 minutos, e em seguida encaminhadas para coleta seletiva com posterior
incineração.
Ficará
garantido
o
encaminhamento
para
tratamento
médico,
bem
como
aconselhamento para os indivíduos que apresentarem sorologia positiva para a doença. Os
resultados dos exames serão entregues pela própria pesquisadora, também em local reservado.
RISCOS DO ESTUDO: Algumas perguntas incluídas na entrevista poderão causar
certo constrangimento, porém será garantido sigilo e privacidade e você tem o direito de se
recusar a participar da pesquisa, bem como responder parcialmente ao formulário.
Você poderá sentir um pouco de dor e poderá aparecer um hematoma no local da
punção para coleta sanguínea, porém, todo o material utilizado será estéril e descartável e os
profissionais responsáveis pelo procedimento utilizarão técnica asséptica durante a realização
do mesmo.
BENEFÍCIOS DO ESTUDO: Esta pesquisa subsidiará ações de promoção à saúde e
prevenção de contágio pela hepatite B durante as atividades laborais, bem como estará
realizando uma detecção oportuna da situação sorológica dos sujeitos envolvidos em relação
ao vírus da Hepatite B, visando o encaminhamento ao Hospital Dia Professora Esterina
Corsini do Núcleo do Hospital Universitário da UFMS (serviço especializado), caso haja
algum trabalhador afetado. Além disso, será verificada a imunidade vacinal dos participantes,
sendo realizadas orientações e encaminhamentos.
CONFIDENCIABILIDADE E DEMAIS ASPECTOS: Você tem o direito de se
recusar a participar desta pesquisa sem que isso prejudique o andamento da mesma ou o
prejudique em seu trabalho. Se você concordar em participar, esta pesquisa não implicará em
88
nenhum custo financeiro para você e seus dados pessoais serão mantidos em segredo o tempo
todo, garantindo sua privacidade, visto que sua identificação não será exposta em formulários,
nas conclusões ou publicações científicas derivadas desta pesquisa. Você ainda tem a
liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento. Estará garantido o direito de
esclarecimento de eventuais dúvidas antes, durante e após o desenvolvimento desta pesquisa,
bem como os benefícios dela advindos.
Os resultados da pesquisa e publicações científicas serão apresentados aos sujeitos
participantes em data e horário a serem agendados.
Você também receberá uma cópia assinada deste documento contendo o contato da
pesquisadora
(Débora
Sakamoto
Silva
–
telefone:
(67)
9212-5995
-
e-mail:
[email protected]).
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS sob o
parecer nº Nº 691337 de 18 de junho de 2014. Assim, caso você desejar algum esclarecimento
adicional a respeito de aspectos bioéticos referentes a esta pesquisa, por favor, entre em
contato com o Comitê de Ética no seguinte telefone: (67) 3345-7187.
Você aceita participar da entrevista?
( ) Sim
( ) Não
Você aceita fazer testes sorológicos para o vírus da Hepatite B?
( ) Sim
( ) Não
Estou ciente dos meus direitos como participante desta pesquisa e autorizo que os
dados obtidos sejam utilizados para publicação em órgãos de divulgação científica.
____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
____________________________________
Assinatura da responsável pela pesquisa
Campo Grande-MS, ____/____/____
89
APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA PRF
90
APÊNDICE D – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE
IMUNOLOGIA CLÍNICA DA UFMS
91
APÊNDICE E – TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DE ATENDIMENTO E
TRATAMENTO PELO HOSPITAL DIA DO NHU/UFMS
92
APÊNDICE F –
MODELO DE CARTA SIMULTANEA À ENTREGA DOS
RESULTADOS DOS EXAMES – CURADO
Campo Grande, _____ de _____ de 2015.
Caro (a) amigo (a),
Obrigada por sua participação em nosso projeto. Realizamos os testes laboratoriais e
estamos lhe devolvendo os resultados. Sua participação contribuiu significativamente para
conhecermos um pouco mais sobre a infecção pelo vírus da hepatite B em nosso estado e,
assim, propormos políticas públicas de saúde para a nossa região.
Os resultados de seus exames revelaram que você já teve a infecção pelo vírus da
hepatite B durante sua vida, porém, no momento não tem mais o vírus e está curado.
Lembre-se que “A m h
m
v
f çõ
é
m
PREVENÇÃO!”.
- Tenha SEMPRE relações sexuais com camisinha.
- Evite contato com sangue de outras pessoas.
- Não compartilhe com colegas ou familiares: agulha, escova de dente e outros materiais
m “
” “
h ”
m
f
cortantes.
- Use SEMPRE equipamentos de proteção individual durante a realização de seu
serviço.
Estamos à sua disposição para futuros esclarecimentos.
Abraços,
EQUIPE DO PROJETO
93
APÊNDICE G – MODELO DE CARTA SIMULTANEA À ENTREGA DOS
RESULTADOS DOS EXAMES – IMUNIZADO
Campo Grande, ___ de ____ de 2015
Caro (a) amigo (a),
Obrigada por sua participação em nosso projeto. Realizamos os testes laboratoriais e
estamos lhe devolvendo os resultados. Sua participação contribuiu significativamente para
conhecermos um pouco mais sobre a infecção pelo vírus da hepatite B em nosso estado e,
assim, propormos políticas públicas de saúde para a nossa região.
Parabéns! Os resultados de seus exames foram todos negativos! Isto significa que
você não está infectado pelo vírus da hepatite B. Mas ainda, os seus exames revelaram que
você está imunizado (a) contra a hepatite B. Isto é, você deve ter sido vacinado (a) contra
essa infecção!!
Entretanto, para manter-se livre dessa doença, lembre-se:
“A m h
m
v
f çõ
é
m
PREVENÇÃO!”
- Tenha SEMPRE relações sexuais com camisinha.
- Evite contato com sangue de outras pessoas.
- Não compartilhe com colegas ou familiares: agulha, escova de dente e outros materiais
de uso pes
m “
” “
h ”
m
f
.
- Use SEMPRE equipamentos de proteção individual durante a realização de seu
serviço.
Estamos à sua disposição para futuros esclarecimentos.
Abraços,
EQUIPE DO PROJETO
94
APÊNDICE H – MODELO DE CARTA SIMULTANEA À ENTREGA DOS
RESULTADOS DOS EXAMES – NEGATIVO
Campo Grande, ___ de ____ de 2015.
Caro (a) amigo (a),
Obrigada por sua participação em nosso projeto. Realizamos os testes laboratoriais e
estamos lhe devolvendo os resultados. Sua participação contribuiu significativamente para
conhecermos um pouco mais sobre a infecção pelo vírus da hepatite B em nosso estado e,
assim, propormos políticas públicas de saúde para a nossa região.
Parabéns! Os resultados de seus exames foram todos negativos! Isto significa que você não é
portador do vírus da hepatite B.
Entretanto, para manter-se livre dessa doença, lembre-se:
“A m h
m
v
f çõ
é
m
PREVENÇÃO!”
- Tenha SEMPRE relações sexuais com camisinha.
- Evite contato com sangue de outras pessoas.
- Não compartilhe com colegas ou familiares: agulha, escova de dente e outros materiais
m “
” “
h ”
m
f
.
- Use SEMPRE equipamentos de proteção individual durante a realização de seu
serviço.
- Vacine-se contra hepatite B.
Estamos à sua disposição para futuros esclarecimentos.
Abraços,
EQUIPE DO PROJETO
95
ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
96
97