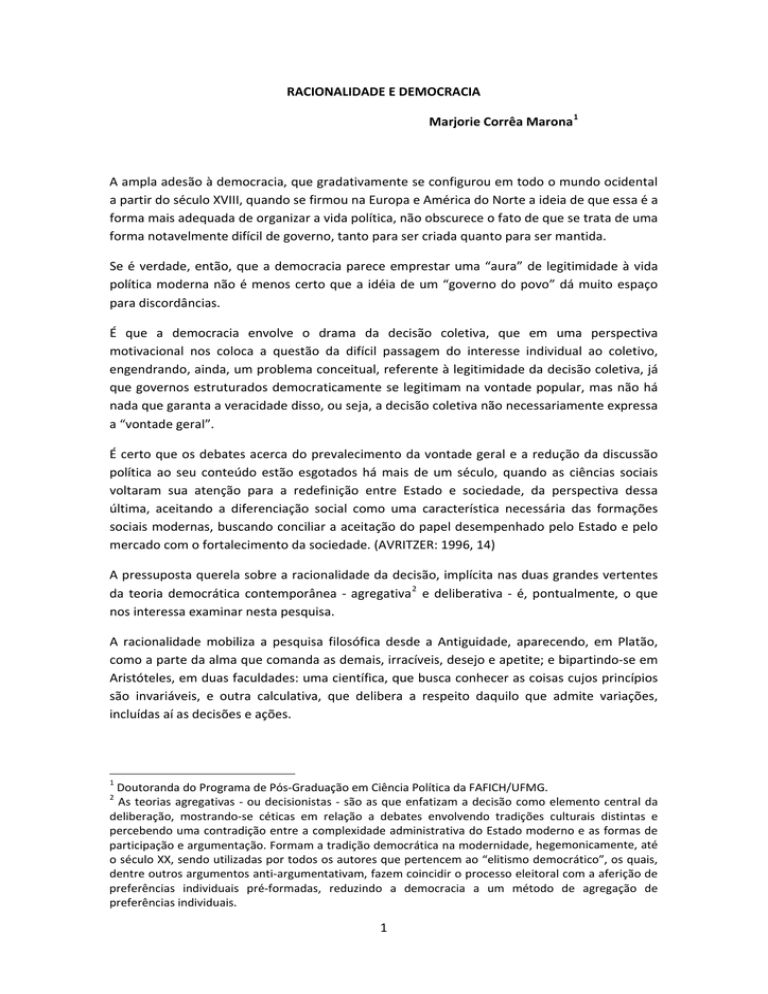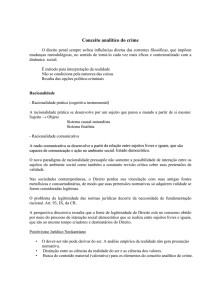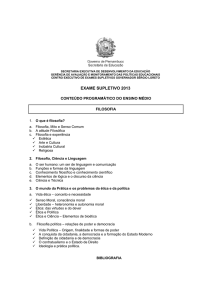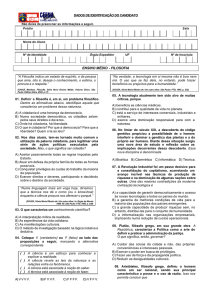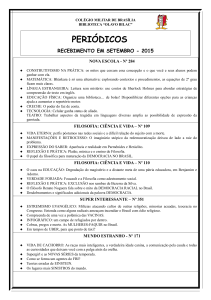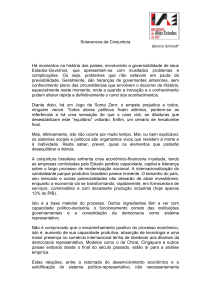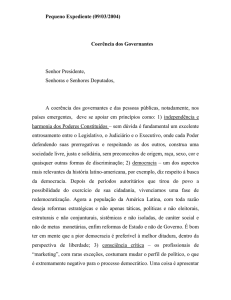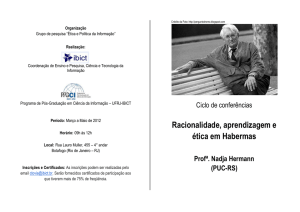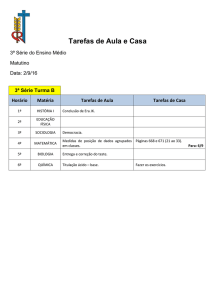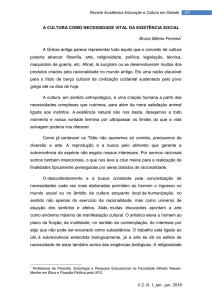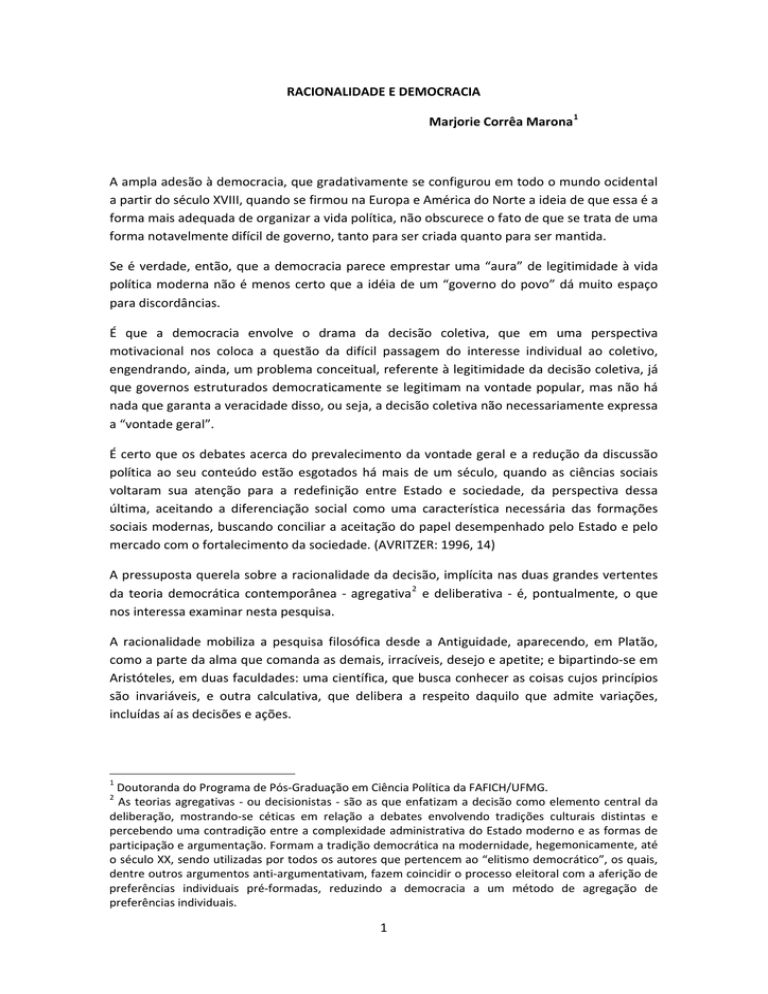
RACIONALIDADE E DEMOCRACIA Marjorie Corrêa Marona 1 A ampla adesão à democracia, que gradativamente se configurou em todo o mundo ocidental a partir do século XVIII, quando se firmou na Europa e América do Norte a ideia de que essa é a forma mais adequada de organizar a vida política, não obscurece o fato de que se trata de uma forma notavelmente difícil de governo, tanto para ser criada quanto para ser mantida. Se é verdade, então, que a democracia parece emprestar uma “aura” de legitimidade à vida política moderna não é menos certo que a idéia de um “governo do povo” dá muito espaço para discordâncias. É que a democracia envolve o drama da decisão coletiva, que em uma perspectiva motivacional nos coloca a questão da difícil passagem do interesse individual ao coletivo, engendrando, ainda, um problema conceitual, referente à legitimidade da decisão coletiva, já que governos estruturados democraticamente se legitimam na vontade popular, mas não há nada que garanta a veracidade disso, ou seja, a decisão coletiva não necessariamente expressa a “vontade geral”. É certo que os debates acerca do prevalecimento da vontade geral e a redução da discussão política ao seu conteúdo estão esgotados há mais de um século, quando as ciências sociais voltaram sua atenção para a redefinição entre Estado e sociedade, da perspectiva dessa última, aceitando a diferenciação social como uma característica necessária das formações sociais modernas, buscando conciliar a aceitação do papel desempenhado pelo Estado e pelo mercado com o fortalecimento da sociedade. (AVRITZER: 1996, 14) A pressuposta querela sobre a racionalidade da decisão, implícita nas duas grandes vertentes da teoria democrática contemporânea ‐ agregativa 2 e deliberativa ‐ é, pontualmente, o que nos interessa examinar nesta pesquisa. A racionalidade mobiliza a pesquisa filosófica desde a Antiguidade, aparecendo, em Platão, como a parte da alma que comanda as demais, irracíveis, desejo e apetite; e bipartindo‐se em Aristóteles, em duas faculdades: uma científica, que busca conhecer as coisas cujos princípios são invariáveis, e outra calculativa, que delibera a respeito daquilo que admite variações, incluídas aí as decisões e ações. 1
Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação em Ciência Política da FAFICH/UFMG. As teorias agregativas ‐ ou decisionistas ‐ são as que enfatizam a decisão como elemento central da deliberação, mostrando‐se céticas em relação a debates envolvendo tradições culturais distintas e percebendo uma contradição entre a complexidade administrativa do Estado moderno e as formas de participação e argumentação. Formam a tradição democrática na modernidade, hegemonicamente, até o século XX, sendo utilizadas por todos os autores que pertencem ao “elitismo democrático”, os quais, dentre outros argumentos anti‐argumentativam, fazem coincidir o processo eleitoral com a aferição de preferências individuais pré‐formadas, reduzindo a democracia a um método de agregação de preferências individuais. 2
1 As teorias contemporâneas da racionalidade prática – agrupadas em uma filosofia moral ‐ podem ser dispostas em três vertentes que se apoiam nessas ideias: há os que, baseados em Aristóteles, creem que a razão reconhece o valor das ações nelas mesmas; os que, derivando de Hume e contrários a Platão, subordinam a razão aos desejos e, por fim, os que, ao modo platônico, baseados em Kant, veem a razão se impor, por meio da autoridade do imperativo categórico. Os kantianos e aristotélicos afirmam as razões categóricas naturais, que contrariam a visão neo‐humeana de que todas as razões normativas são hipotéticas; os neo‐humanos e kantianos negam a posição aristotélica de que uma ação tenha valor por si mesma; e, finalmente, os aristotélicos e neo‐humanos admitem a existência de razões universais mas não aceitam que a razão tenha autoridade para impor uma legislação universal. (PIMENTEL, 2007:16) Esse debate ganhou novos contornos no século XIX, quando se deu a chamada virada linguística no conhecimento, o qual passou a ser visto como dependente da interpretação e, consequentemente, da linguagem, em substituição ao marco subjetivista, sob o qual os embates éticos e morais estavam colocados. Pode‐se mesmo reconhecer a virada lingüística como um novo paradigma da Filosofia, tendo de fato alterado sua periodização e historiografia, ou seja, uma boa parte dos historiadores da filosofia tem construído narrativas a partir de “viradas” ou “giros”. A filosofia antiga tinha preocupações cosmológicas e ontológicas, por isso mesmo, perguntava sobre o mundo de um modo direto, diferentemente da filosofia moderna, que passou a se perguntar sobre o mundo de um modo indireto, pois diretamente pesquisava sobre o conhecimento (do mundo), fazendo preceder à questão do que há de real no mundo, a questão sobre qual representação do mundo é válida; qual representação é verdadeira e, assim, se há ou não conhecimento do mundo. Explicar o conhecimento – o que ele é e como ocorre – levou os filósofos a elaborarem e testarem modelos do que seria o aparato cognitivo (consciência), o qual produz reflexões, crenças, desejos, intenções e juízos; tomando‐o, então, como sujeito. O filosofo moderno tinha como tarefa, a partir daí, a criação e teste de modelos de subjetividade: de John Locke (1632‐1704) a Friedrich Hegel (1770‐1831) e Karl Marx (1818‐
1883) o modo como os filósofos construíram a noção de subjetividade ganhou várias especificidades, mas o resultado foi semelhante: sujeito é aquele que é consciente de seus pensamentos e responsável pelos seus atos. Esses autores colocaram como núcleo do sujeito ou como o seu melhor representante algo como “mente”, “pensamento”, “entendimento”, “consciência transcendental”, “Espírito”, “proletariado”. Na transição do século XIX para o XX, diversos filósofos dirigiram críticas ao padrão estabelecido, mas foi Wittgenstein (1889‐1951), que já usando instrumentos da “virada lingüística”, sugeriu que a noção tradicional da consciência era algo como uma “linguagem privada”, a qual, de fato, não poderia existir, pois a única linguagem possível é a social, e nosso próprio pensamento é a linguagem social ou uma estrutura muito semelhante a ela. 2 Ao lado das críticas, alguns filósofos se voltaram para a ideia de que o melhor para a filosofia seria, mesmo, abandonar a “filosofia da consciência”, porque ela estava envolta a algo que mais era uma ciência empírica (psicologia) do que com a filosofia propriamente dita, que se tornaria filosofia analítica e desenvolveria um tipo de prática filosófica que mais tarde seria identificada com o resultado da “virada lingüística”. Richard Rorty (1931‐2007) foi o responsável por emprestar popularidade à expressão, reconhecendo um novo status à linguagem na investigação filosófica. Sob esse novo paradigma, destacam‐se os trabalhos sobre filosofia moral de Jürgen Habermas (1929 ‐ ), filósofo e sociólogo alemão contemporâneo, que tem seu nome associado à Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, cujos principais representantes dirigiram uma crítica radical à sociedade ocidental moderna, que engendrou a prevalência de uma forma de racionalidade –a instrumental – a qual se define pela relação entre meios e fins, ou seja, pela organização de meios adequados para atingir determinados fins ou pela escolha entre alternativas estratégicas com vistas à consecução de objetivos. Com efeito, Max Weber – ainda sob o paradigma da filosofia da consciência ‐ definiu a racionalidade do mundo ocidental fundamentado na justificativa dos fins pela ação dos meios, em que as ações sociais dos indivíduos são mediadas por algum tipo de interesse com um sentido subjetivo. A partir daí, apresentam‐se os elementos de um racionalismo instrumental, sob um aspecto utilitarista, no qual os meios estão justificados na busca de determinados fins, fundamentados pela individualização da ação social. A definição dos conceitos de ação e razão em Weber se funda na lógica moderna da sociedade, na qual o utilitarismo racional, econômico e político estrutura a conduta dos indivíduos em suas ações sociais. Habermas, em contrapartida, busca superar o conceito de racionalidade instrumental, ampliando o conceito de razão, para o de uma razão que contém em si as possibilidades de reconciliação consigo mesma: a razão comunicativa. Por outro lado, deve‐se ressaltar, antes, a obra de John Rawls, a qual funda uma ética deontológica em contraposição às pretensões utilitaristas, reformulando as teorias contratualistas a partir da construção dialógica do imperativo categórico kantiano, como de enorme importância para a reintrodução de um pressuposto ético formal da ação política. John Rawls é, sem dúvida, um autor de transição para a teoria democrática, não apenas por trabalhar com um consenso decisionístico, como também por supor que as diferenças culturais são parte de uma condição de pluralismo que presume a argumentação e deliberação. Adiante, analisaremos as teorias da ação racional que subjazem às vertentes agregativas e deliberacionistas da democracia. Racionalidade Instrumental e Teoria Democrática Agregativa 3 A opção por Weber (1864‐1920) para a composição dos indícios sociológicos da razão instrumental torna necessária, ainda que sucintamente, a verificação da concepção de racionalidade ocidental associada a um sistema econômico e à religião. Para além dos elementos de um conceito instrumental de racionalidade, a obra de Weber oferece elementos de uma fundamentação cultural do conceito ocidental de racionalidade – os quais, aliás, são resgatados por Habermas na Teoria da Ação Comunicativa. Weber se propõe a abordar a racionalização através de uma tipologia de formas de ação ligadas aos processos de desenvolvimento das diferentes religiões mundiais, pelo que, opondo‐se ao iluminismo, pressupõe que não há oposição entre ciência e religião, entre sagrado e secular, na medida em que a racionalização envolve uma sistematização de ideias e de comportamentos no mundo. Os processos de racionalização partem da necessidade das religiões mundiais de substituir a magia pelo domínio cognitivo da natureza e por uma explicação ética capaz de ser justificada, de sorte que nem o mercado, nem o Estado moderno deram origem à racionalidade ocidental, senão o processo religioso‐cultural de racionalização da conduta dos indivíduos no mundo, o qual permitiu, via protestantismo, a superação da tensão entre ética religiosa e instrumentalidade. (AVRITZER: 1996, 62) Com efeito, Weber introduziu o conceito de “racionalização” para descrever o processo de desenvolvimento existente na sociedade capitalista moderna, caracterizado pela ampliação crescente de esferas sociais que ficam submetidas a critérios técnicos de decisão racional, isto é, a critérios de adequação e organização de meios em relação a determinados fins. Com isso, o planejamento e o cálculo foram se tornando, cada vez mais, partes integrantes de procedimentos envolvendo questões administrativas. A transformação pela qual passaram as sociedades industriais nesse processo de modernização ‐ de racionalização da ação social ‐ está diretamente associada às formas de desenvolvimento do trabalho industrial na sociedade capitalista, que expandiram os procedimentos e a racionalidade a eles inerente para outros setores do âmbito da vida social. A teoria da modernidade de Weber aponta, portanto, não apenas para a origem cultural do processo de racionalização do ocidente, mas também para uma crescente incompatibilidade entre ética e racionalização, pelo que preceitua o autor que a única forma de sobrevivência da ética no mundo moderno é o utilitarismo. O utilitarismo, uma das principais correntes da filosofia moral, foi fundada por Bentham (1748‐
1832) sobre o princípio da utilidade, que preceitua que "toda ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função de sua tendência de aumentar ou reduzir o bem‐estar das partes afetadas por ela”. Concebido como um critério geral de moralidade, o utilitarismo deve ser aplicado às decisões políticas e, nesse sentido, a ação (política) é moralmente correta se tende a promover a felicidade de todos os afetados por ela e isso opõe o utilitarismo a qualquer teoria ética que considere ações como certas ou erradas, independentemente das consequências que elas 4 possam ter. O utilitarismo, então, difere radicalmente das teorias éticas que fazem o caráter de bom ou mal de uma ação depender do motivo do agente. O utilitarismo domina a cena econômica e constitui a base da economia do bem‐estar desde os fins do século XIX, preceituando que devemos sempre agir de forma a maximizar o bem‐estar coletivo, definido como a soma do bem‐estar (ou da utilidade) dos indivíduos que compõem a coletividade, embasando as teorias democráticas agregativas (ou realistas). A pergunta sobre como agregar preferências, como transformar uma gama de preferências individuais em uma decisão coletiva fez da democracia uma associada à social choice – variável da rational choice que desenvolve uma teoria matemática para a construção de decisões – identificando vários mecanismos de agregação de preferências, tais como os votos ou partidos. RIKER (1982), entretanto, vislumbra dois problemas em relação à agregação de preferências ‐ instabilidade e ambiguidade – de cuja solução dependem a estabilidade e coerência do ordenamento social, sob pena de a democracia ser considerada tão‐somente um método através do qual, na melhor das hipóteses, se elegem e derrubam governos. Nesse ponto, coloca‐se a questão da legitimidade da decisão coletiva, da legitimidade da democracia, sobre a qual diversos teóricos têm‐se debruçado. A primeira grande vertente de justificação da democracia no século XX, que tem em Weber e em Schumpeter os seus inauguradores, sustenta o caráter formal da democracia, dissociando a forma democrática de um conteúdo ético racional e justificando o estreitamento da prática democrática tendo em vista o próprio objetivo de consolidação da democracia. Para Weber, a democracia significa a igualdade formal dos direitos políticos, o que implica em um estreitamento da ideia de soberania, enquanto para Schumpeter a ideia de democracia enquanto soberania deve ser substituída pela ideia de democracia enquanto método, “um certo arranjo institucional para se alcançar decisões políticas (legislativas e administrativas)”. (SCHUMPETER, 1942:242) Schumpeter rompe definitivamente com as concepções clássicas da democracia e torna‐se o precursor da maior parte das teorias democráticas contemporâneas ao implodir com o mito da unidade da vontade geral, o qual substitui por uma pluralidade de vontades que, no máximo, consegue acordar sobre procedimentos comuns para a resolução de divergências. (AVRTIZER, 1996: 107) A democracia não seria, contudo, apenas um método, mas um método de produção de governos, que importa na superação do empecilho provocado pela irracionalidade das massas, através da limitação da sua participação na política aos atos constitutivos dos governos – o voto – de modo que todas as demais atribuições dos governos passam a fazer parte das elites, capazes de assegurar o prevalecimento da racionalidade política, ainda que não reste clara a forma como Schumpeter propõe a formação dessa racionalidade política. Sinteticamente: Weber e Shumpeter, percebendo que o pressuposto da soberania popular conflitava tanto com as formas complexas de administração do Estado moderno quanto com a pluralidade de valores e orientações individuais, ofereceram uma resposta formal ao problema 5 da justificação da democracia, mas nenhum dos dois autores conseguiu conectar a forma com a qual eles identificaram a prática democrática com a ideia de racionalidade associada com a democracia desde a sua origem na modernidade. (AVRITZER, 1996: 109) As soluções apresentadas aos dilemas enfrentados pela teoria democrática da primeira metade do século possibilitam não apenas a justificação da continuidade da prática democrática como também afirmam a hegemonia do modelo agregativo ao final do século XX, justamente por sua capacidade de dar respostas às principais questões acerca da democracia – a do repasse aos técnicos da responsabilidade na tomada de decisões coletivas, tendo em vista a incapacidade dos indivíduos em conhecer e controlar o aparato administrativo do Estado, a de impedir que os particularismos introduzidos na esfera pública impossibilitem a tomada de decisão racional na arena política e inviabilizem, em consequência, a construção do bem comum, e a de lidar com o fenômeno das sociedades de massas que irracionalmente poderiam levar à ruptura institucional democrática (SHUMPETER:1943) ‐ via elitismo democrático 3 , resolvendo o problema da estabilidade do processo político à custa da redução da participação dos cidadãos ao voto eleitoral periódico(SHUMPETER:1952). A mais bem‐sucedida alternativa de fundamentar uma concepção elitista de democracia com base na racionalidade individual é a teoria da democracia proposta por Anthony Downs, a qual enfrenta parte das questões levantadas por Weber e Schumpeter na primeira metade do século – especificamente a questão da irracionalidade das massas – ao mesmo tempo em que antecipa outras que a substituição do cenário europeu pelo norte‐americano, na segunda metade do século, irão suscitar na teoria democrática. À questão da compatibilização da teoria democrática com uma teoria da racionalidade individual, Downs responde com a identificação da ideia de racionalidade com a ideia do indivíduo capaz de maximizar os benefícios que ele usufrui do sistema político, propondo, então, um modelo de funcionamento da democracia baseado em dois pressupostos: (1) o de que o objetivo dos governos é a reeleição e que, portanto, todo governo objetiva maximizar o seu apoio eleitoral, e, (2) o de que a democracia existe nos locais nos quais ela é praticada. O indivíduo racional é aquele que tenta maximizar os benefícios que o governo pode lhe oferecer e o sistema democrático é racional na medida em que incorpora a lógica de maximização de benefícios vigente no nível individual, mas a introdução do axioma do auto‐
interesse, cujo pressuposto é de que cada indivíduo dá preferência à sua própria felicidade quando essa entra em conflito com a dos demais, faz do conflito a noção estruturante do sistema político, com a redução da lógica democrática à lógica competitiva e adversarial da economia. É da forma adversarial de funcionamento do sistema democrático que Downs deduz a conexão entre a racionalidade individual e a racionalidade global do sistema democrático, selando um longo processo de estreitamento da prática democrática. 3
Na esteira de Leonardo Avritzer (2000) serão tratadas como “teorias democráticas elitistas” aquelas que reduzem o conceito de soberania ao processo eleitoral e justificam a racionalidade política enquanto decorrente da presença de elites políticas ao nível do governo. Essas teorias se originam em Weber, atingem seu ápice com Schumpeter e são, contemporaneamente, representadas por Donws, Sartori e Bobbio. 6 A redução da racionalidade individual à maximização da utilidade dos benefícios materiais prejudica qualquer relação ente racionalidade individual e os conceitos e valores mais gerais envolvidos na prática democrática, reduzindo‐a a uma forma de organização do governo na qual a sociedade não desempenha qualquer papel. Os desdobramentos do “elitismo democrático” apresentados por DOWNS (1957), apesar de assumir pressupostos da escolha racional, segue tomando as preferências dos cidadãos individuais nos processos de decisão como dadas, fixas, centrando sua atenção no modo mais justo de agregá‐las, sem, contudo, dedicar uma análise sobre a maneira como tais preferências foram constituídas. Trata‐se de um modelo teórico centrado no voto, que restringe a legitimidade da democracia à busca do melhor meio de agregação de interesses, que deverão ser garantidos contra possíveis abusos do Estado, justamente, por meio da política. O Estado é, então, tido como um aparato administrativo especializado em alcançar objetivos comuns, que se formam na sociedade civil, a partir da competição estratégica de grupos que desejam o poder político, através de um procedimento baseado no sistema eleitoral, que visa a garantir a igual participação dos cidadãos. Robert Dahl, por outro lado, ocupa um lugar intermediário entre o “elitismo democrático” e as teorias normativas da democracia, razão pela qual é visto com simpatia por ambas as vertentes da teoria democrática, sendo que SARTORI (1994) busca incorporar alguns elementos de sua teoria, se bem que apenas aquilo que faz sentido ao elitismo democrático: os critérios empíricos para aferição da existência de elites. (AVRITZER, 1996:115) Em oposição ao elitismo democrático, DAHL (1956) busca superar a oposição entre idealismo e realismo, ao introduzir o princípio da maximização, segundo o qual não basta analisar o funcionamento da democracia, sendo necessário perceber que a análise do grau de igualdade e liberdade efetivamente existente nas sociedades democráticas contemporâneas passa pela avaliação ou correção na forma como certas características da democracia se manifestam. Ademais, se a democracia constitui uma forma de organização do sistema de governo, ela pode ser mais ou menos legítima dependendo do processo de discussão anterior à própria eleição, de sorte que se recoloca, no interior da teoria democrática, o problema da participação para a avaliação da qualidade da democracia existente. Em A Democracia e seus Críticos (1989), o autor segue definindo a democracia a partir de uma relação entre descrição e maximização, embora a defina, agora, como algo mais do que um sistema de governo, constituindo um processo de tomadas de decisões coletivas, que pode ocorrer tanto no interior das associações civis quanto no interior do Estado, embora reserve o termo a uma forma de organização política ideal. Não é o idealismo democrático, contudo, que deve ser criticado, mas sim o fato de as democracias reais não conseguirem alcançar o ideal democrático, de sorte que uma teoria capaz de conciliar o empírico e o normativo deveria restaurar o ideal da autonomia moral e a justificativa normativa da democracia, tentando demonstrar a importância desses ideais na prática democrática. 7 Como decorrência do princípio da autonomia moral, o autor constata que “todos os indivíduos são suficientemente qualificados para participar das decisões coletivas de uma associação que afete significativamente seus interesses” (DAHL, 1989:98), o que implica na ruptura tanto com a visão schumpeteriana quanto com a downseana do “elitismo democrático”, na medida em que recoloca um fundamento moral no cerne da teoria democrática e desfaz a noção restrita de racionalidade enquanto maximização de benefícios materiais. (AVRITZER, 1996:117) Sem dúvida, a tentativa de Dahl de reintroduzir a dimensão normativa no interior da teoria democrática, constitui uma das mais importantes contribuições à teoria democrática do fim do século, contudo, não supera o problema da relação entre democracia e racionalidade ou entre bem comum e racionalidade, na medida em que o que faz subjazer à justificação normativa da democracia condições que propiciam a auto‐realização individual, deixando sem resposta o problema da compatibilização das normas e atitudes coletivas próprias à democracia com a ideia de racionalidade individual. A resposta do pluralismo, capitaneado por Donws, é insuficiente na medida em que não distingue administração de esfera pública – o que permitiria postular a reintrodução das arenas participativas e discursivas na política – e não estende o conceito de normatividade do plano individual em direção à organização da sociedade. (AVRITZER, 1996: 121) A tentativa de Habermas de superar os problemas levantados por Weber e Shumpeter – o crescimento das arenas burocrático‐administrativas no interior do Estado moderno e a impossibilidade de uma ideia substantiva de bem comum ‐ fundamenta‐se, basicamente, na inversão da tendência de centrar a análise no voto, substituindo‐o pelo diálogo, pois ao invés de trabalhar com preferências fixas dos indivíduos, buscando a melhor maneira de agregá‐las, trabalha com os processos comunicativos de formação das opiniões e preferências que ocorrem antes do voto. Ocupa‐se, portanto, do processo de formação da vontade política. As apontadas preocupações são relacionadas por Habermas com a problemática da racionalidade e o tratamento dual dispensado pelo autor 4 permitiria tratar adequadamente tanto o fenômeno da burocratização, quanto o fenômeno da pluralização. Deve‐se tributar a RAWLS, entretanto, anteriores e importantes esforços de combate ao utilitarismo, filosofia moral que está na base das teorias democráticas agregativas, por pressupor uma racionalidade instrumental, dos quais resultou sua Teoria da Justiça, que nos apresenta uma opção procedimental e dialógica de legitimação da democracia e abre caminho para os desenvolvimentos aprofundados por Habermas acerca de uma democracia deliberativa. Vejamos. As contribuições de John Raws: uma ética deontológica. 4
Como veremos detalhadamente na última parte desse texto, para Habermas existem dois tipos de racionalidade, uma comunicativa, de natureza intersubjetiva, e outra sistêmica, de natureza cognitivo‐
instrumental. 8 A corrente capitaneada por John Rawls analisa as questões éticas, grosso modo, como contratos, ou seja, os indivíduos ajustariam previamente em igualdade de condições as diretrizes éticas fundamentais de modo que a eleição das regras seria livre e auto‐imposta. Aparentemente, a teoria remete à ideia simplista de um contrato, entretanto, o contratualismo designa a mutualidade existente na feitura de uma avença em nossas obrigações em relação aos animais e à natureza. Pormenorizadamente, Rawls estabelece os pressupostos deste contrato a partir da idéia de “justiça como equidade”, ou seja, os princípios fundamentais das instituições devem ser escolhidos consensualmente numa posição de igualdade entre os indivíduos. Com ele, o liberalismo resgata o conceito de justiça na política, não sem consequências para os embates acerca da democracia, que terá de dar conta, agora, de uma pauta ética renovada. O ponto de partida da teoria é o de uma sociedade enquanto “empreendimento mútuo”, marcada por uma identidade de interesses, na medida em que a cooperação social possibilita que todos tenham uma vida melhor da que teria qualquer um dos membros se cada um dependesse de seus próprios esforços, mas, ao mesmo tempo, por um conflito de interesses, considerando que as pessoas não são indiferentes no que se refere a como os benefícios maiores produzidos pela colaboração mútua serão distribuídos. Por um lado, portanto, a cooperação é necessária para a manutenção da sociedade, mas, por outro, o pluralismo dos indivíduos delineia a dificuldade para determinação do bem‐comum. O pluralismo é, sem dúvida, o elemento realista (empírico) da teoria e informa a escolha procedimental do autor ‐ o tratamento procedimental que dá ao político. Para escolher entre as várias formas de ordenação social que determinam a divisão das vantagens e para selar um acordo sobre as partes distributivas adequadas, exige‐se um conjunto de princípios (da justiça social) que “fornecem um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e encargos da cooperação social”. (RAWLS: 2000, 05) O objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes [a constituição política e os principais acordos econômicos] distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação social. Trata‐se, contudo, de uma concepção razoável da justiça para a estrutura básica da sociedade, ou seja, a teoria da justiça de RAWLS não supõe o racional, se ancora no razoável, transformando a liberdade (naturalizada pela tradição liberal) em algo construído por indivíduos que buscam o consenso. Os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade são objeto de um consenso original, pelos quais “pessoas livres e racionais, preocupadas em promover seus próprios interesses, aceitariam numa posição inicial de igualdade como definidores dos termos fundamentais de sua associação”, devendo regular todos os acordos subsequentes, especificar 9 os tipos de cooperação social que se podem assumir e as formas de governo que se podem estabelecer. A posição original de igualdade é entendida como situação hipotética que se caracteriza pelo “fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou o status social e ninguém conhece sua sorte da distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força, e coisas semelhantes”, nem suas concepções do bem ou propensões psicológicas particulares, ou seja, “os princípios da justiça são escolhidos sob o véu da ignorância”. (RAWLS,2000:13) Ninguém é, pois, favorecido ou desfavorecido na posição original que, vale esclarecer, não representa uma assembleia ou reunião de homens que decidem os fundamentos de sua associação, mas uma hipótese que se destina a demonstrar a forma em que os valores devem ser eleitos para orientar as ações. Claramente se pode relacionar a teoria da justiça como equidade com a Crítica kantiana, pois “existe uma interpretação kantiana da concepção de justiça da qual o princípio da liberdade igual deriva que se baseia na noção de autonomia.” (RAWLS, 2000:275) KANT parte da ideia de que os princípios morais são objeto de uma escolha racional, ou seja, que definem a lei moral que os homens podem racionalmente almejar para dirigir sua conduta numa comunidade ética, de sorte que esses princípios, na qualidade de legislação para um âmbito dos objetivos – devem ser aceitáveis para todos e também comuns. KANT, então, supõe que “essa legislação moral deve ser acatada em determinadas condições que caracterizam os homens como seres racionais iguais e livres. A descrição da posição original é uma tentativa de interpretar essa concepção.” (RAWLS, 2000:276) KANT acreditava que uma pessoa age de modo autônomo quando os princípios de suas ações são escolhidos por ela mesma como a expressão mais adequada possível de sua natureza de ser racional e igual e livre, ou seja, os princípios que norteiam suas ações não são adotados por causa de sua posição social ou de seus dotes naturais, heteronomamente, portanto. O véu da ignorância priva as pessoas, justamente, do conhecimento que possibilitaria a escolha de princípios heterônomos, de sorte que os princípios de suas ações não dependem das contingências naturais ou sociais, tampouco refletem a tendência resultante da especificidade de seu projeto de vida ou as aspirações que as motivam, mas ao contrário, “agindo de acordo com esses princípios as pessoas expressam sua natureza de seres racionais iguais e livres, sujeitos às condições gerais da vida humana”. (RAWLS, 2000: 277) Os princípios da justiça são análogos aos imperativos categóricos kantianos, ou seja, aquele princípio de conduta que se aplica a uma pessoa em virtude de sua natureza de ser racional igual, e livre e cuja validade não pressupõe que se tenha um desejo ou um objetivo particular – em oposição ao imperativo hipotético que pressupõe, por contraste, tal fato, levando‐nos a dar certos passos como meios eficazes para conseguirmos um objetivo específico. 10 “Agir com base nos princípios de justiça é agir com base em imperativos categóricos, no sentido de que eles se aplicam a nós, quaisquer que sejam os nossos objetivos particulares.” (RAWLS, 2000: 278) Eis o modo como RAWLS resolve o problema da motivação da ação coletiva: “o desejo de agir com justiça deriva em parte do desejo de expressar, da maneira mais plena, o que somos ou podemos ser, isto é, seres racionais iguais e livres, com liberdade de escolha [por isso, agir injustamente fere] o nosso amor‐próprio, o senso do nosso valor como pessoas, e a experiência dessa perda causa vergonha”. Com efeito, KANT aprofunda e justifica a ideia rousseauniana de liberdade como autonomia ‐ agir de acordo com a lei que nós mesmos estabelecemos para nós mesmos – conduzindo‐nos a uma ética de autoestima e respeito mútuo. (RAWLS, 2000: 281) A posição original de RAWLS pode ser vista como uma interpretação procedimental da concepção kantiana de autonomia e do imperativo categórico, que parte da suposição de que a escolha da pessoa na qualidade de eu em si é uma escolha coletiva e de que se todos são similarmente racionais e livres, cada um deve ter voz igual na adoção dos princípios públicos da comunidade ética. O “conteúdo do consenso” consiste em aceitar certos princípios morais, os quais “seriam escolhidos por pessoas racionais”, o que torna a teoria da justiça uma parte da teoria da escolha racional que se aplica às relações entre várias pessoas ou grupos. (RAWLS, 2000:18) Nessa perspectiva, o conceito da posição original visa a tornar nítidas as restrições que parece razoável impor a argumentos que defendem princípios de justiça e, portanto, aos próprios princípios, excluindo “aqueles princípios cuja aceitação de um ponto de vista racional só se poderia propor se fossem conhecidos certos fatos que do ponto de vista da justiça são irrelevantes”, chegando‐se, naturalmente, ao “véu da ignorância”, conceito que expressa simplesmente restrições a determinados argumentos, excluindo o conhecimento de contingências que criam disparidades entre os homens e permitem que eles se orientem pelos seus preconceitos. (RAWLS, 2000: 21) Note‐se que Rawls, por um lado, fulmina o utilitarismo e sua racionalidade instrumental ao reintroduzir o imperativo categórico kantiano no tratamento das questões políticas, e, por outro, abre caminho para um tratamento mais amplo da racionalidade, sob o paradigma linguístico, preparando caminho para os desenvolvimentos habermasianos, como buscaremos demonstrar a seguir. Racionalidade Comunicativa e Teoria Democrática Deliberativa Habermas não se opõe à racionalidade instrumental da ciência e da técnica em si mesmas, mas sim à universalização da ciência e da técnica, isto é, à penetração da racionalidade científica, instrumental em esferas de decisão onde deveria imperar um outro tipo de racionalidade: a racionalidade comunicativa. 11 Habermas busca, portanto, constituir uma forma de reflexão crítica sobre a instrumentalidade racional como forma de emancipação social, desenvolvendo uma Teoria da Ação Comunicativa ‐ uma análise teórica da racionalidade como sistema operante da sociedade. Inserida no âmbito das teorias que, sem negar o papel desempenhado pelo mercado e pelo Estado na modernidade ocidental, buscam pensar o fortalecimento da sociedade contra processos de mercantilização e burocratização das relações sociais, a Teoria da Ação Comunicativa pode ser entendida como uma obra filosófica ou como uma obra de teoria social e, nesse último sentido, caracteriza‐se por recuperar um conceito de interação ligado à arena social na qual a ação comunicativa vigora, apresentando, ainda, um diagnóstico da política moderna, do empobrecimento das práticas políticas contemporâneas, do surgimento de novos atores e movimentos sociais e da possibilidade de aprimorar as democracias contemporâneas. (AVRITZER: 1996, 15) Contudo, a questão da abordagem filosófica da racionalidade reside no fato de que “todas as tentativas de descobrir fundamentos últimos, nos quais as intenções de uma primeira filosofia se assentariam, se mostraram vãs”, razão pela qual uma teoria social crítica deve ser capaz, segundo o autor, de conectar a filosofia com as ciências sociais. O problema é a tendência manifestada tanto pela economia quanto pela ciência política de limitarem a racionalidade em cada uma das áreas, desconsiderando questões “prático‐
morais”. (AVRITZER, 1996:16) Na modernidade ocidental ocorreu um processo de diferenciação das estruturas da racionalidade que fez surgir estruturas sistêmicas econômicas e administrativas que não só se diferenciam do mundo da vida, mas se diferenciam entre si: o subsistema econômico se organiza em torno da lógica estratégica da recompensa, o subsistema administrativo em torno da lógica estratégica do poder, enquanto ao longo das estruturas sistêmicas situa‐se o campo da interação social, organizado em torno da ideias de consenso normativo gerado a partir das estruturas da ação comunicativa. São dois os tipos de racionalidade: uma primeira, comunicativa, e uma outra, instrumental, posteriormente chamada sistêmica. Habermas distingue, portanto, dois âmbitos do agir humano – o trabalho e a interação social – os quais são interdependentes, mas podem ser analisados separadamente. Por trabalho, ou racionalidade instrumental, Habermas entende o processo por meio do qual os homens emancipam‐se da natureza, enquanto a interação social representa a esfera da sociedade onde as normas sociais são criadas a partir da interação entre os sujeitos, os quais são capazes de comunicação e ação, prevalecendo, aqui, uma ação comunicativa, isto é, uma interação que se orienta “segundo normas de vigência obrigatória que definem as expectativas recíprocas de comportamento e que têm de ser entendidas e reconhecidas, pelo menos, por dois sujeitos agentes”. (HABERMAS, 1987: 57) A racionalidade comunicativa se caracteriza pela dialogicidade, pela possibilidade de alcançar um télos no mundo objetivo, social e subjetivo através da comunicação com menos mais um participante. (AVRITZER, 1996: 63) 12 Como se vê, o filósofo nos apresenta a racionalidade dos indivíduos mediada pela linguagem e comunicatividade ‐ instrumentos de construção racional dos sujeitos ‐, de sorte que é na esfera do universo de relações dos sujeitos que Habermas constroi sua concepção ontológica para a construção da racionalidade. Sendo assim, a subjetividade do indivíduo não é construída através de um ato solitário de auto‐reflexão, mas, ao contrário, através de um processo de formação que se dá em uma complexa rede de interações, das quais, a interação social é, ao menos potencialmente, uma interação dialógica, comunicativa. Para Habermas, as grandes transformações dos âmbitos da prática social – trabalho e interação social – promovida pelas sociedades industriais modernas, estão na raiz de inúmeros problemas sociais. O conhecimento científico e técnico assegura a manutenção do sistema capitalista, na medida em que propicia o crescimento e aperfeiçoamento das forças produtivas, o que, por sua vez, modifica o papel do Estado: a pressão originariamente exercida pela esfera social na direção da vida econômica passa a ser capitaneada pelas empresas, as quais, ademais, passam a assumir atribuições de competência originariamente estatal. Com isso, o Estado acaba submetendo‐se às determinações do capital com as quais tenta conciliar os interesses nacionais. Ademais, na medida em que as sociedades industriais modernas adotam a forma do Estado de Bem‐Estar social, na tentativa de compensar as disfuncionalidades do sistema capitalista, promovendo segurança social e oportunidade de promoção pessoal, vê‐se uma inversão na tendência da esfera política de representar o lócus de discussão a respeito da realização de fins éticos de convivência social, atendendo a interesses coletivos, para assumir uma orientação de prevenção de disfuncionalidades do sistema. A política, portanto, preocupa‐se mais com questões de ordem técnica do que com problemas éticos, com questões que dizem respeito à interação social e de cuja solução depende o diálogo ‐ justiça, liberdade, poder, opressão, violência. O Estado contemporâneo se vê, ao mesmo tempo, subtraído de parte de suas funções sociais e envolvido em uma ampliação crescente de subsistemas de “ação racional com respeito a fins”, submerso numa administração burocrática que, imbuída de uma racionalidade instrumental, pretende dotá‐lo de eficácia na gestão dos problemas sociais, o que gera enormes distorções, pois na medida em que a racionalidade instrumental da ciência e da técnica penetra nas esferas institucionais da sociedade, transforma as próprias instituições – direito, política etc. – de tal modo que as questões referentes às decisões racionais baseadas em valores, que se situam no plano da interação, são afastadas do âmbito de reflexão e da discussão. A substituição do espaço de interação comunicativa no âmbito de decisões práticas que diziam respeito à comunidade pela racionalidade instrumental substitui a pergunta acerca da justiça das normas institucionais vigentes pelo questionamento acerca de sua eficácia: dá‐se ênfase aos problemas técnicos em detrimento do debate acerca dos valores éticos e políticos, submetido a interesses instrumentais. 13 Faz‐se necessário, portanto, o resgate de uma racionalidade comunicativa em esferas de decisão do âmbito da interação social que foram penetradas pela racionalidade instrumental. O homem, ser capaz de atribuir sentido às suas ações e, graças à linguagem, de comunicar percepções e desejos, intenções, expectativas e pensamentos, pode, através do diálogo, retomar sua condição de sujeito. E as comunicações que os sujeitos estabelecem entre si dizem respeito a três mundos – o objetivo das coisas, o social das normas e instituições e o subjetivo das vivências e sentimentos ‐ aos quais correspondem diferentes pretensões de validade: referentes à veracidade das afirmações feitas, à correção e à adequação das normas e à sinceridade na expressão de seus sentimentos (veracidade), respectivamente. A legitimação dos valores – verdade, correção normativa e veracidade – que toda a ação comunicativa pressupõe não é alcançada por uma racionalidade do tipo meio‐fim, mas, antes, pressupõe a argumentação em função de princípios reconhecidos e validados pelo grupo. Daí surge o modelo ideal de ação comunicativa, em que as pessoas interagem e, através da utilização da linguagem, organizam‐se socialmente, buscando o consenso de uma forma livre de toda a coação externa e interna. Vinculado ao modelo ideal da ação comunicativa, Habermas apresenta o discurso como uma das formas da comunicação que, especificamente, objetiva fundamentar as pretensões de validade das opiniões e normas em que se baseia a interação (ou “agir comunicativo”), que é a outra forma de comunicação. Esses dois modelos, na qualidade de modelos ideais, se constituem em utopias, que todavia devem ser pressupostas como reais, para que possa se efetivar qualquer comunicação e, ao mesmo tempo, fornecem elementos para uma crítica das formas concretas de interação e discurso. Portanto, o processo de comunicação que visa ao entendimento mútuo está na base de toda a interação, pois somente uma argumentação em forma de discurso permite o acordo de indivíduos quanto à validade das proposições ou à legitimidade das normas, de sorte que, segundo Habermas, a racionalidade comunicativa se estabelece como instrumento de consenso social da realidade. Nessa perspectiva, o universo subjetivo, a ação política e a racionalidade dos indivíduos se constituem em elementos de formação e revitalização da esfera pública na busca da emancipação social, o que, portanto, não se poderia realizar de modo coercitivo ou meramente instrumental, senão apenas por uma postura dialógica, compreensiva e democrática na órbita de um consenso comunicativo, o qual deveria ser construído dentro das relações sociais em função das racionalidades das ações. O reconhecimento de uma dimensão interativa da sociabilidade implica na atribuição de um significado normativo à democracia, a qual passa a ser concebida enquanto esfera interativa que precede os subsistemas regidos por meios de controle. (AVRITZER, 1996:19) 14 A tentativa de superar o modelo democrático que se tornou hegemônico ao longo do século XX fundamenta‐se, justamente, na análise do discurso, trabalhando com os processos comunicativos de formação das opiniões e preferências, ocupando‐se do processo de formação da vontade política. À redução da racionalidade à maximização de interesses individuais, que é a marca das teorias do elitismo democrático, Habermas opõe a racionalidade comunicativa, identificado com os processos normativos constitutivos do mundo da vida, fazendo depender a democracia, para sua reprodução, de processos de formação e renovação de uma cultura política democrática. Nesse sentido, HABERMAS (1995,1997) desenvolveu um modelo democrático no qual as decisões políticas são legitimados através da institucionalização de procedimentos discursivos, ou seja, pela transformação do poder comunicativo, oriundo da esfera pública, de sorte que o processo discursivo que ocorre na esfera pública deverá ser captado e absorvido pelas principais estruturas constitucionais democráticas. A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela, os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. (HABERMAS, 1997:92) A importância da esfera pública está no seu potencial de se transformar em um modelo de integração social, baseado na comunicação, que se apresenta, então, como uma alternativa ao dinheiro e ao poder como base dessa integração, geridas, respectivamente, pelo mercado e pelo Estado. A partir do resgate de um espaço público onde os indivíduos pudessem interagir e se posicionar de uma forma crítica perante o Estado, com ênfase na construção argumentativa das preferências em detrimento da mera agregação de interesses, registrou‐se um efetivo salto qualitativo no que tange às teorias democráticas contemporâneas. A democracia deliberativa habermasiana propõe um entrelaçamento da política dialógica republicana e da política instrumental liberal, no campo das deliberações, quando as correspondentes formas de comunicação estiverem suficientemente institucionalizadas, deslocando o foco de análise para o exame das condições de comunicação e procedimentos que legitimam a formação institucionalizada da opinião/vontade política. A distinção entre sistema e mundo da vida e dois tipos de racionalidade permite Habermas relacionar democracia com bem comum, na medida em que o autor identifica o conceito de racionalidade comunicativa com as regras de um processo de comunicação livre de constrangimentos, relacionando o princípio ético envolvido na prática democrática com a qualidade dos processos de comunicação ligados à democracia. Contudo, dada a impossibilidade de se sustentar uma noção substantiva de bem comum, Habermas transita para o domínio das éticas formais (ou discursivas), baseadas na ideia de que a argumentação pública envolve um princípio de universalização que tem um conteúdo ético‐
formal, está presente nas próprias regras do discurso e é capaz de fundamentar a igualdade da prática democrática. 15 Via de consequência, afastada a possibilidade de uma verdade objetiva no campo da política, a mesma passa a ter apenas um critério de validade possível, qual seja, a qualidade do processo de argumentação e discussão próprio à democracia. (AVRITZER, 1996:122) A democracia deliberativa, nesse sentido, afirma a necessidade de justificar decisões tomadas por cidadãos e seus representantes, apresentando motivos que deveriam recorrer a princípios que os indivíduos que estão tentando encontrar termos justos de cooperação não poderiam rejeitar, sensatamente. Esses motivos não são meramente processuais nem puramente substantivos; caracterizam‐se por ser aceitos por pessoas livres e iguais procurando termos justos de cooperação, consideradas como agentes autônomos que fazem parte do governo de sua própria sociedade, diretamente ou através de representantes. Tais motivos pretendem tanto produzir uma decisão justificável quanto expressar o valor do respeito mútuo, que está no cerne da democracia deliberativa, tendo em vista que declarações de poder e expressões de vontade ainda precisam ser justificadas pela razão. Em razão disso, aliás, exige‐se que tais motivos sejam acessíveis a todos os cidadãos aos quais eles são endereçados, é dizer, os motivos devem ser compreensivos ‐ ao menos em seu conteúdo essencial ‐ e públicos – tomados em público e não na mente de alguém. Ademais, o processo da democracia deliberativa tem por objetivo influenciar nas decisões políticas governamentais, ou, pelo menos, no processo sobre futuras decisões, e mesmo que, em algum ponto, o processo cesse e a decisão seja tomada, continua‐se o debate sobre a justificação da decisão, o que evidencia a dinamicidade do processo da democracia deliberativa. É que embora a deliberação objetive uma decisão justificável, ela não pressupõe que a decisão será de fato justificada ou assim será percebida independentemente do contexto temporal, mantendo aberta a possibilidade de um diálogo continuado, no qual os cidadãos possam criar decisões prévias e seguir em frente nas bases dessa crítica. A decisão é, portanto, provisória, no sentido de que deve estar aberta para ser questionada em algum momento do futuro e isso é importante porque os processos de tomada de decisão e o entendimento humano sobre o qual eles dependem é imperfeito e, ainda, porque a maioria das decisões políticas não é consensual. A democracia deliberativa representa, então, “a forma de governo na qual cidadãos livres e iguais justificam suas decisões, em um processo no qual apresentam uns aos outros motivos que são mutuamente aceitos e geralmente acessíveis, com o objetivo de atingir conclusões que vinculem no presente todos os cidadãos, mas que possibilitam uma discussão futura.” (GUTMANN, 2007:23) É importante ressaltar que o laço que une a deliberação à democracia – atado em grande medida por HABERMAS ‐ não é puramente procedimental, mas se liga à capacidade inclusiva do processo, o que se afere em resposta à pergunta de quem tem o direito (e a efetiva 16 oportunidade) de deliberar ou de escolher os deliberadores, e a quem os mesmos devem suas justificativas. O objetivo geral da democracia deliberativa é fornecer a concepção mais justificável para lidar com a discordância moral na política, fundada na escassez de recursos, na generosidade limitada, em valores morais discordantes, e no entendimento incompleto. Busca‐se promover a legitimidade das decisões coletivas, tendo em vista a escassez de recursos, considerando que mesmo em relação às decisões de que muitos discordam, a maioria age diferentemente em relação àquelas que foram tomadas após uma consideração cuidadosa das relevantes solicitações morais conflitantes, comparando‐se àquelas que foram adotadas meramente em razão da força relativa dos interesses políticos em conflito. Ademais, tendo em vista a generosidade limitada, procura‐se encorajar as perspectivas públicas sobre assuntos públicos, incentivando os participantes a terem um panorama mais amplo sobre as questões de interesse comum, ainda que as condições de fundo sobre as quais a deliberação aconteça não sejam favoráveis. Promovem‐se, ainda, por meio da deliberação, processos mutuamente respeitáveis de tomada de decisão, pois ainda que não se possa transformar valores incompatíveis em compatíveis, pode‐se ajudar os participantes a reconhecer o mérito moral presente nas exigências de seus oponentes, quando estas possuírem mérito. A deliberação objetiva, por fim, ajudar a corrigir os erros que inevitavelmente cidadãos e agentes públicos cometem na tomada de decisões coletivas, tendo em vista o entendimento incompleto, pois um fórum deliberativo bem constituído oferece uma oportunidade de avançar tanto no entendimento individual como no coletivo; no calor da discussão, os participantes podem aprender uns com os outros, reconhecer seus mal‐entendidos individuais e coletivos, e desenvolver novos pontos de vista e políticas que possam resistir a um escrutínio mais rigoroso. Conclusão A democracia – e todos os enigmas que envolvem o tema – segue despertando o interesse dos dedicados à Ciência Política de um modo geral e – parece – esse debate não está perto de se definir. Aliás, parece mesmo, que sequer haja possibilidade de consenso, mas que tampouco haja possibilidade de uma corrente teórica suprimir a outra por completo, pelo simples fato de que observam o objeto de perspectivas distintas. Esse texto buscou apontar justamente as bases filosóficas a engendrar as principais correntes da teoria democrática contemporânea, pelo menos no que diz respeito à teoria da decisão racional que as subjaz. Talvez mais, tenhamos mesmo rascunhado o processo de “societalização” dos conceitos de moral e de democracia, focalizando no modo como Habermas recupera uma dimensão moral no diagnóstico da modernidade dos clássicos das ciências sociais. 17 Vimos que o utilitarismo, principal corrente da filosofia moral quando da primeira onda de democratização, apresenta uma teoria da decisão racional que se coaduna com a racionalidade instrumental de Weber, a informar todo um leque de autores, dentre os quais, aqueles que vão se dedicar ao estudo da democracia, pensando‐a como um meio adequado de agregação de preferências individuais. As questões sobre a instabilidade da democracia se resolvem à custa da diminuição da participação popular ao voto eletivo periódico e aquelas referentes à sua consistência são tratadas como menos importantes e pensadas a partir de ajustes metodológicos passíveis de serem realizados, ou seja, acredita‐se que haja melhores e piores métodos de agregação de preferências. Observamos, ainda, a grande contribuição de John Rawls, que com sua Teoria da Justiça, critica vivamente o utilitarismo e retoma a pauta ética, importando o imperativo categórico kantiano – o qual procedimentaliza – e fundando uma ética deontológica, na qual a decisão racional se constroi coletivamente, por meio do discurso. Habermas será o responsável, a partir daí, por apresentar uma nova teoria da decisão racional, apostando em uma racionalidade comunicativa, com o que iria revolucionar as Ciências Sociais de um modo geral. A democracia, agora, ganha novos contornos, e há uma inversão de tendência, que leva os cientistas políticos a pensar não mais no modo como agregar preferências individuais, mas no modo como essas preferências se constroem. O desafio está lançado: repensar a legitimidade da democracia, seus atores, reais interessados, afetados, enfim, sob a ótica de uma democracia deliberativa, na busca de uma superação – Ou seria melhor dizer substancial contribuição? – dos problemas da democracia contemporânea. O resgate de uma dimensão moral da democracia, expressa nas regras práticas para organização do processo democrático, fornece uma crítica à teoria da escolha racional – associada à vertente elitista da teoria democrática – que compromete a dimensão normativa da política em troca de uma maior capacidade de validação científica. A necessidade de se caracterizar o homo politicus como aquele que se move pelo reconhecimento do outro enquanto indivíduo com o qual eu tenho algo em comum ‐ em oposição a um homo economicus – aponta para a necessidade de avaliar em que medida a institucionalização desse princípio nas estruturas do Estado foi realizada. Bibliografia AVRITZER, Leonardo. A moralidade da democracia. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1996. AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática e deliberação pública. In: Lua Nova ‐ Revista de Cultura e Política, São Paulo, nº 49, 2000, pp. 25‐46. DAHL, Robert A. La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós, 1992. 18 DOWNS, Anthony. An economic theory of democracy. New York: Harper & Row Publishers, 1957. GUTMANN; Amy; THOMPSON, Dennis. O que significa democracia deliberativa. Tradutor: Bruno Oliveira Maciel; revisor técnico: Pedro Buck. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 17‐78, jan./mar. 2007. HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 1987. HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. In: Lua Nova – Revista de Cultura e Política, Rio de Janeiro, nº 36, 1995, pp. 39‐53. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. KANT, Emmanuel. Doutrina do Direito. São Paulo: Ícone, 1993. MACPHERSON, C. B. A democracia liberal – origens e evolução. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. MILLS, C. Wrigth; GERTH H.H. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2002. PATEMAN, Carole. Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. PIMENTEL, Elson L. A. Dilema do Prisioneiro: da teoria dos jogos à ética. Belo Horizonte: Argumentum, 2007. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Ática, 2000. SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. São Paulo: Ática, 1994. SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, socialism, and democracy. London: George Allen & Unwin, 1952. SOUZA, Jessé. Patologias da modernidde: um diálogo entre Habermas e Weber. São Paulo: Annablume, 1997. 19