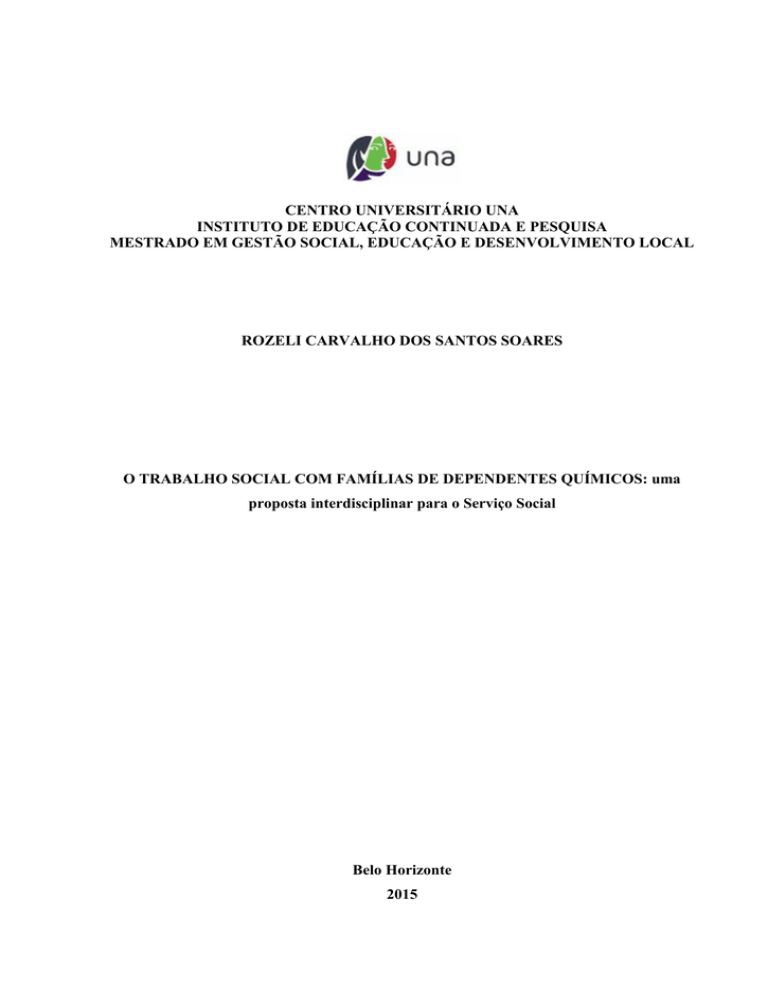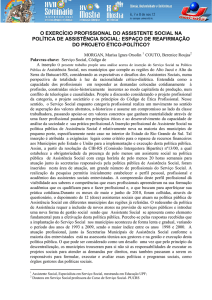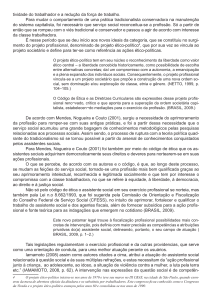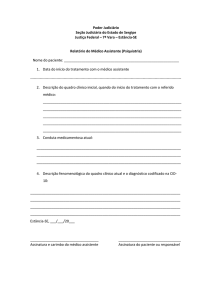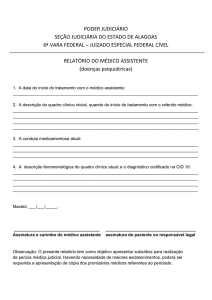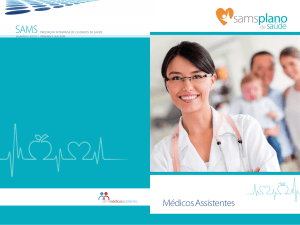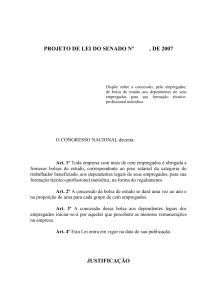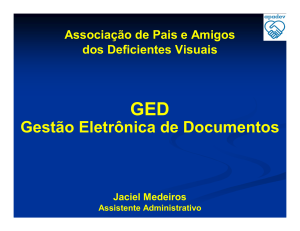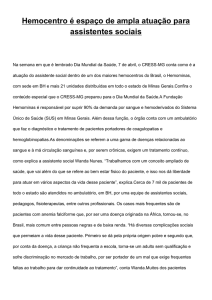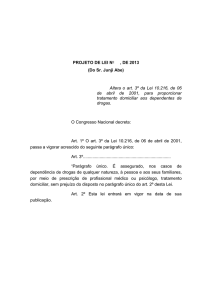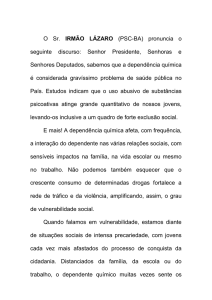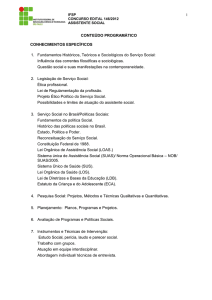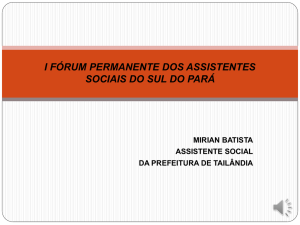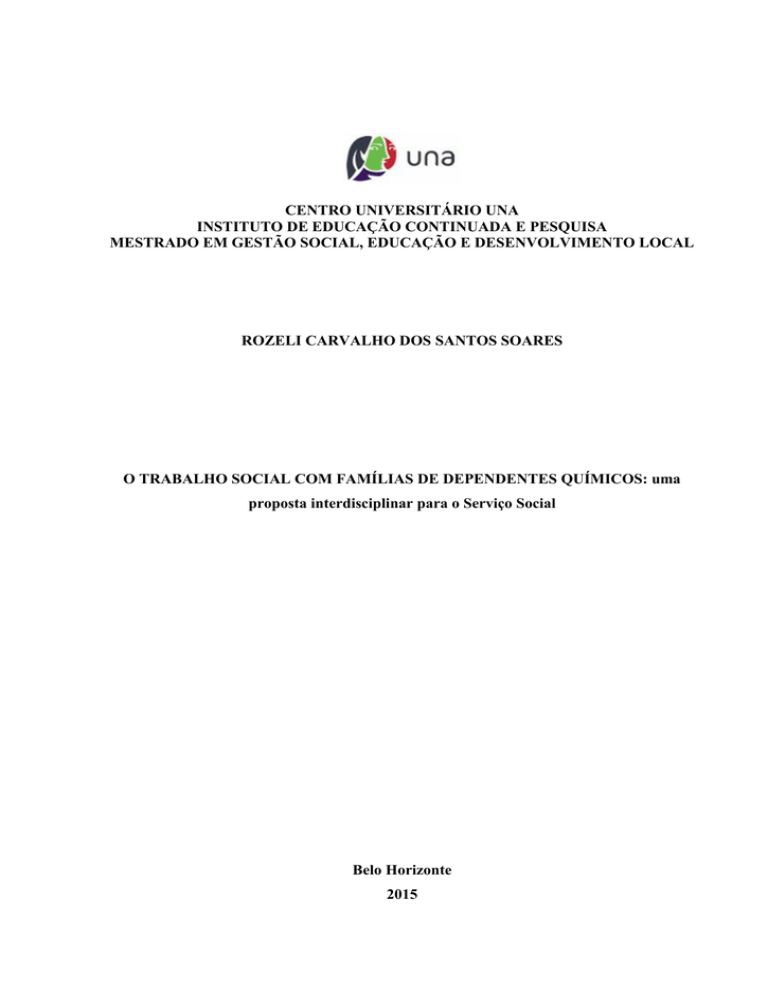
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E PESQUISA
MESTRADO EM GESTÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
ROZELI CARVALHO DOS SANTOS SOARES
O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma
proposta interdisciplinar para o Serviço Social
Belo Horizonte
2015
ROZELI CARVALHO DOS SANTOS SOARES
O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma
proposta interdisciplinar para o Serviço Social
Dissertação de mestrado apresentada à banca de exame de defesa
constituída pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro
Universitário UNA.
Linha de pesquisa:
Educação e desenvolvimento local
Área de concentração:
Desenvolvimento Local.
Inovações
Sociais,
Educação
Linha de pesquisa: Gestão Social e Desenvolvimento Local.
Orientadora: Profª Drª. Maria Lúcia Miranda Afonso
Belo Horizonte
2015
e
Dedico... Ao meu bom Deus por estar sempre ao meu lado e me mostrar que com Ele posso ir
onde nem eu mesma imaginava ser capaz..
AGRADECIMENTOS
A meu querido esposo Adson Soares pela compreensão, carinho e apoio de sempre. Por me
amar mesmo nas minhas ausências...
A minha filha Sophia, que mesmo sem saber, foi fundamental para eu seguir em frente.
A minha família pais, irmãos e sobrinhos por serem à base da minha formação pessoal.
Aos meus amigos de sala de aula pelo apoio na minha chegada com um bebê de 14 dias que
fez parte da nossa turma por um semestre inteiro. O medo e a ansiedade que senti se
transformaram na força que cada um de vocês me deu no dia que cheguei à sala de aula.
Obrigada pelos vastos sorrisos e angústias que vivemos juntos.
A minha professora e orientadora Lúcia Afonso, pela sabedoria, compreensão e
desprendimento de conhecimento nas partilhas e orientações. Nunca mais serei a mesma
depois da experiência de conviver pessoalmente com uma pessoa tão querida como minha
eterna professora.
A toda equipe da UNA de maneira especial a todos os docentes que com sua competência
profissional instigaram em mim o desejo ainda maior pela busca de conhecimento.
A todas as pessoas que colaboraram de forma direta e/ou indireta com a realização da
pesquisa: Comunidade Reviver, Faculdade UNOPAR Pampulha, assistentes sociais e famílias
que fizeram parte da pesquisa.
De forma muito especial também a minhas colegas de profissão que doaram uma parte do seu
tempo para discutirmos nossa prática profissional através de um grupo focal: Beth, Sônia,
Ândreza, Rita de Cássia, Jaqueline e é claro o apoio na execução do trabalho, da estagiária
Imaculada.
RESUMO
Esta dissertação apresenta uma pesquisa com assistentes sociais que trabalham com famílias
de dependentes químicos e uma cartilha voltada para esse público. A introdução sistematiza o
tema, a questão principal, a relevância e os objetivos da pesquisa, além de delinear o plano de
capítulos. No primeiro capítulo, é feita uma revisão bibliográfica e identificadas as bases
legais que orientam o trabalho social com famílias de dependentes químicos. A revisão tem,
como fio condutor, uma reflexão sobre contribuições da gestão social para o trabalho social
com famílias de dependentes químicos, questão pertinente à linha de pesquisa em que a
dissertação se insere. No segundo capítulo, é apresentada a pesquisa quanti-qualitativa que
teve o objetivo de analisar os sentidos e as práticas dos assistentes sociais no trabalho social
com famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para a gestão social do
trabalho profissional na intercessão da área da saúde e da dependência química. Foram
aplicados questionários e realizado um grupo focal com assistentes sociais que trabalham com
famílias de dependentes químicos. Foram também pesquisadas, por meio de questionários,
famílias atendidas nessas instituições. Os dados apontam que os profissionais sentem
necessidade de qualificação e de diretrizes para o trabalho com famílias, incluindo a atuação
interdisciplinar e intersetorial. Quanto às famílias, embora tenham dúvidas sobre o trabalho
dos assistentes sociais, demandam ser ouvidas e atendidas dentro da sua realidade. Mostrou-se
importante, na especificidade da área, trabalhar com a co dependência, fenômeno que
compromete as possibilidades de superação da dependência química e demais
vulnerabilidades vividas pelas famílias. O terceiro capítulo apresenta uma reflexão sobre o
trabalho do assistente social e suas bases éticas e introduz, como apêndice, o produto técnico
da dissertação: uma cartilha dirigida aos profissionais de serviço social que trabalham com
famílias na área da dependência química. A cartilha foi construída com a participação dos
sujeitos de pesquisa e busca avançar na elaboração de diretrizes para o trabalho profissional,
com valorização da abordagem interdisciplinar e intersetorial. Nas considerações finais da
dissertação, busca-se fazer uma breve reflexão sobre as suas contribuições na perspectiva de
gestão social e do desenvolvimento local, bem como sugerir possibilidades de novas
pesquisas na área.
Palavras-chave: Gestão Social. Família e Dependência Química. Serviço Social.
Interdisciplinaridade. Intersetorialidade.
ABSTRACT
This dissertation presents a survey of social workers who work with families of drug addicts
and a face primer to the public. The introduction systematizes the theme, the main question,
the relevance and the research objectives and outlines the chapters plan. The first chapter is
done a literature review and identified the legal foundations that guide social work with
families of drug addicts. The review has, like thread, a reflection on contributions of social
management for social work with families of drug addicts, the pertinent question line of
research in the dissertation is inserted. The second chapter presents the quantitative and
qualitative research that aimed to analyze the meanings and practices of social workers in
social work with families of drug addicts, in order to contribute to the social management of
professional work at the intersection of the area health and chemical dependency.
Questionnaires were administered and conducted a focus group with social workers who work
with families of drug addicts. Were also surveyed through questionnaires, families attended
these institutions. The data indicate that professionals feel the need for training and guidelines
for working with families, including interdisciplinary and intersectoral action. As for families,
although they have doubts about the work of social workers, demand to be heard and
answered within your reality. Proved to be important in the specific area, work with co
dependence, a phenomenon that affects the possibilities of overcoming drug addiction and
other vulnerabilities experienced by families. The third chapter presents a reflection on the
work of social workers and their ethical foundations and introduces, as an appendix, the
technical product of the dissertation: a primer directed to social service professionals who
work with families in the area of addiction. The booklet was built with the participation of
research subjects and seeks to advance the development of guidelines for employment, with
appreciation of the interdisciplinary and intersectoral approach. In the final considerations of
the thesis, we seek to make a brief reflection on their contributions in the context of social
management and local development, and suggest possibilities for further research in the area.
Keywords: Social Management. Family and Chemical Dependency. Social Service.
Interdisciplinarity.Intersectionality.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CAPSAD
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
CFESS
Conselho Federal de Serviço Social
CF
Constituição Federal
CRAS
Centro de Referência da Assistência Social
CREAD
Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas
CREAS
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
GT
Grupo de Trabalho
LOAS
Lei Orgânica de Assistência Social
OMS
Organização Mundial de Saúde
PNAS
Política Nacional de Assistência Social
SENAD
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
SISNAD
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
SUAS
Sistema Único de Assistência Social
SUS
Sistema Único de Saúde
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 11
1.
CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO SOCIAL PARA O TRABALHO SOCIAL COM
FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: afinidades, reflexões e novas questões. . 14
1.1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 15
1.2 A AFINIDADE DA PROPOSTA DA GESTÃO SOCIAL E DO SERVIÇO SOCIAL
CRÍTICO: POTENCIALIDADES PARA O TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 15
1.2.1 A necessidade da articulação interdisciplinar e intersetorial na gestão social e
no trabalho social com famílias ..................................................................................... 20
1.3 O CONTEXTO LEGAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ORGANIZAM O
TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS ................. 27
1.3.1 Constituição Federal de 1988: o que rege sobre a família? ............................... 28
1.3.2 Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei 8.080 19/09/1990 e a promoção da saúde
da família ......................................................................................................................... 30
1.3.4 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS): o que dizem sobre a família ................................................................. 33
1.3.5 A Lei 11.343/06, também chamada de Lei Antidrogas: será que ampara a
família, na mesma perspectiva do usuário de drogas? ................................................ 35
1.4 O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS: CARACTERÍSTICAS E AFINIDADES COM A
GESTÃO SOCIAL ........................................................................................................................ 38
1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 43
2.
PRÁTICAS E SENTIDOS DO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE
DEPENDENTES QUÍMICOS: a perspectiva do assistente social ............................................ 50
2.1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 51
2.2 METODOLOGIA ............................................................................................................. 52
2.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS...................................................................................... 54
2.3.1 Profissionais de Serviço Social ............................................................................. 54
2.3.1.1 Da questão social à capacitação continuada .................................................. 54
2.3.1.2 Da necessidade do trabalho interdisciplinar e intersetorial à realidade ....... 58
2.3.1.3 Das políticas públicas: como são percebidas na atuação do assistente social?
...................................................................................................................................... 61
2.3.1.4 Da família co dependente: doença/saúde X doença/doença .......................... 62
2.3.1.5 Da culpa à responsabilidade. Ou é o contrário? ............................................ 67
2.3.2 Das famílias atendidas por assistentes sociais ..................................................... 69
2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 74
3.
TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma
cartilha para uso no campo de atuação do assistente social. ........................................................ 79
3.1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 80
3.2 A QUESTÃO SOCIAL E O PROCESSO DE TRABALHO DO ASSISTENTE
SOCIAL ................................................................................................................................... 80
3.3 O TRABALHO SOCIAL COM AS VULNERABILIDADES E POTENCIALIDADES
DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA ................................ 84
3.4 O FENÔMENO DA CO DEPENDÊNCIA EM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA ................................................................................................. 88
3.5 TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: A
PERSPECTIVA DO SERVIÇO SOCIAL .......................................................................................... 92
3.6 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO TÉCNICO .......................................... 98
3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 99
4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................ 105
REFERÊNCIAS ........................................................................................................................................... 109
SERRA, Rose M. S. Crise de materialidade no serviço social: repercussões o mercado
profissional. 2 ed. São Paulo, Cortez, 2000. 200p. .......................................................................... 116
5.
Apêndice A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ASSISTENTES SOCIAIS. ... 117
6.
Apêndice B – GRUPO FOCAL PARA ASSISTENTES SOCIAIS................................ 119
7.
Apêndice C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA FAMÍLIAS DE DEPENDENTES
QUÍMICOS. .................................................................................................................................................. 120
8.
Apêndice D – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA GESTORES OU
COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES. .................................................................................... 122
9.
Apêndice E – UMA CARTILHA PARA USO NO CAMPO DE ATUAÇÃO DO
ASSISTENTE SOCIAL. ........................................................................................................................... 124
10. ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA COLETA DE DADOS125
11. ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS........................................ 126
12. ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA
RESOLUÇÃO 196/96 ................................................................................................................................ 127
13. ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA
RESOLUÇÃO 466/2012 ........................................................................................................................... 128
14. ANEXO V - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)129
15. ANEXO VI - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
131
16. ANEXO VII – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP ......................................... 133
INTRODUÇÃO
Em todos os momentos históricos emergem e se fortalecem profundas mudanças nas relações
sociais nos âmbitos, econômico, cultural, político, familiar, dentre outros, daí surge a
necessidade de debates para compreensão e análise dos fenômenos, no contexto social. Um
dos fenômenos inseridos em nosso contexto social está relacionado às drogas, sendo este um
problema em nível nacional e internacional, que a cada dia repercute com maior intensidade
através dos meios de comunicação. Essa repercussão atinge não só o indivíduo, mas também
seus familiares e todo o seu contexto social (SANTOS; SILVA, 2007).
Não pretendemos aqui discorrer sobre conceito e consequências do uso de drogas, o que nos
compete no momento é trazer a realidade da família do dependente químico, por percebermos
a importância do trabalho social com as estas famílias, porque fazem parte do sistema no qual
o dependente químico está inserido e deve também ser foco do trabalho do assistente social e
da equipe interdisciplinar, dentro das políticas públicas.
O interesse para o tema em questão se deu logo após o término da graduação em Serviço
Social, em 2007, quando começamos a desenvolver o trabalho de atendimento a famílias de
dependentes químicos, especialmente as que passam por conflitos familiares, e nos deparamos
com uma situação de desamparo e despreparo para a execução do trabalho – por parte da
profissional. Percebemos que o conteúdo aprendido na graduação não era suficiente para
trazer subsídios para uma construção metodológica de trabalho com esse público e aos poucos
fomos criando e adaptando algumas ferramentas de trabalho.
Por desenvolver há mais de sete anos, atendimento a famílias de dependentes químicos, temos
sido solicitadas por outros profissionais da área para prestar consultoria, sobre como conduzir
este trabalho, uma vez que na maioria das vezes nem os próprios contratantes (gestores e
coordenadores de Instituições) sabem quais são as atribuições do profissional de serviço
social, na prestação desse serviço. Percebemos que há um desconhecimento sobre
instrumentais e ferramentas metodológicas de trabalho por parte dos assistentes sociais, que
possam ser utilizados no atendimento a famílias de dependentes químicos, bem como uma
insegurança por parte de alguns profissionais para atuar, em um campo de trabalho
aparentemente novo para o serviço social. Há muitas dúvidas sobre a contribuição do
profissional de serviço social para o enfrentamento do problema, que não é só a respeito do
usuário, mas também da família que adoece tanto quanto ou até mais do que o dependente
químico.
Hoje a dinamicidade das relações familiares pede muito além de um profissional que faz o
atendimento, mas exige que saiba decifrar a realidade e construir propostas de trabalho
criativas, com vistas a preservar e efetivar direitos, a partir das demandas emergentes do
cotidiano (IAMAMOTO, 2003).
Assim, o trabalho social com famílias de dependentes químicos deve fortalecer o
“desenvolvimento de processos familiares que, juntamente com a garantia de satisfação de
necessidades básicas, permitem às famílias fortalecer sua capacidade de resposta e reduzir sua
vulnerabilidade” (BRONZO, 2009, p. 183). A intervenção deve ser orientada para criar a
confiança necessária para que as capacidades latentes das famílias e de seus membros possam
emergir.
Para desenvolver essa concepção, realizamos uma pesquisa no Programa de Pós Graduação
em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, no Centro Universitário UNA,
pesquisa da qual resultou a presente dissertação. Na pesquisa trabalhamos com as seguintes
questões e hipóteses:
1. A qualificação dos assistentes sociais é um fator de melhoria no trabalho social com
famílias de dependentes químicos;
2. A construção da gestão social do trabalho social com famílias de dependentes
químicos necessita da qualificação do trabalho dos profissionais de serviço social;
3. O trabalho dos assistentes sociais com famílias de dependentes químicos é mais eficaz
quando articulado de forma interdisciplinar e intersetorial.
A questão central da pesquisa foi analisar quais são os sentidos e as práticas dos assistentes
sociais no trabalho social com famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para
a gestão social do trabalho profissional na intercessão da área da saúde e dependência
química.
Assim o objetivo geral deste estudo foi analisar os sentidos e as práticas dos assistentes
sociais no trabalho social com famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para
a gestão social do trabalho profissional na intercessão da área da saúde e da dependência
química.
E como objetivos específicos foram definidos1:
1. Levantar os conteúdos que têm sido produzidos na literatura especializada sobre o
trabalho social com famílias de dependentes químicos;
2. Sistematizar e analisar as diretrizes e estratégias metodológicas utilizadas no
atendimento a famílias de dependentes químicos por assistentes sociais;
3. Analisar as implicações de uma visão interdisciplinar e intersetorial para o trabalho do
assistente social que atendem famílias de dependentes químicos;
4. Sistematizar diretrizes que sirvam para orientar o trabalho de assistentes sociais no
atendimento a famílias de dependentes químicos, de maneira consistente com uma
proposta de gestão social e de desenvolvimento local.
Como o nosso é um mestrado profissional, é necessário também desenvolver um produto
técnico a partir da dissertação. Esse produto técnico é colocado como um objetivo de
intervenção que, em nosso caso, foi: sistematizar diretrizes que sirvam para orientar o trabalho
de assistentes sociais no atendimento a famílias de dependentes químicos, de maneira
consistente com uma proposta de gestão social e de desenvolvimento local.
A metodologia de trabalho desenvolvida em nosso produto técnico partiu da visão de gestão
social e de desenvolvimento local. Nesta perspectiva, buscamos obter informações que
possam configurar-se em práticas de trabalho inovadoras no atendimento a famílias de
dependentes químicos, fruto de experiências dos profissionais que atuam na área. Assim, são
diretrizes deste trabalho a participação, a autonomia e a emancipação dos sujeitos sociais,
tanto de assistentes sociais que trabalham com essas famílias quanto das próprias famílias de
dependentes químicos.
1
Houve alguns ajustes na definição dos objetivos específicos do projeto de pesquisa para a dissertação, devido
às condições encontradas em campo.
Ressaltamos ainda a importância de se pensar e formular estratégias para melhorar a
qualidade do trabalho do assistente social de forma interdisciplinar, e pensar em uma melhor
qualidade de vida das famílias atendidas.
Para a presente dissertação o estudo foi dividido em três capítulos, ressaltando sempre que o
estudo bibliográfico esteve sempre presente na produção da dissertação, até mesmo na fase da
pesquisa de campo.
O capítulo I traz uma revisão teórica com apontamentos sobre a gestão social e o serviço
social crítico, com ênfase na necessidade de articulação interdisciplinar e intersetorial nessa
gestão social e no trabalho social com famílias de dependentes químicos; apresenta também o
contexto legal e as políticas públicas que organizam esse trabalho com famílias de
dependentes químicos, e por fim antes das considerações finais apresenta algumas
experiências de trabalho a partir das quais podemos verificar ou não a gestão social
acontecendo de fato na intervenção profissional do assistente social ou da equipe
interdisciplinar.
O capítulo II apresenta a pesquisa de campo que foi realizada por meio de questionários e
grupo focal, tendo como público alvo assistente social que trabalha no atendimento a famílias
de dependentes químicos, pois pretendíamos conhecer as práticas e os sentidos que esses
profissionais conferem ao seu trabalho. Também participaram algumas famílias que foram
indicadas por assistentes sociais que fizeram parte do grupo focal. O objetivo da entrevista
com as famílias foi conhecer o que elas entendem sobre o serviço que os assistentes sociais
prestam e em que estas famílias acreditam que os assistentes sociais podem contribuir com
seu processo de transformação pessoal e social.
O capítulo III apresenta reflexões sobre o trabalho social com famílias de dependentes
químicos numa interface com o aprimoramento intelectual do profissional de serviço social,
levando suas ações para além das vulnerabilidades das famílias, mas encorajar nas suas
potencialidades. Apresenta ainda o fenômeno da co dependência nas relações familiares e por
fim reflete sobre o trabalho social com famílias de dependentes químicos na perspectiva do
serviço social.
Ressaltamos que este conteúdo, juntamente com todo referencial teórico dos capítulos
subsidiaram para elaboração do produto técnico, que apresenta um material que visa a
sistematizar diretrizes que sirvam para orientar o trabalho de assistentes sociais no
atendimento a famílias de dependentes químicos.
Como produto técnico dessa dissertação, foi criada uma cartilha que desde o seu planejamento
teve uma proposta de caráter participativo, contando com a participação dos assistentes
sociais que também foram sujeitos da pesquisa. A cartilha é de orientação teórica
metodológica para assistentes sociais que trabalham no atendimento às famílias de dependes
químicos.
Nas considerações finais são retomadas as motivações para a realização desta pesquisa, bem
como seu percurso metodológico e principais resultados obtidos com os sentidos e percepções dos
profissionais de serviço social com a execução do seu trabalho, assim como de famílias com
problemas de dependência química que são assistidas por profissionais de serviço social.
1. CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO SOCIAL PARA O TRABALHO
SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS:
afinidades, reflexões e novas questões.
Rozeli Carvalho S. SOARES2
Maria Lúcia M. AFONSO3
RESUMO
Este artigo desenvolve uma reflexão sobre possíveis contribuições da proposta da gestão
social para o trabalho do assistente social no atendimento a famílias de dependentes químicos.
Inicia-se pela discussão da afinidade entre a proposta da gestão social e do trabalho social
crítico, seus princípios e proposições, com ênfase na articulação interdisciplinar e
intersetorial. Em seguida, faz-se uma reflexão sobre o lugar atribuído à família nas normativas
e políticas públicas que regem o trabalho social no Brasil, acompanhada de uma pequena
revisão bibliográfica sobre trabalhos sociais com famílias. Finalmente, reflete-se sobre
contribuições da gestão social para o trabalho social com famílias de dependentes químicos,
enfatizando-se a promoção da cidadania e do desenvolvimento social, especialmente referido
ao desenvolvimento local.
Palavras-chave: Gestão social. Trabalho social com famílias. Dependência química.
Cidadania. Desenvolvimento local.
ABSTRACT
This article develops a reflection on possible contributions of social management proposal for
the work of the social worker in the care of drug addicts families. It begins by discussing the
affinity between the proposed social management and critical social work, its principles and
propositions, with an emphasis on interdisciplinary and intersectoral coordination. Then, it is
a reflection on the place given to the family in public regulations and policies governing the
social work in Brazil, with a little review on social work with families. Finally, is reflected on
contributions of social management for social work with drug addicts families, emphasizing
the promotion of citizenship and social development, especially referred to local development.
Keywords: Social management. Social work with families. Chemical dependency.
Citizenship. Local development.
2
Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do
Centro Universitário UNA.
3
Orientadora e Professora Doutora do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e
Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA.
14
1.1 INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo refletir sobre contribuições da proposta da gestão social para o
trabalho do assistente social no atendimento a famílias de dependentes químicos.
Inicialmente, busca-se compreender a afinidade entre a proposta da gestão social e do trabalho
social crítico, tanto em seus princípios quanto em suas proposições, com especial ênfase na
articulação interdisciplinar e intersetorial.
Nessa perspectiva, torna-se importante discutir, a seguir, o lugar atribuído à família nas
normativas e políticas públicas que tratam do trabalho social com famílias no Brasil,
estendendo este assunto para as famílias com problemas de dependência química. Com esse
item, procura-se compreender limites e potencialidades que o contexto oferece para a
articulação entre a gestão social e o trabalho social com famílias na questão da dependência
química.
Finalmente, o artigo tece considerações sobre possíveis contribuições da proposta da gestão
social para o trabalho social com famílias de dependentes químicos, enfatizando a promoção
da cidadania e do desenvolvimento social, especialmente considerando o desenvolvimento
local. Dessas reflexões, surgem novas questões e sugestões de pesquisas na área.
1.2 A AFINIDADE DA PROPOSTA DA GESTÃO SOCIAL E DO SERVIÇO SOCIAL
CRÍTICO: potencialidades para o trabalho do profissional de serviço social
Como discutir a afinidade da proposta da Gestão Social, um paradigma teórico-metodológico
que serve às diversas áreas do conhecimento, e a proposta do Serviço Social Crítico, que
surge com o Movimento de Reconceituação4 na área do serviço social, no século XX? Neste
4
O movimento de reconceituação, tal como se expressou em sua tônica dominante na América Latina,
representou um marco decisivo no desencadeamento do processo de revisão crítica do Serviço Social no
continente. O exame da primeira aproximação do Serviço Social latino americano à tradição marxista se impõe
como um contraponto necessário à análise do debate brasileiro contemporâneo. O propósito é tão-somente situar
aquele movimento na sua gênese, tendo em vista analisar posteriormente o tipo de relação com ele estabelecida
pela produção brasileira do Serviço Social nos anos 1980 (IAMAMOTO, 2003, p. 205).
15
artigo, compreende-se que ambas as propostas foram construídas a partir de projetos
societários democráticos, participativos e igualitários.
Assim, para discutir a gestão social, é importante iniciar com Maia (2005) que sinaliza:
Compreendemos que a gestão social é construção social e histórica, constitutiva da
tensão entre os projetos societários de desenvolvimento em disputa no contexto
atual. Assim, a gestão social é concebida e viabilizada na totalidade do movimento
contraditório dos projetos societários – por nós concebidos como desenvolvimento
do capital e desenvolvimento da cidadania (MAIA, 2005, p. 2) (grifos nossos).
Nessa citação, é preciso enfatizar a existência de conflitos intrínsecos à oposição entre
projetos societários orientados ou pelos interesses do capital ou pela promoção e defesa da
cidadania. É nessa direção que podemos discutir uma afinidade entre a gestão social e o
serviço social crítico. Entretanto, mais adiante, será necessário aprofundar essa discussão
considerando as especificidades do trabalho social com famílias e, mais especialmente ainda,
das famílias que têm pelo menos um de seus membros vivendo em situação de dependência
química.
Como concepção de projeto societário, a gestão social propõe o desenvolvimento da
participação e das decisões coletivas, promovendo e protegendo a liberdade de manifestação
de pensamento (TENÓRIO, 2008b). As tomadas de decisão devem ser baseadas no
entendimento, na argumentação, evitando formas utilitaristas de negociação. Estas condições
são interdependentes, pois, se a decisão é realmente coletiva, a coerção é estranha ao
processo, e o entendimento deve ser o caminho. Emerge aqui a dialogicidade como outra
característica da gestão social (CANÇADO; TENÓRIO; PEREREIRA, 2011).
Carvalho (1999) relaciona gestão social à gestão das ações públicas, viabilizadas a partir das
necessidades e demandas apontadas pela população, através de projetos, programas e políticas
públicas, que assegurem respostas efetivas à realidade das “maiorias”. Isto quer dizer que a
participação é importante no processo de tomada de decisão, uma vez que a gestão social deve
acontecer com a população e não apenas para ela.
De acordo com Cançado; Tenório; Pereira (2011), temos como característica da gestão social
o diálogo,
a tomada de decisão coletiva, a transparência e a emancipação do sujeito.
16
Queremos enfatizar que tais fundamentos teóricos, veem ao encontro do Código de Ética
Profissional do Assistente Social (1993) em alguns de seus princípios fundamentais:
Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas
a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos
sociais;
Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do
autoritarismo;
Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes
trabalhadoras;
Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da
participação política e da riqueza socialmente produzida;
Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas
sociais, bem como sua gestão democrática;
Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à
discussão das diferenças;
Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o
constante aprimoramento intelectual;
Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma
nova ordem societária, sem dominação exploração de classe, etnia e gênero;
Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores;
Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;
Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade,
opção sexual, idade e condição física.
Assim pensando com Cançado; Tenório; Pereira (2011, p.17), temos que o próprio processo
de gestão social, por meio da sua potencialidade de emancipação, tende a aumentar as
possibilidades dessas propostas se realizarem. Em outras palavras, a gestão social enquanto
prática, norteada por essas características, ao ampliar as possibilidades de emancipação, tende
a reforçá-las.
Também Mendonça; Gonçalves-Dias e Junqueira (2012) compreendem o conceito de gestão
social como um processo dialógico, inclusivo e mobilizador. E acrescentam ainda que a
gestão deve ser pensada “como um processo que se dá à medida que os atores sociais diversos
se mobilizam, a partir de diferentes conexões para defenderem ou executarem ideias e formas
de gestão dialógica, participativa e transformadora” (MENDONÇA; GONÇALVES-DIAS;
JUNQUEIRA, 2012, p. 1398).
17
Das interações sociais entre indivíduos e grupos sociais podem surgir novas formas de
mobilização social e política bem como de organização da vida cotidiana (produção, usufruto,
gestão e decisão), dando expansão à criatividade. É dentro deste contexto que o trabalho do
assistente social, no atendimento a famílias de dependentes químicos se insere, uma vez que
não há possibilidade da realização de um trabalho social sem buscar a consonância do público
atendido com a ação profissional, uma vez que o sujeito e não apenas as forças externas a ele
têm participação ativa nas transformações de sua vida em sociedade.
É importante que o sujeito, neste caso, a família, seja ativo dentro do processo de participação
e que essa troca possa fornecer instrumentos para melhorar nossas ações, apoiados nas
contribuições de todos os participantes. Assim, segundo Mendonça; Gonçalves-Dias e
Junqueira (2012) que participar vai além de estar presente. Participar significa tomar parte no
processo, emitir opinião, concordar/discordar, enfim, ser um agente ativo. Isto nos leva a
refletir que sem participação, não há gestão social, não há diálogo, não há entendimento. E
que a gestão social dentro do processo de trabalho do assistente social com famílias de
dependentes químicos, vem desconstruir o pré-conceito de que os profissionais são detentores
do saber e que os sujeitos beneficiários são apenas os receptores da ação.
Compreendemos que o Serviço Social constitui-se em mediação importante para a
afirmação da práxis da gestão social, especialmente pelo conjunto de compromissos
e referenciais ético-político, teórico-metodológicos e técnico-operativos, que
objetivam a afirmação dos valores da cidadania, democracia e justiça social, tanto
quanto a gestão social. Além disso, os profissionais dessa área acumulam
competências e habilidades importantes no sentido de desvelar e atuar junto à
realidade social e à população, que se constitui na centralidade do processo da
gestão social (MAIA, 2005, p.16).
Uma intervenção comprometida de forma ética com o atendimento às famílias de dependentes
químicos pode fortalecer as suas habilidades e aumentar sua qualidade de vida. Além disso, o
trabalho do assistente social, precisa ser articulado a outras áreas de conhecimento, para
imprimir maior efetividade às ações profissionais e apoio à emancipação do sujeito social –
ou seja – às famílias de dependentes químicos.
Segundo Faleiros (2013) a responsabilidade ética pressupõe um olhar, não apenas sobre as
normas e os protocolos existentes, mas também sobre a garantia da existência dos sujeitos, da
sua sobrevivência nas relações humanas contextualizadas. O autor ainda aponta a questão do
18
cuidado5, não como prática assistencialista e/ou do favor, e muito menos para cumprir uma
obrigação legal, mas como uma obrigação de respeito aos valores, às condições e à
diversidade das pessoas, em nosso caso, das famílias de dependentes químicos, “para a busca
da autonomia e das possibilidades da vida dos seres humanos singulares e da coletividade, na
preocupação de encontrar „o melhor caminho‟ para a construção da atenção ao outro, e não
apenas o encaminhamento formal ou burocrático” (FALEIROS, 2013, p. 6).
Iamamoto (2003) e Braun; Kernkamp (2010) enfatizam que o assistente social deve conhecer
a realidade na qual está inserido, conhecer para intervir, e ainda deve conhecer a realidade
local sem perder de vista a realidade global. E ainda diz da necessidade de um “profissional
qualificado, que reforce e amplie a sua competência crítica; não só executivo, mas que pensa,
analisa, pesquisa e decifra a realidade” (IAMAMOTO, 2003, p.49).
Entretanto, é preciso lembrar que o assistente social é um profissional atuante no interior de
políticas públicas. Portanto, a sua atuação não tem por referência as suas idiossincrasias
pessoais e sim projetos societários que se expressam por meio dessas políticas. O seu trabalho
é organizado, com limites e potencialidades, dentro dessas políticas e também pelos
ordenamentos legais que as embasam. É também organizado de maneira articulada na rede de
serviços, envolvendo o trabalho de outros profissionais.
Deve-se observar que o contexto sociocultural no qual se desenvolve o trabalho social com
famílias é também de fundamental importância. Entretanto, faltam pesquisas que nos ajudem
a delimitar, compreender e analisar este contexto. Podemos apenas supor que a demanda por
esses serviços, hoje, atravessa toda a sociedade e atinge todas as classes sociais e realidades
culturais.
Assim, uma vez compreendida a afinidade entre a proposta da gestão social e do serviço
social crítico, faz-se necessário também abordar a interdisciplinaridade e a intersetorialidade,
como estratégias relevantes tanto para a gestão social quanto para o trabalho social e, no caso
desta dissertação, para o trabalho social com famílias de dependentes químicos.
5
Na perspectiva do Serviço Social crítico, o cuidar não se reduz apenas a um estilo de relação pessoal. Constróise, como um valor que se agrega ao trabalho profissional e faz parte de uma relação de inclusão, escuta e
reconhecimento do outro e de sua alteridade como forma de acolhimento e qualidade da atenção (FALEIROS,
2013, p. 6).
19
1.2.1 A necessidade da articulação interdisciplinar e intersetorial na gestão social e no
trabalho social com famílias
Segundo Sikorski e Bogado (2009) a interdisciplinaridade veio para negar a soberania da
racionalidade científica positivista, objetivando novos paradigmas da pluralidade dos saberes,
possibilitando a troca de experiências na sua execução na prática. Reafirma-se assim, "a
necessidade de um trabalho em equipe na execução da prática rompendo com o processo
tradicional, desarticulado do processo de conhecimento vivenciando no saber uma
transformação em diferentes áreas" (SIKORSKI; BOGADO, 2009, p. 166).
As áreas de conhecimento não se esgotam em si mesmas, mas se complementam e por isso no
caso da pesquisa em questão, pensar no atendimento social às famílias de dependentes
químicos, requer muito mais do que uma formação acadêmica: requer olhos abertos para
decifrar a realidade, não apenas com os “olhos” e conhecimentos teóricos metodológicos do
assistente social. Como disse Santos (2008) não há uma “verdade última e absoluta”,
principalmente quando estamos falando de famílias que apresentam suas singularidades, em
arranjos que desenvolvem historicamente, demarcando diferentes estruturações, funções,
relações, valores e papéis.
Há necessidade de ruptura com a visão do profissional como detentor de todo conhecimento,
até mesmo dentro de sua própria área, uma vez que precisamos de um entendimento
contextualizado e multifacetado das problemáticas presentes na vida social. Ainda que o
profissional de serviço social disponha de uma relativa autonomia na efetivação de seu
trabalho, este depende da combinação do trabalho coletivo e articulado em equipe.
O serviço social está ligado a outras áreas, e isto é importantíssimo para seu desenvolvimento,
pois o isolamento seria prejudicial para a abrangência de sua prática social. E no que tange ao
atendimento a famílias de dependentes químicos, se considerarmos que elas vêm sofrendo
modificações ao longo dos anos, fica difícil pensar em uma única disciplina ou área de
conhecimento que dê conta de responder a todas as manifestações da questão social6 trazidas
por este público específico.
6
“Aprendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma
raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a
20
Segundo Jayme (2008) o uso indiscriminado do termo – interdisciplinaridade, no ensino, na
pesquisa, no exercício profissional, nos meios de comunicação, em congressos e seminários,
aponta para seus múltiplos significados. Sendo assim, serão apresentadas algumas dessas
definições, para que possamos entender a sua importância no trabalho social com famílias de
dependentes químicos, visto que este não pode ser um trabalho realizado pelo profissional de
serviço social de maneira isolada. Desta forma, cabe ressaltar que o trabalho interdisciplinar
consiste num esforço de busca da visão global da realidade, como superação das impressões
estáticas e do hábito de pensar fragmentador e simplificador da realidade (LUCK, 1994, apud
AZAMBUJA, 2013).
De acordo com Fazenda (1999), a indefinição sobre interdisciplinaridade origina-se ainda dos
equívocos sobre o conceito de disciplina. A polêmica sobre disciplina e interdisciplinaridade
possibilita uma abordagem pragmática em que a ação passa a ser o ponto de convergência
entre o fazer e o pensar interdisciplinar. É preciso estabelecer uma relação de interação entre
as disciplinas, que seriam a marca fundamental das relações interdisciplinares. “O
parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender o que está tecido junto”
(MORIN, 2000, p. 45).
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade.
Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que
intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de
conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos
resultados, ou seja, concorre para a articulação e interação dos saberes para a produção de um
novo conhecimento.
Saviani (2003) ressalta que através da interdisciplinaridade o conhecimento passa de algo
setorizado para um conhecimento integrado onde as disciplinas científicas interagem entre si.
De acordo com Morin (2000), as disciplinas como estão estruturadas só servirão para isolar os
objetos do seu meio e isolar partes de um todo. A educação deve romper com essas
fragmentações para mostrar as correlações entre os saberes, a complexidade da vida e dos
apropriação dos seus frutos mantêm-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade” (IAMAMOTO,
2003, p. 27).
21
problemas que hoje existem. Caso contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os
cidadãos do futuro.
A inadequação de como as disciplinas são trabalhadas, como saberes compartimentados não
está de acordo com a realidade (que é global) e as relações entre o todo e as partes, impedindo
a contextualização dos saberes. Essa maneira de isolar os conhecimentos, de compartimentálos, fomenta a incapacidade de considerar o saber contextualizado e globalizado. Enfatiza
(MORIN, 2000, p. 43): “que a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista,
disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os
problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional”.
Desenvolver estas ideias à luz do trabalho social com famílias de dependentes químicos faz-se
necessário uma vez que "o serviço social não é uma super profissão que consegue dar
respostas a todas as situações que emergem da vida social; por isso a relação com outras
profissões, outros conhecimentos, cada vez mais tem sido presente nos diferentes campos em
que a profissão está inserida" (BRAUN, KERNKAMP, 2010, 117). Como afirma Rodrigues
(1998):
[...] a interdisciplinaridade, favorecendo o alargamento e a flexibilização no âmbito
do conhecimento, pode significar uma instigante disposição para os horizontes do
saber. [...] Penso a interdisciplinaridade, inicialmente, como postura profissional que
permite se pôr a transitar o espaço da diferença com sentido de busca, de
desenvolvimento da pluralidade de ângulos que um determinado objeto investigado
é capaz de proporcionar, que uma determinada realidade é capaz de gerar, que
diferentes formas de abordar o real podem trazer (RODRIGUES, 1998, p. 156).
Rodrigues (1998) aponta que o Serviço Social está ligado a outras áreas e isto é importante
para seu desenvolvimento, pois o isolamento seria prejudicial à abrangência de sua prática
social, além de possibilitar o rompimento com os vícios e preconceitos existentes na profissão
e também uma forma de pensar e ver a metodologia de trabalho de forma inovadora.
Entender famílias na atualidade, com suas diversas facetas não é uma tarefa fácil e quando
pensamos esta família inserida no contexto das drogas, percebemos que neste contexto a
interdisciplinaridade é condição necessária para estabelecer uma comunicação válida dentro
do contexto da própria família.
22
Não basta apenas para o trabalho social com famílias de dependentes químicos a atuação entre
os diversos saberes, é necessário ainda uma articulação que vai além do profissional, mas que
abarca os setores disponíveis na sociedade, sejam eles públicos ou privados. Sendo assim fazse necessário compreendermos também o conceito de intersetorialidade, como um
instrumento estratégico de otimização de saberes, competências e relações sinérgicas, em prol
de um objetivo comum e prática social compartilhada que requer pesquisa, planejamento e
avaliação para realização de ações conjuntas.
Acreditando que pensar o processo de aprendizagem pressupõe uma tomada de posição no
sentido de construir ações colaborativas e cooperativas, podemos dizer que o trabalho em rede
social, ou seja, intersetorial permite que os sujeitos envolvidos criem um processo de
comunicação descentralizado, ou seja, participativo, no qual se dá à escuta de diferentes
vozes, diferentes setores e diferentes áreas de saber.
Falar de intersetorialidade é falar de redes sociais, como complementaridade, integração.
Inojosa (2001) retrata bem isso quando fala que a “vida está tecida em conjunto”, isto quer
dizer que não dá para pensar o sujeito de forma isolada, pois as pessoas têm suas necessidades
em conjunto. Por mais que a satisfação possa ser pessoal, a qualidade de vida dos indivíduos
depende de uma integração social.
Por meio da oferta de serviços de qualidade e de suficientes recursos sociais, que
devem ter como princípios a universalidade e a integralidade, essa rede de serviços
tem a responsabilidade de assegurar condições protetivas às famílias, na perspectiva
da efetivação de direitos e de fomentação de processos emancipatórios, com vistas a
promover a justiça social (GUEIROS, 2010, p. 129).
Estamos falando do princípio da intersetorialidade, isto é, de estratégias que perpassem vários
setores sociais, tanto do campo do atendimento a família, como no atendimento em geral,
quanto das políticas públicas e da sociedade como um todo. “Em outras palavras, os serviços
de atenção psicossocial devem sair da sede dos serviços e buscar na sociedade vínculos que
complementem e ampliem os recursos existentes” (SCHEFFER; SILVA, 2014, p. 373).
O princípio da intersetorialidade e trabalho em rede social fundamenta-se na organização das
políticas públicas por setores ou segmentos que impõem a adoção da ótica intersetorial e do
trabalho em rede para a compreensão e atuação sobre os problemas.
23
A ação intersetorial se efetiva nas ações coletivas. Porém, a construção da intersetorialidade
se dá como um processo, já que envolve a articulação de distintos setores sociais
possibilitando a descoberta de caminhos para a ação. Como um meio de intervenção na
realidade social, impõe a articulação de instituições e pessoas para integrar e articular saberes
e experiências, estabelecendo um conjunto de relações, construindo uma rede (JUNQUEIRA,
apud, COMERLATTO et al., 2007).
De acordo com Comerlatto et al. (2007) a intersetorialidade deve representar um espaço de
compartilhamento de saber e de poder, de estruturação de novas linguagens, de novas práticas
e de novos conceitos.
Salienta Inojosa (2001, p.105) que a intersetorialidade é a “articulação de saberes e
experiências com vistas ao planejamento, para a realização e a avaliação de políticas,
programas e projetos, com objetivo de alcançar resultados sinergéticos em situações
complexas”. A autora explica dizendo que se trata, portanto de buscar alcançar resultados
integrados visando um efeito sinergético, que “muito mais do que juntar setores, é criar uma
nova dinâmica para o aparato governamental, com base territorial e populacional” (INOJOSA,
2001, p. 105).
A intersetorialidade pressupõe a articulação entre sujeitos de setores sociais diversos
para enfrentar problemas complexos e constitui-se numa nova forma de trabalhar, de
governar e de construir políticas públicas, que possibilite a superação da
fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais a fim de produzir efeitos
mais significativos na resolutividade desses problemas (COMERLATTO et al.,
2007, p.268).
Assim, a intersetorialidade é um instrumento estratégico de otimização de saberes,
competências e relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum e prática social
compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e avaliação para realização de ações
conjuntas. “Sua construção, que se manifesta em inúmeras iniciativas, é parte de um processo
transformador no modo de planejar, realizar e avaliar as ações intersetoriais”
(COMERLATTO et al., 2007, p.270). Completando este pensamento, citamos Veiga; Ávila
(2008):
Contudo, esse processo de troca, na perspectiva do aprendizado colaborativo, não
resulta apenas do mero agrupamento de pessoas em vista a uma atividade conjunta.
É fundamental que haja um objetivo comum a ser alcançado, e que esse objetivo
24
venha ao encontro da satisfação de uma necessidade concreta tanto do sujeito como
do coletivo (VEIGA; ÁVILA, 2008, p. 160).
Junqueira (1999) ressalta que a gestão intersetorial surge como uma nova possibilidade para
resolver os problemas que incidem sobre a população como melhorar a sua qualidade de vida,
e com isso busca-se otimizar os recursos escassos procurando soluções integradas, pois a
complexidade da realidade social exige um olhar que não se esgota no âmbito de uma única
política social. Argumenta ainda que a intersetorialidade associa a ideia de integração, de
território, de equidade e de direitos sociais.
A intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar uma nova maneira
de planejar, executar e controlar a prestação de serviços para garantir acesso igual
aos desiguais. Isso significa alterar toda a forma de articulação dos diversos
segmentos da organização governamental e dos seus interesses (JUNQUEIRA,
1999, p. 27).
De acordo com Garajau (2013) articular saberes requer uma readequação não somente dos
serviços prestados, mas da caracterização e envolvimento dos sujeitos envolvidos no
processo. E ainda enfatiza que “implementar estratégias de ação intersetorial requer um amplo
esforço pessoal e das diversas áreas para atuar de forma integrada, no intuito de consolidar um
novo modo de direcionar ações para a resolução das expressões da questão social”
(GARAJAU, 2013, p.5).
Garajau (2013) destaca ainda que a estratégia intersetorial, com a efetivação de trabalhos
simultâneos para obtenção de resultados integrados, remete-nos ao trabalho em rede, com a
interconexão dos atores envolvidos:
Pertinente é destacar que, neste contexto, as redes não consistem em pontos de
contato somente, mas em conexões possíveis a partir das demandas apresentadas,
considerando sua interdependência e complementaridade. Esta análise aponta para
uma visão integrada dos problemas sociais e a necessidade de articulação para suas
soluções. A este respeito, considera-se que não basta encaminhar, orientar,
direcionar para a rede de serviços, é necessário conhecê-la para desenvolver um
planejamento possível de ações entre os diversos setores. Esta abordagem nos leva a
perceber o trabalho em rede como fundamental para a efetivação da
intersetorialidade (GARAJAU, 2013, p.5).
Segundo Bourguignon (2001) redes intersetoriais são aquelas que articulam o conjunto das
organizações governamentais, não governamentais e informais, comunidades, profissionais,
serviços, programas sociais, setor privado, bem como as redes setoriais, priorizando o
25
atendimento integral às necessidades dos segmentos socialmente vulnerabilizados. Isso nos
leva a entender que a intersetorialidade está relacionada à prática, ou seja, ao enfrentamento
de problemas reais, que atingem a sociedade e assim concordando com Garajau (2013),
salientamos que o trabalho em rede deve seguir na tentativa de superar a fragmentação dos
saberes e das políticas e para atender os cidadãos de forma integrada em suas necessidades.
As redes são uma alternativa de articular os atores envolvidos na busca de um objetivo
comum.
Os conceitos e ideias discorridas sobre interdisciplinaridade e intersetorialidade, estão longe
de se esgotar. Pelo contrário, o que se pretendeu foi apenas mostrar que o trabalho social com
famílias de dependentes químicos, requer muito mais do que um saber compartilhado, ou
apenas uma ação de uma Instituição isolada. Requer conhecimento da causa e respeito ao
saber do outro, pois como já citado, o Serviço Social não detém todo conhecimento do ser
social, por isso necessita do trabalho em equipe e compartilhado.
Dessa forma, o trabalho social com famílias deve ser pensado também no contexto da
intersetorialidade, sendo entendido a priori como instrumento estratégico de otimização de
saberes, competências e relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum e de uma prática
social compartilhada que requer pesquisa, planejamento e avaliação para realização de ações
conjuntas.
A ação de cunho social, seja ela, individual, grupal, comunitária ou institucional, interfere nas
condições de vida da população. Por isso a intervenção social, dever ser fruto de uma gestão
social, que incorpore uma prática intersetorial, rompendo também com a fragmentação dos
saberes. Como afirmou Garajau (2013), o Serviço Social como categoria profissional tem um
compromisso com o projeto societário transformador, que inclui discussão das políticas
públicas.
Acreditando que pensar o processo de aprendizagem pressupõe uma tomada de posição no
sentido de construir ações colaborativas e cooperativas, podemos dizer que o trabalho em
rede, ou seja, intersetorial permite que os sujeitos envolvidos criem um processo de
comunicação descentralizado, ou seja, participativo, no qual se dá á escuta de diferentes
vozes, diferentes setores e diferentes áreas de saber. Nesta perspectiva, a intersetorialidade
26
deve ser identificada como transcendência do escopo setorial, articulando os saberes e
experiências, inclusive no ciclo vital da política, em resposta aos assuntos de interesse dos
cidadãos.
A construção da intersetorialidade se dá como um processo, já que envolve a articulação de distintos
setores sociais possibilitando a descoberta de caminhos para a ação (COMERLATTO et al., 2007).
Como meio de intervenção na realidade social, impõe a articulação de instituições, pública e
privada para integrar e articular saberes e experiências, estabelecendo um conjunto de
relações, com o mesmo objetivo.
Dentro do contexto de articulação setorial enfatizamos as políticas públicas que são ações de
nível governamental, mas que atuam diretamente com e sobre a sociedade, sendo importante,
pois sua existência e efetivação para garantia dos direitos sociais. Abordaremos, a seguir, os
ordenamentos legais e as políticas públicas mais relacionadas ao trabalho social com famílias,
e a especificidade das famílias de dependentes químicos, perpassando a Constituição Federal
de 1988 (CF-88), as áreas da saúde, da assistência social e da política sobre drogas, uma vez
que o atendimento a essas famílias se dá nas conjunções e contradições entre essas áreas.
1.3 O CONTEXTO LEGAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ORGANIZAM O
TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS
É importante pensarmos no trabalho social com famílias dentro do contexto das políticas
públicas. Assim apresentaremos uma literatura da importância do trabalho com famílias nas
políticas públicas de saúde, assistência social e combate às drogas, buscando principalmente
identificar a relevância atribuída (ou não) às famílias de dependentes químicos. Enfatizamos
que, muitas vezes, essas famílias podem se sentir “desprotegidas” e “desassistidas” por um
Estado, que produz ao mesmo tempo “proteção” e “segregação”.
Bobbio (1995) define as políticas públicas como um conjunto de disposições, medidas e
procedimentos que traduzem a orientação política do estado e regulam as atividades
governamentais relacionadas às tarefas de interesse público, atuando e influindo sobre as
realidades econômica, social e ambiental. As políticas públicas são construídas pelas
27
demandas sociais e políticas, não se traduzindo, pois em uma ação dilatada por uma lógica
estritamente racional sobre como intervir na sociedade.
As demandas sociais aparecem nas várias manifestações da questão social, impactando as
famílias, e sendo por elas retraduzidas, como parte fundamental que são desta questão social.
Para Bucci (2002, p.241), as políticas públicas são programas de ação governamental visando
coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Assim, faz-se importante
discutir como as famílias têm sido contempladas tanto na legislação quanto nas políticas
públicas, em especial as famílias de dependentes químicos. Isto porque, se estamos
interessados na visão da gestão social e do serviço social crítico, na visão da defesa dos
direitos e do desenvolvimento social, é importante conhecer o que é garantido – ou não - no
texto da lei, ainda que não tenha uma implementação precária na sociedade.
1.3.1 Constituição Federal de 1988: o que rege sobre a família?
Para efeitos do presente trabalho, chama-se atenção, em especial, para a alteração significativa
que a Constituição Federal (1988) institui no que se refere à família. Em seu artigo 226,
enuncia que "[...] a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado" (BRASIL,
1988).
Com este artigo, lança bases para a existência de programas assistenciais para promoção das
famílias, e principalmente às famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social.
Podemos acrescentar aqui que famílias em situação de dependência química estão incluídas
tanto no quesito risco em função do problema das drogas, quanto em relação à vulnerabilidade
social, que atualmente não é vista apenas como uma questão econômica ligada à pobreza, mas
também nas diversas modalidades de desvantagem social.
No artigo 6º, a Constituição Federal de 1988 elenca que "[...] são direitos sociais a educação, a
saúde, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a
infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição" (BRASIL, 1988).
28
Assim, a família em situação de risco ou vulnerabilidade social, não pode ser
culpabilizada por tal condição ou privada de se inserir em programas sociais, tendo
em vista as políticas públicas como direito do cidadão, afirmam Boza et al. (2010,
p.144).
As mudanças familiares têm, assim, sentidos diversos para os diversos segmentos sociais, e
seu impacto incide de formas distintas sobre estes, porque o acesso a recursos é desigual
numa sociedade de classes.
A partir da Constituição Federal de 1988, surgiu à necessidade de ampliação desses direitos
sociais do cidadão brasileiro pelas políticas públicas e legislações específicas citando-se, aqui,
especialmente, Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a Lei Antidrogas.
As ações básicas destinadas às famílias na agenda da política social priorizam e envolvem
programas destinados às características de cunho assistencial. Após a Constituição Federal
(1988), o que se busca é superar o assistencialismo, observando as recomendações de Boza et
al. (2010, p.158) da seguinte forma:
Pronto atendimento assistencial: acolhimento e escuta; veiculação de informação e
oferta de apoios temporários;
Serviços comunitários de apoio psicossocial: programas de atenção a gestante;
serviços especializados de apoio psicossocial a familiares em situação de
vulnerabilidade ou exclusão como desemprego, drogadição, maus tratos; programas
de socialização, atividade de lazer, habilidade para vida familiar, comunitária e social;
acesso à cultura, valorização da cultura popular, buscando a identidade social, acesso à
arte e desenvolvimento de aptidões (grifo nosso).
Complementação da renda familiar como meio e não como um fim: cesta básica,
restaurante popular, renda mínima, programas federais e municipais, distribuição de
benefícios, na forma de salário social, como reconhecimento e cidadania.
Programa de geração de emprego e renda: serviços terceirizados públicos ou privados
como manutenção das vias públicas, serviços gerais, manutenção de equipamentos,
assentamento rurais.
Programa saúde da família.
29
A Constituição Federal (1988) foi à porta de entrada e de abertura para o surgimento de outras
leis e políticas de proteção social, baseadas em uma nova concepção de direitos e cidadania,
incluindo o atendimento às famílias. A Constituição Federal de 1988 introduziu novas bases
para o trabalho social com famílias e trouxe novos desafios para a prática profissional do
assistente social, que deve atuar de maneira ética em consonância com a lei, buscando
respaldo para o trabalho social com famílias de dependentes químicos. A partir da Carta
Magna, outras leis foram então promulgadas para aprofundar ou complementar direitos.
1.3.2 Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei 8.080 19/09/1990 e a promoção da saúde da
família
A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceituou que: "saúde é um estado completo de
bem-estar físico, mental e social, não consistindo apenas da ausência de doenças e
enfermidade" (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1948, apud, TURRISSI, 2011).
Turrissi (2011) ressalta que as políticas de saúde não atingem somente o setor público de
saúde. As leis interferem também sobre os serviços privados de saúde, como: os hospitais
particulares, clínicas e laboratórios particulares, os planos de assistência médica, que devem
respeitar normas e regulamentos promovidos pelo governo.
A Constituição Federal (1988) tem como um dos seus pilares o direito à saúde como direito
social universal. Este se realiza com a garantia do acesso universal aos serviços assistenciais
do sistema público em todos os níveis de atenção à saúde, independentemente de contribuição
previdenciária (GIOVANELLA; FLEURY, 1996). A Constituição de 1988, em seu artigo
196ª aponta que:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, 1988).
30
No art. 2º da lei 8.080 a saúde aparece como sendo um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover suas condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E no mesmo
artigo é enfatizado que:
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, 1990).
Isso nos leva a entender que as famílias de dependentes químicos na forma da lei, devem ter
asseguradas as condições para uma melhor qualidade e condição de vida e atendimentos às
suas necessidades de forma integral. Não é nosso objetivo, neste momento, colocar em
questão a efetivação (ou não) da lei. Cabe-nos apenas constatar que, no texto da lei, a família
é citada em diversos momentos e, ainda, aparece na Constituição Federal (1988) como a “base
da sociedade”, o que se pode questionar se acontece na prática.
É importante frisar que, dentro dos princípios e diretrizes da lei 8.080, em seu art. 7º as ações
e serviços públicos de saúde e os serviços contratados ou conveniados que integram o SUS,
são desenvolvidas de acordo com as diretrizes já previstas no art. 198 da Constituição Federal
(1988), como abaixo descrito – citado apenas alguns dentre os 13:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física
e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização pelo usuário;
VIII - participação da comunidade;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;
31
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de
meios para fins idênticos (BRASIL, 1988).
Dentro deste contexto é importante pensar na família do dependente químico de maneira
prioritária, vendo nesta não um problema apenas de caráter social, mas de saúde física e
emocional, pensa-la com suas particularidades e singularidades próprias de uma família
impactada pela dependência química de um de seus membros.
Percebemos que este não é um problema apenas do SUS. É também um desafio dos
profissionais que trabalham na promoção de saúde da família. Assim, este artigo busca
discorrer sobre alguns direitos das famílias, para pensarmos em estratégias metodologias para
melhorarmos nossa atuação profissional. Segundo Sodré (2014) a estratégia de saúde da
família como parte da proposta de atuação na atenção primária da saúde pública trouxe
desafios aos assistentes sociais envolvidos nas práticas de saúde:
Por outro lado, quando objetivamos a promoção da saúde, essa prática é avaliada
socialmente de forma positiva pelos profissionais da saúde. Os trabalhos de
promoção à saúde não se tornam objetos apenas de profissionais da área médica,
mas ao contrário, deverão favorecer o envolvimento e a participação de todas as
pessoas, as organizações da sociedade civil, as associações de bairros etc. Nessa
perspectiva, dar-se-á ênfase não apenas à saúde, mas toda uma rede de temas
diversos deverá ser abordada a fim de criar possibilidades de mudanças nos modos
de vida, comportamentos e no ambiente em que vivem e convivem as pessoas. Esse
enfoque deve abranger as instâncias municipal, regional e federal, além de incentivar
a intersetorialidade das ações (SODRÉ, 2014, p. 74).
É importante pensarmos a família de dependente químico em programas de promoção da
saúde, sendo que esta promoção segundo Czeresnia (2003) não é apenas questão de
existência, é questão de qualidade de existência.
Vale ressaltar que devemos pensar sobre a saúde não apenas como ausência de doenças, mas é
analisada a partir de vários outros aspectos da vida de uma pessoa ou de uns grupos antes de
considerá-los ou não saudáveis (Organização Mundial da Saúde, 1948; Sodré, 2014). Quando
analisamos as famílias de dependentes químicos, devemos considerar os diversos fatores
objetivos e subjetivos implicados na melhora da sua qualidade de vida. Sodré nos lembra que:
Por isso podemos afirmar que não há e não haverá um modo correto de produzir
ações de promoção à saúde. Ela não está contida em protocolos ou manuais do
sistema público de saúde com a maneira certa ou errada. A promoção da saúde
resguarda aspectos da educação em saúde, baseada na tecnologia do diálogo que
32
produz conhecimento em ato, no momento do encontro. Sendo assim, trata-se de
uma ação baseada no acesso ao serviço de saúde como aquele que irá “produzir
junto” conhecimentos, ações, vinculações e interpretações sobre o modo de produzir
saúde (SODRÉ, 2014, p. 74-75).
A Constituição Federal (1988) define, em seu art. 6º, que “são direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. O
que nos leva a pensar que a própria constituição abre portas para outras políticas, destacando
que não há uma única política pública que dê conta de abarcar todas as necessidades dos
sujeitos socais.
1.3.4 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS): o que dizem sobre a família
O art. 1º da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) expressa integralmente a proposta da
assistência social, quando diz que:
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 1993).
A nova visão da assistência social, que busca superar o assistencialismo, foi regulamentada
através da Lei nº 8.742/93, denominada LOAS, que estabelece a primazia das ações em cada
esfera de governo e a participação da sociedade civil na condição de política. A lei em seu
art. 2º tem como primeiro objetivo “a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice”. Assim, tanto indivíduos quanto as famílias devem ser respeitados e
assistidos em seus direitos de cidadania e qualidade de vida.
Em 2004 é aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Boza et al. (2010),
afirmam que a PNAS apresenta um novo formato de gestão e desenvolvimento das ações
socioassistenciais, que passam a ser concebidas como medidas de proteção social aos
indivíduos e às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. A política de assistência
33
social tem o caráter de proteção social articulada a outras políticas do campo social voltadas à
garantia de direitos e de condições dignas de vida.
A PNAS propõe-se a proteger os direitos socioassistenciais, a universalização dos acessos
para quem deles precisa. Reafirma, para tal, as responsabilidades do Estado. A assistência
social, concebida como um direito do cidadão e um dever do Estado, ganha o status de
política pública a partir da Constituição Federal (1988).
A PNAS resignifica a composição e o papel das famílias. Por reconhecer as fortes pressões
que os processos de exclusão sociocultural geram sobre as famílias brasileiras, acentuando
suas fragilidades e contradições, adota principio da centralidade da família no âmbito da
política de assistência social. A família é vista como espaço privilegiado e insubstituível de
proteção e socialização primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa
também ser cuidada e protegida. Essa percepção é condizente com a tradução da família na
condição de sujeito de direitos, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica de Assistência Social e o Estatuto do
Idoso (BRASIL, 2004).
A PNAS é pautada como política de proteção social, devendo garantir cinco seguranças
básicas, quais sejam: sobrevivência a riscos circunstanciais, acolhida (acesso à rede de
serviços conforme necessidades), a renda, a autonomia do indivíduo e da família e a
segurança de convívio ou vivência familiar e comunitária.
A família independente do seu arranjo ou organização é a mediadora de relações entre sujeitos
e sociedade. Suas relações ocorrem em um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de
convivência é marcada tanto por solidariedade quanto por conflitos e desigualdades. Nas
sociedades capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social (BRASIL, 2004).
Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na vida
social e, portanto, merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem sido cada vez
mais discutida, na medida em que a realidade tem dado sinais cada vez mais
evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias brasileiras. Nesse
contexto, a matricialidade sócio-familiar passa a ter papel de destaque no âmbito da
Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Esta ênfase está ancorada na
premissa de que a centralidade da família e a superação da focalização, no âmbito da
política de Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a família
prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro
lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da
34
política de Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, de seus
membros e dos indivíduos (BRASIL, 2004, p. 25-26).
Ressaltamos que é necessário que as políticas caminhem na mesma direção, a ação dever ser
intersetorial por que as necessidades das famílias são diversas “particularmente as públicas de
Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Emprego, Habitação, entre outras, para que as ações não
sejam fragmentadas e se mantenha o acesso e a qualidade dos serviços para todas as famílias e
indivíduos” (BRASIL, 2004, p. 26-27).
Neste cenário estão inseridas as famílias de dependentes químicos com formatos, contextos e
expressões diversas, e se percebe a importância do trabalho do assistente social, além de
outros profissionais. Torna-se crucial conhecer estas famílias em seu contexto sociocultural e
desenvolver ações que as respeitem, para que em consonância com as políticas públicas
possamos promover e defender seus direitos.
1.3.5 A Lei 11.343/06, também chamada de Lei Antidrogas: será que ampara a família,
na mesma perspectiva do usuário de drogas?
A Lei 11.343/06, ou nova Lei Antidrogas, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas (SISNAD) que prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Esta Lei revogou as
anteriores (Nº 6.368/76 e Nº 10.409/02) que tratavam da mesma matéria.
A Lei 11.343/06 está organizada como uma política de atenção ao usuário de drogas e ao
contexto que o cerca, incluindo é claro a sua família, sendo esta extremamente importante na
abordagem de questões relacionadas com uso/abuso e dependência de drogas.
Em seu art. 3º o SISNAD declara ter a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar
as atividades relacionadas com:
I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e
dependentes de drogas;
II - a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas (BRASIL,
2006).
35
Trataremos apenas das questões da Lei que estiverem relacionadas ao item I citado acima, que
é relacionado ao foco deste artigo, ou seja, ao trabalho social com famílias das pessoas que se
tornam dependentes químicas e como a lei ampara esses familiares.
A lei Antidrogas no art. 4º discorre sobre autonomia, liberdade, promoção dos valores éticos,
culturais,
responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, participação,
intersetorialidade, reinserção social, de abordagem multidisciplinar. Enfim, trata de princípios
e conceitos que adotamos neste artigo e reconhecemos como sendo importantes para o
trabalho social com famílias de dependentes químicos. No entanto, nos perguntamos em que
medida a Lei tem sido efetiva em nosso meio sociocultural? Até que ponto, realmente, ela
saiu do papel? E, mais importante ainda para a nossa reflexão, fica a pergunta: a família não é
mencionada neste artigo que aparentemente engloba o contexto do dependente químico. O
Estado irá cuidar somente do dependente e deixará sua família fora do processo?
Por exemplo, a partir do art. 18 a lei aborda Atividades de Prevenção para Uso Indevido de
Drogas. E este artigo dispõe sobre: “atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para
efeito desta Lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e
para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção”. Como falar de prevenção de
drogas, de proteção ou de vulnerabilidades, sem falar da família?
No art. 19 da Lei Antidrogas podemos observar os seguintes princípios e diretrizes:
IV - o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as
instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários
e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de
parcerias;
VIII - a articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de
prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes
de drogas e respectivos familiares (BRASIL, 2006).
Podemos perceber que de 13 princípios e diretrizes da Lei Antidrogas apenas dois apresentam
a família como parte importante do processo. Acreditamos que esta deveria ter aparecido há
36
mais tempo, por acreditarmos que a família é fundamental no acompanhamento dos seus
membros.
Do art. 20 ao 26 a Lei Antidrogas determina as atividades de Reinserção para o Usuário de
Drogas. Destes sete artigos, três trazem a família como fator importante no processo de
reinserção. Tratam da melhoria da qualidade de vida e da reintegração em rede de
atendimento. No art. 22, define-se que atividades de atenção e as de reinserção social do
usuário e do dependente de drogas e seus familiares devem observar os seguintes princípios e
diretrizes:
I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer
condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência
Social (grifos nossos);
II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e
do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas
peculiaridades socioculturais;
IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares,
sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais
(BRASIL, 2006).
Como já foi discutido, a PNAS acolhe na centralidade a família, respeitando o artigo IV da
LOAS, que define: a centralidade na família para a percepção e implementação dos
benefícios, serviços, programas
projetos. O que acreditamos que deveria ter prioridade
também na Lei Antidrogas.
Embora o texto da Lei Antidrogas, declare a sua coerência com os princípios e diretrizes do
SUAS e PNAS, parece-nos que ainda está distante da matricialidade sóciofamiliar, como
dispositivo que garante a - centralidade da família. Pode-se pensar que a família aparece
apenas como mero complemento das demais ações de políticas envolvidas na área do uso de
drogas e dependência química, e não como parte fundamental dentro deste contexto.
Apesar do distanciamento percebido no que diz respeito à importância da família no
tratamento de uso de drogas, observa-se que a Lei Antidrogas recomenda a todo o momento
uma articulação interdisciplinar e intersetorial. Avaliamos como positiva tal articulação, uma
vez que nossas ações não acontecem de forma isolada e, ainda que, diante da complexidade
do tema – trabalho social com famílias de dependentes químicos – é muito importante contar
37
com o embasamento da lei para nossas ações profissionais, e a partir delas, planejar nossas
ações teórico metodológicas, para uma maior compromisso com nossa práxis profissional.
No entanto, as políticas públicas não podem funcionar sozinhas. A articulação interdisciplinar
e intersetorial devem ocorrer no contexto das políticas públicas. É importante para o
profissional buscar os espaços possíveis de trabalho que são criados por essas articulações e a
partir do que as normativas colocam ou impedem. O apoio aos profissionais e a sua
capacitação para agir dentro das políticas públicas é fundamental. Mas também é fundamental
que os profissionais busquem o seu potencial criativo, propositivo e transformador, em uma
perspectiva crítica.
Na presente discussão, torna-se importante, a seguir, investigar como aparece, na literatura
existente, a relação entre gestão social e o trabalho social, e como tem sido tratado o trabalho
social com famílias de dependentes químicos.
1.4 O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS: características e afinidades com a
gestão social
Atualmente, mesmo após o movimento de reconceituação, cujo resultado foi o rompimento da
profissão com as práticas tradicional conservadoras e o comprometimento em defesa da classe
trabalhadora a profissão vê ainda em sua categoria a diversidade de formas de atuação. O que
não é de tudo ruim, desde que pautadas sempre em valores éticos que fundamentam a prática
do Serviço Social, com base no Projeto Ético Político profissional.
Mesmo assim o desenvolvimento dos processos de gestão social requisita conhecimentos
construídos a partir de uma visão de totalidade. Evidenciam-se no processo formação
profissional que muitos são os fatores que implicam na gestão das políticas sociais e seus
desdobramentos até o nível operacional, logo se requer muito mais que conhecimento teórico.
Requer uma gama de profissionais que atuem de forma interdisciplinar, intersetorial. Requer a
criação de diálogo entre as políticas públicas tendo em vista o interesse do sujeito beneficiário
38
como parte do processo na tomada de decisão sobre sua própria vida, e para que as
intervenções não venham de cima para baixo.
Assim, foram pesquisados, no SCIELO, alguns artigos que tratam do trabalho social com
famílias e se incorporam características do modelo de gestão social aqui discutido. Não se
pretende analisar os artigos em detalhes, mas a sua abordagem do trabalho social com
famílias, lembrando que:
Historicamente, a família sempre esteve inserida na área de atuação do Serviço
Social, porém, na maioria dos serviços, ela vem sendo contemplada de maneira
fragmentada, ou seja, cada integrante da unidade familiar é visto de forma
individualizada, descontextualizada e portador de um problema (JESUS; ROSA;
PRAZERES, 2004, p.61).
Em vista disso, Jesus; Rosa e Prazeres (2004) argumentam que um dos desafios da profissão é
a busca de metodologias para trabalhar a família como um grupo com necessidades próprias e
únicas. Pesquisas mostram que cada vez mais o profissional de serviço social tem se pautado
no compromisso de assumir seu trabalho por meio de práticas interdisciplinares, embasados
em um compromisso ético com respeito à vida do ser humano. Isso exige segundo Martinelli
(2011, p. 500) “um contínuo processo de construção de conhecimentos, pela via da pesquisa e
da intervenção profissional competente, vigorosa e crítica” [...], alicerçada nas Políticas
Públicas e no Projeto Ético Político do Serviço Social:
É desse trabalho crítico e competente sob o ponto de vista ético político que estamos
falando, pois trata-se de um trabalho que é ético porque se movimenta no campo dos
valores, porque parte do reconhecimento da condição humana dos sujeitos, e que é
político porque aspira sempre à sua emancipação, abrangendo a relação saúde,
doença, cuidados, a população atendida, seus familiares e a própria comunidade
(MARTINELLI, 2011, p. 501).
Segundo Carvalho (2001) é necessário termos consciência de que para a gestão social
acontecer não basta apenas as políticas, é necessário a parceria entre Estado, sociedade civil e
iniciativa privada, pautada num valor social que é o da solidariedade. E com certeza o
profissional de serviço social estará vinculado a um desses setores, uma vez que não é uma
profissão autônoma. Nossa autonomia possível vem da prática das nossas ações, das nossas
decisões no campo de atuação. A discussão sobre a ruptura com as práticas rotineiras, sem a
devida reflexão crítica, encontra-se imersa muitas vezes nas práticas burocráticas tendendo a
reeditar formas já ultrapassadas de intervenção profissional do Serviço Social, como apresenta
39
o documento produzido pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Não há como
pensar em família, sem trazer a tona suas relações familiares e o contexto sócio cultural em
que esta se insere.
Prosseguindo na revisão de literatura, foi feita uma busca no SCIELO por artigos que relatam
trabalhos sociais com famílias, com os resultados abaixo descritos. Nos artigos pesquisados,
buscou-se identificar a presença dos elementos da gestão social no trabalho do assistente
social: autonomia, participação, intersetorialidade, interdisciplinaridade e políticas públicas. O
quadro7 abaixo mostra essa análise de gestão social em artigos que relatam trabalho social
com famílias:
QUADRO I: Análise da gestão social em artigos pesquisados na literatura.
Autor
PINTO
(2011)
CARVALHO
(2011)
REGIS
(2011)
OLIVEIRA
(2013)
SODRÉ
(2014)
Categoria
Mulheres
Idosa
Gestão de
Pessoas
Educação
Saúde
Não foi
identificada
diretamente, pois
não fala da
interlocução com
outros atores se
não os
pesquisados,
assim como não
apresenta uma
proposta de
intervenção com
o resultado da
pesquisa.
Houve a
participação das
mulheres em seus
próprios lares
através da
história de vida.
A autonomia se
deu através do
público
pesquisado
querer ou não
falar sobre suas
vidas.
Apesar de ter tido
uma intervenção,
não apresentou
gestão social,
porque não ouve
diálogo e decisão
participativa entre
os sujeitos
envolvidos, as
ações vieram de
cima para baixo.
A gestão é
percebida de
forma clara
através da
comunicação
entre os
diversos atores,
diálogo, trocas,
objetivos
comuns,
fortalecimento
do
protagonismo,
etc.
Vistas como
prioridade na
intervenção.
Houve gestão
social em todo o
processo: diálogo,
planejamento,
discussão,
acordos,
consenso, objetivo
comum,
transformação
pessoal e social,
etc.
Não houve
gestão social na
condução das
ações.
Acontecem de
cima para baixo.
Participação
democrática,
autonomia e
fortalecimento
dos sujeitos
(estudantes,
professores,
profissionais de
saúde e
comunidade).
Não houve
autonomia e
participação da
comunidade.
Profissionais
apresentaram o
que acreditam
ser o melhor
para o usuário
da saúde.
Gestão
Social
Participação/
Autonomia
Não houve
autonomia e nem
participação da
idosa. Foram
tomadas decisões
sem seu
consentimento.
Fonte: Sistematização a partir das referências de Pinto (2011); Carvalho (2011); Regis (2011); Oliveira (2011) e
Sodré (2014). Quadro: Gestão em processo de construção.
Continua
7
A inspiração para a construção do quadro veio através do quadro feito no artigo de Maia (2005). Referencia
completa ao final deste artigo.
40
Continuação
Interdiciplinaridade
A execução do
trabalho contou
com os seguintes
profissionais: 3
assistentes
sociais, 2
enfermeiras, 1
socióloga e 3
psicólogas.
Não fala
diretamente de
uma ação
intersetorial.
Intersetorialidade
Políticas
Públicas
Como a
metodologia
utilizada foi à
história de
vida.Percebeuse que as
entrevisitas
focaram mais na
subjetividade das
mulheres, pouco
se falou em
relação a ações
estatais. Nada se
falou sobre
políticas
públicas.
Diretamente o
estudo de caso
não cita outros
atores se não a
assistente social,
no entanto, para a
ação podemos
entender que
tiveram outros
envolvidos, mas
mesmo assim não
seria considerado
um trabalho
interdisciplinar.
Não teve uma
ação intersetorial
para a
intervenção, uma
vez que apenas
mudaram o tipo
de permanência
da idosa (antes
passava o dia e
depois passou a
ser moradora de
um Centro Dia).
Não é citado nada
em relação às
políticas públicas.
Contou com:
Terapeuta
ocupacional,
medico, técnico
em segurança do
trabalho,
biólogo,
nutricionista,
enfermeiro,
assistentes
sociais e
técnicos
administrativos
Não foi
identificado de
forma explicita a
ligação com
outros setores
que não fosse da
saúde.
Política Pública
de Saúde.
Contou com: 4
assistentes
sociais, 1
pedagoga, 1
estudante de
serviço social e
profissionais da
área da saúde.
Sim, entre
Ministério da
Saúde e
Ministério da
Educação.
Política Pública
de Saúde e de
Educação.
Apesar de
relatar o
trabalho em
centro de saúde,
optou-se por
focar apenas no
trabalho dos
assistentes
sociais.
Não apareceu
um trabalho
com demais
setores.
Política Pública
de Saúde.
Fonte: Sistematização a partir das referências de Pinto (2011); Carvalho (2011); Regis (2011); Oliveira (2011) e
Sodré (2014). Quadro: Gestão em processo de construção.
Pode-se perceber que a gestão social ainda aparece de forma tímida nas intervenções por parte
do assistente social. Quando falamos de serviço social crítico, estamos falando de ruptura com
o tradicionalismo e de uma nova roupagem para a práxis profissional, onde devemos ir muito
além do que nos é apresentado, onde devemos descortinar a realidade para saber o que há “por
trás” do que se apresenta. Tal ação requer um claro direcionamento político de transformação
social mediante um contexto reflexivo e crítico da realidade. Frisamos que não há como atuar
de forma isolada, engessando as questões sociais como se fossem responsabilidades apenas do
serviço social. É preciso estender a abordagem interdisciplinar ao trabalho com os diversos
41
setores da sociedade e principalmente respaldar nossas ações tanto no nosso código de ética,
quando embasados nas Políticas Públicas.
O entrecruzamento das palavras “família” e “dependência química” mostrou apenas dois
resultados (um em psicologia e um em psiquiatria) que não foram considerados diretamente
relevantes para o presente estudo. Já a combinação das palavras “trabalho social” e
“assistência social” e “família” resultou em quatro títulos, mas nenhum menciona a área da
dependência química. Cite-se, entretanto, o artigo de Gueiros (2010) que trata, de maneira
ampla, do tema do trabalho social com famílias no âmbito do Serviço Social, reconhecendo a
complexidade da profissão e a necessidade de se trabalhar em uma perspectiva de respeito à
diversidade cultural e de escutar as demandas das famílias, como já foi argumentado no
presente trabalho.
O tema “Trabalho do assistente social” indicou três artigos, mas nenhum sobre o trabalho com
famílias ou na área da dependência química. É importante citar, aqui, o artigo de Fernandes
(2012) que trata da necessidade de educação permanente do assistente social, junto aos
demais profissionais da rede de serviços, e de sua formação em serviço, em consonância com
o que foi discutido no presente trabalho.
Finalmente, uma pesquisa com temática de maior abrangência, usando as palavras “família” e
“drogas” teve como resultado 51 títulos, a grande maioria na área da Enfermagem e da
Psicologia e nenhum publicado em periódico do Serviço Social. Destes 51, foram, aqui,
estudados cinco que mais contribuíam para o presente trabalho, e que são sumarizados a
seguir.
Para Medeiros et al (2013), existe, entre os familiares de dependentes químicos, a percepção
de que o uso de drogas é nocivo às relações familiares, trazendo conflitos relacionais,
sobrecarga emocional e financeira, e o agravamento de diversas situações de vulnerabilidade
da família. Estudos como o de Medeiros et al (2013) e Sena et al (2011) sugerem que além da
sobrecarga emocional e financeira, o abuso de drogas, agrava a situação de saúde da família
em todas as dimensões e também têm impactos negativos em seus vínculos sociais. Por essa
razão, autores como Schenker e Minayo (2004) e Sena et al (2011) argumentam que há
42
necessidade de acompanhamento da família nas situações de dependência química de seus
membros.
Entretanto, os artigos pesquisados não aprofundam como deveria ser o trabalho do assistente
social junto a essas famílias, não oferecem parâmetros para o seu acompanhamento ou para a
avaliação das ações, evidenciando a necessidade de pesquisas e produções teóricas na área.
1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve por objetivo refletir sobre contribuições da proposta da gestão social para o
trabalho do assistente social no atendimento a famílias de dependentes químicos.
É importante pensar sempre na gestão social apesar de ser ainda um processo de construção
histórica, como uma gestão que já propõe o desenvolvimento da participação e das decisões
coletivas, promovendo e protegendo a liberdade de manifestação de pensamento. Isso quer
dizer que o trabalho que prima pela gestão o deve fazer com a participação das pessoas
envolvidas no processo, deve obedecer ao princípio do diálogo e da comunicação.
Quando falamos em intervenção, falamos de intervir em algo, que é o que o profissional de
serviço social faz em sua práxis de trabalho, no entanto para intervir é preciso conhecer a
realidade das pessoas, no caso do presente artigo, das famílias em situação de dependência
química. Conhecer e decifrar a realidade para intervir (Iamamoto, 2003) é também não apenas
entrar na realidade, nas casas, nas vidas dessas famílias, é permitir que elas falem sobre suas
próprias vidas, permitir que sejam narradoras e autoras da sua própria história.
No entanto percebemos que para compreender a afinidade entre a proposta da gestão social e
do serviço social crítico, faz-se necessário também entender e atuar de forma interdisciplinar e
a intersetorial, como estratégias relevantes tanto para a gestão social quanto para o trabalho
social com famílias de dependentes químicos.
Não dá para pensar em uma ação isolada, porque as famílias são complexas, sendo necessário,
pois o diálogo entre as diferentes profissões tendo como objetivo final a promoção da pessoa
43
humana, no nosso caso, das famílias de dependentes químicos. Mas percebemos que não basta
o diálogo entre os profissionais, se os setores sociais não se comunicarem não andarem na
mesma direção, é necessário que haja diálogo entre os setores sejam eles públicos ou
privados. E chamamos a atenção aqui para o diálogo entre as políticas públicas que são ações
de nível governamental, mas que atua diretamente com e sobre a sociedade, sendo importante,
pois sua existência e efetivação para garantia dos direitos sociais.
No caso do atendimento a famílias de dependentes químicos, ainda sentimos falta do diálogo
entre as políticas públicas, mas chegamos à conclusão também que quem estabelece o diálogo
são os profissionais que estão na ponta da ação, a política existe para que alguém a execute e
que mesmo se sua formulação não contou com um caráter de gestão social, cabe aos
profissionais na execução chamar os atores sociais para o diálogo. Ao mesmo tempo esta falta
de diálogo dá ao proporcional uma brecha para ser usada a favor do próprio serviço, dando,
pois, ao profissional uma maior liberdade de ação e intervenção.
Na prática percebemos a dificuldade do trabalho social com famílias em consonância com a
gestão social, sendo este mais um desafio do profissional de serviço social, que tem em seu
Código de Ética Profissional (1993), uma postura profissional que deve defender “a liberdade
como valor ético central das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e
plena expansão dos indivíduos sociais [...]” (BRASIL, 1993). O caminho é o mesmo da
gestão social.
Acreditamos que ainda há muito que avançarmos, mas percebemos que saltamos de um
serviço social tradicionalista a um serviço social crítico que tem buscado cada vez mais
através do conhecimento científico por uma sociedade onde a prioridade da ação seja a
efetivação dos direitos. Mas não devemos perder de vista que há muito que caminhar quando
falamos de políticas públicas e de uma gestão social dentro da atuação do serviço social,
como vimos à literatura ainda é escassa nesse quesito.
Estamos avançando e podemos avançar mais ainda se colocarmos em prática nossa ação
profissional dialogando com os demais atores e setores, com uma gestão social que agregue
(profissionais, rede e usuários), no mesmo caminho e com o mesmo objetivo. Precisamos
44
ainda colocar no papel essas experiências de trabalho que tanto agregam valor e experiência
para os que desejam realizar um trabalho sério e com respeito ao outro.
REFERÊNCIAS
AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. A interdisciplinaridade na violência sexual. Serv. Soc.
Soc. [online]. 2013, n.115, pp. 487-507. ISSN 0101-6628. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n115/05.pdf. Acesso em: 6 out. 2014.
BOBBIO, N. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da política. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1995.
BOURGUIGNON, Jussara. Concepção de rede intersetorial. 2001. Disponível em:
<http://www.uepg.br/nupes/intersetor.htm>. Acesso em: 30 out. 2013.
BOZA, Amanda; FERREIRA, Claudia Maria; BARBOZA, Sérgio de Goes. Cultura, família
e sociedade. São Paulo: Pearson Pretice Hall, 2010. 186p.
BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da
profissão. - 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, 2012.
Disponível em: < http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf>. Acesso em: 20
set. 2012.
________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 01
nov.2013.
________. Lei nº 11.343, de 23 de agosto 2006. Nova Lei Antidrogas. Disponível em:
<http://www.amperj.org.br/store/legislacao/leis/l11343_antidrogas.pdf>. Acesso em: 01 nov.
2013.
________. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Diário Oficial
da União, Brasília, 20 set. 1990a. secção 1, p.18.055. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 01 nov. 2013.
________. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 1993. Lei Orgânica da Assistência Social. Dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.assistenciasocial.al.gov.br/legislacao/legislacao-federal/LOAS.pdf>. Acesso em:
01 nov. 2013.
________. Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília: MDS, 2004.
Disponível em: <http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/fasc/usu_doc/pnas.pdf.>.
Acesso em: 01 nov. 2013.
45
BRAUN, Edna; KERNKAMP, Clarice da Luz. A realidade regional e o serviço social:
serviço social VI / Edna Braun e Clarice da Luz Kerkamp. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2010.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo. Ed.
Saraiva. 2002. p.89-98.
CANÇADO A. C.; TENÓRIO, F. G.; PEREIRA, J. R. Gestão social: reflexões teóricas e
conceituais. In: Cad. EBAPE.BR, v. 9, n. 3, artigo 1, Rio de Janeiro, Set. 2011. Disponível
em: < http://www.scielo.br/pdf/cebape/v9n3/a02v9n3.pdf >. Acesso em: 25 out. 2013.
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Alguns apontamentos para o debate. In: RICO,
Elizabeth de Melo; RAICHELIS, Raquel (Org.). Gestão Social – uma questão em debate.
São Paulo: Educ/IEE/PUCSP, 1999.p. 19-29.
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (adaptado). “Introdução à Temática da Gestão
Social”. In: Ávila, Célia M. (coord.) 2001. Gestão de Projetos Sociais. 3ª Revista, São Paulo.
CARVALHO, Maria Irene Lopes B. de. Ética, Serviço Social e "responsabilidade social": o
caso das pessoas idosas. Rev. katálysis [online]. 2011, v.14, n.2, pp. 239-245. ISSN 14144980. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rk/v14n2/11.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2015.
CENTENARO, Grizy Augusta. A intervenção do serviço social ao paciente renal crônico e
sua família. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2010, v.15, suppl.1, pp. 1881-1885. ISSN 14138123. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s1/102.pdf>. Acesso em: 01 fev.
2015.
CFESS. “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais e Psicólogos na Política de
Assistência Social”. 2007. Disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha_CFESS_Final_Grafica.pdf. Acesso em: 12 dez.
2014.
COMERLATTO, Dunia; COLISELLI, Liane; KLEBA, Maria Elizabeth; MATIELLO,
Alexandre; RENK, Elisônia Carin. Gestão de políticas públicas e intersetorialidade: diálogo e
construções essenciais para os conselhos municipais. Rev. Katál. Florianópolis v. 10 n. 2 p.
265-271 jul./dez. 2007. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rk/v10n2/a15v10n2.pdf>.
Acesso em: 20 abr. 2013.
CZERESNIA, D. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. In: ______;
FREITAS, C. M. (Orgs.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2003.
FALEIROS, Vicente de Paula. Desafios de cuidar em Serviço Social: uma perspectiva
crítica. Rev. katálysis [online]. 2013, v.16, n.spe, p. 83-91. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/en_06.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2013.
FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 4 ed. Campinas:
Papirus, 1999. 54p.
46
FERNANDES, Rosa Maria Castilhos. Educação permanente nas situações de trabalho de
assistentes sociais. Trab. educ. saúde, Nov 2012, v.10, nº.3, p.481-505. ISSN 1981-7746.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/tes/v10n3/a08v10n3.pdf. Acesso em: 01 fev. 2015.
FERREIRA, Violeta Martins; SOUSA FILHO, Edson A. de. Maconha e contexto familiar:
um estudo psicossocial entre universitários do Rio de Janeiro. Psicol. Soc., Abr 2007,
v.19, n.1, p.52-60. ISSN 0102-7182. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n1/a08v19n1.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2015.
GARAJAU, Narjara. Reflexões sobre a intersetorialidade como estratégia de gestão social. II
Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. CRESS 6º Região. De 7 a 9 de junho 2013.
Disponível em: < http://www.cressmg.org.br/arquivos/simposio/REFLEX%C3%95ES%20SOBRE%20A%20INTERSETORIA
LIDADE%20COMO%20ESTRAT%C3%89GIA%20DE%20GEST%C3%83O%20SOCIAL.
pdf>. Acesso em: 25 out. 2013.
GIOVANELLA, L; FLEURY, S. Universidade de atenção à saúde: acesso como categoria de
análise. In: EIBENSCHUTZ, C. (Org.). Política de saúde: o público e o privado. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 1996. p. 177-198.
GUEIROS, Dalva Azevedo. Família e trabalho social: intervenções no âmbito do Serviço
Social. Rev. katálysis, Jun 2010, v.13, n.1, p.126-132. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/15>. Acesso em: 07 jul. 2013.
IAMAMOTO, Marilda V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação
profissional. 6 ed. São Paulo: Cortez , 2003, 326p.
INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento social
com intersetorialidade. Caderno FUNDAP n. 22 p. 102-110, 2001. Disponível em: <
http://www.fundap.sp.gov.br/publicacoes/cadernos/cad22/dados/Inojosa.pdf>. Acesso em: 18
abr. 2013.
JAYME, Paviani. Interdisciplinaridade: conceito e distinções / Aromilda Grassotti Peixoto.
Caixas do Sul, RS: Educs, 2008, 2.edição e revista. 135p.
JESUS, Cristiane da Silva de; ROSA, Karla Terezinha Rosa; PRAZERES, Greicy Gandra
Soares. Metodologias de atendimento à família: o fazer do assistente social. Acta
Scientiarum. Health Sciences. Maringá, v. 26, n. 1, p. 61-70, 2004. Disponível em:
<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/1618/1059>. Acesso
em: 18 dez. 2014.
JUNQUEIRA, L A P. Descentralização, intersetorialidade e rede como estratégia de gestão da
cidade. Revista FEA-PUC-SP, São Paulo, v.1, p.57-72, Nov. 1999.
MAIA, Marilene. Gestão Social: reconhecendo e construindo referenciais. Revista Virtual
Textos & Contextos, nº 4, dez. 2005. Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/1010/790>. Acesso em: 29
out. 2013
47
MARTINELLI, Maria Lúcia. O trabalho do assistente social em contextos
hospitalares: desafios cotidianos. Serv. Soc. Soc.[online]. 2011, n.107, p. 497-508. Disponível
em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S010166282011000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 18 dez. 2014.
MEDEIROS, Katruccy Tenório et al. Representações sociais do uso e abuso de drogas
entre familiares de usuários. Psicol. estud. [online]. 2013, v.18, n.2, pp. 269-279. ISSN
1413-7372. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pe/v18n2/a08v18n2.pdf>. Acesso em:
01 fev. 2015.
MENDONCA, Patrícia Maria E.; GONCALVES-DIAS, Sylmara Lopes
Francelino; JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. Gestão Social: notícias sobre o campo de
estudos e práticas a partir das interações e debates do VI Enapegs. Rev. Adm.
Pública [online]. 2012, vol.46, n.5, p. 1391-1408. ISSN 0034-7612. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rap/v46n5/a10v46n5.pdf>. Acesso em 15 abr. 2013.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2000. 118p.
NASCIMENTO, Eurípedes Costa do; JUSTO, José Sterza. Andarilhos de estrada e os
serviços sociais de assistência. Psico-USF[online]. 2014, vol.19, n.2, p. 253-263. Disponível
em: < http://www.scielo.br/pdf/pusf/v19n2/a08v19n2.pdf>. Acesso em: 01 fev 2015.
OLIVEIRA, Lucia Conde de et al. Diálogos entre Serviço Social e educação popular: reflexão
baseada em uma experiência científico-popular. Serv. Soc. Soc. [online]. 2013, n.114, p. 381397. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n114/n114a10.pdf. Acesso em: 01 fev.
2015.
PINTO, Rosa Maria Ferreiro et al. Condição feminina de mulheres chefes de família em
situação de vulnerabilidade social. Serv. Soc. Soc. [online]. 2011, n.105, p. 167-179.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n105/10.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2014.
PRATTA, Elisângela Maria Machado and SANTOS, Manoel Antonio dos. Reflexões sobre
as relações entre drogadição, adolescência e família: um estudo bibliográfico. Estud.
psicol. (Natal) [online]. 2006, vol.11, n.3, pp. 315-322. ISSN 1413-294X. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v11n3/09.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2015.
REGIS, Maria Figuerêdo de Araújo. O Serviço Social e a área de gestão de
pessoas: mediações sintonizadas com a Política Nacional de Humanização no Hospital
Giselda Trigueiro. Serv. Soc. Soc. [online]. 2011, n.107, p. 482-496. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n107/06.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2015.
RODRIGUES, Maria Lúcia. O Serviço Social e a perspectiva interdisciplinar. In:
MARTINELLI, Maria Lúcia; ON, Maria Lúcia Rodrigues; MUCHAIL, Salma Tannus (org).
O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber. São Paulo, Cortez, 1998.
SANTOS, Akiko. Complexidade e transdisciplinaridade em educação: cinco princípios para
resgatar o elo perdido. Rev. Bras. Educ. [online]. 2008, v.13, n.37, p. 71-83. Disponível em:
< http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf >. Acesso em: 24 out. 2013.
48
SAVIANI, Nereide. Saber Escolar, currículo e didática: problemas da unidade
conteúdo/método no processo pedagógico - 4 edição - Campinas, SP, Autores Associados,
2003. 193p.
SCHEFFER, Graziela; SILVA, Lahana Gomes. Saúde mental, intersetorialidade e questão
social: um estudo na ótica dos sujeitos. Serv. Soc. Soc. [online]. 2014, n.118, p. 366-393.
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S010166282014000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 18 dez. 2014.
SCHENKER, Miriam and MINAYO, Maria Cecília de Souza. A importância da família no
tratamento do uso abusivo de drogas:uma revisão da literatura. Cad. Saúde
Pública [online]. 2004, v.20, n.3, pp. 649-659. ISSN 0102-311X. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n3/02.pdf>. Acesso em: 01 fev 2015.
SENA, Edite Lago da Silva et al. Alcoolismo no contexto familiar: um olhar
fenomenológico. Texto contexto - enferm., Jun 2011, vol.20, no.2, p.310-318. ISSN 01040707. Disponível em: http://www.redalyc.org/pdf/714/71419104013.pdf. Acesso em: 01 fev.
2015.
SIKORSKI, Daniela; BOGADO, Franciele Toscan. Oficina de formação: instrumentalidade
do serviço social - São Paulo: Pearson Pretice Hall, 2009. 182p.
SODRÉ, Francis. O Serviço Social entre a prevenção e a promoção da saúde: tradução,
vínculo e acolhimento. Serv. Soc. Soc.[online]. 2014, n.117, p. 69-83. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n117/05.pdf>. Acesso em: 01 out. 2014.
TENÓRIO, F. G. Um espectro ronda o terceiro setor, o espectro do mercado. 3 Ed. Ijuí:
Editora da Unijuí, 2008b. 176p.
TURRISSI, Gladys Hebe. Políticas públicas de saúde: gestão hospitalar II. Gladys Hebe
Turrisi. et al. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro Veiga; ÁVILA, Cristina Maria d'. Profissão docente: Novos
sentidos, novas perspectivas. Ilma Passos Alencastro Veiga; Cristina Maria d' Ávila (orgs.) Coleção Magistério: Formação e trabalho pedagógico. Campinas - SP, Papirus, 2008.
49
2. PRÁTICAS E SENTIDOS DO TRABALHO SOCIAL COM
FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: a perspectiva do
assistente social
Rozeli Carvalho S. SOARES8
Maria Lúcia M. AFONSO9
RESUMO
Este artigo apresenta a pesquisa de campo desenvolvida para a dissertação no Mestrado em
Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, do centro Universitário UNA. A pesquisa
objetivou conhecer os sentidos e as práticas dos assistentes sociais no trabalho social com
famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para a gestão social do trabalho
profissional, na intercessão da área da saúde e dependência química. Buscou-se ainda
identificar como as famílias de dependentes químicos percebem o trabalho realizado pelo
assistente social. Inicialmente, foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas
a assistentes sociais e famílias por eles indicadas. Em seguida, foi realizado um grupo focal
com assistentes sociais para aprofundar a discussão sobre a sua experiência profissional na
área da dependência química. Foi possível conhecer a atuação dos profissionais e o sentido
que cada um imprime à sua prática bem como o desconhecimento das famílias sobre o
trabalho do profissional de serviço social. Discute-se então o desafio do trabalho junto a essas
famílias, buscando superar o assistencialismo e desenvolver um trabalho profissional que
possibilite agir com uma intervenção social comprometida, crítica e ética.
Palavras-chave: Famílias de dependentes químicos. Serviço Social. Intervenção Social.
Gestão Social.
ABSTRACT
This paper presents the field research conducted for the dissertation in the Master of Social
Management, Education and Local Development, University UNA center. The research aimed
to know the meanings and practices of social workers in social work with families of drug
addicts, in order to contribute to the social management of professional work in the
intercession of the health and chemical dependency. It sought to further identify how families
of drug addicts realize the work done by the social worker. Initially, open questions with
questionnaires were applied and closed at social workers and families appointed by them.
Then it conducted a focus group with social workers to further discuss their professional
experience in the field of chemical dependency. It was possible to know the work of
professionals and the sense that each print to their practice as well as the lack of families on
the work of professional social work. It is argued then work together to challenge these
8
Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do
Centro Universitário UNA.
9
Orientadora e Professora Doutora do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e
Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA.
50
families, seeking to overcome welfarism and develop a professional job that allows act with a
committed social intervention, criticism and ethics.
Keywords: Families of drug addicts. Social Service. Social intervention. Social management.
2.1 INTRODUÇÃO
O trabalho social com famílias de dependentes químicos orienta para uma forma de atuação
com apoio e trocas mútuas. Essas formas de apoio, intervenções e programas utilizados no
trabalho com famílias, auxilia na compreensão do tema e favorece o planejamento de ações
adequadas às necessidades da clientela, como afirmam, Sanchez, et al. (2010). Além disso,
pode trazer novos desafios e exigir estratégias metodológicas para uma ação qualificada e
direcionada.
Cabe ao profissional apropriar-se de ferramentas metodológicas de ação que sejam capazes de
ir ao encontro das necessidades de transformação social, autonomia e liberdade das famílias
de dependentes químicos. Essas famílias mudam, à medida que as situações de seu cotidiano
mudam, assim é necessário que o profissional de serviço social esteja atento a essas mudanças
e que possa mudar e adaptar sua prática de trabalho segundo as necessidades dessas famílias.
Os assistentes sociais que trabalham com famílias de dependentes químicos, correm o risco de
se isolar no seu fazer profissional, por não encontrar suporte, até mesmo dentro da Instituição
onde prestam serviço, assumindo uma condição quase autodidata. É importante, pois, que o
profissional de Serviço Social, estabeleça uma relação de troca com outros profissionais da
mesma área, para que possam refletir e (re) produzir um saber conjunto, de forma
participativa e colaborativa.
No intuito de contribuir para a compreensão dessas questões, foi desenvolvida, no período de
julho 2014 a fevereiro de 2015, uma pesquisa sobre os sentidos e as práticas dos assistentes
sociais no trabalho social com famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para
a gestão social do trabalho profissional na intercessão da área da saúde e da dependência
química. O estudo abordou, ainda a percepção das famílias atendidas sobre o trabalho dos
51
profissionais de serviço social. O presente capítulo apresenta a pesquisa, seus objetivos,
procedimentos metodológicos, análise dados e considerações finais.10.
2.2 METODOLOGIA
A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem quantiqualitativa,
mesclando instrumentos como questionário e grupo focal, buscando captar as percepções,
crenças, valores e atitudes dos profissionais no trabalho social com famílias de dependentes
químicos, assim como conhecer o que as famílias atendidas pensam sobre o trabalho do
assistente social nessa área. Além disso, foi promovida a participação dos sujeitos na
construção do produto técnico que compõe esta dissertação, e que consiste em uma cartilha de
orientação teórico metodológica para assistentes sociais que trabalham com famílias de
dependentes químicos. .
Inicialmente, foi feito contato telefônico e online com os 24 assistentes sociais que
desenvolvem trabalho social com famílias de dependentes químicos no primeiro e no terceiro
setores da saúde e assistência social, que prestam serviço ou moram em Belo Horizonte e
Região Metropolitana11. Nesse contato, a pesquisadora lhes explicou de que se tratava a
pesquisa e lhes solicitou a resposta a um questionário, a ser enviado e devolvido por e-mail.
Do total de 24 profissionais contatados, 11 responderam ao questionário.
O questionário foi composto por 13 questões, abertas e fechadas (Apêndice A). O objetivo foi
conhecer quem são os (as) assistentes sociais que trabalham no atendimento a famílias de
dependentes químicos e como é seu campo de trabalho, incluindo variáveis como: tempo de
atuação, trabalho interdisciplinar e intersetorial, interesse pela área, capacitação continuada,
dentre outras. Os questionários foram analisados por meio de análise estatística (questões
fechadas) e análise de conteúdo (questões abertas).
10
O atual modelo da dissertação do Mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, do Centro
Universitário UNA instituiu que o capítulo de análise de dados seja apresentado na forma de um artigo,
incluindo, dentre outros itens, uma discussão teórica. Entretanto, o modelo está ainda sendo incorporado e existe
alguma flexibilidade para organização do trabalho. No caso desta dissertação, o capítulo de análise de dados é
apresentado sem o item discussão teórica, que será incorporado quando o capítulo for preparado no formato de
artigo a ser enviado para periódico científico.
11
No entanto é importante ressaltar que dois profissionais de outros Estados se oferecerem para participar da
pesquisa através do questionário online, e contribuíram de forma significativa para construção desse artigo.
52
Visando aprofundar as questões estudadas, foi desenvolvido um grupo focal com assistentes
sociais que trabalham na área de dependência química (Vide roteiro no apêndice B).
O grupo focal é “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para
discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência
profissional” (GATTI, 2005, p. 7). Assim, busca-se captar, a partir das trocas realizadas no
grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças e experiências (Gatti, 2005).
Apesar dos 11 profissionais que responderam ao questionário terem sinalizado que gostariam
de participar do grupo focal, vários deles não puderam estar presentes devido a viagens ou
compromissos de trabalho. Assim, o grupo focal foi composto por 5 (cinco) assistentes sociais
que trabalham na área da dependência química, sendo que quatro deles haviam respondido ao
questionário e um solicitou ser incluído posteriormente. Com o grupo focal, buscou-se, além
do aprofundamento dos dados, propiciar a participação dos profissionais na composição do
produto técnico desta dissertação.
Para realização do grupo focal contamos com a colaboração de uma estagiária de serviço
social que tem experiência de estágio no trabalho social famílias de dependentes químicos.
Além de gravar as falas na íntegra, ela fez anotações a respeito da comunicação no grupo,
incluindo tons de voz e outras formas de linguagem, não verbal, tais como expressões faciais
e gesticulação.
Buscando conhecer o que pensam as famílias atendidas sobre o trabalho dos assistentes
sociais no atendimento na área da dependência química, foram realizadas entrevistas com 6
(seis) famílias, com um roteiro composto por 12 questões abertas e fechadas (Apêndice C).
Para Gil (2008), a entrevista é uma das técnicas mais utilizadas no âmbito das ciências sociais
e que “profissionais que tratam de problemas humanos valem dessa técnica, não apenas para
coleta de dados, mas também com objetivos voltados para diagnóstico e orientação” (GIL,
2002, p. 117).
Para as entrevistas com as famílias de dependentes químicos, foi composta uma amostra não
probabilística por acessibilidade ou por conveniência. Para Vergara (2005) e Gil (2008), esse
tipo de amostra, seleciona os participantes por critérios tais como a facilidade de acesso ou
53
outros. Neste caso, a escolha foi feita com base na indicação de algumas assistentes sociais
que participaram do grupo focal. Ressalve-se que foi respeitada a decisão das famílias de
participarem – ou não – da pesquisa.
No desenho inicial da investigação, previa-se a realização de entrevistas com gestores ou
coordenadores de Instituições12 (Apêndice D) que tivessem profissionais de serviço social que
atendessem famílias de dependentes químicos, uma vez que este é o contratante do serviço do
assistente social. Foram feitos sete contatos telefônicos e enviado 10 questionários com esse
propósito. Porém, nenhum deles deu qualquer resposta, não sendo, portanto possível à
complementação desses dados para a compreensão das questões estudadas.
Quanto aos aspectos éticos, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro
Universitário UNA, recebendo o CAE número 30980514.5.0000.5098 (Ver Anexo VII).
Todos os participantes assinaram e receberam uma cópia do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Ver anexos V e VI). Na análise dos dados, foi obedecido o princípio ético da
confidencialidade, sendo atribuídas letras (tais como A, B, C ou outras) aos entrevistados, de
forma a preservar a sua identidade.
2.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
2.3.1 Profissionais de Serviço Social
2.3.1.1 Da questão social à capacitação continuada
Para Iamamoto (2003), é a questão social em suas múltiplas expressões que provocam a
necessidade da ação do assistente social junto às diversas necessidades da sociedade. A
questão social segundo Serra (2000) vai além da matéria-prima da profissão do assistente
social, mas constitui-se a razão de existência da profissão, tendo, portanto, na questão social o
elemento central da relação profissional e a realidade. Nessa direção, os assistentes sociais são
12
Ressaltamos que no início da pesquisa a ideia era entrevistar assistentes sociais e gestores e/ou coordenadores
apenas de Comunidades Terapêuticas, no entanto percebemos que há profissionais em outros setores da
sociedade que também fazem o trabalho social com famílias de dependentes químicos. Sendo assim a pesquisa
contemplou profissionais tanto do 3° quanto do 1° setor.
54
chamados a intervir nas relações cotidianas das pessoas menos favorecidas e vulnerabilizadas
socialmente (crianças, adolescentes, idosos, usuários de drogas, população em situação de rua,
mulheres, negros, pessoas com necessidades especiais, famílias de modo geral, dentre outros).
No entanto não basta apenas saber que essas expressões existem na sociedade, é necessário
conhecer o cenário para a ação como nos lembra a Assistente Social D: “A questão social é
nosso objeto de trabalho, é ela que nos coloca enquanto identidade profissional, por que é
sobre a questão social que a gente se debruça, e se a dependência passa por aí, temos que ter
um olhar mais aberto. Por que a tendência é a gente se alienar nesse trabalho e é aí que a
gente vê que muitos colegas se perdem [...]”. Se o serviço social atua na satisfação das
demandas sociais postas, pode-se concordar com a Assistente Social D, baseando-se em
Santos (2013):
O conhecimento da realidade é imprescindível [...]. A apreensão da dinâmica da
realidade contribui para que haja coerência entre os instrumentos utilizados e as
determinações assumidas pela questão social nos diferentes espaços sócioocupacionais, permitindo que o assistente social consiga alcançar os resultados
esperados na ação (SANTOS, 2013, p. 28).
Um dos grandes desafios do profissional de Serviço Social é o de superar as práticas
conservadoras que imprimiram a identidade assistencialista à profissão por muitas décadas e
que, mesmo hoje, após o movimento de reconceituação, cujo resultado foi o rompimento com
as práticas tradicionais conservadoras, a profissão ainda está construindo parâmetros para a
sua atuação. Neste sentido, surge a necessidade de abrir os campos de discussão, debates e
trocas, para que os profissionais possam fortalecer sua práxis com vistas a uma transformação
social, tendo como pano de fundo as várias expressões da questão social.
No caso desta pesquisa, que procurou conhecer os sentidos e as práticas dos assistentes sociais
no trabalho social com famílias de dependentes químicos, ressaltou-se a importância de
constante aprimoramento intelectual, previsto no Código de Ética Profissional (1993), com
objetivo de dar maior respaldo às ações e superar o assistencialismo, uma vez que o serviço
social é uma profissão inscrita na divisão social do trabalho e atua diretamente no
enfrentamento e nas respostas às expressões da questão social. Neste sentido, aponta-se para a
importância de uma prática profissional que proporcione uma reflexão crítica sobre a atuação
profissional e sua apropriação no campo das políticas públicas.
55
Para refletir sobre os dados coletados na pesquisa, foi elaborada a seguinte questão: Será que
a atuação do assistente social tem se pautado em um direcionamento teórico-metodológico
que oriente a sua ação para uma transformação do sujeito em seu contexto, com autonomia e
qualidade de vida?
Quando foi pensada essa pesquisa, uma das hipóteses era que a qualificação dos assistentes
sociais é um fator de melhoria no trabalho social com famílias de dependentes químicos. Será
que na prática isso tem acontecido de fato? Não basta apenas identificar as várias expressões
da questão social, é necessário ainda, segundo Guerra (2014), considerar que:
A capacidade de tornar concretos os valores do projeto ético-político profissional
exige a capacidade crítica teórica, de compreender o significado do nosso exercício
profissional no contexto da sociedade burguesa e de suas determinações
contemporâneas, consistência metodológica para realizar a leitura mais correta
possível da realidade e capacidade para propor e projetar estratégias e táticas
sociopolíticas e profissionais (GUERRA, 2014, p. 38).
É necessária, segundo Diniz (2014), a capacidade de, na práxis cotidiana, identificar as
possibilidades de superação e de enfrentamento das questões concretas de violação de direito,
e isso nos leva a refletir que não basta apenas ter uma formação superior, é preciso ir além na
busca constante de conhecimento teórico científico.
Quando perguntamos para os profissionais a respeito de formação continuada a grande
maioria, apesar de ter entre 1 e 5 anos de formação, respondeu já ter realizado alguma Pós
Graduação em um das seguintes áreas: Terapia Familiar; Saúde da Família; Atendimento
Integral a Família; Gestão de Pessoas; Trabalho Social com Famílias e Comunidades;
Dependência Química e Intervenção Psicossocial no Contexto de Políticas Públicas. Isso
mostra que os profissionais que estão trabalhando com famílias buscaram uma qualificação,
que lhes oferecesse mais recursos teórico-metodológicos, e que talvez essa formação ainda
seja insuficiente nos 4 anos de graduação.
A Assistente Social A, inicia sua contribuição no grupo focal dizendo que “é o conhecimento
que move meu trabalho”. Mesmo com mais de 30 anos de profissão, ela busca novos
conhecimentos para atuar com seres humanos e famílias em constantes mudanças, sendo
preciso, pois, apropriar-se de ferramentas concretas, das situações concretas para atuar com
esse público (Iamamoto, 2003). Como lembra Netto (2007, p. 107), “devemos exercer a
56
profissão [...] combinando senso comum, bom-senso e conhecimentos extraídos de contextos
teóricos [...]”.
Na busca constante de conhecimento em uma área de atuação ainda temida por alguns
profissionais pela sua complexidade que é dependência química, verificou-se que os
assistentes sociais têm buscado formas de se capacitar em áreas diversas, sendo que dos 11
assistentes sociais, apenas um declarou ter especialização em dependência química – mas
deve-se levar em consideração a falta de especialização em dependência química na região.
Tanto Santos (2013, p. 29) quanto Diniz (2014, p. 67) fazem alguns apontamentos
importantes que os profissionais de serviço social não podem perder de vista
independentemente da área de atuação e do tempo de serviço:
1. Consistente conhecimento teórico-metodológico13, na qual os profissionais conseguem
fundamentar sua leitura da realidade, que também define a intencionalidade e a
direção da ação, além de uma melhor compreensão da realidade (cultural, religioso,
político, dentre outros);
2. Compromisso ético-político estabelecido pelo Código de Ética (1993) dos
profissionais de serviço social, fundado nos valores democráticos da participação
política: liberdade, igualdade e justiça social – e nos valores de cidadania;
3. Capacitação técnico-operacional, que possibilite a definição de estratégias e técnicas
para a ação profissional, na perspectiva de consolidar a teria com a prática,
comprometido com os interesses e necessidades dos sujeitos sociais.
Quando se perguntou sobre o tipo de capacitação que os profissionais têm buscado, foram
obtidas as seguintes respostas:
Reuniões clínicas semanais para estudo de caso e leituras pertinentes ao
assunto;
13
Quanto maior o conhecimento teórico, mais amplo será a cadeia de mediações e maiores as possibilidades
encontradas para a intervenção (SANTOS, 2013, p. 29).
57
Formação Continuada oferecida pela instituição onde trabalham e que inclui
cursos externos, fóruns Regionais e Municipais, palestras, leituras diárias;
Cursos, palestras e estudos particulares;
Cursos e eventos oferecidos pelo poder público14;
Leitura de material sobre o tema;
Troca de experiências com profissionais que atuam na mesma área;
Cursos de capacitação à distância, formação continuada, literatura
direcionada ao tema.
Apenas uma pessoa respondeu que: “Não recebo nenhuma capacitação neste sentido”.
Percebe-se nessas respostas que não foi citado o estudo do código de ética profissional como
uma das fontes para orientação teórica metodológica. Por outro lado, também é possível
perceber que os profissionais se mostram ativos em buscar aprimorar os seus conhecimentos
por meio de fontes disponíveis.
2.3.1.2 Da necessidade do trabalho interdisciplinar e intersetorial à realidade
Quando perguntados a respeito do trabalho interdisciplinar, oito profissionais responderam
que realizam o trabalho com outros profissionais, dentre eles: Psicólogo, Técnico em
Enfermagem ou Enfermeiro, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Pedagogo e Psiquiatra.
E três disseram que não trabalham em equipe, dois não forneceram o motivo e um disse que a
sua instituição optou por ter apenas o profissional de serviço social na sua equipe de trabalho.
Como foi refletido no primeiro artigo que compõe esta dissertação, nenhum profissional de
qualquer área do conhecimento é capaz de dar todas as respostas às várias expressões que
emergem da questão social. Uma das participantes do grupo focal lembrou-nos muito bem
que carregamos a fragmentação desde nossa infância: “Essa fragmentação vem desde nossa
infância na educação, onde as disciplinas são separadas uma das outras e não enxergamos o
diálogo entre as disciplinas” (Assistente Social D). O isolamento da ação acaba por isolar a
própria família que fica fragmentada a uma ação de um único profissional, deixando de ser
vista em sua complexidade.
14
Cursos oferecidos pela SENAD, SUPERA, Canal de Minas, Fé na Prevenção e Saúde em Pauta, oferecidos
pelo Governo de MG.
58
Uma gestão participativa e o trabalho em equipe podem dar visibilidade ao trabalho social
com famílias de dependentes químicos, não apenas com uma articulação entre os saberes, mas
também uma otimização dos saberes, das competências e das relações em prol de um mesmo
objetivo. Como dizem Fávero e Forti (2014, p.45):
Falamos em “contribuição” por que o Serviço Social é apenas uma das áreas do
conhecimento e do fazer a lidar com a realidade social e, portanto, não cabe tão
somente aos profissionais dessa área enfrentar sozinhos as expressões da questão
social para garantir a efetivação de direitos. Por isso é necessária à busca da
“articulação interprofissinal e intersetorial para o avanço do nosso trabalho [...]”
(FAVERO; FORTI, 2014, p. 45).
Apesar de 8 profissionais declararem que trabalham em equipe, isso foi pouco explorado no
grupo focal, onde apareceram as seguintes falas: “o profissional tem que saber onde está seu
limite de atendimento” (Assistente Social C); “profissional de serviço social e psicologia têm
que trabalhar juntos” (Assistente Social B). Apesar de a interdisciplinaridade ser considerada
não observamos uma metodologia de como esse atendimento deva acontecer. Por outro lado,
não de forma direta, mas indireta, na conversa dentro do grupo focal, as assistentes sociais A e
D deram algumas indicações de como os profissionais devem atuar juntos: “estudo de caso,
visita domiciliar - duas pessoas conseguem uma visão melhor sobre aquela realidade produção de relatórios, atendimento e acolhimento familiar, etc.”. Mas consideramos que
essa interdisciplinaridade acontece apenas na formação, mas não na estratégia de ação.
A Assistente Social D sinalizou a importância de, nos estudos de caso, a atuação não
acontecer apenas com os profissionais que prestam o serviço, mas a família deve ser chamada
para o diálogo com a equipe, uma vez que é parte fundamental no estudo de caso. Segundo
Assistente Social D “isso daria voz e vez à família para que esta pudesse dizer o que espera
daqueles profissionais e daqueles serviços” e acrescentou ainda que isso diminuiria a ida da
família a vários profissionais com a mesma demanda. Podemos caracterizar essa ação não
apenas como interdisciplinar, mas também com um pensamento voltado para a gestão social,
que segundo Mendonça; Gonçalves; Junqueira (2012) deve acontecer como um processo de
diálogo, inclusão e mobilização, com vistas a uma participação transformadora. “É possível
optar por uma prática política com os usuários, sem se perder somente nas relações
necessidades/benefícios e situação emergencial/atendimento social”, como nos lembra
(ABRANCHES, 2014, p. 81).
59
Mas não basta apenas a articulação entre os saberes (seja científico ou empírico), esta deve ir
além dos profissionais e abarcar tanto setores públicos como privados. Por isso foi importante
incorporar a interdisciplinaridade na pesquisa, justamente para saber se os profissionais de
serviço social têm acionado a rede para complementar seu atendimento às famílias em
situação de dependência química. Quando perguntado no questionário se o trabalho com
famílias de dependentes químicos é realizado em rede, 10 profissionais responderam que
acionam a rede para um melhor atendimento e apenas 1 assistente social disse que não faz
trabalho em rede e não justificou o motivo. Segundo os respondentes do questionário, a rede é
acionada através das articulações com os seguintes serviços:
Políticas de Saúde, em especial, com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e Drogas – CAPSAD e o Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas
(CREAD);
Política de Assistência Social;
Policia Militar, parceria para palestras sobre prevenção ao uso de drogas.
Como estratégias, são utilizadas:
Encaminhamento para tratamento terapêutico;
Envio e recebimento de relatórios sobre as famílias assistidas junto aos
serviços;
Visitas articuladas às instituições de ensino;
Inclusão dos diversos atores na realização de estudos de caso;
Encaminhamentos a rede de proteção social;
Realização de reuniões mensais com a rede socioassistencial, incluindo:
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da
Mulher, Fórum, Conselho Tutelar, Matriciamento de Saúde Mental;
Atendimento da rede com a família para elaboração conjunta de Plano de
Acompanhamento Familiar.
60
Pode-se perceber que os profissionais têm se mobilizado para fazer um atendimento integral a
essas famílias, uma vez que a realidade social não se esgota no âmbito de uma única política
social. Se os setores por mais diferentes que sejam, apresentam objetivos comuns, a ação
intersetorial pode acontecer. Nesse caso, o objetivo final é a promoção, emancipação,
transformação pessoal e social da família. Partindo do pressuposto que a intersetorialidade
está relacionada à prática e que esta está envolvida com os problemas reais, logo se pode
concluir que nenhum setor dá conta de todas das demandas oriundas das famílias, que são
complexas em sua estrutura e dinamicidade.
2.3.1.3 Das políticas públicas: como são percebidas na atuação do assistente social?
Iniciou-se o grupo focal com uma provocação, feita pela pesquisadora, sobre a fragmentação
das políticas públicas no que diz respeito à família e a falta de diretrizes e logo o assunto
efervesceu no grupo onde houve dois posicionamentos distintos:
“Quem está trabalhando sério na área é que vai se apropriar das políticas. A
própria profissão veio de uma conquista [contra] o assistencialismo [...] e mesmo
assim ainda fica um resquício. Hoje temos muitas políticas públicas aprovadas,
mas, se os profissionais não investirem nisso ela vai cair na mesmice, ela não vai
ter renovação, e isso eu estou falando das políticas que já estão aprovadas. A
política sobre drogas é muito fragmentada, por que fica pegando apoio em uma
política de uma área, isso é o que eu vejo, é como eu estou conseguindo
fundamentar a intervenção [...] . Eu tenho buscado no que já existe, para poder
defender o “mundo”, a possibilidade que a gente tem de mobilização eu procuro
estar presente para poder pelo menos enquanto uma voz, somar naquilo que tem
que ser feito. A construção tem que existir, porque tem que ter uma política pública
para área da família, por exemplo, por que tem algo aí que não pode ser
negligenciado mais. Estamos chegando a um ponto que os serviços não poderão
dissociar mais, apesar de ter muitos movimentos absurdos inclusive no serviço
social, nós não temos que tomar partido de uma ou outra política, mas temos que
fazer a interlocução, por que vamos trabalhar ex: dependente químico, família é o
quadro do adoecimento, você precisa de recurso da: saúde, assistência social,
educação, ou seja, não dá para descartar as políticas e nem separa-las. A política
pública deveria ser feita com essa interlocução de uma com as outras” (Assistente
Social A).
Eu tenho outra visão sobre isso, quando eu vejo que a Política Pública me dá
margem para desenvolver um trabalho livre, que não me dá uma coisa engessada,
vejo como uma possibilidade de trabalho. Por que eu já vi também muitos
profissionais se queixando de alguns programas que chegam para eles de forma
fechado “é isso aqui e pronto” e aí você está ali dentro de uma adversidade
„danada‟, aí vamos afunilar, por exemplo, em uma família que já tem uma cultura
que é de onde vive, do município, e aí tem um programa que é para o Brasil inteiro,
na imensidão de diversidade que tem no Brasil, isso não vai funcionar em todo
território brasileiro. E aí ficamos assim: eu aplico ou não isso aqui? Então eu tenho
muito medo de criarmos uma fórmula para enquadrar a família, por que não vai
dar. Então quando eu vejo uma coisa um pouco aberta, eu sinto para mim assim: eu
61
tenho que ir lá, tenho que conhecer essa família, o território que ela vive, priorizar
a questão da participação. E será que essa família de dependente químico tá
participando da criação dessa metodologia? Não está. Até nos conselhos vimos uma
participação para “inglês ver” por que já vai com tudo montado, deliberado. Nós
devemos fomentar o sujeito de direito político também (Assistente Social D).
Ambas as reflexões, juntamente com a da pesquisadora pode nos levar a refletir sobre o lugar
que o assistente social tem ocupado perante as políticas públicas: deve-se aproveitar as
lacunas das políticas para se criar opções para a ação profissional com famílias de
dependentes químicos? Como combinar essa ação criativa com uma postura crítica diante das
políticas públicas? Embora este artigo não tenha a pretensão de dar respostas a essas questões,
é importante reconhecê-las como preocupação dos profissionais da área.
As diretrizes que as políticas públicas traçam podem ter um efeito de “engessamento” da ação
profissional. Ao mesmo tempo em que o profissional deseja e precisa das orientações
técnicas, é importante que ele (a) trabalhe no sentido de adequá-las ao contexto trabalhado e
também de propor condutas e ações que possam suprir as faltas das diretrizes. Como disse a
Assistente Social B:
A Política Pública é feita numa totalidade concreta e se esquece da
subjetividade [...] mas as equipes de serviço devem estar atentas a isso e
ultrapassar o que a política apresenta. O movimento tem que ser criado. Não
dá para trabalhar engessado, é necessário propor, conversar, trabalhar, por a
mão na massa, dialogar [...] Mas a equipe tem que está com o mesmo
propósito. Usar a política pública dentro de um conteúdo muito maior,
daquilo que os profissionais conhecem através da escuta.
Esta profissional ainda acrescenta que devemos “conhecer o sujeito na sua integralidade”
(Assistente Social B), “através da escuta”, pois “a subjetividade falta na política”. É como se
as políticas públicas fossem o „corpo‟ e a subjetividade que é conhecida pelo profissional
através da escuta fosse o „coração‟. Isso nos leva a pensar que enquanto profissionais que
atuam sobre e na realidade concreta, com sujeitos concretos, é extremamente importante
pensar na política como algo entrelaçado à ação profissional. A conclusão a que se chega é a
seguinte: se faltam metodologias para atendimento às famílias, o profissional deve participar
nessa construção. Essa foi à conclusão que o grupo focal recomendou.
2.3.1.4 Da família co dependente: doença/saúde X doença/doença
62
Essa questão foi muito discutida no grupo focal, incluindo os estágios da co dependência. Foi
reconhecida a importância da questão e a necessidade dos profissionais identificarem as fases
do processo, na família, de estabelecimento dessa co dependência, para melhor planejamento
das ações profissionais. “São essas reflexões que orientam alternativas de ações para a escolha
pelos instrumentos e técnicas da intervenção” (SANTOS, 2013, p. 30). Isso nos leva a pensar
que a situação da família deve estar diretamente ligada a práxis e Santos (20014) salienta que
o agir profissional deve ser antecedido pelo pensar sobre os valores que impregnam as ações
do Serviço Social.
Estágio doença/saúde:
Esta fase é associada ao primeiro momento em que a família chega à Instituição e passa pelo
acolhimento, e é quando o profissional tem a oportunidade do primeiro contato e da primeira
intervenção. É a principal fase do tratamento, pois é nela que se estabelece a relação de
confiança entre profissional e família e é nesse primeiro estágio que o profissional tem a
oportunidade de acionar sua competência técnica, relacionada às habilidades na utilização dos
seus instrumentos de trabalho e que vai condicionar a qualidade técnica de sua ação.
Como afirmou a Assistente Social B, nessa fase, a família ainda não reconhece que também
adoeceu com a doença do dependente químico e na grande maioria das vezes diz: “eu não
tenho problemas, ele que é o dependente químico”. É nesta fase inicial também que é
importante apresentar à família as características da co dependência, não depositando sobre
ela a parte conceitual, mas dentro daquilo que esta família apresentar, mostrar para ela quais
são as características que ela traz e que são próprias de uma pessoa co dependente, que
naquele momento está com suas emoções fragilizadas. “A família é história, como é que você
vai pegar a história e engessar... Acolher a família é ir além, não está limitado a um
encaminhamento, mas em ajudar essa família a não engolir qualquer coisa e nem iludi-la em
relação a cura. Se a família não participar de um trabalho de orientação, se não for
motivada a desenvolver-se, a ser incomodada, ela vai se sentir perdida, e na recaída do seu
dependente, ela recai também” (Assistente Social A).
Ainda neste estágio de doença/saúde, “é preciso criar um processo de confiança”. Somos
“intrometidos”. E por isso nem sempre a família se abre. Identificar o papel que cada
63
membro tem e cumpre dentro da família. As funções de cada um. Hoje não temos como saber/
qual função da mãe ou do pai, as funções hoje estão muito complexas. Devemos trabalhar
com a ansiedade da família e fazer com que esta fique menos dolorosa, mesmo quando há um
processo de espera para que as coisas comecem a ganhar forma e corpo. Por que até
chegarem à instituição, a única coisa que tem forma para elas são as consequências reais da
droga (Assistente Social D). E nesta fase geralmente a família deposita toda sua expectativa
na instituição, ou melhor, dizendo, naquele profissional que representa a instituição e têm
dificuldades de ouvir um “não”: Um “não tem perfil para o tratamento aqui”, ou “não temos
vaga imediata”, etc. A Assistente Social E enfatiza que, nos atendimentos, “muitas vezes [os
familiares] querem ouvir apenas o que lhe apraz. E em alguns momentos o profissional não
vai poder resolver ou minimizar o problema da pessoa naquele momento. Existem as regras
que devem ser cumpridas”.
Talvez seja um desafio para o profissional trabalhar com o “não” também na perspectiva do
direito, da liberdade, da autonomia, no sentido de dar uma resposta não apenas em
consonância com as regras a se cumprir, mas pensar na família como sujeito de direito e junto
com ela pensar em alternativas para superar a situação daquele momento e a partir disso
buscarem novas formas de superação. O “não” é também uma forma de indicar que o acesso
ao direito não será possível por aquele caminho. Então, por onde é que a família poderá
acessar o direito ao tratamento? Muitas vezes o profissional do serviço social se vê nesta
situação: o serviço onde atua não oferece possibilidade de atendimento para um determinado
caso, e as possibilidades de encaminhamento também são escassas. O que fazer? Esta é uma
pergunta que não depende apenas da competência ou da boa vontade do profissional, mas
depende também da existência de possibilidades de tratamento em uma rede de serviços
articulada e atuante, o que não é o caso em nosso contexto social.
Como nos ajuda a refletir Martins (2014, p. 59) “a demanda profissional é estabelecida como
legítima demanda advinda das necessidades sociais [...]. A demanda profissional incorpora a
demanda institucional, mas não se restringe a ela, deve ultrapassa-la”. A Assistente Social D
traz a tona que: “Devemos pensar na nossa responsabilidade como uma ação de amor e
cuidado para com o outro, como foi dito, o não com carinho, o tato no lidar com o outro faz
toda diferença”.
64
O grupo refletiu que, no primeiro momento, não há como saber se a dependência do indivíduo
levou à co dependência da família ou se foi a co dependência que levou à dependência, sendo
este, portanto, um assunto para uma nova pesquisa. “Às vezes a co dependência da família
gera a dependência de um dos seus membros. Ou a co dependência leva ao uso da
substância, ou a substância leva a co dependência. Os dois estão interligados. Não tem como
separar uma coisa da outra [...]”. “A família não entende que ela também precisa se tratar,
acha que o problema é só do dependente químico” (Assistente Social C). No entanto, no
decorrer do tratamento é importante procurar identificar essa relação, uma vez que nossas
ações devem estar pautadas na realidade concreta das pessoas concretas e existem elementos
sobre a família que surgirão somente no processo de estabelecimento de confiança e do
acompanhamento.
Essa fala nos leva à seguinte reflexão: De quem é o tempo para iniciar ou terminar o
tratamento? Com certeza não é do profissional, é da própria família. Para aprofundar essa
discussão, cita-se abaixo um caso15 relatado pela (Assistente Social A) que retrata bem que o
tempo para que as mudanças começam a acontecer independem do conhecimento teóricometodológico, ético-político ou técnico operacional do profissional de serviço social:
Uma pessoa somente depois de 6 meses que era atendida exclusivamente pela
assistente social demonstrou o desejo de fazer terapia, mesmo a profissional de
serviço social já ter dito várias vezes que este tipo de atendimento estaria a
disposição daquela pessoa. É uma pessoa que tem várias outras necessidades como
a de ir a um médico (aliás, vários especialistas), por que ela tinha vários problemas
de saúde que precisariam ser tratados, mas ela não conseguia fazer por que estava
focada apenas no tratamento do filho e se esquecia dela mesma. Fizeram (assistente
social e a mãe) juntas a relação de médicos que aquela senhora precisava procurar.
O psiquiatra que a principio ela não tinha nem cogitado a possibilidade de ir, ela já
colocou em 1º lugar. A psicóloga que ela nunca pensou em fazer terapia, ela coloco
em 2º lugar. Deram um total de 6 profissionais na lista dela. Houve uma
necessidade da senhora em organizar suas idas ao médico, mesmo porque a
assistente social que a atendia, iria entrar de férias e deixou isso como um possível
“para casa” para ser realizado por ela. E a própria senhora começou a fazer este
movimento de cuidar de si e não apenas do outro, mas no tempo dela. Esta senhora
demorou 6 meses para entender que ela precisava cuidar dela mesma... O filho
estava terminando o tratamento e ela não tinha começado quase nada do que ela
precisava para sua saúde e sua vida.
A Assistente Social A enfatiza que “a gente não pode exigir da pessoa... o que naquele
momento ela não dá conta de fazer”. Esta é uma fala consonante com os princípios
15
Observe-se que, em observância às normas éticas, não foram incluídas informações que pudessem identificar a
pessoa envolvida no estudo de caso.
65
fundamentais do Código de Ética Profissional (1993), em que a postura profissional deve
defender “a liberdade como valor ético central das demandas políticas a ela inerentes –
autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais [...]” (BRASIL, 1993).
Estágio doença/doença:
Nesta fase, existe o risco da família entrar doente na instituição e sair da mesma forma. Isso
pode acontecer até com aquela família muito presente e envolvida no processo. É importante
o profissional identificar quais pessoas da família estão realmente envolvidas no processo de
tratamento – pensando que: Estar presente é diferente de estar comprometido. É importante
identificar ainda que pessoas são consideradas “a família”, e daí a importância de adotar um
conceito de família que está muito além de laços consanguíneos, mas passa pela questão do
afeto, de amor e de amizade. É necessário pensar as relações existentes nessa família e o papel
que cada um ocupa na relação e, mais ainda, em que estágio de co dependência está cada um
dos envolvidos.
Ao longo do processo de atendimento, passa-se a conhecer melhor a família e os seus diversos
problemas: “A priori o problema que aparece é a droga, mas quando vai escutar, percebe-se
que há outros problemas que vão além das drogas” (Assistente Social D). E por isso a
importância de “temos que ter uma escuta humilde” (Assistente Social D), porque é através
dela que será identificada as reais necessidades dessa família, para colaborar no tratamento
dentro do processo de doença, para não saírem da instituição da mesma forma que entraram,
ou seja, doentes.
É importante frisar ainda que, mesmo quando a família ainda está no estágio de doença, ela
pode colaborar com seu processo de cura. Não cabe ao profissional ser fatalista em relação a
esta ou aquela família, e muito menos apresentar algo pronto, como se houvesse uma receita
para o problema da família. É necessário refletir sobre o processo de participação e autonomia
dessas famílias, porque “as coisas prontas saem da situação do sujeito, na necessidade real
da família” (Assistente Social D). Foi discutido no grupo sobre esse processo de famílias que
entram e saem do tratamento sem operar mudanças. Uns dos motivos apontados pelos
próprios profissionais de serviço social foram às metodologias prontas que são aplicadas de
maneira verticalizada e acrítica sendo que nem sempre as famílias são receptivas para recebê66
las: “Têm-se muitos espaços de discussão sobre famílias, mas as pessoas que deveriam
participar dessa discussão estão lá?” (Assistente Social D).
Foi refletido, no grupo, sobre a importância de construir com a família a percepção de que a
cura precisa acontecer dentro da família e que os profissionais não são os únicos responsáveis
por esse processo, devendo a família se implicar como participante ativo em seu processo de
tratamento. O profissional deve evitar posturas messiânicas, acreditando que poderá resolver
todas as questões da família (afetivas, físicas ou sociais). As famílias são protagonistas desse
processo, mas algumas podem nunca chegar a desenvolver esse protagonismo.
2.3.1.5 Da culpa à responsabilidade. Ou é o contrário?
Quando uma família descobre que tem um dependente químico em seu seio, uma das
primeiras perguntas que se fazem é: onde foi que eu errei. Indaga quem é o “culpado” por
determinado membro da família está fazendo uso de drogas. Segundo Silva (2012) este é um
dos sentimentos que geram conflito e prejudicam a comunicação nestas famílias.
Nesta pesquisa, o grupo focal trazia a possibilidade de identificar as metodologias de trabalho
que os assistentes sociais utilizavam no trabalho social com famílias de dependentes
químicos, e também perceber os sentidos que dão ao trabalho que realizam. É um momento de
muito crescimento pessoal e profissional, porque profissionais de uma mesma área
apresentam visões diferentes sobre um mesmo assunto. Enfatiza-se que não há uma visão
certa ou errada. Cada pessoa faz a leitura da realidade conforme se apresenta e também
dependendo do que consegue perceber, o que é válido tanto para as famílias quanto para os
profissionais. A esse respeito, surgiram duas falas importantes:
“A família nega a todo tempo que também tem responsabilidades sobre a droga do
dependente. Mesmo porque reconhecer isso, é reconhecer que falhou em algum
momento. Não adianta responsabilizar a sociedade e o estado, a responsabilidade é
da família. Se a família é disfuncional, vai ter algum problema ali, se não é com uso
de drogas, será com outra coisa” (Assistente Social C).
“Eu não gosto de usar a expressão família disfuncional, a família é composta de
pessoas, assim como as políticas públicas são compostas por pessoas, e não somos
perfeitos. Temos que ter uma escuta humilde, por que somos cheios de defeitos, de
desvio de caráter, a nossa cultura não é perfeita, e a gente tem que tomar muito
67
cuidado porque senão a gente entra nessa de falar que a culpa é da família, a família
fala que a culpa é do estado, e aí a gente fica em torno da culpa, ao invés de
apontarmos a culpa, vamos trazer a família para refletir qual a responsabilidade de
cada um. Quando a gente fala sobre aquilo que nós somos responsáveis, a gente fala
daquilo que nos sentimos pertencentes, daquilo que vem de dentro. A culpa
massacra e traz sofrimento” (Assistente Social D).
Percebemos que não há um caminho, uma vez que a discussão está posta, são
posicionamentos antagônicos e complexos, mas não há como sabermos onde está o certo ou o
errado, no entanto assuntos como este são importantes de serem discutidos e aprofundados
para que através da troca de experiências possamos dialogar com o saber do outro profissional
e pensar o que é melhor para o público a qual prestamos serviço.
Segundo Masson (2014, p. 52) “as práticas sociais têm a função de, em última instância,
influir sobre as decisões, ações e pensamentos dos homens” (grifos nossos). Faz-se necessário
refletir sobre o papel e a responsabilidade de cada um no quadro de adoecimento e colaborar
com a família para descobrir seu potencial transformador. Abranches (2014) colabora com
esta temática, quando traz à tona o papel do profissional ante os problemas apresentados pelos
próprios sujeitos:
A atuação do assistente social [...] tem como propósito ser um mecanismo facilitador
de uma transformação social através da geração de processos de aprendizagem que
incentivem a elaboração conjunta de ações dirigidas à superação de problemas da
vida cotidiana, a partir da instauração de um sentimento coletivo das necessidades
de um grupo e da abrangência de suas soluções, além de um trabalho de
reconhecimento das necessidades de participação e de valorização cultural
(ABRANCHES, 2014, p. 80).
Percebe-se mais uma vez a importância da gestão social no trabalho do assistente social,
especialmente no convite à família para participar de seu processo de tratamento, articulando
o saber teórico do profissional com os saberes cotidianos da família, colaborando com seu
processo de crescimento. Trabalha-se com as responsabilidades e implicações da família no
seu processo de adoecimento tanto quanto em seu processo de tratamento. Observe-se que
muitas vezes a culpa está justamente por a pessoa se sentir tão responsável pela outra que
acaba por acreditar que falhou como acontece com muitos pais, que se sentem tão
responsáveis pela criação dos filhos que ficam procurando atribuir a alguém a culpa pela
entrada da droga na família.
Com essa reflexão, faz-se a passagem para o relato das entrevistas com as famílias de
dependentes químicos.
68
2.3.2 Das famílias atendidas por assistentes sociais
Como já citado anteriormente tão importante quanto saber sobre o trabalho de assistentes
sociais, é saber sobre as famílias que são atendidas por esses profissionais: o que pensam
sobre o serviço que os assistentes sociais prestam, qual o seu perfil e assim por diante.
Foram entrevistadas seis famílias com o seguinte perfil: três eram esposas, uma era mãe, um
era tio e o outro irmão dos indivíduos com dependência química. Desses entrevistados, apenas
dois estavam com um ano ou mais de tratamento, os demais tinham entre um dia e três meses
de tratamento.
Quando se perguntou por quais profissionais haviam sido atendidas, cinco foram atendidas
por assistentes sociais e psicólogos, e dentre essas cinco, uma também fora atendida por um
médico ou enfermeiro. Os profissionais com quem mais tinham contato eram assistente social
e psicólogo. Todas responderam que eram atendidas em grupo e individualmente, segundo
necessidade. Quando se perguntou de que forma o assistente social contribuiu ou contribui
com seu tratamento, foram dadas as seguintes respostas:
“Ajuda na forma de tranquiliza-la no tratamento da Instituição” (Família A).
“Ajuda a encontrar respaldo para as situações pendentes” (Família B).
“Na orientação sobre o tratamento e a co dependência” (Família C e F).
“Auxiliando na questão da orientação” (Família D).
“Encaminhando para um grupo de apoio” (Família E).
Inicialmente, as respostas parecem vagas ou atribuem pouca contribuição ao profissional do
serviço social. Mas ao ouvir essas famílias percebemos como as expressões vão muito além
das palavras. Porque o que parece uma simples orientação ou encaminhamento pode fazer
toda diferença na vida de uma família. Desde que o profissional esteja munido de
conhecimento técnico-operativo, que segundo Guerra (2012) citada por Santos (2013, p. 27),
“se constitui no modo da profissão pela qual ela é conhecida. Responde as questões: Para que
fazer? Para quem fazer? Quando e onde fazer? O que fazer? Como fazer”?
69
É importante que o profissional esclareça para a família qual é o seu papel, e as razões de sua
condução do caso. Por isso, foi solicitado às famílias que citassem pelo menos dois fatores
que consideravam importantes no trabalho do assistente social durante o seu tratamento, e
foram dadas as seguintes respostas (exceto a Família F, que não quis responder à pergunta):
“Grupo de família e orientação do tratamento”. (Família A);
“Dinâmicas em grupo e resolver problemas com a família”. (Família B);
“Atenção, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento”. (Família C);
“Entrevista com dependente químico e orientação familiar quanto à perda de um ente
querido”. (Família D);
“Atenção quanto ao meu problema, trazendo paz e direção e quais passos deveriam ser
seguidos”. (Família E);
Como comentado anteriormente, os problemas vividos não se limitam às drogas, por
exemplo, perder um ente querido também vulnerabiliza uma família. O atendimento que
considera essa complexa situação favorece que a pessoa supere a co dependência na família.
Por isso a importância da “escuta humilde”, mencionada pelo Assistente Social D, no sentido
de ir além do que trouxe a família, e incluir o que ela apresenta naquele momento.
Tão importante quanto saber sobre a contribuição do trabalho do assistente social junto às
famílias, é saber das próprias famílias onde os profissionais precisam melhorar sua forma de
atuação. Sobre isso, foi pedido às famílias que citassem pelo menos dois fatores que
perceberam faltar na atuação do assistente social:
“No começo podia ter dado mais dinâmicas”. (Família B);
“Visita social em casa e atenção às necessidades físicas”. (Família C);
“Mais visitas ao dependente químico”. (Família D);
“Hoje em dia tem noção do que é e ficou surpresa, então como está conhecendo não tem
como apontar falha ou falta, por que é tudo muito novo”. (Família F).
As Famílias A e E não quiseram responder a essa questão, mas justificaram verbalmente que é
porque não percebem que falta nada no trabalho do assistente social.
70
Na fala da Família C, pode-se perceber uma associação entre duas políticas públicas:
assistência social e saúde, como fatores importantes para melhora da qualidade de vida
daquela família. Essa fala corrobora a importância de se dar voz à família e convidá-la a
participar do seu próprio processo de doença/saúde.
Já a Família D expressa uma noção típica de uma pessoa co dependente, que se esquece de
que está sendo abordada em seu tratamento e pensa que apenas o seu dependente precisa de
ajuda. Pode demorar algum tempo até a família perceber que também precisa de
acompanhamento. E isto porque foca por demais nos problemas do dependente e se esquece
de olhar para seus próprios problemas. Mas temos sempre que nos lembrar da família como
processo dinâmico, histórico e com seu tempo próprio, o que não é diferente com o serviço
social.
A profissão do Serviço Social vem historicamente marcada pelo assistencialismo, caridade e
filantropia. E muitos ainda a veem dessa maneira, por mais que desde os anos 1980 venha
sendo feito um trabalho de mudança sobre os aspectos técnicos e éticos da profissão. Esse
preconceito pode ser superado à medida que somos conhecidos e reconhecidos pela sociedade
como “um trabalhador especializado que vende na sua capacidade de trabalho para algumas
entidades empregadoras, predominantemente de caráter patronal, empresarial ou estatal que
demandam essa força de trabalho qualificada e a contratam” (IAMAMOTO, 2003, p. 24).
Mas que, ao mesmo tempo, busca uma ética de transformação da sociedade diante das
questões sociais.
Foi perguntado para as famílias o que elas conheciam do trabalho do assistente social antes de
iniciarem o tratamento e que visão desenvolveram quando terminaram ou interromperam o
tratamento. O quadro I expõe esses dados.
71
QUADRO I: Como as famílias percebiam e como percebem o trabalho do assistente
social antes e depois do seu acompanhamento
Antes
Depois
“Que tratava apenas de situação financeira da
“Que também faz encaminhamento para tratamento
família e do indivíduo”. (Família A)
psicológico de toda família”. (Família A)
“Não conhecia o trabalho”. (Família B)
“Importante ponte entre a família e o dependente
químico”. (Família B)
“O que realmente é”. (Família C)
“De extrema importância no tratamento”. (Família
C)
“De um profissional distante”. (Família D)
“Trata-se de um profissional capacitado, correto,
comprometido e ético”. (Família D)
“Alguém impessoal, que só orientava quanto aos
“Feliz pelo apoio recebido e a dedicação em todo o
passos a ser seguidos”. (Família E)
atendimento do parente”. (Família E)
“De quem cuidava das crianças sem família ou
“Trabalho mais amplo, atencioso, onde podemos
conhecer melhor para saber de onde vêm certos
problemas, traumas, não nos culpar tanto e pensar
mais em nós”. (Família F)
que a família maltratava”. (Família F)
Fonte: Elaboração da autora com base nos questionários respondidos pelas famílias de dependentes químicos.
Pode-se enxergar o trabalho do assistente social na fala de cada família, porque atua nas mais
variadas expressões cotidianas, estando contemplados nessas representações. Nesse sentido:
o A questão financeira está relacionada não apenas ao encaminhamento para programas
de transferência de renda ou de emprego bem como para fazer a família ver na
sociedade possibilidades de geração de renda. Busca-se superar uma postura de
estagnação para um empoderamento, no qual o sujeito se veja como parte produtiva da
sociedade e que pode dar respostas produtivas para essa sociedade. Percebe-se nessa
família uma ampliação da sua visão em relação ao trabalho do assistente social;
o É compreensível que alguém não conheça o trabalho do assistente social antes de vir a
precisar dele. Pode-se dizer que esta família também ampliou a sua visão, passando a
perceber o profissional como um elo entre a família e o dependente;
72
o A resposta “o que realmente é” soa vaga, mesmo porque entre os próprios
profissionais ainda há uma busca por definições. A passagem para a sua resposta
“como algo de extrema importância no tratamento” também mostra uma ampliação de
olhar;
o A resposta que fala de um “profissional distante” nos parece que é de uma família que
enxergava o assistente social alheio aos problemas da sociedade, ou pelo menos,
daquela família em questão. Percebemos através das falas das famílias que não
somente o profissional deve conhecê-la, mas elas também devem conhecer o
profissional, que à medida que esse estranhamento diminui a família passa a
reconhecer o profissional dentro de sua especificidade e não apenas por que ouviu
falar;
o “Alguém impessoal, que orienta apenas”. Essa resposta é um pouco parecida com a da
Família D, no sentido desse distanciamento entre família e profissional. É como se o
assistente social orientasse e saísse de cena, e aquela família tivesse que se desdobrar
sozinha nos passos que já foram orientados. Percebemos que depois esta família vê no
profissional não apenas como um orientador, mas como alguém comprometido com
aquela família e seu familiar, que vai muito além de uma pessoa que apenas fornece
orientação sem se envolver com a situação;
o E por fim, mas não menos importante, o assistente social como aquele que cuida de
alguém fragilizado, no caso, das crianças. O que não é de se estranhar, pois ainda hoje
muitos pensam que o serviço social é apenas para cuidar dos menos favorecidos,
enquanto a profissão não se restringe a isso. Percebemos que esta família conseguiu se
abrir diante da sua própria mudança e que foi importante a atuação do cuidado do
assistente social para com ela. Segundo Faleiros (2013), o cuidado não se reduz a um
estilo de relação pessoal, mas faz parte de uma relação de inclusão, escuta e
reconhecimento do outro, como forma de acolhimento e qualidade na atenção que se
dá.
73
E, por fim, foram pedidas às famílias sugestões para que o assistente social realize com mais
qualidade o trabalho social no atendimento que lhes presta. Houve contribuições muito
significativas como:
“Mais flexibilidade nos grupos de família com relação às visitas mensais”. (Família A);
“Que ajude a família a se preparar melhor para receber de novo no lar seu ente querido”.
(Família B);
“Que busque mais conhecimento do ambiente familiar, para que o tratamento da família seja
conforme a realidade dela”. (Família C);
“Maior tempo de contato com as pessoas envolvidas no tratamento”. (Família E).
As (Famílias D e F) não responderam a essa pergunta. Em relação às que responderam,
podemos considerar que tratam de assuntos relacionados com o tratamento do seu familiar
que foge da competência dos profissionais que não têm contato direto com o dependente
químico, como é o caso de duas assistentes sociais que fizeram parte da presente pesquisa.
De forma geral, pode-se considerar que as famílias “pedem” por um atendimento que seja
voltado para sua realidade, o que confirma o que foi discutido no relato da pesquisa, quando
se ressaltou que a ação do profissional de serviço social deve está centrada nas reais
necessidades da família e não naquilo que o profissional considera ou não o melhor para cada
família.
Sair de uma visão rotineira, acrítica e reducionista nos dará uma maior competência para
propor e defender nossa ação profissional, indo ao encontro das necessidades dessas famílias,
que pedem um maior tempo de atendimento por parte do profissional. A realidade está aí, e
cabe ao profissional se apropriar das ferramentas e aproveitar o anseio das famílias para
realização do seu trabalho com vista a efetivar direitos e fortalecer a autonomia das famílias
na superação de suas vulnerabilidades.
2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
74
Nesta pesquisa, buscou-se colaborar para o conhecimento e a sistematização de diretrizes
voltadas para o trabalho de assistentes sociais no atendimento a famílias de dependentes
químicos (tanto pela visão do assistente social quanto das famílias atendidas), de maneira
consistente com uma proposta de gestão social e de desenvolvimento local.
Para alcançar essa visão, os profissionais precisam ser capazes de romper com uma visão
endógena que segundo Iamamoto (2003):
É importante sair da redoma de vidro que aprisiona os assistentes sociais numa visão
de dentro e para dentro do Serviço Social, como predisposição para que se possa
captar as novas mediações e requalificar o fazer profissional, identificando suas
particularidades e descobrir as alternativas de ação (IAMAMOTO, 2003, p. 20).
Responder a tais requerimentos, ainda segundo Iamamoto (2003), exige ruptura com a
atividade rotineira e burocrática que acaba por reduzir o trabalho do assistente social a um
mero emprego. E ressalta ainda que “o exercício da profissão é bem mais que isso”
(IAMAMOTO, 2003, p. 21).
Nesta pesquisa, foi percebido que o assistente social dentro do seu contexto e até da sua
limitação, tenta em seu exercício profissional, atualizar-se e capacitar-se constantemente,
procurando dar respostas às demandas oriundas dos processos próprios das várias expressões
que a questão social apresenta. Mesmo com o pouco tempo de formação da maioria dos
profissionais que atuam na área, eles são capazes de fazer a leitura da realidade a fim de
melhorar a qualidade do seu atendimento.
Entretanto, percebeu-se também que não é fácil para os profissionais elaborar as dificuldades
que enfrentam na realização do trabalho social com famílias de dependentes químicos. Citamse:
Falta de Recursos Humanos;
A co dependência dos familiares;
Falta de interlocução com a rede social de atendimento;
Falta de suporte social para a família.
Falta de coesão da equipe interdisciplinar;
Há falta de reconhecimento de que o uso abusivo de drogas deve ser trabalhado para
além do indivíduo em situação de adoecimento.
Oferta de serviços (esfera pública) com baixa flexibilização de horários;
Falta de pratica neste tipo de atendimento.
75
Apesar desses problemas, os assistentes sociais acreditam no que fazem mesmo quando há
escassez de recursos (material e humano). Pode-se dizer que se apoderaram da sua prática e
do seu conhecimento teórico e crítico, em consonância com o projeto ético da profissão.
É importante observar que a famílias não representam mais o assistente social como alguém
que faz filantropia e doa bens materiais. Pelo contrário, atualmente, estão exigindo mais dos
profissionais, consoante com o que vem sendo definido nas competências profissionais da
área. Cabe, neste momento, uma escuta sensível aos apelos que as famílias fazem ao
profissional, para que se trabalhe não apenas para as famílias, mas com as famílias que
enfrentam o problema da droga por um de seus familiares.
Finalmente, é preciso reconhecer que este assunto está longe se esgotar. O presente estudo
buscou contribuir para a questão do trabalho do assistente social com famílias de dependentes
químicos e as suas conclusões também apontam para a necessidade de novas pesquisas. Além
de investigações científicas, pode-se também pensar na necessidade de se desenvolver, nos
serviços, mais ações participativas e colaborativas, por meio das quais as famílias venham a
ter vez e voz diante do que querem para suas próprias vidas. Cabe aos profissionais, que não
são os detentores de todo o saber, contar com o público atendido para avaliar os serviços, a
fim de que a atuação do profissional possa melhorar cada vez, com vistas à transformação na
vida das pessoas atendidas.
REFERÊNCIAS
ABRANCHES, Mônica. Controle Social e planejamento urbano participativo:
contribuições do Serviço Social. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço
Social de Minas Gerais. v. 3. n. 5. p 74-81. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de
2014.
BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da
profissão. - 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, 2012.
Disponível em: < http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf>. Acesso em: 20
set. 2012.
76
CORDIOLI, Sérgio. Enfoque Participativo no Trabalho com Grupos. In: Rose, Markus
(Org) Metodologia Participativa - Uma Introdução a 29 Instrumentos. Tomo Editorial /
Participe / Amencar, Porto Alegre, 2001. 312p.
DINIZ, Tânia Maria Ramos de Godoi. Questão urbana e direito à cidade: reflexões sobre o
trabalho social na política urbana. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço
Social de Minas Gerais. v. 3. n. 5. p 63-69. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de
2014.
FALEIROS, Vicente de Paula. Desafios de cuidar em Serviço Social: uma perspectiva
crítica. Rev. katálysis [online]. 2013, vol.16, n.spe, pp. 83-91. ISSN 1414-4980. Disponível
em: < http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/en_06.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2013.
FÁVERO, Eunice Teresinha; FORTI, Valéria. Serviço Social no campo sociojurídico:
possibilidades e desafios na consolidação do projeto ético-político do profissional. Revista
Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. v. 3. n. 5. p 41-48.
Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2014.
GATTI, Bernardete Angelina. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas.
Brasília: Líber Livro Editora, 2005, 77p.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil. - 4. ed. - São
Paulo : Atlas, 2002.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social / Antonio Carlos Gil. - 6. ed. São Paulo : Atlas, 2008.
GRACIOTO, Ariane; GOMES, Caren Jaqueline; ECHER, Isabel Cristina and LORENZI,
Paula Del Corona. Grupo de Orientação de Cuidados aos Familiares de Pacientes
Dependentes. Rev. bras. enferm. [online]. 2006, vol.59, n.1, pp. 105-108. ISSN 0034-7167.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n1/a20v59n1.pdf>. Acesso em: 07 jul.
2013.
GUERRA, Yolanda Aparecida Demetrio. Em defesa da qualidade da formação e do
trabalho profissional: materialização do projeto ético-político profissional em tempos de
barbárie. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais.
v. 3. n. 5. p 34-40. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2014.
IAMAMOTO, Marilda V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação
profissional. 6 ed. São Paulo: Cortez , 2003, 326p.
LACERDA, Lélica Elis P. de. Exercício profissional do assistente social: da
imediaticidade às possibilidades históricas. Serv. Soc. Soc. [online]. 2014, n.117, pp. 22-44.
ISSN 0101-6628. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n117/03.pdf>. Acesso em:
12 jan. 2015.
MARTINS, Eliana Bolorino Canteiro. Políticas educacionais e contribuições para o serviço
social. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. v.
3. n. 5. p 56-62. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2014.
77
MASSON, Fátima de Maria. Serviço Social, Projeto Profissional e Prática na Saúde. Revista
Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. v. 3. n. 5. p 49-55.
Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2014.
MENDONÇA, Patrícia Maria E.; GONCALVES-DIAS, Sylmara Lopes
Francelino and JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. Gestão Social: notícias sobre o campo de
estudos e práticas a partir das interações e debates do VI Enapegs. Rev. Adm.
Pública [online]. 2012, v.46, n.5, pp. 1391-1408. ISSN 0034-7612. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rap/v46n5/a10v46n5.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2013.
NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e serviço social. São Paulo: Cortez, 2007. 176p.
SANCHEZ, Keila de Oliveira Lisboa; FERREIRA, Noeli Marchioro Liston
Andrade; DUPAS, Giselle e COSTA, Danielli Boer. Apoio social à família do paciente
com câncer: identificando caminhos e direções. Rev. bras. enferm. [online]. 2010, v.63, n.2,
pp. 290-299. ISSN 0034-7167. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n2/19.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2013.
SANTOS, Cláudia Mônica dos. A dimensão técnico-operativa e os instrumentos e técnicas no
Serviço Social. / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. Ano 2, n. 3. p 25-30
Revista Conexões Gerais. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2013.
SERRA, Rose M. S. Crise de materialidade no serviço social: repercussões o mercado
profissional. 2 ed. São Paulo, Cortez, 2000. 200p.
SILVA, Eloy Aparecida da. Família e repercussões no abuso e dependência do álcool. In:
CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira (organizadora). Família e...: intergeracionalidade,
equilíbrio econômico, longevidade, repercussões, intervenções psicossociais, o tempo, filhos
cangurus, luto, terapia familiar, desenvolvimento humano e social, afetividade, negociação.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012, p. 83-97.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 6 ed.
São Paulo: Atlas, 2005, 96p.
78
3. TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES
QUÍMICOS: uma cartilha para uso no campo de atuação do
assistente social.
Rozeli Carvalho S. SOARES16
Maria Lúcia M. AFONSO17
RESUMO
Este artigo apresenta reflexões sobre o trabalho social com famílias de dependentes
químicos numa interface com o aprimoramento intelectual do profissional de serviço
social. Enfatiza a importância da qualificação desse profissional para que essa família
possa vir a superar as suas vulnerabilidades sociais e subjetivas, dentre estas a co
dependência, a partir da busca pela descoberta de seu potencial transformador. Como
produto técnico, apresenta uma cartilha, elaborada com vistas a contribuir para a gestão
social do trabalho dos profissionais do serviço social com famílias que tem pessoas com
problema de dependência química. A cartilha foi baseada na presente dissertação e
contou com a colaboração de outros profissionais de serviço social, que ajudaram a
discutir e avaliar o seu conteúdo.
Palavras-chave: Gestão Social. Trabalho social. Família. Dependência química. Co
dependência.
ABSTRACT
This paper reflects on the social work with families of drug addicts in an interface with
intellectual improvement of professional social work. Emphasizes the importance of the
classification of professional so that this family can come to overcome their social and
subjective vulnerabilities, among them the co dependency, from the search for the
discovery of its transformative potential. As a technical product, presents a primer,
prepared in order to contribute to the social management of the work of social service
professionals with families who have people with chemical dependency problem. The
booklet was based on this thesis and with the collaboration of other social work
professionals, who helped discuss and assess their content.
Keywords: Social Management. Social work. Family. Chemical dependency. Co
dependence.
16
Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento
Local do Centro Universitário UNA.
17
Orientadora e Professora Doutora do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Social, Educação e
Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA.
79
3.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo, apresentamos uma cartilha que foi desenvolvida como produto técnico
desta dissertação, no Mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local,
com vistas a uma orientação metodológica para assistentes sociais que trabalham com
famílias de dependentes químicos. Esta cartilha, desde o seu planejamento, teve uma
proposta de caráter participativo, contando com a participação dos assistentes sociais
que também foram sujeitos da pesquisa. Assim, na pesquisa, houve a preocupação de
motivar e sistematizar as suas contribuições para a construção de diretrizes e estratégias
para o trabalho social com famílias de dependentes químicos. Além de termos contado
também com a colaboração de famílias que são atendidas pelo serviço social, para
conhecermos o que elas entendam e esperam do trabalho do assistente social.
Para apresentar e fundamentar o produto técnico, o artigo traz à tona reflexões sobre a
questão social e o trabalho do assistente social, com ênfase no trabalho social com
famílias de dependentes químicos. Discorre também sobre as vulnerabilidades sociais
enfrentadas pelas famílias, mas também as suas potencialidades, que devem ser
aproveitadas como elementos que possibilitam a transformação pessoal, familiar e
social. O capítulo reflete ainda, de maneira breve, sobre o fenômeno de co dependência
nas relações familiares e sobre o trabalho com famílias de dependentes químicos na
perspectiva do serviço social. Apresenta ainda a descrição detalhada do produto técnico
(que é a cartilha). E por fim tece as considerações finais.
3.2 A QUESTÃO SOCIAL E O PROCESSO DE TRABALHO DO ASSISTENTE
SOCIAL
A questão social é a base histórica da fundamentação do serviço social, matéria-prima
ou objeto de atuação do assistente social, no cotidiano dos sujeitos, que provoca a
urgência da intervenção do profissional. Poderíamos dizer, concordando com Serra
(2000), que a questão social vai além da matéria-prima da profissão, mas constitui-se na
razão de existência do serviço social.
80
Para Iamamoto (2003), é a questão social em suas múltiplas expressões que provocam a
necessidade da ação profissional junto às diversas necessidades da sociedade.
“Pesquisar e conhecer a realidade é conhecer o próprio objeto de trabalho, junto ao qual
se pretende induzir ou impulsionar um processo de mudança” (IAMAMOTO, 2003, p.
62):
Dessa forma, é, também, trabalho do (a) Assistente Social: explicar os
processos sociais que (re) produzem as expressões da questão social e como
esta afeta os sujeitos sociais, que a vivenciam em suas relações sociais
cotidianas; explicar as particularidades das condições sócio-históricas e
culturais no país, que fundam os direitos sociais como conquistas e/ou
concessões do poder e as dificuldades, limites e potencialidades para a
concretização desses na prática; por fim, contribuir na construção de uma
nova forma de fazer política, capaz de ultrapassar os influxos democráticos
de um contexto guiado pelo projeto neoliberal que tem, como um dos
resultados, a transferência da atenção da pobreza da esfera pública dos
direitos para a dimensão privada do dever moral (IAMAMOTO, 2000; 2006
apud FONSECA, 2008, p. 24).
Quando se fala de prática profissional, relacionamos diretamente à sociedade, pensando
esta como espaço de movimento e de contradições. E a prática está relacionada ao
trabalho, meio pelo qual o homem se realiza e se materializa e ainda se afirma como um
ser que dá respostas práticas e conscientes às suas necessidades: “É pelo trabalho que as
necessidades humanas são satisfeitas, ao mesmo tempo em que o trabalho cria outras
necessidades” (IAMAMOTO, 2003, p. 60).
Costa e Madeira (2013) enfatizam que ao criar por meio do trabalho, o indivíduo
transforma o seu meio e a si mesmo, uma vez que, no fim do seu processo de trabalho
angaria outros conhecimentos e aprendizados que, no início de seu empreendimento,
ainda não detinha.
Na realização de qualquer tipo de trabalho há dispêndio de força humana por sujeitos
que vendem sua força de trabalho por um salário para sua sobrevivência. Sendo assim,
no processo de trabalho do serviço social é relevante também pensar a categoria dos
assistentes sociais enquanto força de trabalho, dentro do cenário capitalista, que compra
a força de trabalho que é colocada no mercado. É importante frisar que essa força de
trabalho é uma mercadoria especial, pois ela pode criar outras mercadorias. Como
ressalta Ferreira et.al (2010):
81
Como trabalho vivo, ela atua sobre as matérias-primas utilizando os
instrumentos de trabalho e criando novos produtos, novas mercadorias que
serão apropriadas pelos capitalistas e comercializadas no mercado para
satisfação das necessidades dos consumidores. Nessa relação, os
trabalhadores produzem simultaneamente as mercadorias e a riqueza através
da apropriação de trabalho não pago ou excedente (base da riqueza). Esse
trabalho excedente, apropriado pelo capitalista [...], possibilita o capitalista
reinvestir no processo de produção e extrair um número maior de mais-valia,
aumentando o capital [...]. O tempo que o trabalhador dedica ao trabalho está
sob o controle do capitalista, não possuindo meios de produção, o produto do
seu trabalho não lhe pertence, mas a quem o contratou, o capitalista
(FERREIRA et al, 2010, p. 80).
Apesar da profissão de serviço social ser regulamentada pela lei como uma profissão
liberal, no decorrer da gênese da profissão não é isso que tem se assumido. Justamente
em função do sistema capitalista que aprisiona alguns profissionais que se prendem a
burocratização das suas atividades, ou meramente a um fazer profissional pela troca de
um salário, focado apenas nos limites e se esquecendo das possibilidades. É importante
concordando com Iamamoto (2003, p. 21) que o assistente social perceba que “sempre
existe um campo para a ação dos sujeitos, para proposição de alternativas criadoras e
inventivas, resultantes da apropriação das possibilidades e contradições presentes na
própria dinâmica da vida social”.
A intervenção profissional não pode ficar restrita a operacionalidade, rotina ou
burocratização da profissão, é necessário a ampliação dos fenômenos, buscando superar
e romper com a fragmentação e imediaticidade com que esses fenômenos se apresentam
na nossa realidade. As relações entre estruturas e sujeitos profissionais fazem-nos
refletir que assistentes sociais estão imersos em um processo histórico, mas que também
fazem a sua história, no entanto, muitas vezes a fazem a partir de certas condições que
fogem da sua decisão.
Mesmo diante das condições a qual o sistema capitalista influencia diretamente a
atuação do assistente social, por ser uma “profissão particular inscrita na divisão social e
técnica do trabalho coletivo da sociedade profissional que vende sua força de trabalho”
(IAMAMOTO, 2003, p. 22), pensar a profissão sendo construída a partir de elementos
internos e externos é uma tarefa cotidiana que requer acompanhamento sistemático da
dinâmica social, além de esforço individual munido de competência teórica, técnica e
metodológica.
82
O trabalho do (a) assistente social é constituído de um processo de trabalho
construído historicamente e socialmente determinado pelo jogo de força que
compõe uma dada realidade social. A inserção do trabalho do (a) assistente
social no processo de trabalho coletivo é caracterizada pela forma particular
de serviço que se efetiva em espaços institucionais (FONSECA, 2008, p. 18).
Segundo Fonseca (2008), pode-se afirmar que o serviço social como trabalho
especializado, se expressa sob forma de serviços. No entanto, concordamos quando ela
diz que essa prestação de serviços, independente de estar ligada diretamente ao órgão
público ou privado, podem representar respostas às necessidades legítimas da
população. Portanto, “o serviço social tem um efeito que não é só material, mas,
também, social” (FONSECA, 2008, p. 19), uma vez que estes efeitos no campo do
conhecimento, da cultura, dos valores interferem na vida dos sujeitos. E são esses
efeitos que o processo de trabalho do assistente social tem uma objetividade social que
se expressa sob a forma de serviços:
Tendo o trabalho do (a) Assistente Social íntima relação com a questão do
poder, é possível, através dele, contribuir com o processo de democratização:
na socialização de informações que subsidiem a formulação/gestão de
políticas e acesso a direitos sociais; na articulação da sociedade civil; na
gestão e avaliação das políticas; na ampliação do acesso a informações,
fortalecendo indivíduos sociais, para interferir nos rumos da sociedade.
(FONSECA, 2008, p. 23).
É importante pensar a profissão tanto em seu caráter “interno”, que depende do
desempenho profissional de cada um quanto de seu caráter “externo” determinado pelas
circunstâncias sociais nas quais se realiza a prática do assistente social, mas não perder
de vista que segundo Ferreira et.al. (2010) o serviço social dispõe de algumas
características típicas de uma profissão liberal: a existência de uma relativa autonomia,
por parte do assistente social, quanto à forma de condição de seu atendimento junto a
indivíduos e/ou grupos sociais com as quais trabalha o que requer os compromissos com
valores e princípios éticos norteadores da ação profissional.
O serviço social é uma atividade inscrita na divisão social e técnica do
trabalho, com atribuições e objetivos específicos, atuando no âmbito político
e ideológico através dos serviços, programas e projetos previstos pelas
políticas sociais, com sua atuação incidindo diretamente nas condições de
vida dos sujeitos que atende, comprometida com a defesa dos direitos,
liberdade, democracia, entre outros elementos (COSTA; MADEIRA, 2013,
p. 109).
83
As autoras Iamamoto (2003), Fonseca (2008) e Costa; Madeira (2013) concordam
quando afirmam que mesmo dentro do sistema ao qual a profissão está submetida, no
entanto, o profissional de serviço social não pode negar as possibilidades da relativa
autonomia na condução do seu trabalho. Isto lhe permite atribuir uma direção social ao
exercício profissional, por meio de estratégias e técnicas metodológicas que articulem
mediações entre as situações de vida dos (as) usuários (as), sua trajetória pessoal, um
referencial teórico-crítico e o compromisso com os valores e princípios éticos expressos
no Código de Ética Profissional do Assistente Social.
Esse compromisso requer um profissional crítico, teoricamente qualificado e
politicamente articulado com as questões atuais. Não depende apenas da “boa” intenção
dos profissionais, mas do seu investimento nos diversos níveis de capacitação e de
organização da categoria profissional; responsabilidade esta do profissional enquanto
sujeitos participantes do processo de fortalecimento da profissão e da ética.
Especificamente no presente artigo frisamos a importância dessa qualificação
profissional no trabalho voltado ao atendimento social de famílias com problemas de
dependência química – que tem suas vulnerabilidades em função do problema que o
grupo familiar viver, mas que também tem potencialidades que deve ser vislumbrada
pelo profissional de serviço social. Cabe a este profissional buscar a arte complexa de
articulação entre teoria e prática, em ruptura com a visão moralista e fatalista que a
profissão carrega sobre si. Criar formas de aperfeiçoar o conhecimento e competências
para o enfrentamento das diversas questões sociais, dentre elas a superação da
vulnerabilidade por parte das famílias.
3.3
O
TRABALHO
SOCIAL
COM
AS
VULNERABILIDADES
E
POTENCIALIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
QUÍMICA
A instituição familiar tem variações ao longo da história, das culturas e dos diferentes
agrupamentos sociais. Para efeitos deste artigo, por concordarmos com uma definição
ampla de família e também porque estabelece uma sintonia com a política social, dentro
84
da qual é desenvolvido o trabalho social com famílias, adotaremos o conceito de família
da PNAS (BRASIL, 2004):
[...] é preponderante retomar que as novas feições da família estão intrínseca
e
dialeticamente
condicionadas
às
transformações
societárias
contemporâneas, ou seja, às transformações econômicas e sociais, de hábitos
e costumes e ao avanço da ciência e da tecnologia. O novo cenário tem
remetido à discussão do que seja a família, uma vez que as três dimensões
clássicas de sua definição (sexualidade, procriação e convivência) já não têm
o mesmo grau de imbricamento que se acreditava outrora. Nesta perspectiva,
podemos dizer que estamos diante de uma família quando encontramos um
conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e,
ou, de solidariedade. Como resultado das modificações acima mencionadas,
superou-se a referência de tempo e de lugar para a compreensão do conceito
de família (BRASIL, 2004, p.42).
Salientamos ainda que quando falamos de famílias, estamos alargando a concepção para
compreender também laços de afeto e solidariedade e não somente a vinculação
consanguínea.
Reconhecermos que a família é a primeira referencia do ser humano, sendo uma
importante mediadora entre o indivíduo e a sociedade, na qual aprendemos a perceber o
mundo e nos situarmos nele. Entretanto, na situação de dependência química, essas
relações se tornam bem mais complexas, e essas famílias que se encontram em meio a
essa situação apresentam características peculiares que merecem atenção na realização
do trabalho social com elas.
A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume é
mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando,
continuamente os deslocamentos entre o público e o privado, bem como
geradora de modalidades comunitárias de vida. Todavia, não se pode
desconsiderar que ela se caracteriza como um espaço contraditório, cuja
dinâmica cotidiana de convivência é marcada por conflitos e geralmente,
também, por desigualdades, além de que nas sociedades capitalistas a família
é fundamental no âmbito da proteção social (BRASIL, 2004, p.42).
Devido a essa característica familiar que é dinâmica e de multifacetas é que segundo
Gueiros (2010) há uma necessidade de se conhecer, em profundidade, as famílias às
quais estão direcionadas as ações, pois, pela própria multiplicidade de configurações,
formas de convivência – diretamente relacionadas à suas condições sociais, crenças e
hábitos culturais – e por constituírem espaço de contradições e conflitos, tais famílias
apresentam significativas diferenças entre si, mesmo fazendo parte de um mesmo
85
segmento social. Identificar no que as famílias se igualam e no que elas se diferenciam
parece ser um dos primeiros desafios que se apresenta para os serviços cuja
responsabilidade é a de implementação de políticas sociais, por meio da estruturação de
ações que possam ser efetivas e eficazes para a população alvo.
É importante salientar ainda que estas famílias devem ser pensadas dentro do modelo
sistêmico, que por sua vez, pauta-se na teoria dos sistemas, que preconiza a vida como
uma experiência partilhada e partilhável, ou seja, não existe fenômeno isolado em seu
contexto. Silva (2012) explica que a unidade familiar é composta pelas tarefas e pelos
papéis que cada um exerce no sistema e como cada pessoa se relaciona com a outra,
constituindo vínculos de reciprocidade e interdependência. Assim, podemos dizer que o
problema da dependência química atinge o contexto familiar como um todo, impactando
tanto as vulnerabilidades quanto as potencialidades dessas famílias.
Segundo Bronzo (2009) a vulnerabilidade está relacionada com a capacidade de
resposta seja ela material ou simbólica que os indivíduos, famílias ou comunidades
conseguem dar frente uma situação que estão vivendo. “As políticas e programas se
inserem neste campo como elementos que podem fortalecer a capacidade de respostas
das famílias e de seus membros para reduzir-lhes a vulnerabilidade” (BRONZO, 2009,
p.173).
Schaurich e Freitas (2011) apresentam que o conceito de vulnerabilidade tem sua
origem na área da advocacia internacional pelos Direitos Universais do Homem,
estando relacionado a grupos ou indivíduos fragilizados, tanto jurídica como
politicamente, na proteção, promoção e garantia de cidadania.
De acordo com Pettengill e Angelo (2006) a vulnerabilidade da família em uma situação
de doença pode ser definida como se sentir ameaçada em sua autonomia, sob pressão da
doença. “A vulnerabilidade é um sentimento dinâmico e contínuo, com momentos de
alternância em relação às consequências” (PETTENGIL; ANGELO, 2006, p. 281).
A partir do reconhecimento das vulnerabilidades da família, podemos planejar as
intervenções que a ajudarão no seu enfrentamento, favorecendo assim mudanças
86
fundamentais para o seu fortalecimento, o que pode demandar intervenções em
diferentes frentes, ligadas aos direitos sociais.
O componente social das análises de vulnerabilidade refere- se às diferentes
possibilidades de os indivíduos obterem informações, sua capacidade de
metabolizá-las e ao poder de incorporá-las a mudanças práticas na vida
cotidiana. Considerando que as possibilidades de mudança não dependem
somente da vontade dos indivíduos, mas também do contexto em que tais
individualidades se conformam e se manifestam, tais condições estão
diretamente associadas a aspectos do bem-estar social, como moradia,
escolarização, serviços de saúde e de educação de qualidade, disponibilidade
de recursos materiais e acesso a bens de consumo (PETTENGILL;
ANGELO, 2006, p. 281).
Da mesma maneira, devemos reconhecer as possibilidades dessas famílias, para facilitar
as transformações necessárias em suas vidas. A situação de fragilidade causada pela
dependência química não é argumento para que o profissional as trate como incapazes
de desenvolver recursos para enfrentar as suas vulnerabilidades. É importante
reconhecer que, mesmo em meio a conflitos e sofrimentos vividos, ainda podem ser
capazes de reconhecer, desenvolver e fortalecer as suas potencialidades para
promoverem mudanças em suas vidas.
O trabalho de acompanhamento das famílias em estado de vulnerabilidade, e neste caso,
com problemas de dependência química, deve ser voltado para o fortalecimento dos
seus vínculos com o pressuposto de que o fortalecimento e a qualificação desses
vínculos estão associados à melhora da qualidade da organização familiar que
potencializa o desempenho da família no cumprimento de sua função de proteção,
cuidado e socialização de seus membros, contribuindo para a reversão de suas
vulnerabilidades.
Bronzo (2009) nos remete a importância da construção de confiança da família com o
poder público, neste caso representado pelos técnicos, na qual as “relações sustentadas
pela capacidade de resposta efetiva do Estado às necessidades identificadas constitui o
suporte fundamental para os processos de expansão de capacidades e de fortalecimento
da autonomia da família e de seus membros” (BRONZO, 2009, p.179). A autora
enfatiza ainda que mudanças no plano das subjetividades requerem intervenções
intensas, complexas e douradoras para que os indivíduos e famílias tenham condições
necessárias para processarem as mudanças.
87
Buscar e reconhecer as potencialidades dessas famílias permite segundo Bronzo (2009)
o fortalecimento e a capacidade de resposta e o desenvolvimento de habilidades que
culmina na redução da vulnerabilidade, que vai ao encontro de uma das diretrizes da
PNAS (BRASIL, 2004) citado por Bronzo (2009), “utilizar e potencializar os recursos
disponíveis das famílias, suas formas de organização, sociabilidade e redes informais de
apoio, com foco no resgate de sua autoestima”.
As famílias de dependentes químicos estão inseridas neste contexto de vulnerabilidades,
mas também de potencialidades, sendo necessário, pois, desenvolver um trabalho social
próximo a realidade dessas famílias buscando maior efetividade das ações.
Segundo Silva (2012) o desenvolvimento de pesquisas com famílias de dependentes
químicos, data do início de 1954, e se ampliam na década de 1970. As pesquisas de
Silva, (2012) apontam que famílias que têm problema com dependência química
apresentam mais vulnerabilidade nas várias áreas de funcionamento. Dentre estas
destaca-se o fenômeno da co dependência, que apresentaremos a seguir através da
revisão da literatura.
3.4 O FENÔMENO DA CO DEPENDÊNCIA EM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
A co dependência não se reduz a um fenômeno psicológico, sendo nodal compreendê-la
no contexto de vida e de cidadania das famílias, inclusive analisando a sua rede social
de apoio pública e privada. Também as vulnerabilidades não se reduzem às dimensões
econômica e social, mas incluem fatores individuais e coletivos. Nesta dissertação,
defende-se que as famílias devem ser compreendidas e abordadas em sua complexidade:
representações e identidades sociais, pertencimentos sociais, vínculos afetivos e sociais.
Entretanto, é preciso dizer que na literatura pesquisada, existe uma ênfase nas relações
interpessoais e intrafamiliares no fenômeno da co dependência. Assim, neste item,
fazemos uma breve revisão da literatura buscando apreender aquilo que ela oferece.
88
Mais adiante, nas considerações finais, buscamos resgatar a ideia de que é preciso
ampliar a reflexão, dentro de uma perspectiva interdisciplinar e intersetorial, para incluir
o interjogo entre as vulnerabilidades sociais e as vulnerabilidades relacionais no
fenômeno da co dependência nas preliminares, a discussão pode abrir espaço para novas
pesquisas.
Diláscio (2001, p. 37) relata que “na literatura especializada, a co dependência é
definida como um conjunto de sintomas que afetariam o companheiro ou a companheira
de dependente químico”. Este se tornaria um viciado no vício do outro, assumindo todas
as funções que ficaram prejudicadas com o uso da droga, reforçando o comportamento
do usuário. É importante frisar que o estudo da co dependência teve início com casais
nos quais um membro era dependente de álcool, e que hoje se estende a outros
familiares e se aplica ao uso abusivo de qualquer outro tipo de droga, seja ela lícita ou
ilícita.
A co dependência é quando uma pessoa estabelece com outra (s) pessoa (s) relação de
dependência que influencia e direcionam as suas emoções, percepções e
comportamentos, inclusive aqueles relativos às doenças, à saúde e aos vínculos
amorosos. Chama-se essa dependência de paradoxal, porque a pessoa considerada
“doente” acaba por ter grande influência sobre aqueles considerados “sadios”, gerando
um adoecimento mútuo. Assim, os codependentes parecem ser pessoas das quais o
membro doente depende, mas também são dependentes deste e da própria situação de
adoecimento. Parecem fortes, mas muitas vezes se sentem desamparados. Parecem
controladores, mas frequentemente são controlados pela situação de doença, que
envolve a todos, tais como em casos de dependência química, segundo Beattie (2009).
Na co dependência a relação começa a ser tomada pelo problema, fazendo com que as
relações girem em torno desse problema. Assim, os vínculos de amor ou de amizade
perdem espaço para o foco da doença, do poder e do controle. Envolto no contexto da
dependência química o codependente acredita que pode mudar o outro e tende a focar os
seus relacionamentos para esse objetivo.
Podemos dizer então que na co dependência a família deixa de viver suas relações
familiares e passa a viver o problema da dependência química do outro, fazendo com
89
que autores como Gracioto et al (2006) a caracterizem como “a doença da família”. “A
doença crônica não se limita apenas ao doente e a seus órgãos afetados, mas abrange a
família, interferindo e modificando a vida social, os sentimentos, as atividades e as
relações pessoais e profissionais de ambos” (GRACIOTO et al.; 2006, p. 107).
Algumas das características das famílias codependentes apresentadas por Beattie (2009)
são: tomam conta da vida do outro, tem baixa autoestima, são repressoras, obsessivas,
controladores, negam o problema, é dependente do dependente químico, não se
comunica, apresenta limites fracos, falta de confiança (em si e nos outros), apresenta
raiva e tem problemas sexuais.
Segundo a mesma autora, com o tempo essas características vão se intensificando,
principalmente nos últimos estágios da co dependência e se apresentam da seguinte
forma:
Ficar alérgico, ficar deprimido, isolar-se e afastar-se, perder totalmente o
controle da rotina e da estrutura diária, abusar ou negligenciar os filhos e
outras responsabilidades, perder as esperanças, começar a planejar o
afastamento ao qual se sente aprisionado, pensar em suicídio, ficar violento,
adoecer emocional, mental ou fisicamente, comer demais ou de menos e
viciar-se em álcool e em outras drogas (BEATTIE, 2009, p. 66-67).
Estas possibilidades devem ser levadas em conta ao se trabalhar com estas famílias, mas
não podemos perder de vista a importância de fortalecer a capacidade de respostas
dessas famílias, para redução da sua fragilidade, co dependência e vulnerabilidade. Fazse necessário, pois, trabalhar a capacidade de superação frente aos riscos advindos do
problema da dependência química.
É importante no fortalecimento da família codependente que seus membros em seus
diferentes papéis, estejam todos envolvidos no processo de tratamento, uma vez que o
problema da dependência química, como já citado, atinge todos os membros da família.
Assim, uma reflexão sobre alguns aspectos do tratamento baseado na visão
sistêmica se faz necessário. Primeiramente, a compreensão do problema sob a
perspectiva biopsicossocial, e não apenas individual. Uma das primeiras
estratégias em relação ao tratamento é o acolhimento, não no sentido da
instrução ou construção de regras, mas de escuta em relação ao problema, de
maneira circular e recursiva (SILVA, 2012, p. 94).
90
Ainda de acordo com Silva (2012) cada família escreve sua história particular,
originando uma configuração específica de obrigações, direitos que se impõem à
pessoa, cujos "débitos" devem ser contabilizados para ser leal à família, esta lealdade
familiar é uma rede invisível de expectativas do grupo de uns sobre os outros.
Esta lealdade quando descumprida – digamos – com a presença de um dependente
químico no seio familiar, leva esta a uma desestabilização física e emocional, sendo que
os familiares são acometidos “por vários sentimentos que estão misturados e contidos:
raiva, mágoas, culpa, desprezo, abandono, isolamento, vitimização, privações” (SILVA,
2012, p. 96), prejudicando a comunicação nestas famílias.
De acordo com Schenker e Minayo (2003), a família passa os seus valores e as suas
crenças através das gerações, sendo a fonte primeira de acolhimento para os seus
membros. Pelo fato de ser coresponsável pela formação dos indivíduos, a família está
diretamente implicada no desenvolvimento saudável ou adoecidos de seus membros.
Segundo Schenker e Minayo (2003) trabalhar com a família nessa perspectiva é,
sobretudo, trabalhar as relações, tendo em vista reforçar os vínculos afetivos,
esclarecendo que todo o processo de tratamento dessa família é passível de
intercorrências, assim como promover paralelamente reflexões acerca dos aspectos
sociais que envolvem a vida da família:
O pensamento sistêmico-ecológico, diversamente daquele que privilegia a
dinâmica do indivíduo, focaliza no contexto das relações as questões vividas
pelo ser humano, entendendo que todos os fenômenos se inter-relacionam,
com maior ou menor intensidade, na teia que conforma a sua existência
(SCHENKER; MINAYO, 2003, p. 305).
Assim, dependendo do ciclo vital familiar na qual a dependência se desenvolve, ficam
evidentes algumas etapas pelas quais a família passa: a primeira é a negação, na qual as
pessoas deixam de externar o que pensam e sentem. Em seguida, muitas vezes, existe
um segundo momento que é o da preocupação com as consequências do uso
principalmente no trabalho e na vida social, mas ainda tentando não tocar no assunto
91
junto ao mundo externo. A terceira etapa seria a caracterizada por uma dificuldade de
esconder o problema, pois este se torna cada vez mais evidente, sendo que alguns "arranjos familiares" - começam a se desfazer devido ao aumento de estresse familiar,
como a inversão de papéis e funções, por exemplo, “a filha mais velha cuida dos outros
irmãos devido ao uso abusivo de bebida pela mãe ou pelo pai”. A fase seguinte, ou
quarta etapa é o cansaço, a descrença e a desesperança na possibilidade de mudança. É
comum que a busca de tratamento ocorra nesta fase. Daí a importância dos profissionais
estarem preparados e disponíveis para convidar a família para a mudança. Silva (2012)
discorre que “a mudança virá a partir dos recursos e tempo da própria família [...]”
(SILVA, 2012, p. 96).
Vale ressaltar, entretanto, que “essas famílias apresentam alta variabilidade entre si e
não podem ser enquadradas em modelos simplificados e lineares” (SILVA, 2012, p.
90). Apesar de muitas famílias se apresentarem sem ação, em função do problema da
dependência química, isso não significa que não possam produzir mudanças e se sentir
protagonistas de seu próprio potencial transformador.
Além disso, como foi colocado, é importante conhecer as condições de vida dessas
famílias e os recursos disponibilizados para elas na rede de atendimento visando apoiálas no acesso aos seus direitos e nos esforços de superação de suas vulnerabilidades.
Buscando uma abordagem mais ampla, vamos agora refletir sobre o trabalho social com
famílias de dependentes químicos na perspectiva do serviço social.
3.5 TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: a
perspectiva do serviço social
Sanchez, et al., (2010), relatam que o apoio social envolve relações de troca, as quais
implicam obrigações recíprocas e laços de dependência mútua que podem contribuir
para criar sensação de coerência e controle da vida, o que beneficiaria o estado de saúde
das pessoas. As autoras ainda asseveram que as formas de apoio, intervenções e
programas utilizados no trabalho com famílias, auxilia na compreensão do tema e
favorece o planejamento de ações adequadas às necessidades da clientela.
92
O trabalho social com famílias requer cuidado com a família assim como com o
dependente químico, a preocupação com o familiar e a qualidade do cuidado prestado
são essenciais, pois isso terá um efeito significativo no processo de tratamento com o
indivíduo e sua família. Cuidar, no contexto do Estado de direito e da democracia,
significa assegurar a autonomia, reverter às discriminações, desenvolver a autoestima,
incluir sujeitos em serviços e direitos.
Além disso, uma família saudável gera menos custos seja para saúde ou para a
assistência, dando, portanto para esta família possibilidades e melhores condições de
vida.
O apoio social pode ser entendido como uma forma de ajuda para membros
familiares aprenderem a priorizar e administrar os problemas e trabalhar
colaborativamente com o sistema de cuidado à saúde. Porém, há ausência de
estratégias efetivas para orientar os membros familiares, apesar de muito já se
ter estudado sobre a sobrecarga e a angústia deles (SANCHEZ et al., 2010,
p. 292).
“A família é afetada pela doença, e a dinâmica familiar afeta o paciente” (SANCHEZ et
al., 2010, p. 292). Acaba sendo uma relação de mão dupla, onde família e dependente
químico interagem, numa relação sistêmica.
Apesar do papel fundamental, nem sempre na rede de serviços, as famílias são
abordadas como parte fundamental do tratamento, passando por processos dolorosos e
que precisa de apoio, cuidado e orientação. Por exemplo, a Lei Antidrogas 11.343/06,
não aborda a família como parte fundamental no tratamento da dependência química,
apenas a cita, e como afirma Sanchez et al., (2010), este cuidado deverá ser tanto
relativo às relações internas à família, quanto às questões socioeconômicas, o que
envolve também o poder público.
Segundo Bronzo (2009), o conhecimento da diversidade de situações de exclusão que
vivem estas famílias e o mapeamento de suas possibilidades e limites são elementos
fundamentais para uma intervenção de inserção diferenciada e flexível, na busca sempre
de fortalecer a autonomia. Podemos incorporar esse raciocínio ao trabalho social com
famílias de dependentes químicos.
93
Outro aspecto importante é a motivação da família para o tratamento; é comum ocorrer
diferença em relação à busca de ajuda, os membros da família podem estar em fase de
ação diferente para a mudança, enfatiza Silva (2012). Segundo Silva (2012), é
importante investigar as crenças familiares sobre o problema da dependência química, o
que ocorre no sistema familiar, os recursos que a família tem para lidar com ele. “A
família com dependentes deve ser esclarecida colaborativamente a fim de compreender
suas crenças em relação ao problema e a ampliação da percepção para além do
problema”, conforme orienta Silva (2012, p. 95).
Não menos importante de ser abordado no tratamento com famílias de dependentes
químicos é o resgate ou a construção de competências para lidar com segredos,
ocultamentos, negações, estigmas em relação às diversas dimensões da presença da
droga na família.
Segundo Silva (2012), grande parte das famílias de dependentes químicos quando
iniciam um acompanhamento estão em duas fases distintas: intensamente imbricadas ou
intensamente desligadas do problema. Isto quer dizer que na intervenção deve-se
observar em qual estágio esta família se encontra, para juntamente com esta pensar em
intervenções que vão ao encontro de suas necessidades, numa dimensão da
corresponsabilização.
O cuidado como uma política de direitos pressupõe sua inserção na relação profissional
emancipatória, na combinação complexa da responsabilidade ética com a inclusão
social e política, na consideração das dimensões pessoais e subjetivas e na valorização
do humano e da humanidade. “A responsabilidade ética pressupõe um olhar, não só
sobre as normas e os protocolos existentes, mas também sobre a garantia da existência
dos sujeitos, da sua sobrevivência nas relações humanas contextualizadas” (FALEIROS,
2013, p. 4).
Faleiros (2013) acrescenta que não se trata apenas de cumprir uma obrigação legal, mas
de considerar uma obrigação de respeito aos valores, às condições e à diversidade das
pessoas, para a busca da autonomia e das possibilidades da vida dos seres humanos
singulares e da coletividade, na preocupação de encontrar “o melhor caminho” para a
construção da atenção ao outro, e não apenas o encaminhamento formal ou burocrático.
94
Amaro (2012) considera que o perfil científico-humanista no Serviço Social está
presente numa construção profissional fundada em princípios éticos, diferentemente de
um perfil burocrático, centrado nas normas estabelecidas. Os assistentes sociais pensam
a profissão em sua peculiaridade no atendimento das necessidades e no enfrentamento
do mal-estar social, com o acesso a serviços e benefícios na relação entre articular
necessidades e recursos. Nesse sentido, a dimensão política da atuação está articulada à
dimensão profissional e a quem incorpora a visão da responsabilidade ética e da
consideração das necessidades do usuário.
Numa perspectiva do Serviço Social crítico, o cuidar não se reduz apenas a
um estilo de relação pessoal, mas se constrói como um valor que se agrega ao
trabalho profissional e faz parte de uma relação de inclusão, escuta e
reconhecimento do outro e de sua alteridade como forma de acolhimento e
qualidade da atenção (FALEIROS, 2013, p. 88).
Como lembra Agich (2008) o cuidado exige uma interdependência entre quem cuida e
quem é cuidado, pois a relação humana do cuidar fundamenta-se na troca, na
comunicação e na contribuição mútua que se estabelece entre o profissional ou o técnico
e o público atendido. E Faleiros (2013) colabora enfatizando que essa troca acontece
independentemente da condição de quem é cuidado, mesmo em situação de fragilidade,
pois até mesmo um olhar transmite a comunicação do ser em situação frágil e a troca de
olhares pode trazer mais ou menos conforto nessa condição.
De acordo com Platino (2009), citado por Faleiros (2013) o cuidado é uma relação em
que pode predominar o individualismo como também a solidariedade, inclusive com a
devida atenção às necessidades pessoais e sociais e do como os usuários ou público se
sentem e expressam:
Na ótica do individualismo, a pessoa atendida e o profissional são
considerados como se fossem isolados do contexto, e na ótica da
solidariedade, são considerados sujeitos sócio-historicamente situados em
relações de poder e saber com relevância para a alteridade e a diversidade na
efetivação dos direitos humanos no exercício da democracia, da participação
e da equidade (FALEIROS, 2013, p. 89).
O que aqui queremos afirmar é que esse trabalho requer uma ação política por
excelência, conforme orienta Sodré (2010). Dinamizar redes, ativar e conhecer as
95
dinâmicas produtivas dos territórios, conhecer hábitos e a cotidianidade da coletividade
posta em análise no acompanhamento que tem como foco as famílias de dependentes
químicos, ou seja, constituir-se como “um trabalho característico da ação de um
profissional de Serviço Social” (SODRÉ, 2010, p. 464).
A questão social está relacionada diretamente com o cuidar na prática do serviço social,
uma vez que, “o cuidado não só deve dar conta do exercício do direito e da sua
implementação, mas também levar em conta o sujeito concreto em suas condições
concretas de vida, como o gênero, a idade e, principalmente, a desigualdade, inclusive,
de poder”, como nos orienta Faleiros (2013, p. 86). E diz ainda que o cuidado visa uma
melhor qualidade de vida numa relação dialógica, num processo de relação
emancipatória.
Para realizar qualquer trabalho social com as famílias, é preciso enfocar todos seus
membros e suas demandas, reconhecer suas próprias dinâmicas e as repercussões da
realidade social, econômica e cultural vivenciadas por elas (PENSO; COSTA, 2009,
p.215). Ao eleger a matricialidade sociofamiliar18 como pilar do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), a Política de Assistência Social (PNAS) enfoca a família em
seu contexto sociocultural e em sua integralidade.
O trabalho social com as famílias visa apoiá-las e fortalecê-las como protagonistas
sociais, e não culpabilizá-las ou responsabilizá-las pela sua situação ou condição.
Assim, os instrumentos metodológicos do trabalho social com famílias
devem estar pautados em processo de reflexão sobre a situação de vida das
famílias e de suas prováveis condicionantes socioeconômicas e culturais. Isso
favorece a percepção da dimensão individual e coletiva da problemática
vivenciada, a definição de estratégias e de projetos individuais e coletivos de
superação da situação de vulnerabilidade social, com vistas ao efetivo
usufruto dos direitos sociais e à melhoria da qualidade de vida da população
(PENSO; COSTA, 2009, p.216).
Segundo Iamamoto (2003), a aproximação do serviço social ao movimento da realidade
concreta, às várias expressões da questão social, captadas em sua gênese e
manifestações é fundamental. A pesquisa concreta de situações concretas é condições
18
A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social fundamental para
a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social (BRASIL, 2004).
96
para se atribuir um novo estatuto a dimensão interventiva e operativa da profissão,
resguardados a componente ético político.
Em todos os momentos históricos onde emergem e se fortalecem profundas
mudanças nas relações sociais nos âmbitos, econômicos, cultural, políticos,
familiar, dentre outros, surge à necessidade de debates para compreensão e
análise dos fenômenos, no contexto social. Um dos fenômenos inseridos em
nosso contexto social está relacionado às drogas, sendo este um problema a
nível nacional e internacional, que a cada dia repercute através dos meios de
comunicação. Essa repercussão atinge não só o indivíduo e seus familiares,
como também abrange em nível macro, ou seja, o contexto social (SANTOS;
SILVA, 2007, p. 35).
Diante de tal situação, segundo Souza e Azeredo (2004, p. 51), cabe-nos então conhecer
todo esse processo onde se descortinam as competências, para a partir delas construir
criticamente, dentro do espaço de atuação do serviço social, novas ações que, preservem
sua essência, a direção ético- política definida pela categoria para a prática do serviço
social.
De acordo com Santos e Silva (2007) parafraseando com Iamamoto (2003) nossa ação
profissional não deve ter a pretensão messiânica, ou seja, acreditar que iremos conseguir
resolver todos os problemas existentes na sociedade, mas a partir das possibilidades e
dos mecanismos utilizados para a instrumentalização profissional devemos compreender
e analisar tal fenômeno construindo estratégias e táticas de ação profissional que
possibilitem a viabilização do processo técnico- operativo da proposta de intervenção.
Devemos decifrar a realidade (IAMAMOTO, 2003) que envolve a família do
dependente químico para darmos conta das necessidades conjunturais. Segundo Souza e
Azeredo (2004) essa capacidade de deciframento da realidade cotidiana nos permite
avançar na construção de respostas as demandas existentes. Esse supõe competências
múltiplas e possibilita a construção competente das respostas cotidianas.
E acrescentamos que o exercício da profissão implica em considerar a complexidade da
ação, articulando a mudança com a resolução do problema, dentro do contexto das
relações humanas e a capacidade das famílias no empenho para a superação de suas
vulnerabilidades e melhoria de seu bem estar.
97
A revisão teórica do presente artigo, juntamente com a colaboração de assistentes
sociais que participaram da pesquisa apresentada nesta dissertação, e que prestam algum
tipo de serviço para famílias de dependentes químicos, resultou em uma cartilha de
orientação teórica metodológica para assistentes sociais, com diretrizes e estratégias
para o trabalho social com famílias de dependentes químicos. Esta cartilha é parte do
produto técnico da pesquisa de Mestrado em Gestão Social, Educação e
Desenvolvimento Local. Esperamos que possa contribuir não como um manual, mas
como um material educativo que motive e apoie a reflexão dos assistentes sociais, que
muitas vezes não encontram, no campo de trabalho, referências para a sua ação
profissional. Nosso desejo é que, com esta cartilha, os profissionais se abram para a
busca constante do conhecimento, assim como venham a se motivar para a construção
de novos saberes, sempre com vistas à transformação da família em situação de
dependência química e à inovação na gestão do trabalho social com essas famílias.
3.6 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO TÉCNICO
Apresentamos uma cartilha de título: “Trabalho social com famílias de dependentes
químicos”. O conteúdo apresenta uma orientação teórico-metodológica para assistentes
sociais. A elaboração da cartilha contou com a participação dos referidos técnicos no
processo da pesquisa, com a reflexão sobre diretrizes e estratégias que sirvam para
orientar o trabalho de assistentes sociais no atendimento a famílias de dependentes
químicos, de maneira consistente com uma proposta de gestão social e de
desenvolvimento local.
Esta cartilha19 foi produzida com base em toda a dissertação (e não apenas no presente
capítulo) e está dividida da seguinte forma:
1. Reflexões sobre a questão social e o trabalho do assistente social, com ênfase no
trabalho social com famílias de dependentes químicos;
19
Cartilha completa no anexo da dissertação.
98
2. Reflexões sobre as vulnerabilidades sociais enfrentadas pelas famílias, mas também
as suas potencialidades que devem ser aproveitadas pelo profissional de serviço
social como elementos que possibilitem a transformação pessoal, familiar e social;
3. Reflexões sobre o fenômeno da co dependência nas relações familiares;
4. Reflexões sobre o trabalho social com famílias de dependentes químicos: a
perspectiva do serviço social;
5. Reflexões sobre a necessidade da articulação interdisciplinar e intersetorial na
gestão social e no trabalho social com famílias;
6. Breve resumo do contexto legal e das políticas públicas que organizam o trabalho
social com família de dependentes químicos.
É importante frisar que no decorrer da cartilha foi feita a relação da teoria – através dos
conteúdos pesquisados, com a prática – que se deu através da pesquisa de campo.
3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar a questão social como sendo matéria-prima de atuação do assistente social,
requer que pensemos que as diversas expressões da questão social também devem ser o
alicerce das nossas ações, pois atuamos dentro da sociedade e para a sociedade.
Podemos dizer que enquanto profissionais do serviço social somos desafiados a todo o
momento a compreender os processos de mudança da sociedade e ter que nos atualizar
para dar conta da realidade que nos é apresentada com nova roupagem a cada dia. E
dentro dessa nova roupagem estão os diversos modelos de famílias, e dentro dessas
mesmas famílias estão suas relações, suas diversidades, seus conflitos, suas
vulnerabilidades, na qual podemos exemplificar as famílias que vivem com o problema
de dependência química por um de seus membros. E um dos desafios da profissão é a
busca de metodologias adequadas para trabalhar a família como um grupo com
necessidades individuais, únicas e coletivas.
99
Para isso é importante a busca constante de capacitação, “a fim de oferecermos
respostas profissionais às demandas oriundas dos processos sociais próprios da
dinâmica da sociedade brasileira” (JESUS et al. 2004, p. 61). A dinâmica do trabalho
social com família de dependentes químicos requer mais que um profissional que tenha
afinidade com sua área de atuação, mas exige profissionais que estejam embasados na
análise conjuntural da nossa sociedade e que estejam abertos para a busca constante do
conhecimento científico, como orienta o código de ética profissional da categoria.
Neste sentido a intervenção profissional além do cuidado, da empatia, do apoio, do
reconhecimento diante a fragilidade, deve buscar essencialmente a capacidade de
superação dessa família perante a situação que se apresenta. E, além disso, reconhecer
que cada ser é único e as metodologias de atuação ante o fenômeno que a família
apresenta também dever ser atualizada e reavaliada segundo a demanda da própria
família.
As vulnerabilidades sociais são de diferentes tipos sendo necessário, pois uma
intervenção que vá ao encontro das necessidades dessas famílias, abordando-as também
na perspectiva do direito, do provimento das necessidades humanas e também no
trabalho com as vulnerabilidades relacionais, especialmente no caso da dependência
química. Mas muito mais que as vulnerabilidades que já estão apresentadas pelas
situações que as família vivem na sua co dependência, estão as potencialidades dessas
famílias, e cabe ao profissional juntamente com a participação da família buscar,
desenvolver, criar potencias transformadores que as ajudarão a superar ou ao menos
minimizar seu estado de vulnerabilidade.
É importante que o profissional perceba que não há nada pronto e que suas ações devem
acompanhar as mudanças da sociedade. É por isso que reafirmamos que a cartilha
presente no anexo não tem a pretensão de ensinar profissionais a lidar com famílias que
enfrentam o problema da dependência química, pelo contrário, queremos que com ela,
os profissionais de serviço social se abram a construção de ferramentas metodológicas a
partir da sua própria prática e vivência, mas nas relações com profissionais da mesma
área através das trocas de conhecimento e experiências.
100
Queremos que a partir dessa cartilha outras possam surgir, para que profissionais, sejam
experientes na área ou não, possam enxergar um material teórico, mas que ao mesmo
tempo, visem à prática e que principalmente antes de pensar que este material é para a
ação em si do trabalho social no atendimento a famílias de dependentes químicos, que o
vejam como ferramenta em primeiro lugar para aprimoramento intelectual do próprio
profissional e não como uma “injeção” para ser aplicada na família.
Desse modo consideramos imprescindível que assistentes sociais e demais profissionais
que trabalham com esse público, estejam em constante processo de aprendizagem e que
evitem pensar que já sabem o suficiente, porque a mais simples família pode agregar
muito conhecimento para o mais intelectual profissional, desde que este esteja aberto a
adquirir novos saberes e que abra seu intelecto para chegada de novos conhecimentos.
Por isso a importância de uma cartilha que não fecha o assunto, mas que traz a tona uma
reflexão para que possamos pensar em ter sempre nossa prática atrelada ao
conhecimento científico. Não pretendemos que esta cartilha seja usada como um manual
pelo profissional, queremos apenas que ela seja um suporte teórico para profissionais
que trabalham com famílias de dependentes químicos e para que possamos refletir que a
superação das vulnerabilidades sociais está nas ações incansáveis daqueles que não se
fecham em seu próprio saber.
REFERÊNCIAS
AGICH, G. Dependência e autonomia na velhice: Um modelo ético para o cuidado de
longo prazo. São Paulo: Loyola/São Camilo, 2008.
AMARO, M. I. M. A. Urgências e emergências do Serviço Social contemporâneo:
fundamentos da profissão na contemporaneidade. Lisboa: Universidade Católica
Editora, 2012.
BEATTIE, Melody. Co dependência nunca mais: Pare de controlar os outros e cuide
de você mesmo. Editora: Nova Era: 13ª edição, Rio de Janeiro. Ano 2009. 287p.
BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da
profissão. - 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, 2012.
Disponível em: < http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf>. Acesso
em: 20 set. 2012.
101
________. Lei nº 11.343, de 23 de agosto 2006. Nova Lei Antidrogas. Disponível em:
<http://www.amperj.org.br/store/legislacao/leis/11343_antidrogas.pdf>. Acesso em: 01
nov. 2013.
________. Política Nacional de Assistência Social. Brasília - PNAS/2004. Brasília:
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Disponível em:
<http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/fasc/usu_doc/pnas.pdf.>. Acesso em:
01 nov. 2013.
BRONZO, Carla. Vulnerabilidade, empoderamento e metodologias centradas na
família: conexões e uma experiência para reflexão. Concepção e gestão da proteção
social não contributiva no Brasil. Brasília: UNESCO, 2009, v.1, p. 171-204.
COSTA, Renata Gomes da e MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Trabalho, práxis e
Serviço Social. Rev. katálysis [online]. 2013, vol.16, n.1, pp. 101-110. ISSN 14144980. Acesso em: <http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n1/v16n1a11.pdf>. Acesso em: 21
set. 2014.
DILÁSCIO, Maria Guimarães. Amar-te demais: um estudo sobre a relação alcoolista/
Maria Guimarães Dilácio. Belo Horizonte: Edições do Campo Social, 2001. 159p.
FALEIROS, Vicente de Paula. Desafios de cuidar em Serviço Social: uma perspectiva
crítica. Rev. katálysis [online]. 2013, v.16, n.spe, pp. 83-91. ISSN 1414-4980.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/en_06.pdf>. Acesso em: 29 jun.
2013.
FERREIRA, Claudia Maria et al. Processo de trabalho e serviço social VII. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 184p.
FONSECA, Fernanda Fonseca da. O processo de trabalho dos (as) assistentes sociais
nos conselhos de assistência social: ajustamentos e possibilidades, 2008. Disponível
em: <http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/cp047304.pdf>. Acesso em: 21
set. 2014.
GRACIOTO, Ariane, GOMES, Caren Jaqueline; ECHER, Isabel Cristina; LORENZI,
Paula Del Corona. Grupo de Orientação de Cuidados aos Familiares de Pacientes
Dependentes. Rev. bras. enferm. [online]. 2006, v.59, n.1, pp. 105-108. ISSN 00347167. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n1/a20v59n1.pdf>. Acesso
em: 07 jul. 2013.
GUEIROS, Dalva Azevedo. Família e trabalho social: intervenções no âmbito do
Serviço Social. Rev. katálysis, Jun 2010, v.13, n.1, p.126-132. ISSN 1414-4980.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/15>. Acesso em: 07 jul. 2013.
IAMAMOTO, Marilda V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e
formação profissional. 6 ed. São Paulo: Cortez , 2003, 326p.
JESUS, Cristiane da Silva de; ROSA, Karla Terezinha; PRAZERES, Greicy Gandra
Soares. Metodologias de atendimento à família: o fazer do assistente social. Maringá,
102
v. 26 nº 1, p. 61-70, 2004. Disponível em: <file:///C:/Users/Roseli/Desktop/1618-48631-PB.pdf>. Acesso em: 14 out. 2014.
PENSO, Maria Aparecida; COSTA, Liane Fortunato. Família e Intervenções
Piscossociais. In: CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira (organizadora). Família e:
intergeracionalidade, equilíbrio econômico, longevidade, repercussões, intervenções
psicossociais, o tempo, filhos cangurus, luto, terapia familiar, desenvolvimento humano
e social, afetividade, negociação. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009. 302p.
PETTENGILL, Myriam Aparecida Mandett; ANGELO, Margareth. Identificação da
vulnerabilidade da família na prática clínica. Rev. esc. enferm. USP [online]. 2006,
v.40, n.2, pp. 280-285. ISSN 0080-6234. http://dx.doi.org/10.1590/S008062342006000200018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v40n2/17.pdf>.
Acesso em 30 out. 2013
SANCHEZ, Keila de Oliveira Lisboa et al. Apoio social à família do paciente com
câncer: identificando caminhos e direções. Rev. bras. enferm. [online]. 2010, v.63, n.2,
pp. 290-299. ISSN 0034-7167. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n2/19.pdf>. Acesso em: 05 de jul 2013.
SANTOS, Rozeli Carvalho; SILVA, Thais Angélica. Relação mãe e filho: E suas
implicações com a dependência química. 2007, 44 f. Monografia (Dependência
Química) – Escola de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Contagem, 2007.
SCHAURICH, Diego; FREITAS, Hilda Maria Barbosa de. O referencial de
vulnerabilidade ao HIV/AIDS aplicado às famílias: um exercício reflexivo. Rev. esc.
enferm. USP. 2011, v.45, n.4, pp. 989-995. ISSN 0080-6234. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n4/v45n4a28.pdf>. Acesso em 29 de out. 2013.
SCHENKER, Miriam; MINAYO, Maria Cecília de Souza. A implicação da família no
uso abusivo de drogas: uma revisão crítica. Ciênc. saúde coletiva. 2003, v.8, n.1, pp.
299-306. ISSN 1413-8123. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a22v08n1.pdf>. Acesso em 25 out. 2013.
SERRA, Rose M. S. Crise de materialidade no serviço social: repercussões o
mercado profissional. 2 ed. São Paulo, Cortez, 2000. 200p.
SILVA, Eloy Aparecida da. Família e repercussões no abuso e dependência do álcool.
In: Ceneide Maria de Oliveira Cerveny (organizadora). Família e: intergeracionalidade,
equilíbrio econômico, longevidade, repercussões, intervenções psicossociais, o tempo,
filhos cangurus, luto, terapia familiar, desenvolvimento humano e social, afetividade,
negociação. São Paulo: Cada do Psicólogo, 2012, p. 83-97.
SODRÉ, Francis. Serviço Social e o campo da saúde: para além de plantões e
encaminhamentos. Serv. Soc., São Paulo, n. 103, p. 453-475, jul./set. 2010. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n103/a04n103.pdf>. Acesso em 02 nov. 2013.
103
SOUZA, Rosany Barcellos de; AZEREDO, Verônica Gonçalves. O assistente social e
a ação competente: a dinâmica cotidiana. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, SP
Cortez, v.25, n.80, p.48-58, nov.2004.
104
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo dessa dissertação foi analisar os sentidos e as práticas dos assistentes sociais
no trabalho social com famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para a
gestão social do trabalho profissional na intercessão da área da saúde e da dependência
química. Buscou-se também trazer a questão da gestão social para refletir acerca do
trabalho do assistente social, pois pensamos ser importante também identificar como as
famílias compreendem e decifram, a prestação de serviço do assistente social.
No primeiro capítulo, foi feita uma revisão bibliográfica e identificadas as bases legais
que orientam o trabalho social com famílias de dependentes químicos. Observou-se que
a literatura na área é escassa e que nos documentos legais há pouca ou quase nenhuma
orientação sobre o trabalho com famílias de dependentes químicos, embora a família
seja reconhecida como parte fundamental do tratamento nessa área. A revisão teve,
como fio condutor, uma reflexão sobre contribuições da gestão social para o trabalho
social com famílias de dependentes químicos, questão pertinente à linha de pesquisa em
que a dissertação se insere. Concluiu-se que seria de grande contribuição a
incorporação, no trabalho com as famílias, de elementos do modelo da gestão social
notadamente
os
princípios
da
participação,
da
interdisciplinaridade
e
da
intersetorialidade.
No segundo capítulo, foi apresentada a pesquisa quanti-qualitativa que teve o objetivo
de analisar os sentidos e as práticas dos assistentes sociais no trabalho social com
famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para a gestão social do
trabalho profissional na intercessão da área da saúde e da dependência química.
Em um universo de 24 profissionais que trabalham com famílias de dependentes
químicos, todos foram solicitados a responder a um questionário e 11 responderam.
Posteriormente, foi realizado um grupo focal com 5 (cinco) profissionais. Os dados
apontam que os profissionais sentem necessidade de qualificação e de diretrizes para o
trabalho com famílias, incluindo a atuação interdisciplinar e intersetorial.
105
Os dados reforçam as suposições iniciais de que: a qualificação dos assistentes sociais é
um fator de melhoria no trabalho social com famílias de dependentes químicos; a
construção da gestão social do trabalho social com famílias de dependentes químicos
necessita da qualificação do trabalho dos profissionais de serviço social; e o trabalho
dos assistentes sociais com famílias de dependentes químicos é mais eficaz quando
articulado de forma interdisciplinar e intersetorial. Sugere-se, então, que sejam
realizadas novas pesquisas na área a fim de aprofundar essas questões.
Foram também pesquisadas, por meio de questionários, famílias atendidas nessas
instituições. Quanto às famílias, embora tenham dúvidas sobre o trabalho dos assistentes
sociais, demandam ser ouvidas e atendidas dentro da sua realidade. Mostrou-se
importante, na especificidade da área, trabalhar com a co dependência, fenômeno que
compromete as possibilidades de superação da dependência química e demais
vulnerabilidades vividas pelas famílias. Verificou-se que as famílias estão em busca de
uma melhor qualidade de vida, e contam com o profissional de serviço social para
orienta-las nesse processo de mudança, não como filantropia ou caridade. Com o
processo de aproximação do profissional à realidade dessa família, cria-se a
oportunidade de conhecimento e reconhecimento profissional.
Pensar em um serviço social crítico a partir de uma gestão social é pensar em um
profissional que esteja mais aberto à escuta dessas famílias, a partilhar a tomada de
decisão, a transparência e é claro a emancipação dessas famílias. Isto leva a refletir
também que a incorporação de uma abordagem de gestão social dentro do processo de
trabalho do assistente social com famílias de dependentes químicos, vem desconstruir o
pré-conceito de que os profissionais são detentores do saber e que os sujeitos
beneficiários são apenas os receptores da intervenção.
Além de pensar o trabalho social a partir da proposta da gestão social, é necessário
avançar no diálogo com outras áreas do conhecimento: "a necessidade de um trabalho
em equipe na execução da prática rompendo com o processo tradicional, desarticulado
do processo de conhecimento vivenciando no saber uma transformação em diferentes
áreas" (SIKORSKI; BOGADO, 2009, p. 166). O serviço social está ligado a outras
áreas, e isto é importantíssimo para seu desenvolvimento, pois o isolamento seria
106
prejudicial para a abrangência de sua prática social. E no que tange ao atendimento a
famílias de dependentes químicos, é difícil pensar em uma única disciplina ou área de
conhecimento que dê conta de responder a todas as manifestações da questão social
trazidas por este público.
Ademais, o trabalho interdisciplinar deve ser acompanhado de uma atuação
intersetorial. A atuação entre os diversos saberes é importante, mas não é suficiente. É
necessária a articulação entre as diferentes políticas públicas e setores sociais que
trabalham com a questão da dependência química, sejam eles públicos ou privados.
Como afirmaram Veiga e Ávila (2008, p. 160): “(...) é fundamental que haja um
objetivo comum a ser alcançado e que esse objetivo venha ao encontro de uma
necessidade concreta tanto do sujeito como do coletivo”.
A intersetorialidade está relacionada à prática, ou seja, ao enfrentamento dos problemas
reais que atingem a sociedade. Essa realidade social exige um olhar que não se esgota
em uma área do saber, em um setor da sociedade ou em uma política pública, como se
pode perceber na literatura pesquisa e no trabalho de campo.
Apesar das falhas na articulação das políticas públicas, é importante que os profissionais
possam buscar espaços e oportunidades que lhes permitam ser “propositivos e criativos,
e não apenas executivos” (IAMAMOTO, 2003, p.20). Isto implica em romper com as
práticas e saberes burocráticos e/ou rotineiros, e buscar a autonomia possível na
condução do trabalho profissional. Este deve ter uma direção social, com um referencial
teórico crítico e o compromisso com os valores e princípios éticos expressos no nosso
Código de Ética Profissional, logrando fazer mediações entre a situação de vida das
pessoas e sua trajetória de vida pessoal. A interlocução, bem como o diálogo entre
profissionais, os diferentes setores e as políticas pública também deve ser buscada pelos
profissionais.
A partir do reconhecimento das vulnerabilidades da família, pode-se planejar as
intervenções que a ajudarão no enfrentamento dos problemas e construção de
possibilidades, favorecendo mudanças fundamentais para o seu fortalecimento, o que
pode demandar intervenções em diferentes frentes, ligadas aos direitos sociais e ao
funcionamento familiar. Da mesma maneira, devem-se reconhecer as possibilidades
107
dessas famílias, para facilitar as transformações necessárias em suas vidas. A situação
de fragilidade causada pela dependência química não é argumento para que o
profissional as trate como incapazes de desenvolver recursos para enfrentar as suas
vulnerabilidades. É importante reconhecer que, mesmo em meio a conflitos e
sofrimentos vividos, ainda podem ser capazes de reconhecer, desenvolver e fortalecer as
suas potencialidades para promover mudanças em suas vidas.
Buscar e reconhecer as potencialidades dessas famílias permite segundo Bronzo (2009)
o fortalecimento e a capacidade de resposta e o desenvolvimento de habilidades que
culmina na redução da vulnerabilidade, que vai ao encontro de uma das diretrizes da
PNAS (BRASIL, 2004) citado por Bronzo (2009), “utilizar e potencializar os recursos
disponíveis das famílias, suas formas de organização, sociabilidade e redes informais de
apoio, com foco no resgate de sua autoestima”.
As famílias de dependentes químicos estão inseridas neste contexto de vulnerabilidades,
mas também de potencialidades, sendo necessário, pois, desenvolver um trabalho social
próximo à realidade dessas famílias buscando maior efetividade das ações. Isso
pudemos perceber através dos questionários, que é justamente o que as famílias querem:
uma intervenção que esteja em consonância com sua realidade.
Não podemos reduzir a co dependência a um fenômeno psicológico, sendo necessário
compreendê-la no contexto de vida e de cidadania das famílias, inclusive analisando a
sua rede social de apoio pública e privada. Também as vulnerabilidades não se reduzem
às dimensões econômica e social, mas incluem fatores individuais e coletivos. Nesta
dissertação, defendemos que as famílias devem ser compreendidas e abordadas em sua
complexidade: representações e identidades sociais, pertencimentos sociais, vínculos
afetivos e sociais. Isso por que na co dependência a relação começa a ser tomada pelo
problema, fazendo com que as relações girem em torno desse problema.
Nesse sentido, o modelo de gestão social, com sua ênfase na participação, na
interdisciplinaridade e na intersetorialidade pode se tornar uma referência importante. O
diálogo com o Serviço Social crítico é a ponte para essa construção de referências. Esta
dissertação não tem a pretensão de ter aprofundado esta questão, mas pode reivindicar o
mérito de tê-la convocado e apontado a necessidade de novas pesquisas na área.
108
Assim, no terceiro capítulo, apresentou-se uma reflexão sobre o trabalho do assistente
social e suas bases éticas e introduz, como apêndice, o produto técnico da dissertação:
uma cartilha dirigida aos profissionais de serviço social que trabalham com famílias na
área da dependência química. A cartilha foi construída com a participação dos sujeitos
de pesquisa e busca avançar na elaboração de diretrizes para o trabalho profissional,
com valorização da abordagem interdisciplinar e intersetorial.
Para avançar nesta questão, é necessário que os profissionais estejam abertos a novas
reflexões sobre drogas, família, políticas públicas e sistemas de proteção social, de
saúde, enfim, de formas de organizar a sociedade para melhoria da qualidade de vida da
população. O trabalho desenvolvido nesta dissertação leva à certeza de que os
assistentes sociais podem contribuir para o planejamento de políticas públicas, na área
da dependência química, em programas preventivos e de tratamento, envolvendo a
família em uma rede social com mais inclusão, autonomia e competência. Pelo que foi
percebido, com essa pesquisa, os profissionais de serviço social já estão neste caminho.
REFERÊNCIAS
ABRANCHES, Mônica. Controle Social e planejamento urbano participativo:
contribuições do Serviço Social. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de
Serviço Social de Minas Gerais. v. 3. n. 5. p 74-81. Belo Horizonte: CRESS 6º Região,
2º semestre de 2014.
AGICH, G. Dependência e autonomia na velhice: Um modelo ético para o cuidado de
longo prazo. São Paulo: Loyola/São Camilo, 2008.
AMARO, M. I. M. A. Urgências e emergências do Serviço Social contemporâneo:
fundamentos da profissão na contemporaneidade. Lisboa: Universidade Católica
Editora, 2012.
AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. A interdisciplinaridade na violência sexual. Serv.
Soc. Soc. [online]. 2013, n.115, pp. 487-507. ISSN 0101-6628. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n115/05.pdf. Acesso em: 6 out. 2014.
BEATTIE, Melody. Co dependência nunca mais: Pare de controlar os outros e cuide
de você mesmo. Editora: Nova Era: 13ª edição, Rio de Janeiro. Ano 2009. 287p.
BOBBIO, N. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da política. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1995.
109
BOURGUIGNON, Jussara. Concepção de rede intersetorial. 2001. Disponível em:
<http://www.uepg.br/nupes/intersetor.htm>. Acesso em 30 out. 2013.
BOZA, Amanda; FERREIRA, Claudia Maria; BARBOZA, Sérgio de Goes. Cultura,
família e sociedade. São Paulo: Pearson Pretice Hall, 2010. 186p.
BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da
profissão. - 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Serviço Social, 2012.
Disponível em: < http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf>. Acesso
em: 20 set. 2012.
________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 01
nov.2013.
________. Lei nº 11.343, de 23 de agosto 2006. Nova Lei Antidrogas. Disponível em:
<http://www.amperj.org.br/store/legislacao/leis/l11343_antidrogas.pdf>. Acesso em: 01
nov. 2013.
________. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Diário
Oficial da União, Brasília, 20 set. 1990a. secção 1, p.18.055. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 01 nov. 2013.
________. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 1993. Lei Orgânica da Assistência Social.
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Disponível
em: <http://www.assistenciasocial.al.gov.br/legislacao/legislacao-federal/LOAS.pdf>.
Acesso em: 01 nov. 2013.
________. Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília: MDS, 2004.
Disponível em:
<http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/fasc/usu_doc/pnas.pdf.>. Acesso em:
01 nov. 2013.
BRAUN, Edna; KERNKAMP, Clarice da Luz. A realidade regional e o serviço
social: serviço social VI / Edna Braun e Clarice da Luz Kerkamp. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010.
BRONZO, Carla. Vulnerabilidade, empoderamento e metodologias centradas na
família: conexões e uma experiência para reflexão. Concepção e gestão da proteção
social não contributiva no Brasil. Brasília: UNESCO, 2009, v.1, p. 171-204.
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo.
Ed. Saraiva. 2002. p.89-98.
CANÇADO A. C.; TENÓRIO, F. G.; PEREIRA, J. R. Gestão social: reflexões teóricas
e conceituais. In: Cad. EBAPE.BR, v. 9, n. 3, artigo 1, Rio de Janeiro, Set. 2011.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/cebape/v9n3/a02v9n3.pdf >. Acesso em 25
out. 2013.
110
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Alguns apontamentos para o debate. In:
RICO, Elizabeth de Melo; RAICHELIS, Raquel (Org.). Gestão Social – uma questão
em debate. São Paulo: Educ/IEE/PUCSP, 1999.p. 19-29.
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (adaptado). “Introdução à Temática da Gestão
Social”. In: Ávila, Célia M. (coord.) 2001. Gestão de Projetos Sociais. 3ª Revista, São
Paulo.
CENTENARO, Grizy Augusta. A intervenção do serviço social ao paciente renal
crônico e sua família. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2010, vol.15, suppl.1, pp. 18811885. ISSN 1413-8123. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s1/102.pdf>.
Acesso em: 01 fev. 2015.
CFESS. “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais e Psicólogos na Política
de Assistência Social”. 2007. Disponível em:
http://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha_CFESS_Final_Grafica.pdf. Acesso em: 12
dez. 2014.
COMERLATTO, Dunia; COLISELLI, Liane; KLEBA, Maria Elizabeth; MATIELLO,
Alexandre; RENK, Elisônia Carin. Gestão de políticas públicas e intersetorialidade:
diálogo e construções essenciais para os conselhos municipais. Rev. Katál.
Florianópolis v. 10 n. 2 p. 265-271 jul./dez. 2007. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rk/v10n2/a15v10n2.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2013.
CORDIOLI, Sérgio. Enfoque Participativo no Trabalho com Grupos. In: Brose,
Markus (Org) Metodologia Participativa - Uma Introdução a 29 Instrumentos. Tomo
Editorial / Participe / Amencar, Porto Alegre, 2001. 312p.
COSTA, Renata Gomes da e MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Trabalho, práxis e
Serviço Social. Rev. katálysis [online]. 2013, v.16, n.1, pp. 101-110. ISSN 1414-4980.
Acesso em: <http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n1/v16n1a11.pdf>. Acesso em: 21 set.
2014.
CZERESNIA, D. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. In:
______; FREITAS, C. M. (Orgs.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões,
tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003.
DILÁSCIO, Maria Guimarães. Amar-te demais: um estudo sobre a relação alcoolista/
Maria Guimarães Dilácio. Belo Horizonte: Edições do Campo Social, 2001. 159p.
DINIZ, Tânia Maria Ramos de Godoi. Questão urbana e direito à cidade: reflexões
sobre o trabalho social na política urbana. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional
de Serviço Social de Minas Gerais. v. 3. n. 5. p 63-69. Belo Horizonte: CRESS 6º
Região, 2º semestre de 2014.
FALEIROS, Vicente de Paula. Desafios de cuidar em Serviço Social: uma perspectiva
crítica. Rev. katálysis [online]. 2013, v.16, n.spe, pp. 83-91. ISSN 1414-4980.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/en_06.pdf>. Acesso em: 29 jun.
2013.
111
FÁVERO, Eunice Teresinha; FORTI, Valéria. Serviço Social no campo sociojurídico:
possibilidades e desafios na consolidação do projeto ético-político do profissional.
Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. v. 3.
n. 5. p 41-48. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2014.
FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 4 ed. Campinas:
Papirus, 1999. 54p.
FERNANDES, Rosa Maria Castilhos. Educação permanente nas situações de
trabalho de assistentes sociais. Trab. educ. saúde, Nov 2012, v.10, n.3, p.481-505.
ISSN 1981-7746. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/tes/v10n3/a08v10n3.pdf.
Acesso em: 01 fev 2015.
FERREIRA, Claudia Maria et al. Processo de trabalho e serviço social VII. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 184p.
FERREIRA, Violeta Martins and SOUZA FILHO, Edson A. de. Maconha e contexto
familiar: um estudo psicossocial entre universitários do Rio de Janeiro. Psicol. Soc.,
Abr 2007, vol.19, no.1, p.52-60. ISSN 0102-7182. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n1/a08v19n1.pdf>. Acesso em: 01 fev 2015.
FONSECA, Fernanda Fonseca da. O processo de trabalho dos (as) assistentes sociais
nos conselhos de assistência social: ajustamentos e possibilidades, 2008. Disponível
em: <http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/cp047304.pdf>. Acesso em: 21
set. 2014.
GARAJAU, Narjara. Reflexões sobre a intersetorialidade como estratégia de gestão
social. II Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. CRESS 6º Região. De 7 a 9 de
junho 2013. Disponível em: < http://www.cressmg.org.br/arquivos/simposio/REFLEX%C3%95ES%20SOBRE%20A%20INTERSET
ORIALIDADE%20COMO%20ESTRAT%C3%89GIA%20DE%20GEST%C3%83O%
20SOCIAL.pdf>. Acesso em: 25 out. 2013.
GATTI, Bernardete Angelina. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e
humanas. Brasília: Líber Livro Editora, 2005, 77p.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil. - 4. ed.
- São Paulo : Atlas, 2002.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social / Antonio Carlos Gil. - 6.
ed. - São Paulo : Atlas, 2008.
GIOVANELLA, L; FLEURY, S. Universidade de atenção à saúde: acesso como
categoria de análise. In: EIBENSCHUTZ, C. (Org.). Política de saúde: o público e o
privado. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. p. 177-198.
GRACIOTO, Ariane; GOMES, Caren Jaqueline; ECHER, Isabel Cristina and
LORENZI, Paula Del Corona. Grupo de Orientação de Cuidados aos Familiares de
Pacientes Dependentes. Rev. bras. enferm. [online]. 2006, vol.59, n.1, pp. 105-108.
112
ISSN 0034-7167. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n1/a20v59n1.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2013.
GUERRA, Yolanda Aparecida Demetrio. Em defesa da qualidade da formação e do
trabalho profissional: materialização do projeto ético-político profissional em tempos
de barbárie. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de Minas
Gerais. v. 3. n. 5. p 34-40. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2014.
GUEIROS, Dalva Azevedo. Família e trabalho social: intervenções no âmbito do
Serviço Social. Rev. katálysis, Jun 2010, v.13, n.1, p.126-132. ISSN 1414-4980.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n1/15>. Acesso em: 07 jul. 2013.
IAMAMOTO, Marilda V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e
formação profissional. 6 ed. São Paulo: Cortez , 2003, 326p.
INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento
social com intersetorialidade. Caderno FUNDAP n. 22 p. 102-110, 2001. Disponível
em: < http://www.fundap.sp.gov.br/publicacoes/cadernos/cad22/dados/Inojosa.pdf>.
Acesso em: 18 abr. 2013.
JAYME, Paviani. Interdisciplinaridade: conceito e distinções / Aromilda Grassotti
Peixoto. Caixas do Sul, RS: Educs, 2008, 2.edição e revista. 135p.
JESUS, Cristiane da Silva de; ROSA, Karla Terezinha; PRAZERES, Greicy Gandra
Soares. Metodologias de atendimento à família: o fazer do assistente social. Maringá,
v. 26 nº 1, p. 61-70, 2004. Disponível em: <file:///C:/Users/Roseli/Desktop/1618-48631-PB.pdf>. Acesso em: 14 out. 2014.
JUNQUEIRA, L A P. Descentralização, intersetorialidade e rede como estratégia de
gestão da cidade. Revista FEA-PUC-SP, São Paulo, v.1, p.57-72, Nov. 1999.
LACERDA, Lélica Elis P. de. Exercício profissional do assistente social: da
imediaticidade às possibilidades históricas. Serv. Soc. Soc. [online]. 2014, n.117, pp. 2244. ISSN 0101-6628. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n117/03.pdf>.
Acesso em: 12 jan. 2015.
MAIA, Marilene. Gestão Social: reconhecendo e construindo referenciais. Revista
Virtual Textos & Contextos, nº 4, dez. 2005. Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/1010/790>. Acesso
em: 29 out. 2013.
MARTINELLI, Maria Lúcia. O trabalho do assistente social em contextos
hospitalares: desafios cotidianos. Serv. Soc. Soc.[online]. 2011, n.107, p. 497-508.
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S010166282011000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 18 dez. 2014.
MARTINS, Eliana Bolorino Canteiro. Políticas educacionais e contribuições para o
serviço social. Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de
113
Minas Gerais. v. 3. n. 5. p 56-62. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de
2014.
MASSON, Fátima de Maria. Serviço Social, Projeto Profissional e Prática na Saúde.
Revista Conexões Gerais / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. v. 3.
n. 5. p 49-55. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º semestre de 2014.
MEDEIROS, Katruccy Tenório et al. Representações sociais do uso e abuso de drogas
entre familiares de usuários. Psicol. estud. [online]. 2013, v.18, n.2, pp. 269-279. ISSN
1413-7372. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pe/v18n2/a08v18n2.pdf>.
Acesso em: 01 fev. 2015.
MENDONCA, Patrícia Maria E.; GONCALVES-DIAS, Sylmara Lopes
Francelino; JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. Gestão Social: notícias sobre o campo de
estudos e práticas a partir das interações e debates do VI Enapegs. Rev. Adm.
Pública [online]. 2012, v.46, n.5, p. 1391-1408. ISSN 0034-7612. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rap/v46n5/a10v46n5.pdf>. Acesso em 15 abr. 2013.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2000. 118p.
NASCIMENTO, Eurípedes Costa do; JUSTO, José Sterza. Andarilhos de estrada e os
serviços sociais de assistência. Psico-USF[online]. 2014, v.19, n.2, p. 253-263.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pusf/v19n2/a08v19n2.pdf>. Acesso em: 01
fev. 2015.
NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e serviço social. São Paulo: Cortez, 2007.
176p.
OLIVEIRA, Lucia Conde de et al. Diálogos entre Serviço Social e educação
popular: reflexão baseada em uma experiência científico-popular. Serv. Soc.
Soc. [online]. 2013, n.114, p. 381-397. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n114/n114a10.pdf. Acesso em: 01 fev. 2015.
PENSO, Maria Aparecida; COSTA, Liane Fortunato. Família e Intervenções
Piscossociais. In: Ceneide Maria de Oliveira Cerveny (organizadora). Família e:
intergeracionalidade, equilíbrio econômico, longevidade, repercussões, intervenções
psicossociais, o tempo, filhos cangurus, luto, terapia familiar, desenvolvimento humano
e social, afetividade, negociação. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009. 302p.
PETTENGILL, Myriam Aparecida Mandett; ANGELO, Margareth. Identificação da
vulnerabilidade da família na prática clínica. Rev. esc. enferm. USP [online]. 2006,
vol.40, n.2, pp. 280-285. ISSN 0080-6234. http://dx.doi.org/10.1590/S008062342006000200018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v40n2/17.pdf>.
Acesso em 30 out. 2013
PINTO, Rosa Maria Ferreiro et al. Condição feminina de mulheres chefes de família em
situação de vulnerabilidade social. Serv. Soc. Soc. [online]. 2011, n.105, p. 167-179.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n105/10.pdf>. Acesso em: 18 dez.
2014.
114
PRATTA, Elisângela Maria Machado and SANTOS, Manoel Antonio dos. Reflexões
sobre as relações entre drogadição, adolescência e família: um estudo
bibliográfico. Estud. psicol. (Natal) [online]. 2006, v.11, n.3, pp. 315-322. ISSN 1413294X. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/epsic/v11n3/09.pdf>. Acesso em: 01
fev. 2015.
REGIS, Maria Figuerêdo de Araújo. O Serviço Social e a área de gestão de
pessoas: mediações sintonizadas com a Política Nacional de Humanização no Hospital
Giselda Trigueiro. Serv. Soc. Soc. [online]. 2011, n.107, p. 482-496. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n107/06.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2015.
RODRIGUES, Maria Lúcia. O Serviço Social e a perspectiva interdisciplinar. In:
MARTINELLI, Maria Lúcia; ON, Maria Lúcia Rodrigues; MUCHAIL, Salma Tannus
(org). O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber. São Paulo, Cortez,
1998.
SANCHEZ, Keila de Oliveira Lisboa et al. Apoio social à família do paciente com
câncer: identificando caminhos e direções. Rev. bras. enferm. [online]. 2010, v.63, n.2,
pp. 290-299. ISSN 0034-7167. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n2/19.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2013.
SANTOS, Akiko. Complexidade e transdisciplinaridade em educação: cinco princípios
para resgatar o elo perdido. Rev. Bras. Educ. [online]. 2008, v.13, n.37, p. 71-83.
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf >. Acesso em: 24 out.
2013.
SANTOS, Cláudia Mônica dos. A dimensão técnico-operativa e os instrumentos e
técnicas no Serviço Social. / Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais.
Ano 2, n. 3. p 25-30 Revista Conexões Gerais. Belo Horizonte: CRESS 6º Região, 2º
semestre de 2013.
SANTOS, Rozeli Carvalho; SILVA, Thais Angélica. Relação mãe e filho: E suas
implicações com a dependência química. 2007, 44 f. Monografia (Dependência
Química) – Escola de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Contagem, 2007.
SAVIANI, Nereide. Saber Escolar, currículo e didática: problemas da unidade
conteúdo/método no processo pedagógico - 4 edição - Campinas, SP, Autores
Associados, 2003. 193p.
SCHAURICH, Diego; FREITAS, Hilda Maria Barbosa de. O referencial de
vulnerabilidade ao HIV/AIDS aplicado às famílias: um exercício reflexivo. Rev. esc.
enferm. USP. 2011, vol.45, n.4, pp. 989-995. ISSN 0080-6234. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n4/v45n4a28.pdf>. Acesso em: 29 de out. 2013.
SCHEFFER, Graziela; SILVA, Lahana Gomes. Saúde mental, intersetorialidade e
questão social: um estudo na ótica dos sujeitos. Serv. Soc. Soc. [online]. 2014, n.118, p.
366-393. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S010166282014000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 18 dez. 2014.
115
SCHENKER, Miriam; MINAYO, Maria Cecília de Souza. A implicação da família no
uso abusivo de drogas: uma revisão crítica. Ciênc. saúde coletiva. 2003, vol.8, n.1, pp.
299-306. ISSN 1413-8123. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a22v08n1.pdf>. Acesso em 25 out. 2013.
SENA, Edite Lago da Silva et al. Alcoolismo no contexto familiar: um olhar
fenomenológico. Texto contexto - enferm., Jun 2011, v.20, n.2, p.310-318. ISSN 01040707. Disponível em: http://www.redalyc.org/pdf/714/71419104013.pdf. Acesso em: 01
fev. 2015.
SERRA, Rose M. S. Crise de materialidade no serviço social: repercussões o mercado
profissional. 2 ed. São Paulo, Cortez, 2000. 200p.
SIKORSKI, Daniela; BOGADO, Franciele Toscan. Oficina de formação:
instrumentalidade do serviço social - São Paulo: Pearson Pretice Hall, 2009. 182p.
SILVA, Eloy Aparecida da. Família e repercussões no abuso e dependência do álcool.
In: Ceneide Maria de Oliveira Cerveny (organizadora). Família e: intergeracionalidade,
equilíbrio econômico, longevidade, repercussões, intervenções psicossociais, o tempo,
filhos cangurus, luto, terapia familiar, desenvolvimento humano e social, afetividade,
negociação. São Paulo: Cada do Psicólogo, 2012, p. 83-97.
SODRÉ, Francis. Serviço Social e o campo da saúde: para além de plantões e
encaminhamentos. Serv. Soc., São Paulo, n. 103, p. 453-475, jul./set. 2010. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n103/a04n103.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2013.
SOUZA, Rosany Barcellos de; AZEREDO, Verônica Gonçalves. O assistente social e
a ação competente: a dinâmica cotidiana. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, SP
Cortez, v.25, n.80, p.48-58, nov.2004.
TENÓRIO, F. G. Um espectro ronda o terceiro setor, o espectro do mercado. 3 Ed.
Ijuí: Editora da Unijuí, 2008b. 176p.
TURRISSI, Gladys Hebe. Políticas públicas de saúde: gestão hospitalar II. Gladys
Hebe Turrisi. et al. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro Veiga; ÁVILA, Cristina Maria d'. Profissão docente:
Novos sentidos, novas perspectivas. Ilma Passos Alencastro Veiga; Cristina Maria d'
Ávila (orgs.) - Coleção Magistério: Formação e trabalho pedagógico. Campinas - SP,
Papirus, 2008.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 6
ed. São Paulo: Atlas, 2005, 96p.
116
5. Apêndice A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA
ASSISTENTES SOCIAIS.
Mestranda: Rozeli Carvalho dos Santos Soares
Orientadora: Profª. Drª. Maria Lúcia M. Afonso
Data do preenchimento do questionário: ____/____/_____
Objetivo do questionário: Conhecer como se desenvolve o trabalho social com
famílias de dependentes químicos, a partir do fazer profissional do (a) Assistente Social,
com vistas a sistematizar de maneira participativa, diretrizes metodológicas que sirvam
para orientar o trabalho de assistentes sociais no atendimento a essas famílias.
PERFIL, FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL.
1. Faixa etária:
21 35 anos ( )
36 a 50 anos ( )
2. Tempo de formação:
Menos de 1 ano ( )
Acima de 20 anos ( )
1 a 5 anos ( )
Acima de 50 anos ( )
6 a 11 anos ( )
12 a 20 anos ( )
3. Formação acadêmica continuada (especificar)
Pós Graduação ( ):________________________________________________
Mestrado ( ): ____________________________________________________
Doutorado ( ): ___________________________________________________
4. Tempo que trabalha em com atendimento social a família de dependente químico:
Menos de 1 ano ( ) 1 a 5 anos ( ) 6 a 11 anos ( )
Acima de 11 anos ( )
5. Motivo que o (a) levou a trabalhar nesta área:
Escolha/interesse pela área ( )
Falta de opção ( )
Convite ( ). Especificar de quem: ____________________________________
Outro ( ). Especificar: _____________________________________________
6. Você trabalha com equipe interdisciplinar?
Sim ( ). Como é composta esta equipe?______________________________________
Não ( ). Por quê?________________________________________________________
7. Descreva pelo menos 2 (dois) fatores que dificultam a realização do seu trabalho no
atendimento a famílias de dependentes químicos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
117
8. Descreva pelo menos 2 (dois) fatores que facilitam a realização do seu trabalho no
atendimento a famílias de dependentes químicos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Quanto aos atendimentos realizados às famílias de dependentes químicos, este é
realizado de que forma?
Individual e em grupo ( )
Somente Individual ( )
Somente em Grupo ( )
Outros ( ). Especifique: __________________________________________________
10. De que forma tem se capacitado para o trabalho de atendimento a famílias de
dependentes químicos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Você realiza um trabalho com essa família em rede?
Sim ( ). De que forma? ___________________________________________________
Não ( ). Por quê? ________________________________________________________
12. Quanto a realização profissional na execução deste trabalho. Como se caracteriza?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Você estaria disponível para participar de um grupo de discussão para refletirmos sobre
a nossa prática profissional no atendimento a famílias de dependentes químicos?
Sim (). Nome, telefone de contato, e-mail pessoal___________________________
_________________________________________________________________
Não ( ).
Obrigada pela atenção!
118
6. Apêndice B – GRUPO FOCAL PARA ASSISTENTES
SOCIAIS
Mestranda: Rozeli Carvalho dos Santos Soares
Orientadora: Profª. Drª. Maria Lúcia M. Afonso
Data da realização do grupo ____/____/_____
Objetivo do Grupo Focal: Conhecer como se desenvolve o trabalho social com
famílias de dependentes químicos, a partir do fazer profissional do (a) Assistente Social,
com vistas a sistematizar de maneira participativa, diretrizes metodológicas que sirvam
para orientar o trabalho de assistentes sociais no atendimento a essas famílias.
AMBIENTALIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO DO GRUPO E DA PROPOSTA DE TRABALHO.
1. Acolhida, leitura e assinatura do termo de autorização;
2. Dinâmica de apresentação (nome, tempo de formação, tempo e motivo da atuação na
trabalha área);
3. Apresentação dos eixos trabalho20:
Questão social na prática do trabalho social com famílias de dependentes
químicos;
Vulnerabilidade e potencialidades das famílias em situação de dependência
química;
O fenômeno da codependência nas relações familiares;
A necessidade da articulação interdisciplinar e intersetorial para o trabalho do
assistente social no atendimento a famílias de dependentes químicos;
Apontar como as políticas públicas favorecem com a atuação do profissional no
campo de trabalho.
4. Fechamento, agradecimento, lanche.
20
O eixo de trabalho foi modificado depois da aprovação pelo Comitê de Ética, com objetivo de se
adequar às necessidades da pesquisa diante do gostaríamos de abordar no grupo focal.
119
7. Apêndice C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA FAMÍLIAS
DE DEPENDENTES QUÍMICOS.
Mestranda: Rozeli Carvalho dos Santos Soares
Orientadora: Profª. Drª. Maria Lúcia M. Afonso
Data do preenchimento do questionário: ____/____/_____
Objetivo do questionário: Identificar o que as famílias sabem e o que sugerem para o
trabalho social realizado pelo profissional de serviço social.
1. Grau de parentesco com o dependente químico.
Pai ( ) Mãe ( )
Esposa ( ) Filho(a) ( )
Irmã(o)
( )
Primo(a) ( )
Outros: Especifique: _____________________________________________________
2. Faixa etária:
22 35 anos ( )
36 a 50 anos ( )
Acima de 50 anos ( )
3. Foi atendido por quais profissionais?
______________________________________________________________________
4. Em relação aos atendimentos realizados pelos profissionais de serviço social.
Aconteciam individual ( )
Aconteciam em grupo ( )
Aconteciam em grupo e individual ( )
Não era atendido (a) pelo serviço social ( )
5. Você acha que o assistente social contribuiu no seu tratamento?
Sim ( ). De que forma? ___________________________________________________
Não ( ). Por que? _______________________________________________________
6. Por quanto tempo foi atendida (a) pelo profissional de serviço social?
0 a 3 meses ( )
4 a 7 meses ( )
9 a 12 meses ( )
Mais de 1 ano ( )
7. Descreva pelo menos 2 (dois) fatores que você considerou que foi importante no
trabalho do assistente social em seu período de tratamento.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Descreva pelo menos 2 (dois) fatores que você considerou que ficou faltando no
trabalho do assistente social em seu período de tratamento.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
120
9. Qual a visão você tinha do trabalho do assistente social, quando iniciou seu tratamento
na Instituição?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Qual a visão você teve do trabalho do assistente social, quando terminou seu tratamento
na Instituição?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. O que você sugere para que o assistente social realize melhor e com mais qualidade
trabalho de atendimento a famílias de dependentes químicos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Qual droga levou seu familiar para dependência química? Ficou por quanto tempo no
tratamento? Conseguiu se recuperar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Obrigada pela atenção!
121
8. Apêndice D – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA
GESTORES OU COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES.
Mestranda: Rozeli Carvalho dos Santos Soares
Orientadora: Profª. Drª. Maria Lúcia M. Afonso
Data do preenchimento do questionário: ____/____/_____
Objetivo do questionário: Conhecer como se desenvolve o trabalho social com famílias de
dependentes químicos, a partir do trabalho do (a) Assistente Social, na visão do gestor ou
coordenador de Comunidades Terapêuticas.
1. Faixa etária:
21 a 35 anos ( )
36 a 50 anos ( )
Acima de 50 anos ( )
2. Formação acadêmica:
Sim ( ). Qual?_________________________________________________________________
Tempo de formação:
Menos de 1 ano ( ) 1 a 5 anos ( )
6 a 11 anos ( ) 12 a 20 anos ( )
Acima de 20 anos ( )
Não ( ). Por quê? ______________________________________________________________
3. Formação acadêmica continuada (especificar)
Pós Graduação ( ): _____________________________________________________________
Mestrado ( ): _________________________________________________________________
Doutorado ( ): ________________________________________________________________
4. Tempo que trabalha como gestor ou coordenador:
Menos de 1 ano ( )
1 a 5 anos ( )
6 a 11 anos ( )
Acima de 11 anos ( )
Já tinha experiência na área? Qual? ________________________________________________
5. Motivo que o (a) levou a trabalhar na área:
Escolha/interesse pela área ( )
Falta de opção ( )
Convite ( ). Especificar de quem: _________________________________________________
Outro ( ). Especificar: __________________________________________________________
6. A família é atendida pela Instituição:
Sim ( ). Como? _______________________________________________________________
Não ( ). Por quê?_______________________________________________________________
7. A equipe que atende as famílias é equipe interdisciplinar?
Sim ( ). Como é composta esta equipe?_____________________________________________
Não ( ). Por quê?_______________________________________________________________
122
8. Você conhece o trabalho específico da equipe técnica? Descreva-os de acordo com que
percebe esse serviço.
_____________________________________________________________________________
9. Por que foram contratados estes profissionais e quem os contratou?
_____________________________________________________________________________
10. O que você sabe especificamente sobre o trabalho dos assistentes sociais no atendimento a
famílias de dependentes químicos?
_____________________________________________________________________________
11. Quanto aos atendimentos realizados às famílias de dependentes químicos, pelo assistente
social, este é realizado de que forma?
Individual e em grupo ( )
Somente Individual ( )
Somente em Grupo ( )
Outros ( ). Especifique: ________________________________________________________
12. Você sabe se o assistente social tem se capacitado para o trabalho de atendimento às
famílias de dependentes químicos?
Sim ( ). De que forma?__________________________________________________________
Não ( ). Por quê?_______________________________________________________________
13. O profissional de serviço social realiza um trabalho com essa família em rede?
Sim ( ). De que forma? _________________________________________________________
Não ( ). Por quê? ______________________________________________________________
14. Você tem alguma sugestão para o trabalho dos profissionais de serviço social, de forma a
melhorar a qualidade de atendimento oferecido a famílias de dependentes químicos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Você deseja fazer alguma observação extra dentro do objetivo da pesquisa? Este é o
momento.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Obrigada pela atenção!
123
9. Apêndice E – UMA CARTILHA PARA USO NO CAMPO DE
ATUAÇÃO
DO
ASSISTENTE
SOCIAL.
124
10. ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA
COLETA DE DADOS
Eu, Vitório Evangelista Chaves, ocupante do cargo de Coordenador da Comunidade
Reviver, AUTORIZO a coleta de dados para o projeto O TRABALHO SOCIAL COM
FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma proposta interdisciplinar para o
Serviço Social da pesquisadora Rozeli Carvalho dos Santos Soares, sob a orientação do
Profa. Drª. Maria Lúcia M. Afonso, nas instalações físicas da Comunidade Reviver –
Rua tabaiares, 30 – Floresta, BH/MG, após a aprovação do referido projeto pelo CEP do
Centro Universitário UNA.
Belo Horizonte, ______ de ________________ de 201___.
ASSINATURA: ___________________________________________
CARIMBO:
125
11. ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS
Eu, _____________________________________________, ocupante do cargo de
____________________________________________________________________ da
_________________________________, AUTORIZO a coleta de dados para o projeto
O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma
proposta interdisciplinar para o Serviço Social da pesquisadora Rozeli Carvalho dos
Santos Soares, sob a orientação do Profa. Drª. Maria Lúcia M. Afonso, após a
aprovação do referido projeto pelo CEP do Centro Universitário UNA.
Belo Horizonte, ______ de ________________ de 201___.
ASSINATURA: ___________________________________________
CARIMBO:
126
12. ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO
CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 196/96
DE
Nós, Rozeli Carvalho dos Santos Soares, RG. MG-10326.795, Maria Lúcia M. Afonso,
RG. M-886.935 responsáveis pela pesquisa intitulada “O TRABALHO DO SOCIAL
COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma proposta interdisciplinar
para o Serviço Social” declaramos que:
Assumimos o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que
serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa;
Os materiais e as informações obtidos no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados
para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;
O material e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a nossa
responsabilidade;
Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em
encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os
direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à
divulgação;
Assumimos o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum
risco ou dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não
tenha sido previsto no termo de consentimento.
O CEP do Centro Universitário UNA será comunicado da suspensão ou do encerramento
da pesquisa, por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção
da pesquisa;
As normas da Resolução 196/96 serão obedecidas em todas as fases da pesquisa.
Belo Horizonte, _____ de ________________ de 201___.
____________________________________
Rozeli Carvalho dos Santos Soares
CPF 045.542.716-09
___________________________________
Maria Lúcia M. Afonso
CPF 392.889.196-00
127
13. ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO
CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 466/2012
DE
Nós, Rozeli Carvalho dos Santos Soares, RG. MG-10326.795, Maria Lúcia M. Afonso, RG.
M-886.935 responsáveis pela pesquisa intitulada “O TRABALHO DO SOCIAL COM
FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma proposta interdisciplinar para o
Serviço Social” declaramos que:
Assumimos o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que
serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa;
Os materiais e as informações obtidos no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados
para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;
O material e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a nossa
responsabilidade;
Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em
encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os
direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à
divulgação;
Assumimos o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum
risco ou dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não
tenha sido previsto no termo de consentimento.
O CEP do Centro Universitário UNA será comunicado da suspensão ou do encerramento
da pesquisa, por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção
da pesquisa;
As normas da Resolução 466/2012 serão obedecidas em todas as fases da pesquisa.
Belo Horizonte, ____ de ______________ de 201__.
____________________________________
Rozeli Carvalho dos Santos Soares
CPF 045.542.716-09
___________________________________
Maria Lúcia M. Afonso
CPF 392.889.196-00
128
14. ANEXO V - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO (TCLE)
Título da Pesquisa:
O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma
proposta interdisciplinar para o Serviço Social.
Nome do Pesquisador Principal: ROZELI CARVALHO DOS SANTOS SOARES
1. Natureza da pesquisa: a (o) sra. (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta
pesquisa que tem como objetivo analisar os sentidos e as práticas dos assistentes
sociais no trabalho social com famílias de dependentes químicos, com vistas a
contribuir para a gestão social do trabalhado profissional na intercessão da área da
saúde e da dependência química.
2. Participantes da pesquisa: questionário via e-mail para 24 assistentes sociais que
trabalham como famílias de dependentes químicos e dessas faremos 1 (um) grupo focal
com 4 a 10 assistentes sociais no grupo.
3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o (a)
pesquisadora analise os sentidos e as práticas dos assistentes sociais no trabalho social
com famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para a gestão social do
trabalho profissional na intercessão da área da saúde e da dependência química. A sra
(sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.)
(...).Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do
telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário por meio do telefone do Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNA.
4. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais.
Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em
Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua vida ou a sua dignidade.
5. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente a pesquisadora e sua orientadora terão conhecimento dos
dados.
6. Benefícios: ao participar desta pesquisa a (o) sra (sr.) não terá nenhum benefício
direto. Entretanto, esperamos que este estudo forneça informações importantes sobre a
prática profissional dos assistentes sociais, de forma que o conhecimento que será
construído a partir desta pesquisa possa trazer informações úteis para o
aperfeiçoamento teórico metolodógico do profissional e o desenvolvimento profissional
desses assistentes sociais, bem como melhor qualidade da prestação desse serviço e da
qualidade de vida das famílias. Vale ressaltar que, a pesquisadora se compromete a
divulgar os resultados obtidos.
7. Pagamento: a(o) sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.
129
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto
meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de
consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos
neste estudo.
___________________________
Nome do Participante da Pesquisa
___________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
___________________________
Assinatura da Pesquisadora
___________________________
Assinatura da Orientadora
Pesquisador Principal: ROZELI CARVALHO DOS
8566-6891
SANTOS SOARES (31)
Demais pesquisadores: MARIA LÚCIA M. AFONSO (31) 9613-8057
Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Guajajaras, 175, 4º andar – Belo Horizonte/MG
Contato: email: [email protected]
130
15. ANEXO VI - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO (TCLE)
Título da Pesquisa:
O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma
proposta interdisciplinar para o Serviço Social.
Nome do Pesquisador Principal: ROZELI CARVALHO DOS SANTOS SOARES
1. Natureza da pesquisa: a (o) sra. (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta
pesquisa que tem como objetivo analisar os sentidos e as práticas dos assistentes
sociais no trabalho social com famílias de dependentes químicos, com vistas a
contribuir para a gestão social do trabalhado profissional na intercessão da área da
saúde e da dependência química.
2. Participantes da pesquisa: entrevista aberta e fechada com 6 famílias escolhidas de
forma aleatória (facilidade de acesso a elas) e residentes em Belo Horizonte ou região
metropolitana.
3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o (a)
pesquisadora analise os sentidos e as práticas dos assistentes sociais no trabalho social
com famílias de dependentes químicos, com vistas a contribuir para a gestão social do
trabalho profissional na intercessão da área da saúde e da dependência química. A sra
(sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.)
(...).Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do
telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário por meio do telefone do Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNA.
4. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais.
Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em
Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua vida ou a sua dignidade
5. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente a pesquisadora e sua orientadora terão conhecimento dos
dados.
6. Benefícios: ao participar desta pesquisa a (o) sra (sr.) não terá nenhum benefício
direto. Entretanto, esperamos que este estudo forneça informações importantes sobre a
prática profissional dos assistentes sociais, de forma que o conhecimento que será
construído a partir desta pesquisa possa trazer informações úteis para o
aperfeiçoamento teórico metolodógico do profissional e o desenvolvimento profissional
desses assistentes sociais, bem como melhor qualidade da prestação desse serviço e da
qualidade de vida das famílias . Vale ressaltar que, a pesquisadora se compromete a
divulgar os resultados obtidos.
7. Pagamento: a(o) sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.
131
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto
meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de
consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos
neste estudo.
___________________________
Nome do Participante da Pesquisa
___________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
___________________________
Assinatura da Pesquisadora
___________________________
Assinatura da Orientadora
Pesquisador Principal: ROZELI CARVALHO DOS SANTOS SOARES (31) 85666891
Demais pesquisadores: MARIA LÚCIA M. AFONSO (31) 9613-8057
Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Guajajaras, 175, 4º andar – Belo Horizonte/MG
Contato: email: [email protected]
132
16. ANEXO VII – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA / MG
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS: uma
proposta interdisciplinar para o Serviço Social
Pesquisadora: Rozeli Carvalho dos Santos Soares
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 30980514.5.0000.5098
Instituição Proponente: Centro Universitário UMA
Patrocinador Principal: Financiamento próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 682.179
Data da Relatoria: 10/06/2014
Apresentação do Projeto:
Este projeto tem como objetivo geral analisar os sentidos e as práticas dos assistentes sociais no
trabalho social com famílias de dependentes químicos. Busca contextualizar o trabalho social com
famílias nas políticas públicas de assistência social, saúde e de tratamento da dependência química,
com ênfase no trabalho social com as famílias de dependentes químicos. Além disso, promove uma
discussão teórica sobre a dependência química, comunidades terapêuticas e o trabalho social com
famílias. Na pesquisa, será adotada uma metodologia qualitativa. Serão entrevistados gestores de
organizações não governamentais que desenvolvem programas de tratamento para dependentes
químicos, e famílias que têm membros nesses programas. Será desenvolvido um grupo focal com
profissionais do serviço social, além de outros profissionais, que trabalham nestes programas.
Pretende-se identificar e analisar as concepções e práticas dos profissionais no atendimento às
famílias, as ações exitosas, os limites e desafios encontrados, em uma visão interdisciplinar e
intersetorial. Busca-se envolver os profissionais de forma que possam contribuir para a construção de
um produto técnico que será uma cartilha com sugestão de diretrizes e estratégias para o trabalho
social com famílias de pessoas com dependência química.
Endereço: Rua dos Guajajaras, 175
Bairro: Centro
CEP: 30.180-100
UF: MG
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3508-9110
E-mail: [email protected]
133
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA / MG
Continuação do Parecer: 682.179
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Geral
-Analisar os sentidos e as práticas dos assistentes sociais no trabalho social com famílias de
dependentes químicos, com vistas a contribuir para a gestão social do trabalho profissional na
intercessão da área da saúde e da dependência química.
Objetivo Secundário:
1. Levantar os conteúdos que têm sido produzidos na literatura especializada sobre o trabalho social
com famílias de dependentes químicos;
2. Sistematizar e analisar as diretrizes e estratégias metodológicas utilizadas no atendimento a
famílias de dependentes químicos por assistentes sociais que atuam em Comunidades Terapêuticas;
3. Analisar as implicações de uma visão interdisciplinar e intersetorial para o trabalho do assistente
social em Comunidades Terapêuticas que atendem famílias de dependentes químicos;
4. Sistematizar diretrizes que sirvam para orientar o trabalho de assistentes sociais no atendimento a
famílias de dependentes químicos,de maneira consistente com uma proposta de gestão social e de
desenvolvimento local.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Nesta nova postagem do projeto, após registro de pendência pelo CEP, a pesquisadora relata ainda
que uma vez que a participação é voluntária e que os sujeitos poderão interromper a qualquer
momento, e sem qualquer dano, a sua participação, os riscos são inexistentes. Porém, descreve que
qualquer possível constrangimento poderá ser interrompido, segundo a vontade do participante. No
item Benefícios: a pesquisadora afirma que "O risco existente refere-se a algum possível
constrangimento que os sujeitos possam experimentar ao dar os seus depoimentos. Entretanto, como
podem interromper os seus depoimentos a qualquer momento e por qualquer motivo, esse risco é
mínimo". Em relação aos benefícios, não haverá ganhos financeiros pela participação na pesquisa.
Mencione-se, todavia, que esta participação poderá trazer benefícios ao possibilitar a reflexão dos
participantes sobre a sua prática profissional.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Quanto à natureza da pesquisa,será qualitativa, e será realizada com 24 assistentes sociais de
Comunidades Terapêuticas conveniadas com o Governo de Minas Gerais. A rede de atendimento a
dependentes químicos apresenta 25 instituições conveniadas com o Governo, sendo que uma delas
é a que a presente pesquisadora presta serviço e por isso não será parte da amostra da
pesquisa.Serão entrevistados gestores ou coordenadores de Instituições e familiares de dependentes
químicos.
Depois de feito o contato telefônico com os 24 assistentes sociais, explicando-lhes a pesquisa, ser
lhes-a enviado por e-mail um questionário composto por 13 questões, aberto e fechado. O Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido também lhes será entregue, via correio ou por via eletrônica, para
serem enviadas à pesquisadora por correio comum ou escaneados. Os questionários serão
analisados por meio de análise estatística (questões fechadas) e análise de conteúdo (questões
abertas).
Endereço: Rua dos Guajajaras, 175
Bairro: Centro
CEP: 30.180-100
UF: MG
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3508-9110
E-mail: [email protected]
134
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA / MG
Continuação do Parecer: 682.179
A pesquisa também optou por trabalhar ainda com grupo focal com assistentes sociais que
declararem por meio do questionário online que desejam participar deste grupo. O grupo focal é um
conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema,
que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência profissional. Para o grupo focal pretendemos
trabalhar com uma média de 4 a 10 assistentes sociais, em um tempo médio de duas horas.Serão
realizadas entrevistas com 6 (seis) famílias, tendo como critério de escolha 3 (três) famílias com bons
resultados (familiares no qual o dependentes parou com o uso da droga após o tratamento) e 3 (três)
sem bons resultados (familiares no qual o dependentes continuou com o uso da droga mesmo após o
tratamento) e residirem em Belo Horizonte ou região metropolitana.
A entrevista será direcionada por 12 questões abertas e fechadas.
A ideia inicial para escolha dessas famílias é que as mesmas sejam indicadas por seis assistentes
sociais que aderirem à proposta da participação no grupo focal.
O pesquisador declara que ainda será necessário entrevistar gestores ou coordenadores de
Comunidades Terapêuticas (CTs), uma vez que este é o contratante do serviço do assistente social.
A entrevista será direcionada por 15 questões abertas e fechadas.
A proposta inicial é de fazer a entrevista com uma média de 4 a 10 gestores ou coordenadores de
CT,da região metropolitana de BH.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O processo na Plataforma Brasil tem como documentação:
TCLE
Lattes Rozeli Carvalho.pdf
LATTES Maria Lucia Miranda AFONSO
Termo de Compromisso com a Resolução 466
AUTORIZAÇÃO COLETA DE DADOS
Termo de autorização de utilização do espaço
LISTA DE CONSULTADAS EM PORTAIS CIENTÍFICOS A SEREM ESTUDADOS PARA
DISSERTAÇÃO
ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM FAMÍLIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS
ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA GESTORES OU COORDENADORES DE
COMUNIDADES
TERAPÊUTICAS
Roteiro para GRUPO FOCAL PARA ASSISTENTES SOCIAIS
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ASSISTENTES SOCIAIS
Projeto de pesquisa.
Endereço: Rua dos Guajajaras, 175
Bairro: Centro
CEP: 30.180-100
UF: MG
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3508-9110
E-mail: [email protected]
135
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA / MG
Continuação do Parecer: 682.179
Recomendações:
Não há recomendações a registrar
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O colegiado considera que foram atendidas as pendências, embora a situação de riscos tenha sido
declarada na rubrica "Benefícios".
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
BELO HORIZONTE, 10 de Junho de 2014
___________________________________
Assinado por:
Helen Lima Del Puerto
(Coordenador)
Endereço: Rua dos Guajajaras, 175
Bairro: Centro
CEP: 30.180-100
UF: MG
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31)3508-9110
E-mail: [email protected]
136