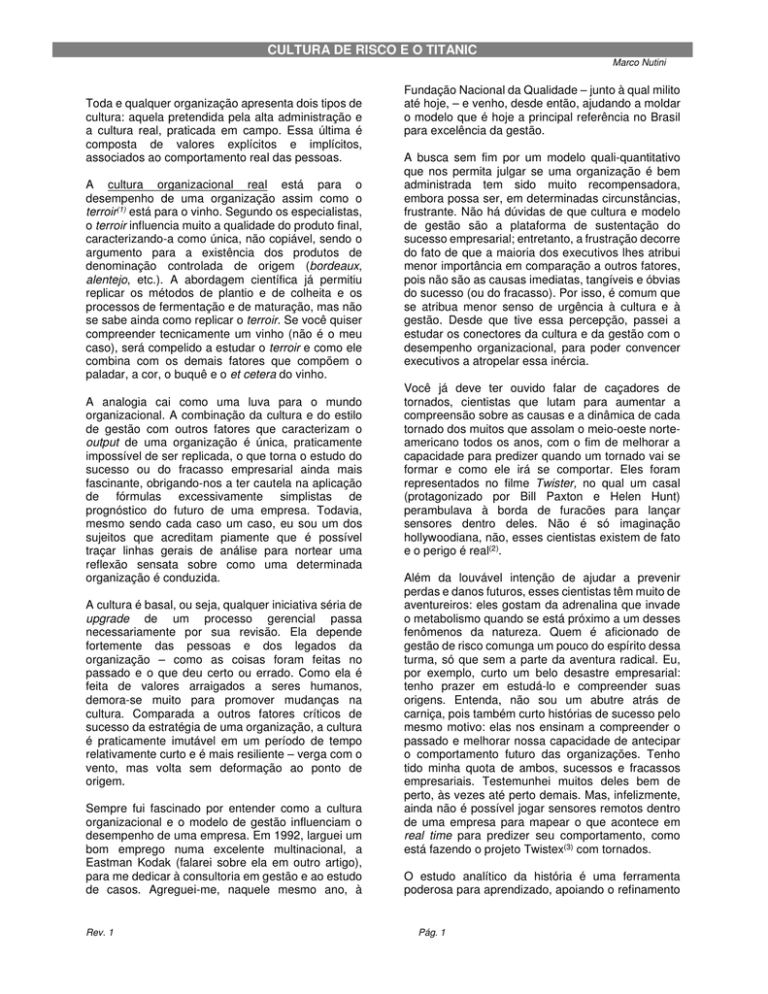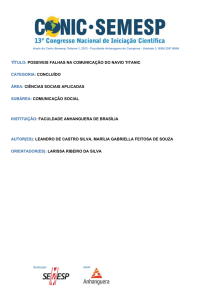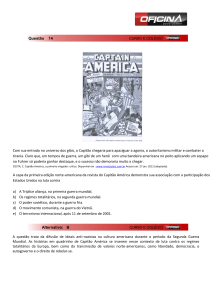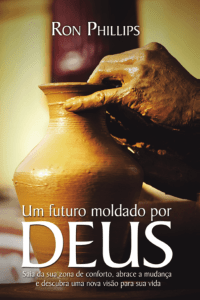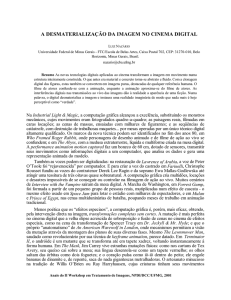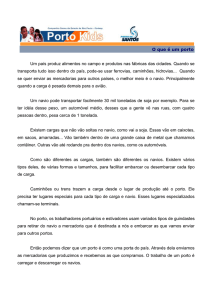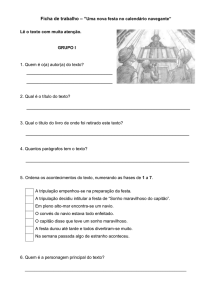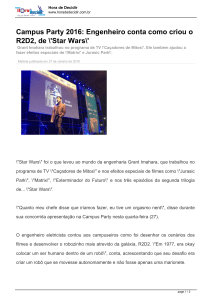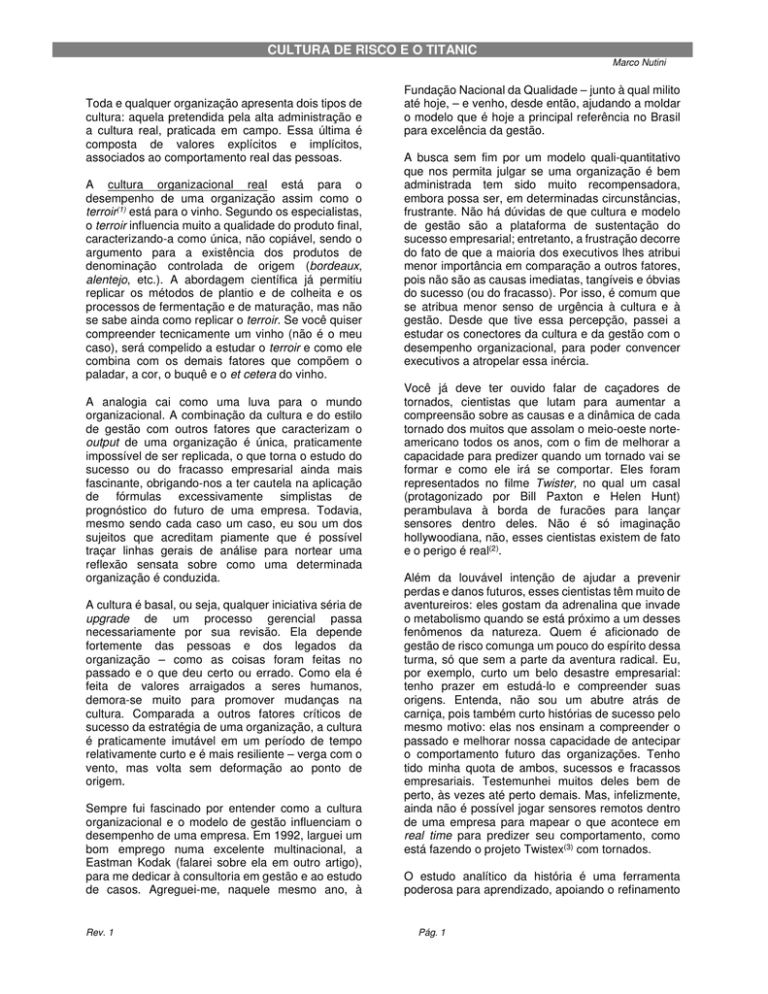
CULTURA DE RISCO E O TITANIC
Marco Nutini
Toda e qualquer organização apresenta dois tipos de
cultura: aquela pretendida pela alta administração e
a cultura real, praticada em campo. Essa última é
composta de valores explícitos e implícitos,
associados ao comportamento real das pessoas.
A cultura organizacional real está para o
desempenho de uma organização assim como o
terroir(1) está para o vinho. Segundo os especialistas,
o terroir influencia muito a qualidade do produto final,
caracterizando-a como única, não copiável, sendo o
argumento para a existência dos produtos de
denominação controlada de origem (bordeaux,
alentejo, etc.). A abordagem científica já permitiu
replicar os métodos de plantio e de colheita e os
processos de fermentação e de maturação, mas não
se sabe ainda como replicar o terroir. Se você quiser
compreender tecnicamente um vinho (não é o meu
caso), será compelido a estudar o terroir e como ele
combina com os demais fatores que compõem o
paladar, a cor, o buquê e o et cetera do vinho.
A analogia cai como uma luva para o mundo
organizacional. A combinação da cultura e do estilo
de gestão com outros fatores que caracterizam o
output de uma organização é única, praticamente
impossível de ser replicada, o que torna o estudo do
sucesso ou do fracasso empresarial ainda mais
fascinante, obrigando-nos a ter cautela na aplicação
de fórmulas excessivamente simplistas de
prognóstico do futuro de uma empresa. Todavia,
mesmo sendo cada caso um caso, eu sou um dos
sujeitos que acreditam piamente que é possível
traçar linhas gerais de análise para nortear uma
reflexão sensata sobre como uma determinada
organização é conduzida.
A cultura é basal, ou seja, qualquer iniciativa séria de
upgrade de um processo gerencial passa
necessariamente por sua revisão. Ela depende
fortemente das pessoas e dos legados da
organização – como as coisas foram feitas no
passado e o que deu certo ou errado. Como ela é
feita de valores arraigados a seres humanos,
demora-se muito para promover mudanças na
cultura. Comparada a outros fatores críticos de
sucesso da estratégia de uma organização, a cultura
é praticamente imutável em um período de tempo
relativamente curto e é mais resiliente – verga com o
vento, mas volta sem deformação ao ponto de
origem.
Sempre fui fascinado por entender como a cultura
organizacional e o modelo de gestão influenciam o
desempenho de uma empresa. Em 1992, larguei um
bom emprego numa excelente multinacional, a
Eastman Kodak (falarei sobre ela em outro artigo),
para me dedicar à consultoria em gestão e ao estudo
de casos. Agreguei-me, naquele mesmo ano, à
Rev. 1
Fundação Nacional da Qualidade – junto à qual milito
até hoje, – e venho, desde então, ajudando a moldar
o modelo que é hoje a principal referência no Brasil
para excelência da gestão.
A busca sem fim por um modelo quali-quantitativo
que nos permita julgar se uma organização é bem
administrada tem sido muito recompensadora,
embora possa ser, em determinadas circunstâncias,
frustrante. Não há dúvidas de que cultura e modelo
de gestão são a plataforma de sustentação do
sucesso empresarial; entretanto, a frustração decorre
do fato de que a maioria dos executivos lhes atribui
menor importância em comparação a outros fatores,
pois não são as causas imediatas, tangíveis e óbvias
do sucesso (ou do fracasso). Por isso, é comum que
se atribua menor senso de urgência à cultura e à
gestão. Desde que tive essa percepção, passei a
estudar os conectores da cultura e da gestão com o
desempenho organizacional, para poder convencer
executivos a atropelar essa inércia.
Você já deve ter ouvido falar de caçadores de
tornados, cientistas que lutam para aumentar a
compreensão sobre as causas e a dinâmica de cada
tornado dos muitos que assolam o meio-oeste norteamericano todos os anos, com o fim de melhorar a
capacidade para predizer quando um tornado vai se
formar e como ele irá se comportar. Eles foram
representados no filme Twister, no qual um casal
(protagonizado por Bill Paxton e Helen Hunt)
perambulava à borda de furacões para lançar
sensores dentro deles. Não é só imaginação
hollywoodiana, não, esses cientistas existem de fato
e o perigo é real(2).
Além da louvável intenção de ajudar a prevenir
perdas e danos futuros, esses cientistas têm muito de
aventureiros: eles gostam da adrenalina que invade
o metabolismo quando se está próximo a um desses
fenômenos da natureza. Quem é aficionado de
gestão de risco comunga um pouco do espírito dessa
turma, só que sem a parte da aventura radical. Eu,
por exemplo, curto um belo desastre empresarial:
tenho prazer em estudá-lo e compreender suas
origens. Entenda, não sou um abutre atrás de
carniça, pois também curto histórias de sucesso pelo
mesmo motivo: elas nos ensinam a compreender o
passado e melhorar nossa capacidade de antecipar
o comportamento futuro das organizações. Tenho
tido minha quota de ambos, sucessos e fracassos
empresariais. Testemunhei muitos deles bem de
perto, às vezes até perto demais. Mas, infelizmente,
ainda não é possível jogar sensores remotos dentro
de uma empresa para mapear o que acontece em
real time para predizer seu comportamento, como
está fazendo o projeto Twistex(3) com tornados.
O estudo analítico da história é uma ferramenta
poderosa para aprendizado, apoiando o refinamento
Pág. 1
CULTURA DE RISCO E O TITANIC
Marco Nutini
dos modelos existentes sobre o que determina o
desempenho empresarial e de como os fatores
críticos se inter-relacionam. Em especial, o
aprendizado de casos históricos é fundamental para
o processo gerencial de Gestão de Risco, pois boa
parte desse processo gira em torno da projeção de
eventos que nunca aconteceram em uma
determinada organização. Em outras palavras, para
o processo ser eficaz ele é obrigado a aprender com
eventos históricos ocorridos em outras organizações.
Aqui é que entra o caso Titanic. Você deve estar se
perguntando: mas por que cargas d’água o Titanic
seria um bom tema para aprender sobre cultura de
risco? Bem, para começar, o Titanic é um caso
fartamente documentado, havendo diversos livros
dedicados a explorar a conexão do Titanic com
gestão empresarial e análise de risco(4). É o caso
mais famoso de tragédia plenamente evitável em
época de paz, ou seja, sem intenção de dolo. É
também um exemplo óbvio de que o uso de técnicas
básicas de prevenção – simulação de contingências,
treinamento, maior envolvimento do pessoal de
operação, integração de informações, etc. – seria
suficiente para mitigar significativamente, ou até
mesmo eliminar, o drama humano.
Imagino que você conheça a história do Titanic e
provavelmente tenha assistido ao blockbuster de
James Cameron, recordista absoluto de bilheteria da
história do cinema. Pergunte a alguém a causa do
naufrágio e você ouvirá uma das respostas abaixo.
•
•
•
•
•
O Titanic raspou num iceberg de forma
desafortunada. O iceberg rasgou o casco de
bombordo da proa até a popa.
O capitão Edward John Smith foi negligente
em relação aos alertas de iceberg na rota.
Havia uma crença generalizada de que o
navio era inafundável.
O navio estava singrando o Atlântico em
velocidade acima da que seria prudente para
as condições de navegação.
O navio tinha problemas estruturais
desconhecidos à época, em função da
tecnologia de construção naval.
As respostas acima são todas corretas e realmente
explicam o acidente sob um ponto de vista
estritamente técnico. Elas têm a ver com o fato de o
Titanic ser uma embarcação inovadora e com a
estratégia usada pela White Star Line, sua
proprietária, para disputar a supremacia no setor com
a Cunard, sua principal concorrente. A esmagadora
maioria dos milhares de livros e filmes produzidos
sobre o Titanic aborda as coisas, digamos,
interessantes da história: o acidente, a vida dos
passageiros famosos e anônimos, o contraste entre
as classes sociais, os dramas do capitão e do
projetista do navio, etc., mas não a causa-raiz: o
Rev. 1
contexto cultural que permitiu, e até incentivou que o
capitão do navio assumisse sozinho riscos
excessivos, inimagináveis quando os analisamos à
luz dos protocolos atuais de navegação.
O naufrágio do Titanic tem muito em comum com
outros
eventos
catastróficos
causados
exclusivamente pelo homem, tais como o vazamento
de petróleo do Exxon Valdez no Alasca, a explosão
do reator nuclear de Chernobyl, a recente colisão do
navio Costa Concordia contra rochas no litoral da
Itália e outros tantos: alguém na ponta da execução
causou o evento por negligência ou incompetência,
em ambiente de risco conhecido, operando para
organizações que não foram sensíveis aos claros
sinais de vulnerabilidade emitidos previamente.
O Titanic é um ícone de fim e de início de duas eras:
em 1912, a revolução industrial inglesa chegara ao
seu ápice junto com o Império Britânico e grandes
corporações começavam a controlar o mundo. Pela
primeira vez, o conceito de que uma empresa
precisava prestar contas a todas as partes
interessadas ganhou chão, pois o principal executivo
de uma grande corporação foi cobrado ferozmente
pela opinião pública – a imprensa e o povo nas ruas,
não a rainha ou o arcebispo – por impactos sociais
causados por um ato falho de sua organização.
Por uma dessas tramas do destino, tanto o homem
da operação (o capitão do navio, Edward John Smith)
como o homem da estratégia (o CEO da White Star
Line, Joseph Bruce Ismay) estavam juntos a bordo,
tomando as decisões que levaram ao acidente. Bruce
Ismay havia embarcado em Southampton, sem a
família, para a estreia do Titanic. Ele gostava de
participar das viagens inaugurais da frota e tinha
negócios rápidos a resolver em New York. Pouco se
sabe da realidade das interações que os dois
principais protagonistas da tragédia tiveram durante
os quatro dias de navegação, porque um deles
morreu ao final do ato e não pôde dar seu
testemunho.
Bruce, como era conhecido, era filho do fundador da
White Star Line (Thomas Henry Ismay, falecido em
1899) e foi o cérebro empresarial por trás da
construção de três navios similares pelo estaleiro
Harland & Wolff (o Olympic, o Titanic e o Gigantic,
cujo nome foi alterado posteriormente para
Britannic), à época as três maiores embarcações de
passageiros do mundo. A White Star Line havia sido
vendida para o grupo de John Pierpont Morgan, o
capitalista norte-americano, em 1902. Ou seja, o
financiamento dos três megaprojetos não foi um
problema. Bruce Ismay tinha tão boa reputação como
administrador que continuou como CEO da White
Star, mesmo tendo sido, no início das negociações,
resistente ao assédio de J. P. Morgan.
Pág. 2
CULTURA DE RISCO E O TITANIC
Marco Nutini
Bruce embarcou no último escaler salva-vidas que
saiu do Titanic já prestes a ser engolido pelo
Atlântico, enquanto o capitão Smith ficou a postos e
desceu com o navio pelo qual era responsável, como
costumavam fazer os capitães de antanho. Por conta
disso, Bruce foi execrado pela opinião pública pelo
resto de sua vida (ele somente viria a morrer 25 anos
depois, em 1937). Além de ter sido tratado como
covarde, por ter valorizado mais a sua vida do que a
de 1.517 passageiros que não tiveram espaço nos
salva-vidas e morreram, ele foi também acusado de
ter forçado a manutenção da velocidade na noite do
naufrágio, pois queria provar que seus navios eram
superiores aos da Cunard. Em seu depoimento aos
inquéritos sobre o acidente, Bruce negou essa teoria,
enfatizando que jamais interferiu nas decisões
tomadas pelo capitão Smith e que decidiu embarcar
no salva-vidas apenas porque naquele deck só
haviam restado ele e o oficial encarregado, que se
recusou a embarcar, o que foi confirmado pelos
passageiros que estavam naquele salva-vidas.
Não era a primeira vez, nem seria a última, que a
White Star tinha um de seus navios acidentados e
muitas lições haviam sido aprendidas. A inteligência
naval da Inglaterra era notória. O capitão tinha
excelente reputação e experiência em guerra, mas, à
exceção de algumas colisões menores, nunca tinha
experimentado uma situação grave como aquela
para os passageiros e demonstrou não estar
preparado para a contingência. A incerteza, a mãe de
todos os riscos, juntou peças de uma forma
interessante: uma noite calma, sem lua (o que
dificulta a visualização), com neblina, num ano no
qual a formação de icebergs foi recorde. Ele sabia de
tudo isso e manteve a rotina, quando deveria ter
parado o navio. Capitães muito mais jovens e
inexperientes em outros navios que estavam na
mesma região pararam suas embarcações ou
reduziram a marcha e ficaram na proa de binóculo.
Smith não fez nada e recolheu-se aos seus
aposentos como se fosse uma noite como outras
tantas de sua longa carreira. Tudo indica que ele
estava em uma zona de conforto e que a cultura da
White Star estava permitindo que isso acontecesse
sem questionamentos.
É interessante notar que nenhum regulamento naval
vigente em 1912 foi violado, tanto que Bruce Ismay e
a White Star não sofreram qualquer tipo de punição
legal. Os salva-vidas eram realmente muito
insuficientes para o número de passageiros, mas
essa era a norma vigente e, além disso, o tempo de
descida dos escaleres foi um gargalo mais relevante.
É verdade também que os portões de acesso da
terceira classe para os andares superiores ficavam
trancados, por força da lei americana de imigração e
que, nos momentos posteriores à batida no iceberg,
houve uma certa demora para que o encarregado
abrisse os portões. Entretanto, não foi comprovado
Rev. 1
que alguma morte fosse diretamente ligada a esse
fato.
Apesar de terem sido instalados inquéritos nos EUA
e na Inglaterra, ambos acompanhados com
sofreguidão pela imprensa mundial, a White Star Line
continuou operando normalmente e somente sofreu
reveses financeiros moderados por conta do
naufrágio (indenizações às famílias, principalmente).
Pelo lado positivo, o episódio motivou alterações
profundas na regulamentação e na percepção de
como uma organização deveria ser responsabilizada
por eventos causados por negligência ou omissão,
mudanças que nos afetam até hoje. Para a vida
pessoal de Bruce Ismay e de sua família, contudo, o
episódio foi devastador e ele nunca se recuperou
plenamente.
Bruce conhecia muito bem os riscos da navegação
naquela rota do Atlântico e sabia que o navio não era
inafundável, até porque isso não existe. Ele era um
homem do mar, tanto quanto o capitão. O Titanic era
sua cria, tendo sido concebido por ele em parceria
com os proprietários do estaleiro comissionado,
esses também importantes acionistas da White Star.
Se ele não quis interferir nas decisões do capitão
Smith -- o que ele sempre alegou até morrer --, isso
revela uma cultura forte de respeito solene entre
homens do mar, que levou a White Star, em nome de
uma honra esquisita para nós um século depois (já
que morreram 1.517 pessoas), a ficar dependente
das decisões de um único homem em uma situação
de grande perigo. Essa é a versão oficial. Contudo,
se Bruce Ismay realmente interferiu e mandou seguir
viagem custe o que custar -- como preferiam
entender a imprensa da época e todos os romances
e filmes a seguir --, essa hipótese revelaria uma
cultura de ambição e tirania que teria atropelado o
bom senso e a segurança.
É óbvio que ninguém é dono da verdade no assunto
Titanic, existindo, inclusive, interessantes e divertidas
teorias da conspiração, todas fundamentadas no fato
de que a barbeiragem tinha sido inacreditável para
um capitão tão experiente, com 62 anos e às
vésperas da aposentadoria. A mais célebre delas
sustenta que o navio foi afundado deliberadamente,
a mando de J. P. Morgan, para fraudar o seguro(5).
Em resumo, a história do Titanic revela duas
hipóteses plausíveis de pano de fundo cultural para o
naufrágio, ambas fatores causais do resultado
conhecido:
1) A White Star desprezava a segurança dos
passageiros e a colocou em risco para bater
recordes.
2) A White Star, como qualquer empresa naval,
mantinha um sólido respeito à rígida
hierarquia militar nos seus navios e confiava
cegamente em seus capitães.
Pág. 3
CULTURA DE RISCO E O TITANIC
Marco Nutini
Com base no histórico da White Star e da filosofia
mantida desde o início da empresa, em 1868, pela
família Ismay, eu fico com a segunda versão.
A cultura militar e o perigo da rotina
Empresas de transporte marítimo ainda têm
estruturas organizacionais das áreas operacionais
baseadas na hierarquia militar, em especial nas
embarcações. E não é só a estrutura organizacional
que é similar: a cultura também, mesmo que não se
trate de organizações voltadas para a defesa. Não é
à toa que os acidentes do Costa Concordia e do
Exxon Valdez têm em comum com o Titanic
justamente o contexto cultural e um protagonista
autocrático, ou seja, o capitão. Se isso ainda ocorre
em 2014, imagine como era em 1912, com velhos
lobos do mar forjados em combate, herdeiros da
tradição naval do século anterior.
Vários elementos da cultura saudável de risco não
estavam a bordo do Titanic:
• O
posicionamento
claro
da
alta
administração em relação a quais riscos
eram aceitáveis e quais eram inaceitáveis,
posicionamento esse que deveria ser
disseminado para todos.
• Manutenção de fluxo ágil de informações
sobre risco para cima e para baixo na
hierarquia, sem medo de consequências.
• Encorajamento de whistle blowing, ou seja,
possuir canais para as pessoas reportarem
eventos e incidentes que evidenciem
descolamento
em
relação
ao
posicionamento da alta administração.
• Questionamento constante dos métodos
decisórios da organização, para obter um
padrão de alerta.
Nos três casos mencionados, as tripulações já
haviam
testemunhado
inúmeras
vezes
o
comportamento de risco dos capitães, mas a falta de
posicionamento,
a
hierarquia
rígida,
a
impossibilidade de questionamento e o medo de virar
um “delator” inibiram completamente qualquer atitude
proativa das pessoas que poderiam ter evitado os
acidentes.
É importante destacar que não sou contra a estrutura
militar e sua cultura: o problema é que elas foram
desenvolvidas para o ambiente de guerra ou crise. A
hierarquia rígida decorre do fato de que as equipes
que estão em missão no campo de ação têm
autonomia total, muitas vezes estão sem
comunicação com a base e precisam de comando
local absolutista, pois não há muito tempo para
consenso, nem para deliberações. É uma situaçãolimite com risco de vida, obviamente. A estrutura
militar exige prontidão, mesmo em época de paz. Em
Rev. 1
tese, ela está preparada para emergência o tempo
todo e treina isso fortemente, por meio de simulações
e manutenção do estado de “sempre alerta”.
Aí reside o X da questão: quando a estrutura é
transplantada para uma organização não-militar,
pode-se perder esse traço importante da cultura
militar, em especial quando o ambiente de trabalho é
tranquilo e teoricamente sem surpresas -- também
um ponto em comum dos três acidentes.
Como já vimos, o acidente do Titanic ocorreu em uma
situação rotineira de navegação no Ártico. Imagino
que muitas pessoas no nível de comando
intermediário
da
tripulação
tenham
ficado
preocupadas com a postura blasé do capitão, que
determinou a manutenção normal do curso e foi
dormir, sem gerar qualquer plano especial de alerta
aos perigos evidentes. Imagino também que eles
devem ter pensado: “O que se há de fazer? Sempre
foi assim...”. Infelizmente, eles não puderam
comprovar isso em seus depoimentos, porque
morreram no acidente.
Lições aprendidas
Qualquer organização já estabelecida tem uma
cultura de risco instalada. Então, a primeira coisa a
fazer para mudá-la é tomar o pulso dela. Defina os
elementos culturais desejáveis e identifique os
potencialmente adversos junto à alta administração.
A seguir, verifique como as pessoas percebem esses
elementos. Por exemplo: elas acham que há
liberdade para relatar situações de risco sem sofrer
retaliações? Elas conhecem os riscos inerentes ao
negócio? Elas sabem qual é o grau de autonomia que
se espera delas? Elas acham que os líderes estão
preparados para lidar com riscos?
Diversas metodologias estão à disposição para medir
os elementos culturais de risco e avaliar como anda
a cultura de risco da organização, tais como:
• Pesquisa específica de cultura de risco (pode
ser na forma de survey ou por meio de
entrevistas).
• Incorporação de questões sobre percepção
da gestão de risco na pesquisa de clima ou
na pesquisa de valores.
• Criação de grupos focais interfuncionais.
• Estudo do comportamento das pessoas, com
base na análise do histórico de desvios,
incidentes e outras manifestações reais de
risco que a organização experimentou.
A seguir, deve-se diagnosticar se a organização não
tem bolsões de cultura inconsistente com o resto da
organização e identificar as causas dessa
discrepância,
tais
como:
estrutura
local
excessivamente autocrática, acomodação em zona
Pág. 4
CULTURA DE RISCO E O TITANIC
Marco Nutini
de conforto, ausência de sistemas locais para
sensibilização e estímulo, etc.
Por fim, e sempre com o aval da alta administração,
na terceira fase você vai tentar interferir nos
elementos culturais que descolaram do que se
pretende que seja a cultura de risco da organização.
Isso parece, mas não é, trivial; o remédio tem que ter
dose certa, não pode ser pior do que a doença.
Mudanças culturais devem ser feitas com a devida
cautela, com a compreensão da dinâmica e do
equilíbrio dos sistemas envolvidos.
A linha de ação geralmente passa por:
• Revisar os valores da organização e o
método para sua disseminação.
• Reposicionar a tolerância do sistema de
liderança a determinados tipos de risco e
deixar claro o novo posicionamento.
• Efetuar mudanças cirúrgicas na estrutura
organizacional e – possivelmente o passo
mais importante –
• Revisar a espinha dorsal da trilha
educacional, que vai desde a integração de
novos colaboradores até o aprimoramento
dos líderes, para fortalecer o tal “estado de
alerta”, ou seja, para desenvolver a
sensibilidade ao risco mesmo em ambiente
de rotina.
pesquisador, Carl Young, que também faleceram fazendo o que
mais gostavam.
http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/06/02/thestunning-tornado-videos-of-storm-chaser-tim-samaras-who-hasdied/
(3) Twistex é a sigla para Tactical Weather Instrumental Sampling
In/Near Tornadoes Experiment, projeto que congrega vários
especialistas em meteorologia de tornados nos EUA.
https://www.facebook.com/TeamTWISTEX
(4) Um bom exemplo: Collision Course: How Good Decisions Sank
the Titanic and Why, Joseph Mortati, 2013, Kindle Edition.
(5) Essa teoria é tema dos livros Titanic: The Ship That Never
Sank?, de autoria de Robin Gardiner e Olympic and Titanic: The
Truth Behind the Conspiracy, de Mark Chirnside. Outras teorias
incluem abordagens, digamos, mais cinematográficas, tais como a
maldição de uma múmia escondida em um carro no depósito do
Titanic.
Outras Referências Bibliográficas
Titanic: Enterprise and Risk – Kevin Mc Philips, 2012, Sentia
Publishing, Kindle Edition.
The Ismay Line – Wilton J. Oldham, 1961, Andrews UK Limited,
Kindle Edition.
Seja qual for a etapa da Gestão de Risco em que
vocês estejam colocando foco no momento, é
altamente
recomendável
a
realização
de
benchmarking. Gestão de Risco é um processo
gerencial bem praticado em vários setores
empresariais no Brasil, e há fartura de bons exemplos
de iniciativas de ajuste da cultura de risco. Não há
necessidade de buscar organizações do setor onde
você atua: o processo gerencial de Gestão de Risco
tem a vantagem de ser comparável ao de qualquer
tipo de organização. Por exemplo, os grandes bancos
brasileiros são muito competentes nessa área e têm
processos já refinados de fortalecimento da cultura
de risco. É sempre bom lembrar que benchmarking
exige
planejamento
e
preparação:
defina
previamente quais são os pontos-chave da visita à
outra organização e envie com antecedência suas
expectativas. Desejo-lhe sucesso e espero encontrálo em um de nossos workshops!
Esclarecimentos adicionais
(1) O terroir é a combinação do solo pedregoso apropriado ao
cultivo de parreiras com o clima de uma região específica. Aviso
que não sou enólogo, só sei distinguir vinho bom de vinho péssimo.
Realmente admiro quem consegue analisar taninos e perceber
castanhas verdes e framboesas maduras nas notas finais.
(2) Em 2013, um dos mais conhecidos storm chasers do mundo,
Tim Samaras, fundador do Twistex, morreu em Oklahoma na
companhia de seu filho, o cinegrafista Paul Samaras, e de outro
Rev. 1
Pág. 5