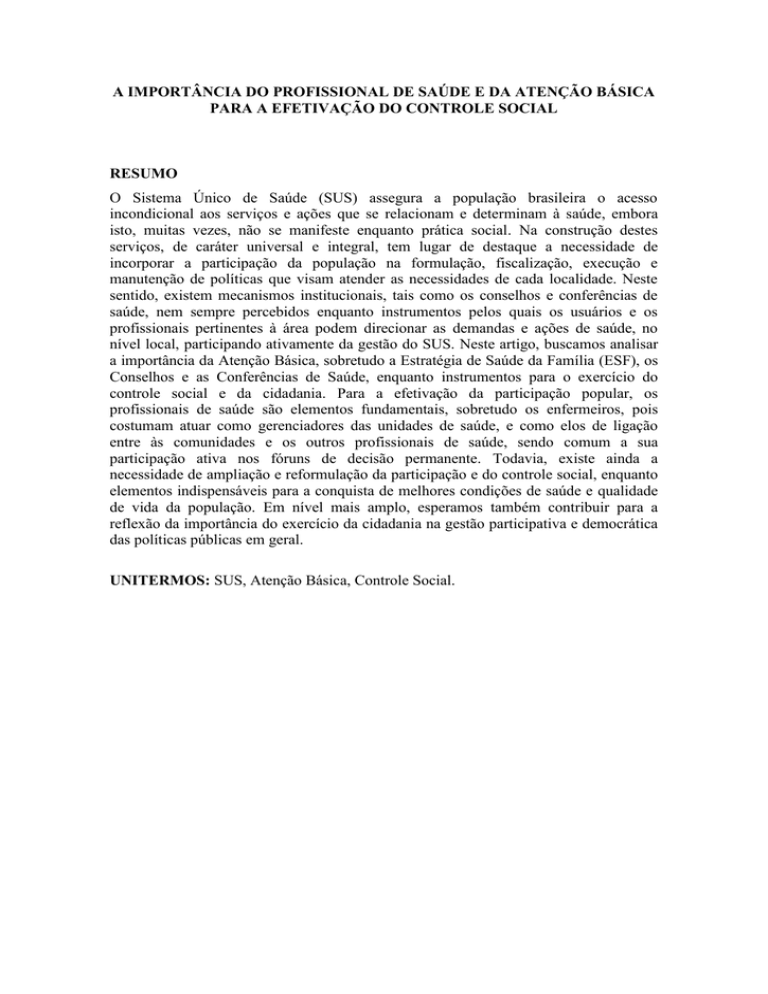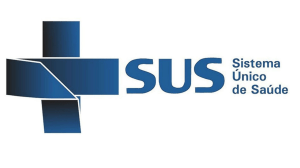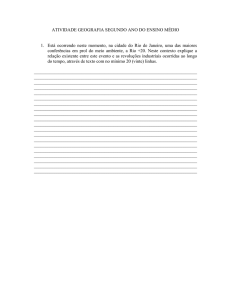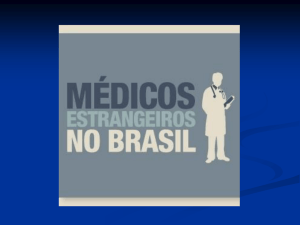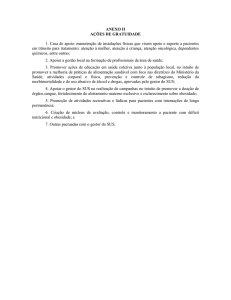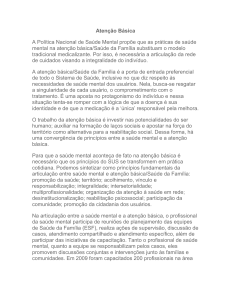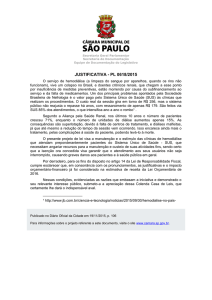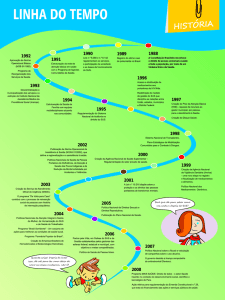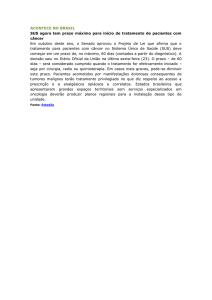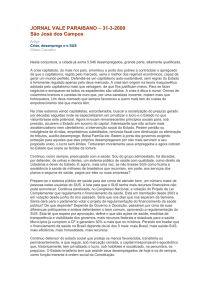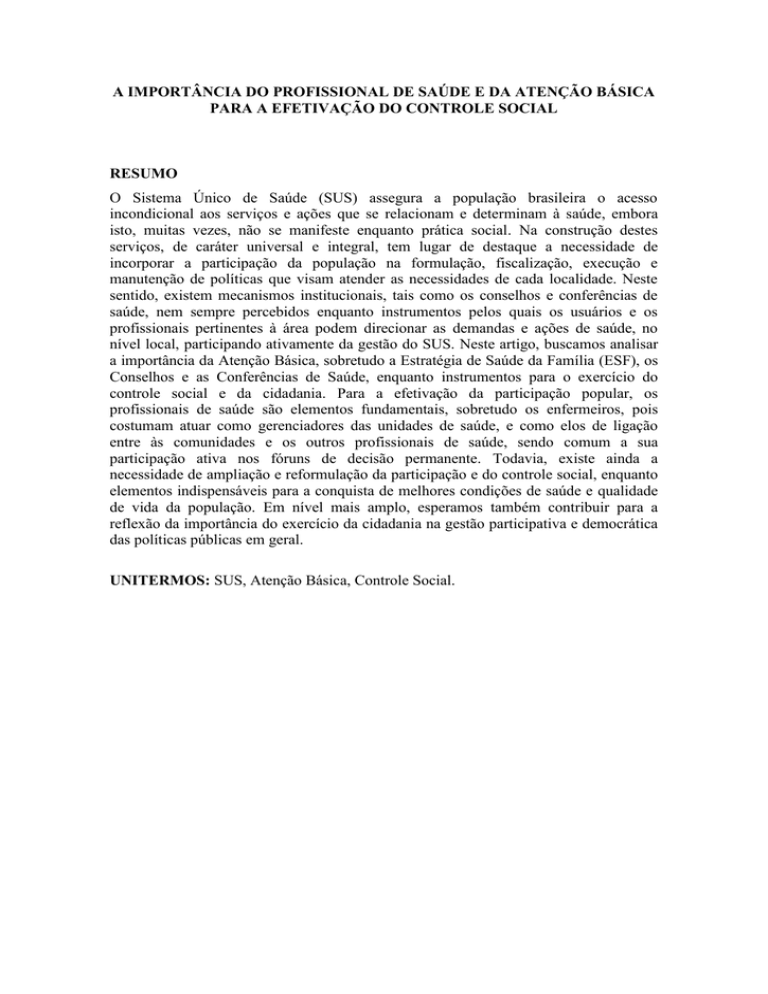
A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA
PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL
RESUMO
O Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a população brasileira o acesso
incondicional aos serviços e ações que se relacionam e determinam à saúde, embora
isto, muitas vezes, não se manifeste enquanto prática social. Na construção destes
serviços, de caráter universal e integral, tem lugar de destaque a necessidade de
incorporar a participação da população na formulação, fiscalização, execução e
manutenção de políticas que visam atender as necessidades de cada localidade. Neste
sentido, existem mecanismos institucionais, tais como os conselhos e conferências de
saúde, nem sempre percebidos enquanto instrumentos pelos quais os usuários e os
profissionais pertinentes à área podem direcionar as demandas e ações de saúde, no
nível local, participando ativamente da gestão do SUS. Neste artigo, buscamos analisar
a importância da Atenção Básica, sobretudo a Estratégia de Saúde da Família (ESF), os
Conselhos e as Conferências de Saúde, enquanto instrumentos para o exercício do
controle social e da cidadania. Para a efetivação da participação popular, os
profissionais de saúde são elementos fundamentais, sobretudo os enfermeiros, pois
costumam atuar como gerenciadores das unidades de saúde, e como elos de ligação
entre às comunidades e os outros profissionais de saúde, sendo comum a sua
participação ativa nos fóruns de decisão permanente. Todavia, existe ainda a
necessidade de ampliação e reformulação da participação e do controle social, enquanto
elementos indispensáveis para a conquista de melhores condições de saúde e qualidade
de vida da população. Em nível mais amplo, esperamos também contribuir para a
reflexão da importância do exercício da cidadania na gestão participativa e democrática
das políticas públicas em geral.
UNITERMOS: SUS, Atenção Básica, Controle Social.
INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi defendido na Constituição de 1988 e
regulamentado em setembro de 1990, pela Lei nº 8.080, com o intuito de assegurar a
saúde para todos os cidadãos. Como é ressaltado no art. 2º da referida Lei, “A saúde é
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições
indispensáveis ao seu pleno exercício” (BRASIL, 1990).
Esta legislação ampliou o conceito de saúde, agora considerada como o produto
de inúmeros fatores determinantes e condicionantes, como a alimentação, a moradia, o
saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a renda, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais, visto que esses fatores são responsáveis pelo bem estar físico, mental, social
e ambiental dos indivíduos.
Cabe ao Estado o dever de garantir esse direito, através das ações que visem à
promoção, proteção e recuperação da saúde. Para tanto, foi institucionalizado um
sistema nacional hierarquizado formado por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, sob a administração direta do Poder Público das respectivas
esferas de governo.
O SUS é regido por um conjunto de princípios, tais como: 1) a Universalidade
da assistência, que visa garantir o acesso de todos à saúde, de forma gratuita, sem
distinções ou restrições; 2) a Integralidade, a qual amplia a abrangência do conceito de
saúde para garantir ações preventivas e de tratamento em qualquer nível de
complexidade; 3) a Eqüidade, que defende, por meio de políticas que canalizem maior
atenção aos mais necessitados, ações para a promoção da justiça social; 4) a
Descentralização das ações de saúde, para que as políticas públicas sejam geridas pelos
municípios, com autonomia financeira e responsabilidades sobre recursos financeiros,
cabendo aos gestores o estabelecimento de parcerias e atribuições entre as esferas de
Governo; e 5) o direito da Participação social, pelo qual a população de forma
democrática participa dos processos decisórios, por meio da fiscalização e
desenvolvimento das políticas de saúde.
A participação social, na área de saúde, também é conhecida como controle
social. Embora, de acordo com Silva (2007, p.685) “a expressão controle social tanto é
empregada para designar o controle do Estado sobre a sociedade, quanto para designar o
controle da sociedade sobre as ações do Estado”.
A abertura política vivida no Brasil pós-ditadura militar vem possibilitando,
gradualmente, a participação direta da população na formulação de políticas públicas.
Isso ocorre, conforme Dowbor (2003), devido à mobilização de seguimentos
organizados da sociedade. Esse avanço começou a tomar forma a partir da Constituição
de 1988, a qual criou uma série de mecanismos necessários ao exercício do controle
social nos vários setores da sociedade, inclusive na saúde.
Com o intuito de regulamentar o controle social do SUS, foi criado a Lei nº
8.142/90 que define o papel da sociedade na gestão do serviço de saúde onde os sujeitos
ou atores sociais participam ativamente, por meios democráticos, da formulação das
políticas públicas de saúde. Neste sentido, o usuário do serviço passa a ter o direito,
bem como o dever de deliberar, sobre o planejamento, formulação, execução e
fiscalização das ações de saúde, assim como da gestão financeira e administrativa do
SUS.
Esta Lei institucionaliza os meios pelos quais à população exerce o controle
social, particularmente as Conferências e os Conselhos de saúde. As Conferências
acontecem nas três esferas de governo periodicamente, a cada quatro anos, onde a
população tem a oportunidade de avaliar, planejar e estabelecer metas a serem
alcançadas no próximo quadriênio. Já os Conselhos de saúde são instâncias colegiadas
permanentes e paritária dos usuários em relação aos demais componentes. As reuniões
dos Conselhos de saúde funcionam como canal aberto visto que qualquer pessoa pode
participar das discussões acerca da gestão dos serviços de saúde. Esta relação serviçocomunidade possibilita que a população encaminhe suas demandas e proposições
condizentes com a realidade local.
Visando substituir o modelo tradicional médico-hospitalocêntrico, a fim de levar
a saúde mais próxima das famílias, foi implantada no inicio da década de 90, no Brasil,
o Programa de Saúde na Família (PSF), atualmente chamado de Estratégia Saúde da
Família. Com o PSF se estabeleceu um vínculo de co-responsabilidade entre os
profissionais e a comunidade nas ações que visam à prevenção, promoção e recuperação
da saúde.
Fontineli Junior (2003: 15) ressalta que:
O programa [PSF] incentiva uma maior organização e institucionalidade dos
mecanismos de representação da comunidade, aumentando, portanto, as
possibilidades de participação e controle da população sobre as ações públicas,
tendo em vista o estímulo dado pelo próprio SUS à participação na formação de
políticas de saúde e ao controle dessa no nível local, através dos Conselhos
Municipais e Estadual de Saúde.
No desenvolvimento das estratégias do programa, as atividades ocorridas
cotidianamente na Unidade Básica de Saúde, funcionam como um campo fértil para as
discussões dos anseios da comunidade local. A partir do contato direto é que as ações de
saúde adaptam-se às peculiaridades locais e regionais. Daí a importância do
reconhecimento do papel da população na deliberação, avaliação e planejamento do
serviço a ser oferecido à comunidade.
Algumas poucas iniciativas, como os Conselhos locais de saúde e realização de
pré-conferências municipais de saúde, são espaços que os usuários e funcionários da
Unidade Básica de Saúde poderiam utilizar com maior regularidade e eficiência, se a
dialogação e o trabalho integrado fossem devidamente reconhecidos e exercidos para o
estabelecimento de parcerias e, principalmente, na elaboração de plano de metas para
unidade de saúde, baseadas nos interesses locais.
Entretanto, o que observamos é um quase total desconhecimento da significação
e da importância dos espaços de participação e do papel da Atenção Básica para garantir
o controle social como instrumento de efetivação das políticas de saúde.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, abordagem quali-quantitativa.
Produto de uma experiência acadêmica da disciplina de metodologia, pesquisa
bibliográfica tendo como propósito evidenciar o que relata a literatura a respeito da
participação popular na atenção básica, bem como conhecer a atuação profissional no
sentido de proporcionar aos usuários do serviço a participação direta na gestão da, do
seu nível particular: a ESF. Para tanto foi realizado um estudo da evolução das políticas
ao longo das últimas décadas, chegando ao advento da ESF como modelo adotada para
suprir a atenção básica.
Foram utilizados como técnicas de coletas de dados as Leis Orgânicas da Saúde
(Lei 8.080/90 e 8.142/90), a Política Nacional de Atenção Básica, e 25 artigos
científicos disponíveis no banco de dados eletrônicos do Scielo. A partir do conteúdo
pesquisa foi possível traçar a linha histórica da consolidação das praticas de controle
social em saúde no Brasil.
CONQUISTA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR
No Brasil, durante a ditadura militar, instalou-se um modelo de saúde médico
hospitalocêntrico privatista, que valorizava a saúde individual, beneficiando apenas um
pequeno número de trabalhadores urbanos, com um declínio progressivo das medidas
voltadas à saúde publica. As práticas de saúde estavam acondicionadas ao capital
externo no que diz respeito de tecnologia e medicamentos, destacavam-se as práticas
curativas de caráter assistencialista. Após o ano de 1973 o direito previdenciário foi
ampliado aos trabalhadores rurais, empregadas domésticas e trabalhadores autônomos.
Sposati e Lobo (1992) afirmam que a saúde define-se no contesto histórico de
determinada sociedade, num dado momento de seu desenvolvimento, sendo marcada
pelas conquistas da população em suas lutas cotidianas. É nesta perspectiva que
devemos compreender o processo de reconhecimento do papel da população como
elemento ativo na construção das políticas de saúde, e não como simples beneficiados
passivos das ações do Estado.
Na década de 80 houve a abertura política devido aos movimentos sociais
organizados que questionavam o modelo político que acumulou uma imensa dívida
social, apesar do chamado milagre econômico, o qual também tinha fracassado. Esses
movimentos culminaram com a queda da ditadura, e a partir daí começaram a haver
mudanças quanto às práticas de controle social, pois até então o controle era exercido
pelo Estado sobre a população. Esse modelo vem sendo substituído gradativamente pelo
controle da população sobre as políticas públicas posta em prática pelo Estado.
Conforme salienta Senna:
[...] nos anos 80, num contexto de transição democrática, reforçaram-se
expectativas de formatação de uma nova institucionalidade para as políticas sociais,
com vistas ao resgate da imensa dívida social acumulada em décadas de exclusão e
à ampliação dos direitos sociais (2002: 37).
O Setor da saúde foi um dos primeiros a defender a prática da participação
popular em sua gestão. Isto se deve, em grande medida, ao fato de que durante os
últimos anos da ditadura teve grande repercussão o Movimento da Reforma Sanitária
Brasileira, formado por universitário e profissionais de saúde, bem como setores
organizados da sociedade, os quais defendiam a instituição de um modelo de saúde
pautada na democracia e na universalidade da assistência.
A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, é considerada
um marco nesta reforma, visto que os princípios defendidos pelo movimento são aí
defendidos e passam a formar os pressupostos do atual sistema universal de saúde. Nas
palavras de Draibe (apud SENNA, 2002), tratava-se de fazer com que a democracia política
pudesse se fazer acompanhar de sua base indispensável: a democracia social fundada em
maior eqüidade. Gallo (2002) afirma que a ação democrática do controle social consiste em
todos tomarem parte do processo decisório no setor de saúde sobre tudo aquilo que terá
conseqüências na vida de toda coletividade.
Guizardi et al (2004) cita a VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em
1986, como um momento de ruptura com a velha visão curativa e imediatista de saúde,
pois em seu relatório final defende o direito universal à saúde, como um direito de toda
a população brasileira, e imprescindível estimular a participação da população
organizada nos núcleos decisórios para a garantia deste direito.
A VIII Conferência Nacional preparou o terreno para que a constituição de 1988,
no artigo 196, assegurasse a saúde como um direito de todos e um dever do Estado,
devendo este prover políticas sociais e econômicas, visando à redução de risco de
agravos a saúde e devendo atuar, portanto na promoção, proteção e recuperação.
A carta magna institucionaliza o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual foi
regulamentado pela Lei nº. 8.080/90, ampliando o conceito de saúde, agora considerada
como o produto de inúmeros fatores determinantes e condicionantes, como a
alimentação, a moradia, o saneamento, o trabalho, a renda, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais, visto que esses fatores são responsáveis pelo bem estar físico,
mental e social dos indivíduos e da coletividade.
O sistema único de saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e dos
serviços de saúde sob gestão publica. Está organizada em redes regionalizadas e
hierarquizada e atua em todo o território nacional, com direção única em cada
esfera de governo (PEREIRA et al, 2004).
De acordo com Silva et al (2007), esta participação adquiriu a característica de
controle social na medida em que foi sendo exercida por setores progressista da
sociedade. Ou seja, a participação em saúde não se deu somente como ações de
colaboração e cooperação, mas pelo exercício do controle por parte dos seguimentos
organizados da sociedade sobre as ações do Estado; no sentido deste, cada vez mais,
atender aos interesses da maioria da população. Ao contrário do período ditatorial onde
havia o controle exclusivo do Estado sobre a sociedade.
A Declaração de Direitos que compõe a atual Constituição Brasileira a
caracteriza como um dos mais avançados textos constitucionais do mundo,
particularmente no que se refere ao conjunto de direitos sociais que promulga e,
sobretudo, quanto aos direitos no campo da Saúde (BOSI, 1994).
O NASCIMENTO DO SUS
No Brasil, a partir da Constituição de 1988, os serviços e ações de saúde
passaram a ser universais, direito de todos e dever do Estado (SILVA, 2007).
O sistema único de saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços
de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionais e hierarquizado,
atuando em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo
(PEREIRA et al, 2004).
Apesar do SUS ter sido definido pela Constituição de 1988, ele somente foi
regulamentado em 19 de setembro de 1990 através da Lei 8.080. Esta lei define o
modelo operacional do SUS, propondo uma nova forma de organização e de
funcionamento do setor saúde (POLIGNANO, 2007).
Estas instruções legais prevêem a organização do SUS baseada nos princípios da
universalidade, equidade e integralidade da assistência à saúde, bem como da
participação da sociedade na gestão do sistema de saúde, nas diferentes esferas de
governo (VÁZQUEZ et al, 2003).
O SUS, desafiando racionalidades, vem se mantendo como um projeto que busca
avançar na construção de um sistema universal de saúde, na periferia do capitalismo, em
um país continental, populoso e marcado por enorme desigualdade social, caso raro, ou
talvez único, entre as nações de todo o mundo (ELIAS, 2004).
Na historia da democratização das políticas de saúde, um dos campos que
construiu visibilidade aos movimentos de saúde, quer pela denuncia das “ausências e
omissões” dos serviços instalados, quer pela luta no sentido de construir um espaço
regular para o exercício de controle nos serviços e nas burocracias da gestão da saúde,
foi o controle social da coisa publica (SPOSATI & LOBO, 1992).
O CONTROLE SOCIAL DO SUS
Com o SUS, a saúde emerge como questão de cidadania e a participação política
como condição de seu exercício; perspectiva assegurada no princípio constitucional de
“participação da comunidade” e na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
que estabelece os Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços de representação
institucional e participação popular (GUIZARDI & PINHEIRO, 2006).
As praticas participativas preservam a autodeterminação da comunidade. Para se
construir consensos, é preciso escutar o outro como legitimo e ter consciência sobre o
significado do bem público, do papel do Estado e da ampla representação do conjunto
da sociedade (PEREIRA et al, 2004).
Gallo (2002) ressalta que o ato de participar nunca é feito sozinho; não é um ato
isolado de alguém que não tem companhia, mas algo que fazemos com os outros.
Na conjuntura pós-Constituição de 1988, passamos a viver em um novo
momento democrático. As leis, em princípio, amparam a participação da população nas
políticas de saúde e são defensoras dos direitos sociais (SPOSATI & LOBO, 1992).
Busca-se com a democratização, eliminar as formas autoritárias e tradicionais de
gestão das Políticas Sociais, bem como a adoção de praticas que favoreçam uma maior
transparência das informações e maior participação da sociedade no processo decisório
(SILVA et al, 2007).
Nessa perspectiva, é possível entender a participação popular como decorrente
da participação efetiva da população organizada. A participação somente é efetiva
quando pretende ou consegue, modificar o orçamento e investimentos estatais, de modo
a oferecer os serviços básicos de qualidade para a população (VALLA, 1992).
A luta pela garantia do direito à saúde é continua. Existem inimigos internos e
externos. A unica atividade não permitida é desanimar. Cada vez que se usurpa mais,
maior deve ser garra para lutar mais e garantir mais recurso, mais eficiência e maior
compromisso social (CARVALHO, 2001).
Com essa concepção de participação, a população adquire condição de sujeito da
política de saúde, enquanto agente social ativo que a determina (GUIZARDI et al,
2004).
Ressaltamos que na Seguridade Social, a política de saúde tem apresentado
maiores avanços a cerca do processo de descentralização político-administrativa.
Com a promulgação das Leis 8.080/90 e 8.142/90, a saúde foi o primeiro setor a
experimentar uma regulação formada a partir da participação da coletividade na sua
estrutura, com o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais em todos os
estados brasileiros e os Conselhos Municipais de Saúde na maioria dos 5.564
municípios brasileiros (SILVA et al, 2007).
Apesar de não refletir o conjunto das reivindicações dos movimentos sociais
organizados, a atual legislação sanitária esta além do que se pratica hoje no sistema de
saúde. O legal está mais avançado do que o real, neste aspecto específico (SPOSATI &
LOBO, 1992).
No Brasil, porém, uma grande parte da população não pode vigiar o governo,
porque não há o que vigiar. A população, sem acesso aos serviços básicos, não possui
mecanismos eficientes para pressionar as autoridades para realizarem as obras
necessárias com o dinheiro dos impostos (VALLA, 1992).
Determinada pela Constituição e pela Lei complementar nº 8.142/1990 a
participação popular busca instituir na gestão do SUS realismo, transparência,
comprometimento coletivo e efetividade de resultados. Entretanto, esta participação esta
diretamente relacionada ao grau de educação política e de organização da própria
sociedade civil (PEREIRA et al, 2004).
Assim, mesmo que nos textos legais esteja garantida a participação da
população, denominada controle social, através da integração em órgãos colegiados
deliberativos, como os Conselhos de Saúde, ou de outros espaços institucionalizados,
como as Conferencias de Saúde, ainda falta muito para uma prática participativa
eficiente, comprometida e isenta (VÁZQUEZ et al, 2003).
FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR: CONFERÊNCIAS DE SAÚDE
As Conferencias de Saúde surgem como instancias nas quais (pelo menos
potencialmente) se abre espaço para que a participação social ocorra na formulação das
políticas. Enquanto os Conselhos de Saúde têm a função de formular estratégias e
controlar a execução das políticas (GUIZARDI et al, 2004).
A Conferência de Saúde deve se reunir a cada quatro anos, em nível local,
regional e nacional, para avaliar e propor as readequações na política de saúde, e cuja a
composição envolve diferentes representações sociais (SPOSATI & LOBO, 1992).
Carneiro (2003) afirma que as Conferências de Saúde são espaços democráticos de
construção da política de saúde.
As Conferências devem sempre ser realizadas pelos três níveis de governo. No
município a decisão política de realizar Conferência deve ser do Secretário de Saúde, do
Conselho e principalmente do Prefeito (CARNEIRO, 2003).
Conforme Guizardi et al (2004), as Conferências surgem como uma das arenas
na qual a participação social se antecipa à formulação de políticas públicas, pois se volta
para desenhar os princípios, diretrizes e pressuposto que devem orientar todo o processo
de formulação de políticas de saúde no período seguinte.
DISCUSSÃO E GESTÃO PERMANENTE: CONSELHOS DE SAÚDE
Os Conselhos foram incorporados à Constituição, na suposição de que se
tornariam canais efetivos de participação da sociedade civil e formas inovadoras de
gestão pública a permitir o exercício de uma cidadania ativa, incorporando as forças
vivas de uma comunidade à gestão de seus problemas e à implementação de políticas
públicas destinadas a solucioná-los (GERSCHMAN, 2004).
Segundo Guirzardi et al (2004), o fato de ser formados Conselhos de Saúde em
níveis municipal, regional e estadual, indica uma preocupação com a descentralização
da participação, com sua aproximação a todos os níveis em que há prática decisória e a
concretização do sistema de saúde. Quanto à participação dos conselhos na gestão do
SUS atenta-se para o fato de que cabe aos conselheiros participar da gestão, e não
apenas acompanhar e fiscalizar o sistema, ainda que essas ações estejam inseridas nessa
participação.
Os Conselhos Municipais de Saúde são instancias deliberativas e paritárias onde
se dá a relação entre os representantes dos usuários e dos setores prestadores de serviço,
aqui incluídos governo, funcionários, e os prestadores conveniados e contratados
(PESSOTO et al, 2001).
Os gestores do SUS devem garantir o cumprimento das regras na composição
dos Conselhos de Saúde, sobretudo a proporcionalidade, que estabelece 50% de
usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de gestores e prestadores (GUIZARDI
et al, 2004).
Como ressalta Sporsati & Lobo (1992), a forma de regularização e de
normatização da presença popular na gestão de saúde indicou o caminho “tripartite”,
envolvendo os trabalhadores de saúde, os dirigentes e a representação popular.
Para que a relação dialética conscientização/participação se desenvolva, de
maneira a atingir seus objetivos estratégicos, o espaço micro da prática participativa
representada por relações cotidianas devem ser pautadas pelas práticas que se
estabelecem nas Unidades de Serviço. O cotidiano enquanto experiência de vida torna-
se fundamental à localização de elementos através dos quais os atores sociais constroem
suas percepções referentes à vida social, ao mesmo tempo em que representa um espaço
de luta, de exercício de poder. Poder que aqui é entendido "não como um objeto natural,
uma coisa", mas como "prática social" em permanente construção (BOSI, 1994).
A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO INSTRUMENTO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR
A crise do Estado de Bem-Estar Social tem contribuído para a redescoberta da
família, das redes primárias e da comunidade como atores fundamentais na efetivação
das políticas sociais. Atualmente, há várias propostas de políticas sociais baseadas na
concepção de "cuidado comunitário", que objetivam co-responsabilizar a comunidade
em relação aos problemas sociais e de saúde. Uma das estratégias é o Programa de
Saúde da Família (PSF), que visa oferecer serviços de atenção básica às famílias e às
comunidades (SERAPIONI, 2005).
Atualmente chamado de Estratégia de Saúde da Família (ESF), esta nova
abordagem dos problemas de saúde é colocada como uma estratégia desenvolvida para
promover mudanças no atual modelo de assistência à saúde do país, possibilitando-se
que efetivamente sejam colocados em práticas os princípios que norteiam o SUS, tais
como a integralidade da assistência, universalidade, eqüidade, participação e controle
social, intersetorialidade, resolutividade, saúde como direito e humanização do
atendimento (VANDERLEI & ALMEIDA, 2007).
A ESF incentiva uma maior organização e institucionalidade dos mecanismos de
representação da comunidade; aumentando, portanto, as possibilidades de participação e
controle da população sobre as ações públicas, tendo em vista o estímulo dado pelo
próprio SUS à participação na formação de políticas de saúde e ao controle no nível
local, através dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde (FONTINELI JUNIOR,
2003).
OS USUÁRIOS DA ESF E AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL
As Leis orgânicas da Saúde asseguram a Participação Popular na elaboração na
condução e gestão das Políticas Públicas de Saúde. Portanto, essas iniciativas permitem
que as necessidades e particularidade de cada comunidade direcionem a elaboração de
propostas de intervenção no serviço de saúde. Além disso, a co-gestão de usuários e
trabalhadores em saúde, fortalece o vinculo entre as partes envolvidas no processo
saúde-doença, além de favorecer a melhoria na qualidade da assistência prestada.
Cortes (2002: 127) ressalta que:
Maior participação de usuários não garante a redução das iniqüidades na promoção
de cuidados de saúde para a população. No entanto, a consolidação de fóruns
participativos pode auxiliar para a democratização das instituições brasileiras,
dando voz a setores tradicionalmente excluídos de representação direta no sistema
político.
O Controle Social foi incorporado à constituição, permitindo o exercício de uma
cidadania ativa, incentivando as forças viva de uma comunidade para a gestão de seus
problemas e à implementação de políticas públicas destinadas a solucioná-los
(GERSCHAMAN, 2004).
Esta prática pode ser exercida por mecanismos institucionais como os Conselhos
e as Conferências de Saúde. No entanto, todos os serviços públicos de saúde devem
funcionar como canal formal e aberto de encaminhamento e proposições por partes dos
usuários regulares dessa unidade de saúde.
A Estratégia de Saúde da Família preconiza como diretriz a participação da
população, incentivando uma maior organização e institucionalidade dos mecanismos
de representação da comunidade. Esse processo é facilitado pelo vinculo que se
estabelece entre os profissionais e os usuários adscritos na área de abrangência dessa
equipe. Cabendo a população participar assiduamente da deliberação, avaliação e
planejamento do serviço a ser oferecido à comunidade.
Portanto, os usuários podem influir na decisão sobre o destino de recursos
públicos no setor saúde, podem obter informações, fiscalizar a qualidade dos serviços
prestados, podem influenciar na formulação de políticas que favoreçam os setores
sociais que eles representam, além de participar de maneira mais efetiva na construção
das ações em saúde (CORTES, 2002).
A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E SUA CONTRIBUIÇÃO NA
PARTICIPAÇÃO POPULAR
A Estratégia de Saúde da Família ESF foi o modelo adotado para suprir as
necessidades da atenção básica. Ela é considerada a porta de entrada do individuo no
serviço de saúde As práticas de saúde são direcionadas a uma população alvo com o
intuito de dirigir a atenção de acordo com as necessidades locais da população. O
Ministério da Saúde defende a ESF como espaço de integração com instituições e
organizações sociais em sua área de abrangência, com o intuito do desenvolvimento de
parcerias. Portanto, a ESF é considerado um instrumento de fortalecimento da
cidadania.
A ESF é composta por UMA equipe multiprofissional em saúde e cada um dos
seus membros tem atribuições especificas, mas também compartilham obrigações
comuns. Cabe a todos profissionais promover a mobilização e a participação da
comunidade, buscando efetivar o controle social.
Nas palavras de Lacerda e Santiago (2007: 68):
o processo de construção do direito à saúde insere-se no espaço micro das relações
entre usuários, profissionais e conselhos de saúde, imersas nos significados que aí
são reproduzidos e continuamente reinterpretados.
Portanto, é necessário haver a interação entre os sujeitos usuários do serviço e
profissionais de saúde, para que juntos compartilhem as responsabilidades e
compromissos na gestão da UBS.
Ceccim e Feuerwerker (2004: 55), ressalta ainda que:
A formação dos profissionais de saúde tem permanecido alheia à organização da
gestão setorial e ao debate crítico sobre os sistemas de estruturação do cuidado,
mostrando-se absolutamente impermeável ao controle social sobre o setor, fundante
do modelo oficial de saúde brasileiro.
Com o advento do SUS, as Universidades passaram a ter a responsabilidade de
formar profissionais de saúde capacitados a interar com o meio no qual atua,
propiciando assim as práticas de controle social. Neste sentido, a academia deve ser
humanizada, a fim de produzir um profissional qualificado e crítico do ponto de vista
técnico-científico, humano e ético, atuante e comprometido socialmente com a luta pela
saúde de seu povo (CECCIM et al, 2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relevância deste trabalho, como saliente Vázquez et al (2003: 581), deve-se ao
fato da grande escassez de estudos destinados a avaliar os conceitos e atitudes dos
diferentes atores sociais no que diz respeito à participação da população na gestão dos
serviços de saúde em nível local.
Observamos que na literatura os fundamentos que norteiam a aplicação do
Controle Social na Estratégia de Saúde da Família, sobretudo em nível organizacional
dos usuários e dos profissionais, ainda necessitam de maior atenção e estudos mais
aprofundados, de modo que se estabeleça uma comparação entre o embasamento teórico
assegurado na Lei e o que é realmente efetivado na prática cotidiana de construção e
execução das ações de saúde.
De maneira geral, o Enfermeiro, enquanto gerenciador das unidades de saúde
que atua junto à comunidade e aos outros profissionais de saúde, executa um papel
chave de extrema valia no desenvolvimento das políticas de saúde afinadas com o
princípio da participação popular. Sua participação ativa nos fóruns de decisão
permanente deve, portanto, fomentar as iniciativas por parte dos usuários do serviço e
os demais profissionais no que diz a respeito da gestão da unidade de saúde. Desta
maneira as políticas estarão se adequando à realidade local, respeitando as necessidades
da comunidade, pondo em pratica o principio da equidade e promovendo o controle
social da saúde.
É necessário que os profissionais assumam novos papeis, mais adequados às
exigências sociais de qualidade da atenção em saúde. Como afirma Ceccim &
Feuerwerker (2004: 96):
A formação para a área da saúde deveria ter como objetivos a transformação das
práticas profissionais e da própria organização do trabalho, e estruturar-se a partir
da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e
cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e
das populações
Por fim, é importante salientar que apesar de muito ter sido feito no sentido da
democratização das políticas de saúde no Brasil, no que diz a respeito à legislação,
existem ainda inúmeros entraves que impedem a execução dos princípios defendidos,
sobretudo na ESF. Como estamos tratando de um campo extremante fértil, as discussões
e a interação usuário/profissional de saúde, podem facilitar a aplicação prática da tão
avançada legislação brasileira; no que diz a respeito a participação popular na gestão do
Sistema Único de Saúde, possibilitando, assim, melhorias dos serviços prestados e
melhorias da qualidade de vida da população.
REFERÊNCIAS:
BRASIL. Constituição Federal,
____, 1990a. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe
sobre as Condições para Promoção, Proteção e Recuperação de Saúde, a Organização e
o Funcionamento dos Serviços Correspondentes e dá Outras Providências. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v.128, n.182, pp18055-18059,
20 set. Seção I, pt. 1.
____, 1990b. Lei nº 8142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a Participação da
Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as Transferências
Intergovernamentais de Recursos Financeiros na Área de Saúde e da Outras
Providencias. Disponível em <http://www.saude.gov.br> acessado em 06 de mai. 2007.
____. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política nacional de
atenção básica/ Ministério da Saúde, Secretária de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério
da Saúde, 2006
BOSI, M. L. M. Cidadania, participação popular e saúde na visão dos profissionais do
setor: um estudo de caso na rede pública de serviços. Caderno de Saúde Publica. v.10,
nº4. Rio de Janeiro. Out./dez. 1994.
CARNEIRO, A. O. et al. Conferências municipais de saúde passo a passo. jul.2003.
Disponível em:
<http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/instrumento/arquivo/03_Cartilha_passo_a_passo.p
df> acessado em 28 abr.2007.
CARVALHO, G. A inconstitucional administração pós-constitucional do SUS através
de normas operacionais. Ciência & Saúde Coletiva. v.6, nº2. Rio de Janeiro-RJ. 2001.
CECCIM, R. B.; ARMANI, T. B.; ROCHA, C. F. O que dizem a lesgislação e o
controle social em saúde sobre a formação de recursos humanos e o papel dos gestores
públicos, no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. v.7, nº 2. Rio de Janeiro-RJ. 2002.
CECCIM, R.B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da
saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Revista de Saúde Coletiva. v. 14, nº 1.
Rio de Janeiro/RJ. 2004.
CORTES, S. M. V. Construindo a possibilidade da participação dos usuários: conselhos
e conferencias do sistema único de saúde. Sociologias. N.07 jun. 2002. Porto Alegre.
ELIAS, P. E. Estado e saúde: os desafios do Brasil contemporâneo. São Paulo em
Perspectiva. v.18, nº3. São Paulo-SP. jul./set. 2004.
FONTINELE JUNIOR, Klinger. Programa saúde da família [PSF] comentado.
Goiânia: AB, 2003.
GALLO, S. Política e cidadania. Ética e cidadania: caminhos da filosofia. 10 ed. São
Paulo: Papirus, 2002. p.25.
GERSCHMAN, S. Conselhos Municipais de Saúde: atuação e representação das
comunidades populares. Caderno de Saúde Publica. V.20, nº6. Rio de Janeiro-RJ.
Nov./dez. 2004.
GUIZARDI, F. L. et al. Participação da comunidade em espaços públicos de saúde: uma
análise das conferências nacionais de saúde. Revista de Saúde Publica. v.14, nº1. Rio
de Janeiro-JR. 2004.
GUIZARDI, L. F.; PINHEIRO, R. Dilemas culturais, sociais e políticos da participação
dos movimentos sociais nos Conselhos de Saúde. Ciência e saúde coletiva. v. 11, nº 3,
p. 797-805. Rio de Janeiro-RJ. Set 2006.
JOINVILLE-SC (município). Resolução nº 29/2005 de 09 de maio de 2005.
Regimento interno dos conselhos locais de saúde de Joinville.
LACERDA, W. A.; SANTIAGO, I. M. F. L. A participação popular na gestão local do
Programa Saúde da Família em Campina Grande, Paraíba. Revista Katálysis. v. 10, nº
2. Florianópolis. Jul./dez. 2007
PEREIRA, A. L. et al. O SUS no seu município: garantindo saúde para todos. Brasília:
Ministério da Saúde, 2004. Disponível em:
<http://dtr2001.saude.gov.br/dad/cartilha/cartilha.pdf > acessado: 06 mai. 2007.
PESSOTO, U.C.; NASCIMENTO, P. R.; HEIMAMANN, L. S. A gestão semiplena e a
participação popular na administração da saúde. Caderno de Saúde Publica. V.17, nº1.
Rio de Janeiro-RJ. jan./fev. 2001.
POLIGNANO, M. V.; História das políticas de saúde do Brasil: uma pequena revisão.
Disponível em : <http://internatorural.medicina.ufmg.br/saude_no_brasil.pdf> acessado
em 06 mai. 2007.
SENNA, M. C. M. Equidade e políticas de saúde: algumas reflexões sobre o Programa
Saúde da Família. Caderno de Saúde Pública. v.18. p.S203-S211. Rio de Janeiro-RJ.
2002.
SERAPIONE, M. O papel da família e das redes primárias na reestruturação das
políticas sociais. Ciência & Saúde Coletiva. v.10 supl.0. Rio de Janeiro-RJ. set./dez.
2005.
SILVA, A. O; Organizações Participativas e a Deliberação da Política Pública de Saúde:
Um Estudo Comparativo de Conselhos de Saúde em Porto Alegre (Brasil) e
Montevidéu (Uruguai). Disponível em:
<http://nutep.ea.ufrgs.br/pesquisas/ORGANIZACAO_PARTICIPATIVAS_SEMEAD.d
oc> acessado em 28 abr.2007.
SILVA, A. X.; CRUZ, E. A.; MELO, V. A importância estratégica da informação em
saúde para o exercício do controle social. Ciência e saúde coletiva. v. 12, nº 3, p. 683688. Rio de Janeiro-RJ. Jun 2007.
SPOSATI, A.; LOBO, E. Controle social e política de saúde. Caderno de saúde
pública. v. 8, nº 4, p. 366-378. Rio de Janeiro-RJ. Dez 1992.
VALLA, V. V. Educação, saúde e cidadania: investigação cientifica e assessoria
popular. Caderno de Saúde Publica. V.8, nº1. Rio de Janeiro-RJ. Jan./fev. 1992.
VANDERLEI, M. I. G.; ALMEIDA, M. C. P. A concepção e prática dos gestores e
gerentes da estratégia de saúde da família. Ciência & Saúde coletiva. v.12, nº2. Rio de
Janeiro-RJ. mar./abr. 2007.
VÁZQUEZ, M. L. et al. Participação social nos serviços de saúde: concepções dos
usuários elíderes comunitários em dois municípios do Nordeste do Brasil. Caderno de
saúde pública. v. 19, nº 2, p. 579-591. Rio de Janeiro-RJ. Abr 2003.