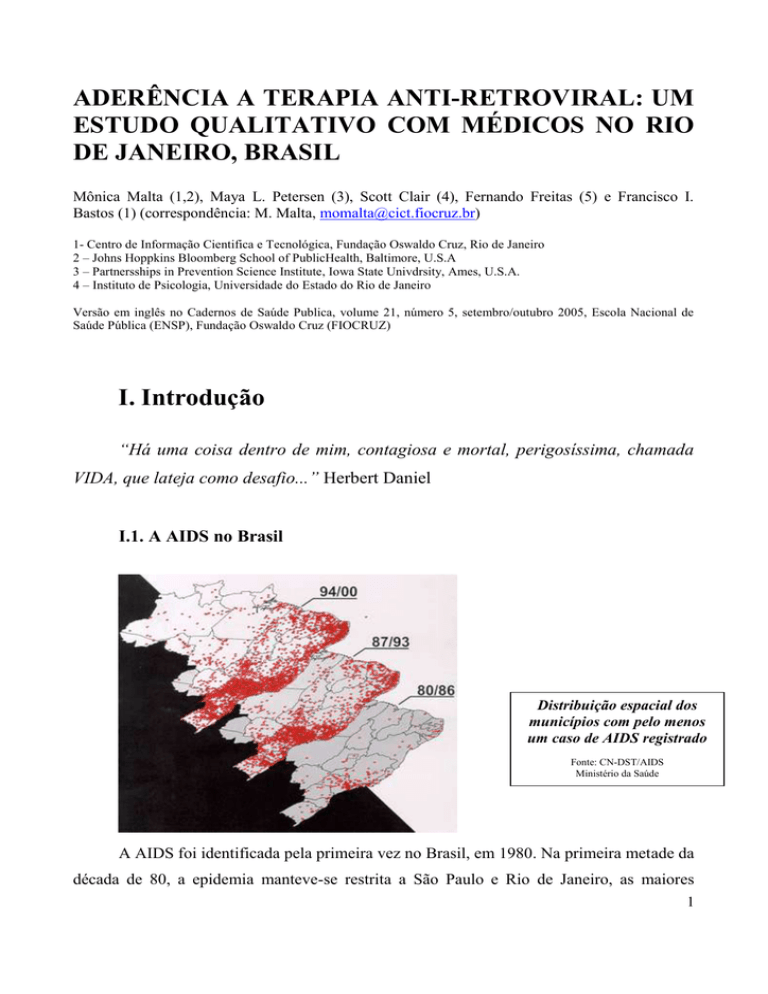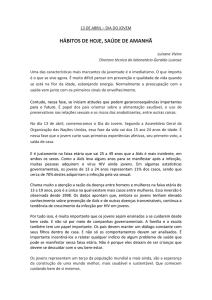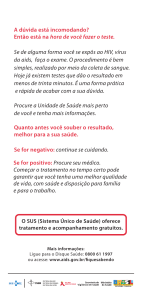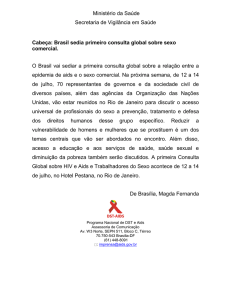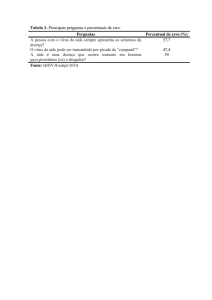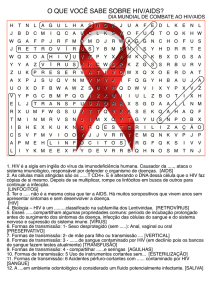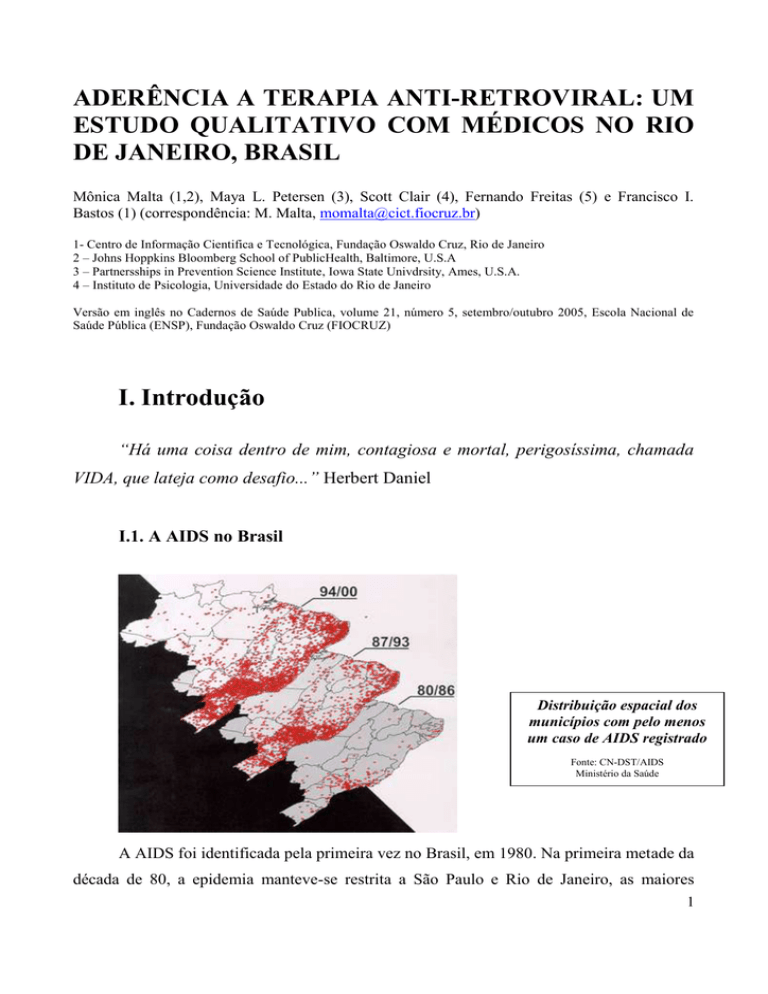
ADERÊNCIA A TERAPIA ANTI-RETROVIRAL: UM
ESTUDO QUALITATIVO COM MÉDICOS NO RIO
DE JANEIRO, BRASIL
Mônica Malta (1,2), Maya L. Petersen (3), Scott Clair (4), Fernando Freitas (5) e Francisco I.
Bastos (1) (correspondência: M. Malta, [email protected])
1- Centro de Informação Cientifica e Tecnológica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
2 – Johns Hoppkins Bloomberg School of PublicHealth, Baltimore, U.S.A
3 – Partnersships in Prevention Science Institute, Iowa State Univdrsity, Ames, U.S.A.
4 – Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Versão em inglês no Cadernos de Saúde Publica, volume 21, número 5, setembro/outubro 2005, Escola Nacional de
Saúde Pública (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
I. Introdução
“Há uma coisa dentro de mim, contagiosa e mortal, perigosíssima, chamada
VIDA, que lateja como desafio...” Herbert Daniel
I.1. A AIDS no Brasil
Distribuição espacial dos
municípios com pelo menos
um caso de AIDS registrado
Fonte: CN-DST/AIDS
Ministério da Saúde
A AIDS foi identificada pela primeira vez no Brasil, em 1980. Na primeira metade da
década de 80, a epidemia manteve-se restrita a São Paulo e Rio de Janeiro, as maiores
1
regiões metropolitanas do País. A partir do final daquela década, observou-se a
disseminação da doença para suas diversas regiões. Apesar do registro de casos em todos os
estados, a epidemia da AIDS não se distribui de forma homogênea, observando-se a maior
concentração de casos nas regiões Sudeste e Sul, as mais desenvolvidas do Brasil. As taxas
de incidência nos últimos anos evoluíram de 8,0 por 100.000 habitantes, em 1991, para 13,7
por 100.000 habitantes, em 1998, e apresentam uma grande variação ao longo do território
brasileiro (Brasil, 2000).
"Hoje, o que denominamos de epidemia de AIDS no Brasil é, de fato, o somatório de
subepidemias microrregionais em interação permanente, devido aos movimentos
migratórios, aos fluxos comerciais e de transporte, aos deslocamentos de mão-de-obra, ao
turismo, ou seja, de maneira mais geral, à mobilidade da população" (Szwarcwald et al.,
1997).
A velocidade de crescimento da epidemia no País foi de, aproximadamente, 36% ao
ano, no período de 1987/89 a 1990/92, decrescendo para 12%, no período de 1990/92 a
1993/96. Apesar de apresentar as maiores taxas de incidência, a região Sudeste é a que
apresenta, atualmente, o menor ritmo de crescimento e a maior tendência à estabilidade
(Brasil, 2000). A análise da expansão da epidemia, segundo as categorias populacionais dos
tamanhos dos municípios, mostra que a epidemia teve início nos grandes centros urbanos,
mas que esses mesmos centros detêm o menor aumento relativo do crescimento. Observa-se
que os maiores ritmos de crescimento ocorrem entre municípios pequenos, com menos de
50.000 habitantes, identificando-se que nesses municípios a epidemia está ainda na fase
inicial de expansão (Szwarcwald et al., 2000).
Desde 1980, até 03/06/2000, 190.949 casos foram registrados na Coordenação
Nacional de DST e Aids. Desses, 6.750 são crianças, 139.502 são adultos do sexo
masculino e 44.697 do sexo feminino (Brasil, 2000).
No ano de 1984, 71% dos casos notificados no Brasil eram referentes a
homo/bissexuais masculinos. Progressivamente, observou-se a redução da participação
dessa subcategoria de exposição que, em 1999/2000, é de 22%. Essa tendência pode ser
observada em todas as regiões do Brasil (Brasil, 2000).
2
O aumento de casos por via heterossexual fez-se acompanhar de uma expressiva
participação das mulheres no perfil epidemiológico da doença constatado na progressiva
redução da razão de sexo entre todas as categorias de exposição, de 24 homens : 1 mulher,
em 1985, para 2 homens : 1 mulher, em 1999/2000 (Brasil, 2000).
Enquanto os maiores aumentos relativos dos casos em mulheres são observados em
todas as regiões do Brasil, já vem sendo observada uma desaceleração do crescimento da
epidemia entre os homens na região Sudeste (Szwarcwald et al., 2000).
Uma das conseqüências diretas dessa maior participação feminina é o progressivo
aumento da transmissão vertical. A primeira ocorrência de transmissão perinatal, registrada
no Brasil, foi em 1985. Daí, até 03/06/2000, foram notificados 5.409 casos a partir dessa
forma de transmissão (Brasil, 2000a; Szwarcwald, 1999).
Desde o início da epidemia, o grupo etário mais atingido, em ambos os sexos, tem
sido o de 20 a 39 anos, perfazendo 70% do total de casos de AIDS notificados até
03/06/2000 (Szwarcwald & Castilho, 1999).
A escolaridade tem sido utilizada como uma variável auxiliar, na tentativa de se
traçar o perfil socioeconômico dos casos notificados, embora ainda seja elevado o
percentual de casos com escolaridade ignorada. Até 1982, a totalidade dos casos com
escolaridade conhecida era de nível superior ou com até 11 anos de estudo. Nos anos
subseqüentes, observou-se a tendência de aumento no registro de casos com menor grau de
escolaridade. Em 1999/2000, entre os casos com escolaridade reconhecida, observou-se que
74% dos casos eram analfabetos ou tinham até 8 anos de escolaridade, e apenas 26% tinham
mais de 11 anos de escolaridade ou curso superior (Bastos & Szwarcwald, 2000).
Ainda em relação à escolaridade, observa-se que a incidência de casos vem
aumentando tanto em homens quanto em mulheres com até 8 anos de escolaridade. Entre os
indivíduos com mais de 8 anos de escolaridade, observa-se que os casos diminuem no sexo
masculino, o mesmo não acontecendo no sexo feminino (Bastos & Szwarcwald, 2000).
Resumindo os dados acima, a epidemia de AIDS no Brasil não atinge de maneira
uniforme toda a população e sua distribuição é distinta nas diferentes regiões do país,
3
apresentando inclusive diferenças significativas em uma mesma região, tanto nos aspectos
sociais quanto nas vias de transmissão (Bastos & Malta, 2002). As tendências atuais da
epidemia apontam principalmente para:
1. Pauperização da epidemia, que atinge em maior número pessoas, famílias ou grupos em
situação de pobreza;
2. Aumento significativo de casos entre mulheres, com conseqüente impacto nos casos em
crianças;
3. Interiorização da epidemia, com o surgimento de locais distantes dos grandes centros
urbanos com maior concentração de casos (Brasil, 1999; Brasil, 2000).
I.2. Porque a AIDS e os médicos?
Tomando por base o trabalho de Camargo Jr., 'As ciências da AIDS & a AIDS das
ciências' (1994), a epidemia da AIDS transformou as relações entre a ciência médica,
doença e morte, evidenciando o afastamento da medicina de seu objetivo primordial de
curar doentes. A medicina tem se desumanizado aceleradamente na mesma medida em que
constrói, com o auxílio das mais avançadas tecnologias, a entidade ao mesmo tempo
abstrata na teoria e concreta na realidade social que é a epidemia de AIDS. A ciência
médica, de uma forma geral, parece muito mais ocupada com a catalogação, classificação e
decodificação etiológica e eventualmente o combate das patologias que constrói, do que
com o alívio do sofrimento ou a cura dos seres humanos que adoecem dessas patologias.
Quanto à sexualidade, a AIDS possui dois aspectos importantes, que também
influenciam a relação médico/paciente. O primeiro é o papel que a AIDS representa no
discurso conservador sobre a sexualidade como castigo e o segundo é o imaginário coletivo
que liga a AIDS às formas desviantes, perversas (Loyola, 1993). Essas duas facetas
combinadas com o discurso normalizador de medicina explica em parte a discriminação
contra infectados, criando as vítimas culpadas, merecedoras do mal, em contraposição às
vítimas inocentes, a exemplo do que já ocorria em outros momentos da história das doenças
como a lepra, a sífilis, o alcoolismo etc (Parker & Camargo Jr, 2000).
4
A AIDS surge num momento da medicina em que, pelo menos nos países
desenvolvidos, as grandes epidemias eram consideradas coisas do passado. O pânico surge
decorrente da percepção, progressivamente mais nítida, dos limites de uma medicina tida
como todo-poderosa (ou quase). A AIDS surge também num contexto histórico em que o
discurso médico vem sendo cada vez mais criticado e de forma mais conseqüente (Galvão,
2000; Parker, 1997). O médico é progressivamente destituído do lugar de “dono absoluto do
saber” na sociedade moderna. Passa a estar inserido no discurso capitalista, torna-se um
assalariado, trabalhando em prol de grandes laboratórios e de grandes grupos econômicos
(Clavreul, 1983).
É interessante notar também que as pessoas acometidas pela doença se articulam
politicamente, adquirem domínio dos aspectos técnicos da AIDS e passam a enfrentar o
poder em torno das políticas médicas em seu próprio terreno, conquistando um espaço cada
vez maior até mesmo nos congressos mundiais sobre AIDS, rompendo com o papel
historicamente submisso e silencioso atribuído aos pacientes (Brasil, 1998; Brasil, 1999a
Parker & Galvão, 1999).
Buscando compreender essas e outras possíveis mudanças que a epidemia da AIDS
tenha realizado e esteja realizando nas relações médico/paciente, médico/saber, médico/préconceitos e tantas outras, essa pesquisa buscou ouvir os médicos. O que esses clínicos têm a
dizer sobre a vivência cotidiana com a clínica desta epidemia e, principalmente, com os
sujeitos acometidos pela AIDS. Objetivamos conhecer um pouco mais este profissional de
saúde seus medos, dificuldades, angústias e como elabora estes e tantos outros
sofrimentos decorrentes da vivência da clínica quotidiana da AIDS.
Algumas das questões iniciais que nos levaram a tal pesquisa foram: Como esses
médicos - aqueles que, teoricamente, deveriam dar e manter a vida - se vêem diante do
incurável? Qual a resposta subjetiva diante dessa total incapacidade de atuar? Como o
sujeito médico se vê diante de uma doença letal, desconhecida e diante de pacientes e toda
uma demanda, uma expectativa de cura da qual eles não podem dar conta?
5
II. Metodologia
Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de fazer um
levantamento dos artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais sobre o tema
pesquisado. Foram utilizados como descritores as palavras: HIV, AIDS, Saúde Mental e
Brasil e os indexadores consultados foram:
1. INDEX-PSI – Indexador de periódicos nacionais e internacionais ligados a
Ciências Sociais, disponibilizado pelo Conselho Federal de Psicologia;
2. SCIELO (Scientific Electronic Library Online) – Indexador de periódicos
principalmente da América Latina e do Caribe, disponibilizado pela FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e BIREME - Centro
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
3. MEDLINE/PubMed – Indexador da National Library of Medicine, com
periódicos sobre Ciências Sociais e Medicina;
4. ISI (Institute for Scientific Information), com periódicos internacionais ligados às
Ciências Sociais e
5. Site da Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde
(www.aids.gov.br)
Em um segundo momento, foram selecionados serviços de assistência ambulatorial a
pessoas vivendo com HIV/AIDS. Esses serviços foram incluídos no estudo por serem
considerados como referência no Estado do Rio de Janeiro. São eles: Hospital Evandro
Chagas (Fundação Oswaldo Cruz/Manguinhos); Instituto Fernandes Figueiras (Fundação
Oswaldo Cruz/Flamengo); Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ/Ilha do
Governador); Hospital Universitário Gafrée e Guinle (UNIRIO/Tijuca) e Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro (Castelo). Todos estes hospitais prestam o “Serviço de
Assistência Especializada – SAE” aos portadores do HIV/AIDS em ambulatórios e/ou
enfermarias, ou seja, oferecem um atendimento integral e de qualidade a estes pacientes, por
meio de uma equipe multidisciplinar.
6
Foram então contatados os responsáveis por estes serviços, aos quais foram
esclarecidos os objetivos da pesquisa e solicitado o acesso aos profissionais responsáveis
pelo atendimento destes sujeitos. As entrevistas foram agendadas com os médicos
interessados em participar, tendo sido entrevistados dois médicos de cada Hospital,
totalizando 40 profissionais.
Em relação às entrevistas, a participação foi voluntária e cada participante assinou
um termo de consentimento livre e esclarecido, para atender à Resolução 196 de 10/10/96
do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (Brasil, 1996).
O instrumento utilizado para as entrevistas foi o modelo de entrevista não-diretiva ou
semi-estruturada. O modelo de entrevista não-diretiva pode ser concebido como meio de
aprofundamento qualitativo de uma investigação, propósito pelo qual adotamos tal
procedimento. Trata-se de explorar o universo cultural (conjunto de valores, normas,
representações, símbolos) próprio de certos indivíduos em referência às capacidades de
verbalização específica do grupo ao qual pertencem, sem comparação com outros grupos
(Gomes, 1994).
A entrevista não-diretiva, contrariamente à entrevista dirigida, não propõe ao
entrevistado uma completa estruturação do campo de investigação, ou seja, é o entrevistado
que detém a atitude de exploração. A partir da instrução transmitida pelo pesquisador, por
ex: “pode me dizer o que a política e os partidos políticos representam pra você?”, o
entrevistado define como quiser o campo a explorar, sem se submeter a uma estruturação
predeterminada (Gomes, 1994).
A profundidade da entrevista permitida pela não-diretividade é ligada à sua
capacidade de facilitar produção de significações fortemente carregadas de afetividade,
mesmo quando se apresentam como estereótipos: o que se procura pôr à luz é a lógica
subjacente às associações que a partir da instrução inicial, irão levar o entrevistado a abordar
tal ou qual tema, a voltar atrás ou progredir para outros temas (André, 1982).
Partindo desse modelo de entrevista aberta, foi pedido a cada entrevistado que
expusesse como se sentia diante da AIDS, como doença incurável, e das diversas
7
dificuldades encontradas no manejo dessa clínica e no inter-relacionamento com cada
paciente. Que sentimentos e pensamentos provinham dessa vivência e como eles
trabalhavam estes sentimentos e continuavam se propondo a atender às mesmas demandas.
Foram abordados aspectos quanto a sua percepção da AIDS, morte de pacientes,
dificuldades de aderência1 ao tratamento, falência de medicamentos, efeitos colaterais e
outros aspectos que trazem angústia e apontam ao clínico sua própria castração.
O roteiro seguido nas entrevistas foi o seguinte:
Estamos realizando uma pesquisa qualitativa, objetivando conhecer melhor o que
tem sido a vivência da AIDS para o médico, especificamente para o médico
envolvido no atendimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS e gostaríamos de lhe
ouvir sobre sua experiência particular com essa clínica tão específica.
1. O que você pensa sobre a epidemia de AIDS?
2. Como tem sido para você atender pessoas vivendo com HIV e AIDS?
3. Como é seu relacionamento com esses pacientes?
4. Como você busca lidar com a aderência ou não aderência à terapia antiretroviral?
5. E com os efeitos colaterais destes medicamentos anti-retroviais?
6. Como é vivenciar a morte de um paciente, uma falência terapêutica ou outros
fatores que “fogem de controle”?
7. Existe uma expectativa de cura por parte dos pacientes? Se existe, como você lida
com ela?
8. Você já passou por alguma situação que lhe fizesse questionar a medicina, sua
capacidade como médico(a), as terapias existentes ou algo parecido? Se sim,
como foi isso?
1
Na literatura internacional, os unitermos utilizados são compliance ou adherence. Embora tenhamos revisado artigos
que contêm ambos os termos, preferimos empregar no texto os termos aderência ou aderência. Isso porque, apesar de
alguns trabalhos ainda os tratarem indiferentemente, cada um representa apreensões conceituais distintas. O termo
adherence vem se disseminando através de estudos, por expressar melhor o sentido da “concordância autônoma” (ou
patient empowerment) do doente com o tratamento. Já o termo mais tradicional, compliance, está mais próximo da idéia
de “cumprimento de regras” (ou phisician control). O termo `adesão´ em Português parece mais adequado ao sentido
preferido de “concordância autônoma” ou empowerment. A atual disseminação do termo `aderência´ entre os
profissionais de saúde e a mídia levou à opção de também usá-lo, embora se saiba que o termo `aderência´, apesar de
8
9. Mudou alguma coisa em você de antes-AIDS para após-AIDS? Se sim, o que?
10. Existe alguma outra experiência que você gostaria de partilhar conosco?
Os depoimentos foram recolhidos durante o período de três meses. Após essa
primeira coleta de dados, foi feita uma análise qualitativa dos relatos. A pesquisa tomou a
experiência como um campo em que se misturam os limites entre o subjetivo e o objetivo,
reproduzindo os relatos dos sujeitos pesquisados, não com o objetivo de comprovar ou
refutar a veracidade de cada dito, mas de citar, o mais literalmente possível, segmentos de
falas, de enunciados, considerando o contexto em que se dá a enunciação. Isto é, no que se
refere ao lugar de onde falam esses sujeitos, para quem falam, suas justificativas, hipóteses,
anseios, expectativas etc.
Todas as entrevistas foram gravadas, com o consentimento dos entrevistados. Após a
transcrição das fitas, buscamos agrupar os relatos em diferentes modalidades de
apresentação conforme, por exemplo, na pesquisa realizada por Ana Cristina de Figueiredo
(1997), intitulada "Vastas confusões e atendimentos imperfeitos: a clínica psicanalítica no
ambulatório público":
“Segmentos de fala colhidos em entrevista com a mesma pessoa que
possam ilustrar temas e argumentos diferentes”;
Segmentos de falas semelhantes de diferentes entrevistados que
estejam convergindo para uma mesma idéia podendo ilustrar o
mesmo tema ou agrupamento;
Segmentos de fala ou textos partidos ou em fragmentos não
seqüenciados, que possam ser usados mais de uma vez para ilustrar
mais de um tema ou argumento.”(Figueiredo, 1997:41)”.
Sob a ótica qualitativa, segundo Minayo (1992), a amostra ideal é aquela que
possibilita a apreensão da totalidade do problema a ser investigado. Assim, o seu desenho
passa mais pela necessidade de se contemplar as diferentes dimensões do objeto de estudo
do que pela definição numérica.
Os dados qualitativos foram analisados mediante a técnica de análise de conteúdo
(Bardin, 1979; Minayo,1992; Minayo & Sanches, 1993). A técnica de análise temática
ser também considerado sinônimo de `adesão´, aporta, tradicionalmente, um sentido menos abstrato (Nemes MIB,
2000)
9
"consiste em descobrir os 'núcleos de sentido' que compõem a comunicação e cuja presença
ou freqüência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico
escolhido" (Bardin, 1979:105). Além de se buscarem respostas para questões, com esta
técnica pode-se caminhar na direção da "descoberta do que está por trás dos conteúdos
manifestos, indo além das aparências do que está sendo analisado" (Gomes, 1994:74).
A análise dos dados foi considerada para o conjunto dos serviços.
III. Resultados
Todas as entrevistas convergiram para uma preocupação central: a aderência à terapia
anti-retroviral por parte dos pacientes. A maior dificuldade, para todos os médicos
entrevistados, no manejo da clínica com pacientes vivendo com HIV/AIDS atualmente é
lidar com a aderência e com a freqüente não aderência à terapia anti-retroviral. Por ser um
aspecto salientado veementemente em todas as entrevistas, os resultados das entrevistas
semidiretivas irão direcionar-se sob esse importante tópico.
A princípio, será necessária uma breve introdução sobre a terapia anti-retroviral no
Brasil e sobre a importância da aderência a este tratamento, para então abordarmos os
resultados propriamente ditos.
III.1. A terapia ARV e a aderência
Desde 1996, com o uso da terapia anti-retroviral (ARV) combinada, especialmente
com o advento dos inibidores de protease (IP), vem ocorrendo uma mudança no perfil de
morbi-mortalidade da infecção pelo HIV no Brasil. A infecção pelo HIV passou a ser vista
como uma doença de caráter evolutivo crônico e potencialmente controlável. O Brasil foi
um dos primeiros países a garantir o acesso universal aos medicamentos ARV. A terapia
com ARV, além de proporcionar ao indivíduo infectado pelo HIV uma vida mais longa,
proporciona também um aumento na sua qualidade de vida, relacionado diretamente com
uma melhor condição física e emocional (Chequer, 1999; Gomes, 1999; Vitória, 1999).
Nesse contexto, a aderência do paciente a esquemas terapêuticos com múltiplas
drogas tornou-se fundamental no manejo clínico dessa doença, desde que a não aderência à
10
terapia ARV está diretamente relacionada com o desenvolvimento de resistência viral,
conseqüente falha terapêutica e surgimento de cepas virais multiresistentes. A complexidade
dos esquemas ARV tem sido lembrada no sentido de alertar para um possível aumento da
ameaça de não aderência nos países pobres, teoricamente menos capazes de garantir acesso
a medicamentos tão caros, adequadas prescrições e orientações, por parte dos serviços de
saúde e adequado cumprimento, por parte dos doentes. (Chequer e Kalichiman, 1999;
Nemes, 2000; Teixeira, 2000; Ventura-Filipe et al., 2000).
Porém, é importante ressaltar que a não aderência (em algum grau) é universal.
Diversos estudos mostram que algum grau de não aderência ocorre universalmente, tanto
em países ricos como em países pobres, ocorrendo mesmo em doenças que envolvem
potenciais risco de vida (Bamberger et al., 2000; Burke et al., 1997; Chesney et al., 2000;
Erlen & Mellors, 1999; Gao & Nau, 2000).
Em nossa pesquisa bibliográfica, a grande maioria dos estudos internacionais
encontrados sobre aderência à terapia anti-retroviral, foi realizada em países ricos, cujos
sistemas de proteção social são muito mais presentes (Bassetti et al., 1999; Chesney et al.,
2000a; Crespo-Fierro, 1997; Dean & King, 1999; Gordillo et al., 1999; Gordillo &
Gonzáles-Lahoz, 2000). São escassos os trabalhos sobre aderência aos ARV em amostras de
população geral em países pobres (Acurcio et al., 1999; Bambergier et al., 2000; Chequer &
Kalichman, 1999; Teixeira, 2000). A medida de aderência varia também segundo a
definição de boa aderência que é utilizada. Idealmente pode-se considerar nomcompliance
uma ou mais das seguintes condições: não tomar ou interromper a medicação prescrita,
tomar menos ou mais da dosagem prescrita, alterar intervalos de tempos prescritos ou omitir
doses, não seguir recomendações dietéticas ou outras que acompanham a medicação
(Chesney et al., 2000 a; Gao et al., 2000; Holzemer et al., 1999; Holzemer et al., 2000;
Klebberger et al., 2001; Nemes, 2000).
III.2. Resultados das Entrevistas – Características Gerais
A análise qualitativa das entrevistas semi-estruturadas com médicos mostrou
claramente que todos os pacientes têm momentos de não aderência e que a história dos mais
‘aderentes’ é uma história de superação de dificuldades, relacionadas, sobretudo à adaptação
11
do estilo de vida e a questões relacionadas ao estigma da doença. Essa história passa por
momentos cruciais, sendo um deles, certamente, o início do tratamento, no qual aparece
com maior nitidez a necessidade de aceitação da doença e de estabelecimento de relação
confiável com o médico e com o serviço de saúde.
O serviço de saúde também aparece como importante fator facilitador da aderência.
O papel deste serviço é extremamente importante na superação de dificuldades relacionadas
ao tratamento. Nestes, a capacidade de diálogo e negociação é fundamental. Estes serviços
não apresentam deficiências importantes no que diz respeito às características centrais do
cuidado técnico. Porém não possuíam, no momento da pesquisa, condições plenas para o
estabelecimento de formas de atenção mais baseadas no diálogo e mais específicas para a
abordagem da questão da aderência com os usuários. A atenção é fortemente centrada na
consulta médica, com um padrão tecnológico predominante, porém prescindindo tanto de
dimensões mais amplas da vida dos usuários quanto de “abertura” para formas discursivas
menos assimétricas e técnicas na abordagem da aderência.
Resultados do estudo qualitativo indicaram que as dificuldades para adaptação à
medicação, relacionadas ao estilo de vida, aos estigmas e às crenças negativas sobre os
medicamentos, possuem um papel provavelmente mais importante na aderência do que
dificuldades relacionadas diretamente às drogas prescritas. Tais achados também foram
referidos em outros estudos internacionais (Urbshott, 1999; Wainberg & Cournos, 2000;
Williams, 1997; Wright, 2000).
O estudo qualitativo reafirma claramente a importância do serviço de saúde na
determinação da aderência. Esta contribuição do serviço de saúde já é, há muito tempo,
apontada nos estudos sobre doenças crônicas em geral e no estudo do HIV/AIDS
especificamente (Burke et al., 1997; Martini et al., 2000; Mehta et al., 1997; Sherr, 2000;
Smith et al., 1997; Urbshott, 1999; Wainberg & Cournos, 2000). Muitas dimensões
envolvidas na qualidade do cuidado têm sido relacionadas à aderência, embora a maioria
dos estudos se concentre na relação com os profissionais de saúde e nos aspectos de
acessibilidade dessa relação (Kelly et al., 1998; Kleeberger et al., 2001; Laws et al., 2000;
McPherson et al., 2000; Roberts & Mann, 2000; Tuldra et al., 2000). Trabalhos de diversas
12
abordagens metodológicas sobre aderência à terapia ARV têm confirmado a relação positiva
entre aderência e boa qualidade do cuidado, destacando-se a relação com os profissionais de
saúde e a conveniência dos agendamentos (Kobayashi & Standridge, 2000; Sherr, 2000;
Singh et al., 1996; Singh et al., 1999).
III.3. Resultados das Entrevistas – Características Específicas
Baseada na freqüência e intensidade de certos aspectos presentes nos discursos foi
realizada uma análise agrupando os achados nas subcategorias abaixo, todas relacionadas
aos anti-retrovirais:
Dificuldades Diretas: relacionadas, por exemplo, com a dificuldade de engolir uma
medicação, intolerância ao cheiro ou gosto e a efeitos colaterais. Todos os médicos
referiram a existência e a importância de tais dificuldades, porém quando questionados
sobre qual o tratamento dado quando tais dificuldades surgiam, a grande maioria relatou não
saber como lidar com tais problemas, uma vez que todos os medicamentos traziam efeitos
colaterais e não haver muito que fazer para amenizá-los, na maioria das vezes. Geralmente a
postura adotada pelos profissionais de saúde ao ter um paciente queixando-se de tais
dificuldades, é recorrer a falas assimétricas e distantes da realidade vivida pelo paciente, o
que pode estar dificultando uma possibilidade de negociação e diálogo e, conseqüentemente,
uma maior aderência à terapia. Tal fato aparece claramente na seguinte fala:
“Um paciente me disse que não suportava tomar o Viracept, porque tinha muita diarréia, a pílula
era grande demais e ele estava sentindo que suas veias nas pernas estavam cada vez mais marcadas.
Realmente, esses efeitos colaterais são do Viracept e da maioria dos inibidores de protease. Mas o que eu
vou fazer? O cara tem HIV, quer morrer ou ter diarréia? Não posso mudar o medicamento, tem que
agüentar. Tem a lipodistrofia, que é um problema terrível, os membros inferiores e superiores perdem
gordura, as veias ficam realmente marcadas, mas o cara tem que agüentar, se não morre de pneumonia,
sarcoma ou outra doença oportunista. Quando chegam essas justificativas para não tomar o esquema, eu
falo tranqüilamente: Tudo bem, não quer ter diarréia, para de tomar. Mas quando estiver com pneumonia e
outros bichos, não me procura não. É melhor estar com perna fina e diarréia do que morrer...”
Modo de Vida: aqui foram consideradas as necessidades de esconder medicamentos,
incompatibilidades com hábitos sociais, tipo de trabalho, uso de álcool e outras drogas.
Nessa subcategoria ficou bastante evidente a eficácia do diálogo entre pacientes/médicos
como facilitador da aderência. Os médicos que relataram buscar conhecer os hábitos de vida
de seus pacientes, abrir espaço para dialogar sobre os esquemas terapêuticos adotados e
13
escolher em conjunto o esquema mais adequado à realidade do paciente relataram conseguir
uma maior aderência à terapia. O relato abaixo demonstra tal abertura para uma negociação
do esquema.
“Tinha uma paciente que trabalhava como aeromoça, e viajava muito. Estava usando um esquema
no qual ela tinha que tomar remédios de 8 em 8 horas. Um dia ela chegou para mim e disse: Olha, doutora,
não adianta. Nunca vou conseguir tomar isso na hora, ainda mais as três da tarde, quando eu sempre estou
servindo lanche para os passageiros, é impossível. Conversamos bastante, sobre a importância dos
medicamentos, da qualidade de vida e um monte de coisas. Mostrei então para ela quais poderiam ser as
alternativas de medicamentos, e escolhemos um que ela toma de 12 em 12 horas. Além disso, sugeri que ela
tivesse um relógio com alarme, para não esquecer a dose. Deu certo, graças a nossa conversa franca.”
Crenças negativas: efeitos que os pacientes atribuem aos medicamentos
erroneamente, tais como “o remédio mata”, “muito remédio faz mal” e etc. Neste item,
destacamos duas falas, nas quais o médico tentou esclarecer o paciente sobre suas crenças
erradas, porém apenas uma surtiu o efeito desejado, pois o médico adequou sua linguagem
ao universo cultural de seu paciente.
“Um paciente dizia para mim que tinha que dar uma descansada, que tinha que dar uma parada.
Dizia que até a mãe de santo dele concordava, que ela falava que ele já tinha criado uma superpotência
dentro dele, por já ter tomado muito remédio. Eu fiquei roxo de raiva e cheguei a gritar com ele. Falei que
mãe de santo não sabe nada de AIDS, que o médico ali era eu e eu sabia o que era melhor para ele, que não
existia superpotência nenhuma isso era pura invenção. Dei a ele a receita, remarquei a consulta, mas o cara
nunca mais voltou...”
“Eu recebi uma jovem que me falava assim: Doutora, eu já tomei AZT demais. Já to recuperada, se
eu continuar tomando, isso vai chamar a doença, vai puxar ela. Deixa ela quietinha lá que assim ta bom. Eu
vi o Cazuza morrer por causa do AZT... Eu vi que tinha que ir com jeito, então expliquei o que aconteceu
como Cazuza, que naquela época só tinha o AZT, e ela estava tomando três drogas diferentes, uma delas era
o AZT, mas tinha outras duas. Que inclusive uma dessas era um remédio super novo, o Efavirenz, e que era
uma terapia muito boa. Que se ela parasse com a medicação, a gente ia ficar com poucas alternativas
quando ela fosse recomeçar, mostrei até um trabalho escrito sobre a eficácia do esquema que ela estava
tomando. Falei também dos efeitos colaterais de cada uma das drogas e de como a gente monitora e tenta
controlar isso. Ela pareceu bem mais aliviada, e no fim do papo pediu para levar uma cópia do tal trabalho
para o marido ler. Acabou confessando que era ele que falava aquilo tudo para ela. Até hoje ela ainda toma
essa medicação e está melhorando bastante.”
Valorização de Outros Elementos para a Cura: nesse item, os médicos relataram
dificuldades em manter aderentes pacientes que valorizavam outros fatores mais do que os
anti-retrovirais como, por exemplo, terapias alternativas e apoio espiritual. Nesse aspecto, a
maioria dos médicos relatou não aprofundar muito a questão, embora tentem agir com
respeito à religião de cada paciente, buscam demonstrar cientificamente a eficácia da terapia
anti-retroviral. Porém tal demonstração, sendo muito científica torna-se incompreensível
para o paciente, como no exemplo abaixo:
14
“Tinha uma senhora que nunca aceitou que estava com HIV, eu até compreendo, ela descobriu com
62 anos, uma barra. Mas depois do resultado o diálogo com ela foi ficando cada vez mais difícil. Ela
cismava que a cura estava numas reuniões que o pastor da comunidade dela fazia, e o cara ainda dizia que
AZT era remédio de Satanás e essas coisas. Eu falei algumas vezes da eficácia comprovada do AZT e de
outras drogas, mas tinha uma fila enorme me esperando e não podia perder tempo demais com ela. Mandei
para a psicóloga e ela não foi, não pude fazer muita coisa por ela não. Também se eu for dar uma de
conselheira e babá de todo mundo, fico atendendo até de madrugada, não dá. Por fim ela sumiu, nem sei se
ainda toma os medicamentos, mas acho que não”.
História de sintomas: Os médicos entrevistados foram unânimes em afirmar que
pacientes que tiveram ou têm sintomas significantes costumam tornar-se mais aderentes do
que aqueles que não tiveram sintomas ou valorizaram pouco os sintomas que tiveram.
“Tinha um senhor difícil de lidar para caramba. Rebelde mesmo, bebia demais, esquecia a
medicação, era uma coisa infernal. Até que ele foi internado com pneumonia. Menina, depois desse susto,
ficou um paciente exemplo. Nada como sentir na pele o que a falta do remédio pode causar.”
“Ahhh, eu tenho uma jovem que é linda, tem 23 ou 24 anos, nunca teve nenhum sintoma. Descobriu
porque foi fazer uma bateria de testes para se casar, mas até hoje não teve nada. Então a doença para ela é
uma coisa distante demais, é jovem, bonita, diz que se olha no espelho e só vê saúde. Então, não dá muita
importância para a medicação, pula doses, viaja e esquece os remédios em casa, uma coisa. Está tão bem, e
poderia ficar assim um tempão, mas agindo assim, não sei...”
A equipe: Os relatos também ressaltaram a importância da equipe, não só como
suporte para o paciente mas também para o médico, em momentos de stress, por exemplo.
Porém a composição de uma equipe multiprofissional não representa em si a garantia de
uma assistência interdisciplinar, variando de acordo com os diferentes graus de integração
da equipe.
“Tem os pacientes mais carentes, querem bater papo, contar a vida, tem que ter paciência. Daí
quando estou muito atrapalhado, com muita gente esperando, eu peço para a enfermeira que trabalha
comigo pra dar um colinho pro Fulano ou pro Beltrano e ela já sabe o que é. Ajuda o paciente e me alivia,
porque eu não ia dar a menor atenção para o que ele estaria falando e isso poderia ser ruim para o
tratamento dele”
“Tem dias que realmente vem todo mundo, é um inferno. Daí eu tento dividir o atendimento, quem
veio apenas pegar receita eu passo para a enfermagem para agilizar. Tem coisas também que não é bem
com o médico, aí eu encaminho. Quando começa aquela queixa que eu vejo que não é para mim, vou logo
dizendo: vai para o psiquiatra, o psicólogo que ele tem que te escutar. Aqui não, é o contrário, eu digo o que
fazer e você escuta. Tem que ser objetivo, se não você pira.”
15
IV. Discussão
IV.1 - Aderência aos medicamentos ARV e assistência a pessoas com HIV/AIDS
O presente trabalho possibilitou a coleta de dados bastante significativos. O simples
fato de, entre os médicos entrevistados, todos terem referido dificuldades no manejo da
aderência ao tratamento, fala por si só. Tendo este primeiro dado em mente, é necessário
que façamos primeiro uma breve revisão bibliográfica sobre aderência e HIV/AIDS.
A aderência aos medicamentos anti-retrovirais é importantíssima tanto para o
indivíduo quanto para a saúde pública em geral. Para pessoas vivendo com HIV/AIDS, a
não aderência aos medicamentos ARV pode levar a falha terapêutica, deterioração do
sistema imunológico e/ou emergência de cepas virais multiresistentes (Andrews &
Friedland, 2000). A não aderência à terapia ARV pode também levar a aumento nas taxas de
infectividade e potencial aumento nas taxas de transmissão de cepas virais resistentes do
HIV (de Ronde et al, 2001). A falha terapêutica implica em um sofrimento desnecessário e
no aumento da morbi-mortalidade associada ao HIV/AIDS (Bastos et al., 2001). Além
disso, falhas na aderência poderão ocasionar um aumento nos custos com assistência,
inclusive na necessidade da utilização de esquemas medicamentosos mais complexos,
procedimentos diagnósticos ainda mais intensivos e aumento na freqüência de
hospitalizações (Valenti, 2001). Esta questão relativa ao aumento de custos é
particularmente importante para um país como o Brasil, com recursos limitados e um
sistema de saúde já sobrecarregado (Bastos et al, 2001).
Estudos internacionais e nacionais demonstram que a aderência ao regime ARV
depende de uma complexa gama de fatores que varia desde a estrutura dos serviços (Nemes,
2000; Teixeira, 2000), conhecimentos, experiências e atitudes pessoais da equipe médica
(Nemes, 2000; Teixeira, 2000; Strathdee et al., 1998; Mostashari et al., 1998; Stone et al.,
1998), suporte psicológico e social (Nemes, 2000; Teixeira, 2000; Catz et al., 2000) e
características socio-demográficas e comportamentais da clientela (Nemes, 2000; Strathdee
et al., 1998; Catz et al., 2000; Cook, 2001). Achados diversos sobre níveis de aderência à
terapia ARV foram documentados em três diferentes estudos realizados em São Paulo. Em
dois destes, pacientes de dois diferentes ambulatórios referiram níveis de aderência baixos
16
(<50%) à terapia ARV (Brigido et al.,1998; Paiva et al., 1998); no terceiro, um estudo em
27 ambulatórios e com 1141 pacientes em São Paulo, o nível de aderência (~70%) (Nemes,
2000) era comparável ao dos melhores centros de tratamento internacionais (Eldred &
Cheever, 1998; Walsh et al., 1998; Bangsberg et al., 2001). Tais diferenças tão discrepantes
podem ser devido, em parte, a diferenças nas estratégias de amostragem e desenho dos
estudos, às heterogeneidades entre as populações de cada estudo, às especificidades das
clínicas incluídas e também devido às diferentes definições de “aderência” que foram
utilizadas em cada estudo. De uma forma geral, os níveis de aderência são significantemente
mais altos em serviços com mais recursos financeiros e humanos (Nemes, 2000; Bamberger
et al., 2000). Os resultados destes três estudos apontam para a necessidade de analisar não
apenas as características individuais dos pacientes, mas também dos serviços aos quais eles
têm acesso (Bastos et al., 2001).
Estes estudos sobre aderência realizados em São Paulo também oferecem insights
sobre as dificuldades enfrentadas por estes pacientes na aderência à terapia ARV,
especialmente entre os grupos mais vulneráveis, tais como usuários de drogas injetáveis
(UDI) e mulheres em situação de pobreza. De acordo com Maria Inês Nemes (2000), UDIs
tinham taxas de aderência aos ARVs menores do que os usuários de drogas não injetáveis.
Taxas de aderência mais baixas eram particularmente mais comuns entre UDIs que tinham
menos suporte social, estilos de vida instáveis e freqüência de injeções maiores. Além disso,
outros aspectos que podem prejudicar bastante a aderência a este esquema terapêutico são
depressão, ansiedade, falhas no acompanhamento clínico, fatores relacionados à idade e
gênero e para usuários de substâncias psicoativas, além de todos estes fatores a falta ou
inadequação de serviços para tratamento da drogadição. Atitudes preconceituosas e
negativas da equipe de saúde e a falta de serviços adequados às diferentes necessidades dos
usuários também são aspectos críticos que afetam a aderência de populações mais
vulneráveis, tais como usuários de drogas, mulheres, população de rua etc (Strathdee et al.,
1998; Celentano et al., 1998; Malta et al., no prelo; Malta et al., 2002a; Malta et al., 2002b).
Um grupo de pesquisadores da USP tem se dedicado ao estudo dos aspectos
relacionados às mulheres vivendo com HIV/AIDS nos últimos anos. Em uma de suas
pesquisas (Teixeira, 2000) foi demonstrado que as mulheres com maiores problemas de
17
aderência são mais jovens, possuem menos informações sobre HIV/AIDS e têm um
relacionamento mais distante com a equipe médica. Um estudo nosso baseado em
entrevistas qualitativas com pessoas vivendo com HIV/AIDS (Malta et al., 2002c)
encontrou que mulheres encontravam barreiras adicionais para aderir ao tratamento,
relativas ao cuidado com filhos, responsabilidades múltiplas (casa, trabalho, filhos), além da
falta de diálogo e suporte por parte de seus companheiros.
Diferentes iniciativas objetivando melhorar a aderência à terapia ARV têm sido
desenvolvidas no Brasil, incluindo serviços com aconselhamento individual, grupos
terapêuticos, workshops educativos, educação de pares, entre outros. Destas iniciativas, a
grande maioria tem sido realizada em São Paulo (Nemes, 2000; Teixeira, 2000; Paiva et al.,
1998). Um abordagem que tem se mostrado bastante eficiente no contexto brasileiro é a
denominada case management2, a qual oferece uma assistência global ao paciente, através
da atuação em conjunto de diferentes serviços (assistência para a infecção pelo HIV/AIDS,
manejo da drogadição, suporte psicológico e social). Esta forma de assistência é uma
importante ferramenta na melhora da qualidade de vida das pessoas vivendo com
HIV/AIDS, especialmente aquelas de grupos populacionais mais vulneráveis e
empobrecidos (Schwartz et al., 1994; Thompson et al.,1998; Marlatt et al., 2001; Malta et
al., no prelo; Malta et al., 2002; Malta et al., 2002a; Malta et al., 2002b).
Em algumas recentes publicações, pudemos apresentar nossa experiência utilizando
o case management junto a pacientes ambulatoriais no Rio de Janeiro os quais eram
usuários de drogas ilícitas e HIV+ (Malta et al., no prelo; Malta et al., 2002; Malta et al.,
2002a; Malta et al., 2002b). A intervenção objetivou não só o manejo da drogadição e da
infecção pelo HIV, mas sim a melhora da qualidade de vida destes pacientes de uma forma
global. Porém ainda são necessárias revisões mais sistemáticas e freqüentes sobre os
serviços de saúde disponíveis, a relação médico-paciente e toda a rede de suporte e
assistência disponível no Brasil atualmente para pessoas vivendo com HIV/AIDS (Malta et
al., 2002; Bastos et al., 2001). Tais revisões poderão nos dar uma visão mais aprofundada e
De acordo com Siegal (1998) em uma revisão sobre case management no tratamento do abuso de substâncias “case
management geralmente pode ser descrito como uma abordagem coordenada que visa oferecer serviços ligados à
saúde, abuso de substâncias, saúde mental e suporte social, possibilitando uma conexão mais eficaz entre cliente e
2
18
factual sobre serviços disponíveis e lacunas nestes, objetivando verificar se as necessidades
dos grupos mais vulneráveis estão sendo atendidas de forma apropriada e eficiente. Até o
momento os dados disponíveis restringem-se a centros de referência de São Paulo e poucas
instituições de pesquisa do Rio de Janeiro (Teixeira, 2000, Bastos et al., 2001).
IV.2. Discutindo os achados e limitações da presente pesquisa
Embora esta seja apenas uma pesquisa inicial e careça de um maior aprofundamento,
pode-se inferir alguns resultados preliminares, os quais deverão ser refutados ou
confirmados em futura tese de mestrado ou projeto de pesquisa. Porém é necessário
primeiro apontar uma falha importante no desenho deste trabalho, falha esta que pode nos
levar a uma análise parcial e/ou com bias3 sobre o problema abordado: coletamos dados de
um único ponto de vista, o dos profissionais de saúde. Como todas as entrevistas foram
feitas com médicos, só foi ouvida e analisada uma parte da realidade, a percebida e relatada
por estes médicos. Esta realidade é resultado de suas crenças, conhecimentos e vivências
específicas, e não pode ser parâmetro para a análise de um tema tão complexo como é a
aderência aos medicamentos para HIV/AIDS. Possivelmente se a pesquisa tivesse escutado
pacientes atendidos por estes médicos, observado a interação entre médicos e pacientes,
entrevistados outros profissionais de saúde envolvidos neste trabalho, poderíamos chegar a
uma análise mais rica e factível.
Segundo Minayo (1993):
“Em qualquer pesquisa qualitativa, é necessária a triangulação de dados, para podermos chegar a
conclusões mais adequadas. A triangulação em sentido estrito é definida como a estratégia metodológica
que abrange o objeto de investigação sob, pelo menos, três ângulos distintos que se articulam a partir da: 1)
cooperação de distintos pesquisadores (discutindo, diferenciando e relacionando teorias, conceitos, noções
e métodos, tratados como fragmentos teóricos de uma abordagem mais ampla), substituindo a hierarquia à
priori dos campos científicos por uma visão cooperativa entre eles e o mundo da vida (Habermas, 1987); 2)
integração de distintos métodos, permitindo o aprofundamento teórico-metodológico em relação ao
conhecimento do objeto. É preciso ter clareza de que se trata de combinação, de triangulação de métodos
que conservam sua especificidade no diálogo inter ou transdisciplinar, entendendo-se que se realiza aqui
uma dialética entre integração e distinção (Kant, 1980; Minayo, 1992; Samaja, 1992). Defende-se que os
estudos quantitativos e qualitativos não se opõem nem se contradizem, mas se complementam (Minayo,
1992); 3) integração coerente e criativa de distintas técnicas para a construção dos dados, seja no âmbito
quantitativo, ou qualitativo.”
serviços que abordem as suas específicas necessidades e com isso possibilitando alcançar melhores resultados,
aumentar o acesso aos serviços e estimular a maior aderência ao tratamento”
3
Viés de observação, julgamento parcial
19
Porém não foi possível neste primeiro momento realizar um trabalho completo e
adequado ao importante tema aqui abordado. Ao meu ver seria necessária a comparação
destes primeiros dados (das entrevistas em profundidade com médicos) com outros dados,
coletados através de métodos distintos e/ou com informantes distintos; o que nos permitiria
a triangulação dos dados acima referida, tão necessária para a validação de qualquer
pesquisa qualitativa. Poderíamos realizar tal triangulação realizando entrevistas com
pacientes, analisando dados objetivos (ex: prontuários e dados clínicos) e realizando grupos
focais com diferentes atores envolvidos nesta temática. Após esta extensa coleta de dados
nós poderíamos realizar uma análise mais livre de vieses de observação, com isto mais
assertiva e que pudesse traduzir com mais clareza a questão aqui abordada. A realização de
análises quantitativas e qualitativas conjuntas é outro fator bastante benéfico para qualquer
análise, pois possibilita-nos ampliar o poder explicativo da pesquisa e instrumentar melhor
futuras intervenções a partir de dados tanto objetivos quanto subjetivos.
Porém, tendo como parâmetro de análise apenas os dados coletados, segundo os
médicos entrevistados, podemos supor que (e não concluir que):
Há maior a aderência do paciente à terapia anti-retroviral (relatada pelos
profissionais) quando os médicos:
Demonstram respeito e afetividade pelo paciente;
Valorizam o espaço de escuta na consulta;
Orientam com linguagem acessível;
Estabelecem uma relação baseada no diálogo;
Conhecem a história de vida de cada paciente.
É menor a aderência do paciente à terapia anti-retroviral (relatada pelos profissionais)
quando os médicos:
Demonstram distanciamento e superioridade ao paciente;
Não valorizam o espaço de escuta na consulta;
Utilizam linguagem não adequada ao universo cultural do paciente;
A fala costuma ser não só assimétrica, mas quase um monólogo;
20
Não conhecem a história de vida de cada paciente.
Mais uma vez, é importante ressaltar que tais dados são deduções preliminares, não
podendo ser tomadas como conclusões finais, visto os problemas metodológicos da pesquisa
acima expostos.
IV.3. Buscando algumas conclusões...
Uma limitação fundamental da pesquisa é que esta não entrevistou os pacientes
ou analisou dados objetivos (prontuários, exames), permitindo cotejar informações,
triangular dados e obter uma análise mais coerente da questão estudada. Porém, a partir da
comparação entre os dados obtidos e os coletados através da pesquisa bibliográfica principalmente dados referentes a pesquisas realizadas no contexto brasileiro sobre
aderência aos medicamentos ARV (Nemes, 2000; Teixeira, 2000; Paiva et al., 1998; Bastos
et al., 2001) - existem alguns aspectos que pudemos concluir, tais como:
O início do uso da medicação é crucial - paciente que se sente bem ou não tem
sintomas reluta mais a começar;
O papel do serviço de saúde é extremamente importante na superação das
dificuldades relacionadas ao tratamento. O bom relacionamento com
profissionais de saúde é fundamental: o diálogo e a "negociação" são
imprescindíveis;
Se não houver falhas na comunicação entre os profissionais de saúde e os
pacientes, é mais fácil superar as dificuldades;
O apoio permanente ao paciente (família, amigos, serviço, comunidade...)
também facilita a continuidade;
A comunicação do estado sorológico para família e companheiros pode
auxiliar o processo de aderência;
Uma das principais razões para não aderência é o esquecimento;
Outros fatores decisivos para não aderência são: a complexidade do regime
medicamentoso, o cheiro e o gosto desagradáveis e outros efeitos colaterais;
21
A percepção da pessoa em relação à doença influencia a aderência: a maior
aderência
implica
na
percepção
pessoal
de
suscetibilidade
ao
adoecimento/severidade da doença e na compreensão dos benefícios do
tratamento;
Problemas quanto à aderência passam por dificuldades relacionadas ao estilo
de vida e ao estigma da doença;
A reconstrução da auto-imagem é determinante da maneira pela qual a pessoa
se cuidar ou deixa de se cuidar.
A história dos aderentes é uma história de superação de dificuldades,
relacionadas sobretudo à adaptação do estilo de vida e a questões relacionadas
ao estigma da doença. Essa história passa por momentos cruciais, sendo um
deles, certamente, o início do tratamento, no qual aparecem com maior nitidez
a necessidade de aceitação da doença e de estabelecimento de relação
confiável com o médico e o serviço de saúde;
A maioria dos serviços estudados não apresenta deficiências importantes no
que diz respeito às características centrais de estrutura e processo do cuidado
técnico. Entretanto, não possuem, no momento, condições plenas para
estabelecimento de formas de atenção mais dialógicas e mais específicas para
abordagem da questão da aderência com os usuários. A atenção é fortemente
centrada na consulta médica, cujo padrão tecnológico predominante, embora
de boa qualidade na dimensão restritivamente técnica, prescinde tanto de
atenção para dimensões mais amplas da vida dos usuários quanto de
“abertura” para formas discursivas menos assimétricas e tecnificadas na
abordagem da aderência.
IV.4. Da teoria para a prática: Transformando dados em recomendações
IV.4.1 - Quanto à equipe de saúde
O médico envolvido na clínica cotidiana da AIDS costuma deparar-se com
impotências e frustrações, que exigem dele um posicionamento claro frente a sua prática.
22
Porém, nem sempre o médico está preparado para isso. Quando questionado, o médico se
dispõe a falar sobre sua posição frente ao doente e à doença. Mais ainda, ele não só se
dispõe a falar, mas tem interesse em falar. Levantamos a hipótese de que o médico tem uma
demanda latente de ter um espaço onde possa, como sujeito, falar e questionar-se diante da
angústia e da castração presentes em sua clínica. Tendo isso em mente, sugerimos alguns
procedimentos que, ao nosso ver, poderiam melhorar a qualidade de vida do profissional de
saúde:
1. O oferecimento de suporte na área de Saúde Mental ao médico melhoraria sua
qualidade de vida. Ao elaborar aspectos angustiantes de sua prática, um
atendimento de melhor qualidade seria oferecido;
2. Promoção de grupos focais4 entre a equipe médica, com a presença de um
moderador. Estes grupos poderiam promover uma maior integração entre a
equipe médica, além de oferecer uma boa oportunidade para troca de
conhecimentos, atitudes e práticas diante neste caso específico da
clínica com pessoas vivendo com HIV/AIDS. O grupo também poderia
estimular expressões pessoais que, no cotidiano, acabam sendo “sufocadas”,
facilitando com isso o compartilhamento de experiências e enriquecimento do
grupo como um todo;
3. Promoção de reuniões multidisciplinares, objetivando integrar melhor os
diversos profissionais envolvidos no atendimento de pessoas vivendo com
HIV/AIDS, facilitando com isso a troca de experiências e conhecimento entre
os diversos ramos do saber presentes nestes Hospitais/Ambulatórios.
Estas sugestões, embora não sejam as únicas capazes de melhorar a qualidade de vida
do profissional de saúde, certamente facilitariam a elaboração da angústia presente na
clínica cotidiana com pessoas vivendo com HIV/AIDS. Um trabalho na área de Saúde
Mental (específico para a equipe de saúde) visa também dar suporte ao desgaste emocional
constantemente presente nesta clínica, facilitando com isso a promoção de uma melhor
4
Grupo Focal: Um número pequeno de indivíduos que se reúnem com a presença de um moderador, por partilharem
experiências em comum, ou terem um passado semelhante ou ter um conhecimento semelhante sobre determinado
assunto. Grupos focais encorajam os sujeitos a discutir e explorar questões entre eles, geralmente seguindo tópicos
elaborados pelo moderador ou por todos os participantes antecipadamente. (World Health Organization, 2001)
23
qualidade de vida tanto para o profissional de saúde quanto para os usuários do serviço de
saúde em questão.
IV.4.2 - Quanto às pessoas vivendo com HIV/AIDS
Embora os pacientes com HIV/AIDS sejam o foco principal desta pesquisa, como
estes atores não foram ouvidos, podemos apenas supor quais intervenções seriam eficazes.
Cabe aqui apontar que nós, psicólogos, não possuímos e nem pretendemos possuir as
respostas para o sofrimento alheio. Podemos supor que algumas intervenções seriam mais
eficientes do que outras, porém devemos ter o cuidado de nos limitar a supor. Uma vez que
não possuímos dados empíricos, e que não demos voz a estes atores sobre o que eles
realmente precisam, quais as reais barreiras para sua aderência ao tratamento, tais sugestões
são meramente especulações teóricas. Carecem de comprovação empírica e não devem ser
transpostas do papel para a prática sem que antes realizemos um trabalho importante na
pesquisa qualitativa: a triangulação dos dados.
Ou seja, uma vez elaboradas as sugestões de intervenção, devemos voltar à
comunidade alvo desta intervenção e realizarmos o processo de confirmação e validação de
nossas hipóteses e sugestões. É importante também referir que a pesquisa qualitativa,
diferentemente da quantitativa, não busca generalizações e sim a especificidade do grupo ao
qual se destina. Uma intervenção eficaz em determinada comunidade pode fracassar em
outra realidade sócio-cultural.
Focando-nos na questão aqui abordada, não existem intervenções únicas que irão
facilitar a aderência ao tratamento para TODAS as pessoas vivendo com HIV/AIDS, porém
algumas intervenções podem ser aceitas e benéficas para certo grupo cultural e não serem
efetivas para outro grupo. Por exemplo, em determinada comunidade, um grupo de
aderência que inclua mulheres e homens pode ser bastante eficiente, em outro pode ser um
fator desestimulante e assim por diante.
Há muito ainda a aprimorar na clínica de pessoas vivendo com HIV/AIDS, porém os
dados dessas entrevistas qualitativas demonstram claramente a existência de uma lacuna
entre o atendimento ideal e o atendimento real dispensado a essas pessoas. Com isso, uma
das conseqüências possíveis é a não aderência à terapia anti-retroviral.
24
Embora a aderência à terapia anti-retroviral seja um aspecto complexo, sugestões
simples como a abertura ao diálogo, oferecimento de orientações claras e culturalmente
sensíveis e o estímulo a uma maior integração entre a equipe de saúde; são mudanças fáceis
de serem promovidas e eficazes. Uma postura mais flexível e aberta a mudanças por parte
da equipe médica, atenta às necessidades específicas da população atendida são
fundamentais para que possa ser aprimorada a qualidade do cuidado oferecido às pessoas
vivendo com HIV/AIDS.
As barreiras à aderência variam de pessoa para pessoa, além de serem diversas, de
acordo com o local abordado e o momento de intervenção. A maioria dos estudos abordando
a aderência (Nemes, 2000; Teixeira., 2000; Paiva et al., 1998; Bastos et al., 2001; Malta et
al., 2002) refere que o trabalho conjunto entre médicos, psicólogos, assistentes sociais (entre
outros profissionais envolvidos) e o paciente facilita muito todo o processo.
Baseando-nos na revisão bibliográfica realizada, abordaremos as barreiras mais
freqüentes à aderência aos ARV e sugestões de intervenções já testadas em diferentes
comunidades:
1. Barreiras relacionadas à baixa escolaridade
A baixa escolaridade geralmente representa uma barreira à aderência (Carneiro-da-Cunha et
al.., 2002). Algumas das estratégias para superar tal barreira incluem:
Revisar materiais escritos com cada paciente e descrever com linguagem acessível os
termos técnicos utilizados, evitando que o paciente se sinta desconfortável ou julgado
por sua falta de escolaridade.
Oferecer aos pacientes informações sob forma visual (ex: quadrinhos, vídeos) ou verbal
e disponibilizar desenhos, diagramas ou outros como suporte para as informações
escritas. Um exemplo bastante útil e que facilita a compreensão é ter cada remédio com
desenhos indicando quando e como ingerir tal medicamento, como na tabelinha abaixo:
Remédio
Horário
Com o que?
25
Viracept
De manhã
Com alimentos
De Noite
Com bastante líquidos
Crixivam
2. Barreiras relacionadas aos efeitos colaterais dos medicamentos
Muitos medicamentos utilizados na terapia ARV podem ter efeitos colaterais. E os
pacientes, especialmente os sem sintomas de doença (assintomáticos), com sintomas suaves
da infecção pelo HIV ou aqueles que estão experienciando efeitos colaterais relativos à
medicação que estão tomando pode ser mais propensos a não aderência (Kerrigan et al.,
2002). Alguns dos efeitos colaterais méis comuns são os seguintes: diarréia, náusea, dores
de cabeça, neuropatias periféricas. Algumas das estratégias adotadas podem ser:
Discutir os possíveis efeitos colaterais antes da pessoa iniciar a utilização de
determinada medicação.
Concentrar os esforços da equipe e do paciente em se planejar para e manejar os
possíveis efeitos colaterais quando começar uma nova medicação.
Dar atenção imediata aos problemas relativos à medicação. Oferecer telefones de contato
da equipe para qualquer necessidade facilita não só o manejo dos efeitos colaterais, mas
oferece ao paciente um suporte e segurança extremamente importante.
Iniciar uma conversa aberta e franca sobre os efeitos colaterais e sobre a quem recorrer,
como lidar com os diversos problemas pode ser bastante útil.
26
Encaminhar o paciente para grupos ou peer educators5 (educação de pares) tais
iniciativas são de grande importância no compartilhamento de experiências, e
possibilitam ao paciente relativizar seu sofrimento/partilhar suas experiências com
outros que ele reconhece como semelhantes.
3. Barreiras relacionadas ao uso de substâncias psicoativas
O estilo de vida de alguns usuários de substâncias psicoativas é bastante desorganizado, o
que torna a aderência à terapia ARV um desafio a mais. É importante que a equipe tenha um
diálogo franco sobre o uso de substâncias, não de forma condenatória ou acusatória, mas
buscando escutar e conhecer melhor as dificuldades específicas de cada paciente,
objetivando encontrar um melhor caminho para prescrever e estimular a aderência ao
tratamento. É importante ressaltar que usuários de substâncias psicoativas não devem ser
excluídos do tratamento com ARV, mas precisam de um suporte específico (Bastos et al.,
2001; Malta et al., no prelo; Malta et al., 2002; Malta et al., 2002a; Malta et al., 2002b).
Algumas sugestões para melhorar a aderência e o acesso aos serviços de saúde são:
Desenvolver um diálogo/relacionamento próximo entre profissionais de serviços para
abuso de substâncias, saúde mental e profissionais ligados à clínica das pessoas com
HIV/AIDS;
Identificar prontamente e encaminhar qualquer paciente que durante a terapia ARV
desenvolva problemas relacionados à saúde mental e/ou abuso de substâncias para
serviços específicos;
Follow up constante dos encaminhamentos feitos para assegurar-se que os indivíduos
realmente tiveram acesso e estão sendo acompanhados pelos serviços para os quais
foram encaminhados;
Desenvolver materiais específicos sobre uso de medicamentos ARV e o abuso de
substâncias;
5
Quando uma pessoa também HIV+ é referência para outra, estratégia que facilita muitas vezes o manejo de problemas
através do reconhecimento do outro como companheiro de caminhada e de experiências. Geralmente o peer educator
trabalha em conjunto com a equipe de saúde, e muitas vezes torna-se funcionário da equipe.
27
Promover encontros entre as equipes responsáveis pelos diversos serviços, objetivando
que todos tenham as informações necessárias sobre aderência à terapia ARV, abuso de
substância e saúde mental.
4. Barreiras relacionadas a indivíduos com moradias instáveis ou falta de moradia
A falta de moradia adequada é uma barreira importante na aderência à terapia ARV. Uma
vez que necessidades básicas com moradia, alimentação e higiene são prioritárias, um
indivíduo que não têm o que comer ou aonde morar não poderá se preocupar com o horário
para tomada de determinado medicamento. A falta de residência fixa também atrapalha o
acesso ao serviço de saúde, pois se o indivíduo está constantemente mudando, não criará
vínculo com nenhum serviço e não se beneficiará dos serviços disponíveis neste serviço. É
muito freqüente que indivíduos sem moradia fixa ou moradores de rua tenham algum
distúrbio mental e/ou sejam usuários de substâncias psicoativas. É uma população
geralmente marginalizada, e que tem grandes dificuldades em ter acesso a um serviço de
saúde e se beneficiar dos serviços disponíveis, embora seja talvez a parcela da população
que mais necessite dos serviços de saúde/suporte social disponíveis. Algumas sugestões
utilizadas em determinados serviços que atendem a esta população são:
Disponibilizar atendimentos móveis (vans, agentes de saúde, serviços nas associações de
moradores...), que possibilitem o acesso a comunidades carentes/população de rua aonde
estes se encontram, uma vez que mesmo o dinheiro para transporte pode ser impeditivo
de acesso ao tratamento;
Disponibilizar acesso ao serviço social, hospital dia, alojamentos sempre que possível;
Estimular reuniões multidisciplinares, visando o melhor manejo desta específica
população e a troca de informações/dificuldades entre a equipe de saúde.
IV.4.3 - Concluindo… (Ou começando…)
A aderência à terapia ARV é um processo colaborativo e contínuo entre paciente e
equipe de saúde. Requer o engajamento de todos os envolvidos e é essencial na assistência a
uma doença crônica, especialmente no caso do HIV/AIDS. Os indivíduos devem receber o
28
suporte, a educação e a motivação necessários para que possam ser participantes ativos em
seu próprio cuidado. Intervenções multifacetadas, direcionadas a cada indivíduo devem ser
integradas nos serviços de assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Durante a
intervenção, devem ser constantes as avaliações para verificar a eficácia da intervenção
disponível, incluindo a identificação de barreiras potenciais ou reais que podem levar a não
aderência. Os programas de aderência precisam ser desenvolvidos de forma a melhor refletir
as necessidades e especificidades da comunidade atendida. O desenho destes programas de
aderência pode requerer o trabalho conjunto de organizações comunitárias, serviços de
saúde e outras instituições.
A aderência deve ser entendida como um processo complexo e em constante
construção e reconstrução, influenciada por diversos fatores (ex: regime medicamentoso,
relacionamento entre a equipe de saúde e o paciente, crenças e atitudes individuais sobre a
tomada de medicamentos e sobre a doença etc).
Independente da abordagem adotada pelo programa de tratamento, as estratégias
visando à aderência à terapia serão tão mais efetivas quanto mais engajado no tratamento
estiver o indivíduo e todos os profissionais de saúde envolvidos.
Sem pretender esgotar ou concluir o assunto, pretendemos apenas colaborar com uma
discussão imprescindível, movimento importante na busca de uma melhor qualidade de vida
para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, sua comunidade e profissionais de saúde
envolvidos nesta temática.
Porém a epidemia de HIV/AIDS nos deixa com diversas perguntas sem resposta,
entre elas: O que leva uma pessoa a se expor ao risco da contaminação pelo vírus de uma
doença sabidamente letal? O que a leva a desconsiderar as informações de que dispõe sobre
a necessidade de adotar medidas de proteção contra o risco? O que a leva a não aderir a um
tratamento sabidamente eficaz para o controle de sua infecção? Muitas destas questões são
importantíssimas, porém não foram o objetivo do presente trabalho.
Mas... Essas perguntas me fazem pensar sobre a motivação que impulsiona essa
pessoa a adotar um comportamento de risco e a perguntar: haveriam determinantes desse
comportamento? Motivação é aqui tomada no sentido mais amplo de sua origem latina:
29
como "motivu", enquanto "aquilo que move", o que significa pensar de maneira mais ampla
as ações ou atos humanos que produzem efeitos tanto no nível orgânico quanto no nível
psíquico.
É impossível não pensarmos sobre o que motiva uma pessoa a expor sua saúde e sua
própria vida ao risco de morte. A sua motivação, ou seja, aquilo que determina esse
comportamento de risco, é um importante objeto de pesquisa, cujo conhecimento pode ser
de bastante relevante para futuras pesquisas visando a prevenção do HIV/AIDS ou a
melhora nas intervenções visando a assistência a pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Outro fato importante a ser investigado é o uso que a população faz das informações
veiculadas pelos meios de comunicação em massa, objetivando verificar a eficácia de
programas que visam controlar a disseminação do HIV/AIDS.
Em um artigo intitulado “Força e Vontade: aspectos teóricos-metodológicos do risco
em epidemiologia e prevenção do HIV/AIDS” (Castiel, 1996) o autor aborda a questão da
pouca eficácia das campanhas de educação em saúde, mesmo quando a letalidade da doença
é enfatizada, observando que apesar de informados “mais da metade dos norte americanos
pesquisados em surveys relataram não tomar nenhuma precaução quanto às possibilidades
de se infectar”, o que indica a falta significativa de adesão ao uso sistemático dos
preservativos, mesmo após quase duas décadas de propagandas dirigidas à prática de sexo
mais seguro. Tal situação produz entre os pesquisadores um certo consenso quanto à
expectativa de “se obter um melhor entendimento sobre o comportamento humano e como
mudá-lo, antes que populações inteiras de homens e mulheres relativamente jovens
sucumbam diante da AIDS (Editorial, 1994)”.
Ao comentar as pesquisas promovidas a partir de modelos comportamentais, tais
como o “Modelo das Crenças em Saúde” e o “Modelo da auto-eficácia” – originário da
Teoria da Aprendizagem Social – o autor observa que:
“Fica a impressão que estas abordagens provavelmente atingem dimensões parciais (...) de um
fenômeno principal de outra natureza, mais complexo – relativo aos determinantes do comportamento
humano. Incontrolavelmente, algo “escapa”. (...) Está em questão a idéia da sexualidade humana
assumida por estas propostas de conhecimento.” (grifo meu). (Castiel, 1996)
Castiel comenta ainda o preconceito que caracteriza muitas análises onde as
categorias “perversão”, “debilidade de caráter”, “alienação”, indicam a dificuldade desses
30
teóricos em se aproximarem da sexualidade humana, tendendo a considerar como
“desviantes” os grupos sociais que se afastam das normas culturais vigentes. Adverte então
para a lógica subjacente à teoria da escolha racional que orienta a propaganda educativa,
baseada na suposição de que o conhecimento do risco, a informação, é suficiente para que
os sujeitos possam administrar convenientemente sua conduta e se afastar da morte precoce.
Questionando tal lógica, o autor afirma que
“Parece faltar alguma reflexão acerca dos pressupostos envolvidos na idéia de “racionalidade” do
receptor dessas informações com vistas a um processo dito educacional que busque alterações
comportamentais ou seja, a discussão acerca da pertinência da concepção do indivíduo “racional”, isto é,
aquele que se pauta nas leis da lógica formal e portanto não contraria (abusivamente, pelo menos...) a
teoria das probabilidades nem os cânones fundamentais da estatística” (Castiel, 1996)
Afastando-se da suposição de que apenas a base lógica racional pode ser tomada
como objeto de pesquisa, o autor se refere às pesquisas antropológicas que questionam a
eficácia dos programas de prevenção (o que vale também para os programas de assistência,
ao meu ver) apoiados exclusivamente na responsabilização dos sujeitos pelas suas práticas
de risco. Entendo aqui esse risco como tanto risco de se infectar, como risco de não aderir
corretamente ao tratamento prescrito.
O fracasso da concepção do indivíduo “racional”, apontado por Castiel, nos mostra
que não basta informar à população sobre os riscos letais que um vírus promove em nosso
corpo. Não é suficiente que se ensine as estratégias para prevenção da contaminação por tal
vírus, ou que se ensine como tomar tais e tais remédios. Mesmo diante de todas as
evidências científicas demonstradas, mesmo diante de fatos comprovados, muitos preferirão
ignorar tais fatos e não saber nada sobre isso.
O questionamento de políticas de educação em saúde pública vem sendo realizado
por pesquisadores de algumas instituições, produzindo alertas contra o enfoque que se dirige
aos sujeitos de uma forma abstrata, considerando unicamente a composição de variáveis
como idade, sexo, grupo étnico ou classe social, credo religioso, nível escolar, etc., sem
considerar a particularidade de cada adoecer (Borges, 1996; Castiel, 1994). O estudo da
mais variável de todas as variáveis – aquilo que move o sujeito em sua singularidade –
é talvez a contribuição mais efetiva que a Psicologia pode trazer ao campo da Saúde
Pública. A extensão das reflexões da psicologia até a área da Saúde Pública, através da
31
contribuição de pesquisas que se utilizem deste saber, deve ser tentada. Mesmo que tal
abordagem implique no paradoxo de nos deparar com uma singularidade nunca
generalizável, e com a impossibilidade de propor, a partir desta abordagem, uma leitura
única para todo o coletivo, que não considere a particularidade de cada experiência.
Por outro lado, a falácia da crença na constância da racionalidade, presente na
tradição iluminista, vem se evidenciando na crescente preocupação dos pesquisadores do
campo de saúde pública com as questões que não são abordáveis por este paradigma. Neste
sentido, o presente estudo se propôs a demonstrar de que forma o controle racional
sobre os atos escapa ao limitado poder da consciência, esse lugar psíquico onde se
acumulam as informações trazidas pelas campanhas de esclarecimento, pelo saber
médico. Tais informações não puderam ser utilizadas pelos sujeitos, sejam estes os
médicos que não conseguem fazer seus pacientes aderentes à terapia, ou os próprios
pacientes que não foram capazes de impedir a sua infecção pelo HIV. Esta
demonstração resta como tentativa de trazer para a observação dos pesquisadores
uma constatação freudiana, que a clínica psicológica não se cansa de confirmar: o
homem da racionalidade e da consciência não é senhor de seus atos, não governa em
sua própria casa.
A consideração desse movimento singular nos traz a exigência de não nos deixarmos
aprisionar em ordenações anteriormente estabelecidas. Não existe e nunca existirá um modo
único e eficaz de lidar com esse desconhecido que se apresenta diante de nós. Esse
desconhecido pode ser meu paciente, pode ser uma doença nova, posso ser eu mesmo...
Existe sempre algo que escapa da racionalidade, e essa busca por garantias e suportes para
nossa sobrevivência e para a manutenção de nossas idéias e ideais traz em si um risco de
alienação e cegueira mental que não podemos desconsiderar.
Trata-se talvez de persistirmos no esforço de ampliar constantemente nosso
conhecimento sobre a questão sem, porém, desconhecermos que existe algo que sempre irá
escapar a qualquer explicação, algo da ordem do irracional, do inexplicável, da falta de
referências. Esse vazio pode ser paralizante ou criativo, essa falha no saber, essa lacuna em
nossa prática, é justamente aonde transita tudo o que de novo se pode tentar produzir...
32
Convido a todos a buscarem novas formas de apreender a vivência da AIDS, mas
sempre tendo em mente a importância de estarmos abertos a novos achados, muitas vezes
assustadores, outras fascinantes. Não existe apenas uma forma de lidar com a questão, não
existe um manual cientificamente provado. Graças a Deus não fomos feitos em série, o ser
humano está em constante criação e re-criação, e cabe a nós também criarmos e re-criarmos
constantemente nosso saber e nossa prática.
Finalizo com um artigo de Herbert Daniel, o inesquecível Betinho, publicado em
1992 no Jornal do Brasil e convido a todos a caminhar buscando a cura da AIDS...
33
O DIA DA CURA
“Foi numa manhã comum, como qualquer outra, que abri o jornal e li a manchete: Descoberta a Cura da
AIDS ! A princípio fiquei deslocado na cama como se a terra tivesse saído do lugar e meu quarto estivesse
mais à esquerda que de costume. Fiquei parado um tempo sem saber qual deveria ser o primeiro ato de uma
pessoa de novo condenada a viver. Primeiro certificar-se. Telefonei para o meu médico. Realmente, a
notícia era sólida e o próprio Bush estava dando declarações na TV americana assumindo a veracidade do
fato: 10 pacientes em estado avançado da doença haviam tomado o CD2 e não apresentavam nenhum sinal
ou sintoma da presença do vírus em seu organismo. Um eficiente viricida fora descoberto. As outras notícias
seguiam o mesmo curso. O laboratório do CD2 tivera uma espetacular alta na bolsa de Nova York. Na
França, o Instituto Pasteur dizia que outra coincidência acompanhava os caprichos da ciência. Ali também
o SD2 estava no forno para ser anunciado. Telefonei para o meu analista, dei a notícia sobre a cura da Aids
e decidi que só iria enfrentar a felicidade nas próximas sessões. Afinal, eu me havia preparado tanto para a
morte que a vida agora era um problema. Ao meu lado Maria ainda dormia e não sabia que nossa vida
havia mudado. Casados há 21 anos, os últimos tinham sido um tempo de tensão a cada gripe, mancha de
pele, febre sem explicação. O amor que havíamos feito tanto tempo e que havia sido interrompido pelo medo
do contágio, dos descuidos, do imponderável, estava agora ao alcance da vida como num milagre, apesar de
meus 56 anos, como costuma insistir um jornal paulista. Pensei comigo mesmo, camisinhas nunca mais!
Maria dormia, ainda não sabia da novidade. Ela agora poderia ser viúva de outras causas mais banais,
mais correntes, mais normais. Ela não mais seria a viúva da Aids. Grandes avanços. Tinha os filhos para
avisar. Não mais seriam órfãos da Aids, o pai tinha agora algo de imortal, ou melhor, podia morrer como
todos os mortais. A TV continuava a mostrar cenas incríveis em Nova York e o meu telefone já começava a
tocar. Afinal, eu havia sido durante quase 10 anos o entrevistado perfeito para o caso da Aids, era
hemofílico, contaminado e sociólogo. Podia desempenhar três papéis num só tempo e numa só pessoa. Eu
era uma espécie de trindade aidetical! Iam querer saber o que eu sentia, o que faria, meus primeiros atos,
minhas emoções, minhas reações diante da vida e da normalidade. Imaginava as perguntas: como você se
sente agora que é de novo um ser normal? O que vai fazer agora de sua vida? O que efetivamente mudou na
sua vida? O que você aprendeu com a Aids? Você continua a ter raiva do governo? Cheguei a pensar, como
Chico Buarque, que daria minha primeira entrevista ao Jô Soares. Afinal, falaria da vida tomando cerveja!
Por que haviam logo eles morrido se eram meus irmãos, a quem telefonava com o hábito de quem
acreditava poder fazer isso por séculos e séculos seguidos? De repente, ninguém do outro lado da linha.
Números riscados numa agenda sem remédio. Ainda a lembrança do Chico no enterro do Henfil dizendo
para mim entre espanto e humor: hoje é o Henfil, amanhã serei eu e você irá daqui a três anos... bem,
digamos cinco! E hoje estou eu aqui passados quatro anos, quase cinco, lendo essa notícia, e eles todos
mortos antes do tempo. Não há remédio para a morte de meus irmãos, que são tantos. De repente me dou
conta de que houve realmente remédio para a Aids. É hora de levantar, atender os telefonemas, reunir o
pessoal da Abia, festejar com o pessoal do IBASE, abrir um champanhe, ou uma cerveja. Telefonar para
saber onde estava o tal remédio, como comprá-lo, o preço, o prazo de chegada. Estaria disponível quando,
a que preço? Quem poderia comprá-lo? O mais importante, no entanto, acontecia no paralelo. Amigos e
amigas, que não suspeitava, me chamavam para dizer que eles também eram soropositivos, agora que havia
cura. Outros me davam abraço pelo telefone e comunicavam que estavam indo diretamente a centros de
saúde para fazer o teste, agora que havia cura. Outros e outras diziam que suas vidas sexuais eram um caos,
mas que agora valia a pena encarar e se cuidar, porque agora havia cura. Alguns outros me chamavam
para dizer que iriam começar o tratamento e o controle e a pensar na vida porque agora havia cura. E
finalmente outros me diziam que agora podiam revelar à imprensa sua condição de soropositivos para
servir de exemplo a outros, agora que havia cura. De repente me dei conta de que tudo havia mudado
porque havia a idéia e o anúncio da cura. Que a idéia da morte inevitável paralisa. Que a idéia da vida
mobiliza... mesmo que a morte seja inevitável, como todos sabemos. Acordar sabendo que se pode viver faz
tudo ter sentido de vida e mudar o modo como se vive a vida. Acordar pensando que se vai morrer faz tudo
perder o sentido. A idéia da morte, no lugar da vida, é a própria morte instalada. De repente me dei conta
de que a cura da Aids sempre havia existido, como possibilidade, antes mesmo de existir como anúncio do
fato acontecido, e que o seu nome era vida. Foi de repente, como tudo acontece." Sousa, Herbert.
34
V. Referências Bibliográficas
ACURCIO FA & GUIMARÃES MDC. Acessibilidade de indivíduos infectados pelo HIV
aos serviços de saúde: Uma revisão de literatura. Cad Saúde Pública 12:233-42,
1996.
ACURCIO FA & GUIMARÃES MDC. Utilização de medicamentos por indivíduos HIV
positivos: abordagem qualitativa. Rev Saúde Pública 33:73-84, 1999.
ALBERTI S. O exercício da Psicanálise como um dos campos da psicologia no Hospital
Geral. Rio de Janeiro: UERJ - Projeto de pesquisa apresentado ao CNPq e aprovado
com mérito, 1999.
ALTICE FL, MOSTASHARI F & FRIEDLAND GH. Trust and the acceptance of and
adherence to antiretroviral therapy. J Acquir Immune Defic Syndr 28:47-58, 2001.
ANDRÉ M. Texto, contexto e significados: algumas questões na análise de dados
qualitativos. Cadernos de Pesquisa 45:66-71, 1982.
ANDREWS L & FRIEDLAND G. Progress in HIV therapeutics and the challenges of
adherence to antiretroviral therapy. Infect Dis Clin North Am. 14:901-28, 2000.
BAMBERGER JD UNICK J, KLEIN P, FRASER M, CHESNEY M, KATZ MH. Helping
the urban poor stay with antiretroviral HIV drug therapy. Am J Public Health 90:699701, 2000.
BANGSBERG DR, HECHT FM, CLAGUE H, CHARLEBOIS ED, CICCARONE D,
CHESNEY M, MOSS A. Provider assessment of adherence to HIV antiretroviral
therapy. J Acquir Immune Defic Syndr 26:435-42, 2001.
BARDIN L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979.
BASSETTI S BATTEGAY M, FURRER H, RICKENBACH M, FLEPP M, KAISER L,
TELENTI A, VERNAZZA PL, BERNASCONI E, SUDRE P. Why is highly active
antiretroviral therapy (HAART) not prescribed or discontinued? Swiss HIV Cohort
Study. J Acquir Immune Defic Syndr 21:114-9, 1999.
BASTOS FI & SZWARCWALD CL. AIDS e pauperização: principais conceitos e
evidências empíricas. Cad Saúde Pública 16:65-76, 2000.
BASTOS FI & MALTA M (org). Indicadores em DST/HIV/AIDS: Referências bibliográficas
selecionadas. Série Estudos e Pesquisas 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
BIRMAN J. O objeto teórico da Psicanálise e a pesquisa psicanalítica. In: Ensaios de teoria
psicanalítica - parte I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1993.
__________ A direção da Pesquisa Psicanalítica e os impasses da cientificidade no discurso
freudiano e seus destinos na psicanálise. In: Psicanálise, Ciência, Cultura:
pensamento freudiano III. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1994.
35
__________ Por uma estilística da existência. Rio de Janeiro: 34 Literatura S/C Ltda, 1996.
BORGES SN. Metamorfoses do Corpo: uma Pedagogia Freudiana. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 1996.
BRASIL. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Ministério da Saúde: Brasília,
1996.
__________ Aids no Brasil: Um esforço conjunto governo-sociedade. Brasília, 1998.
__________ Boletim Epidemiológico – Aids XII: 9 – 15 Semana Epidemiológica – 35-47,
setembro/novembro. Ministério da Saúde: Brasília, 1999.
__________ A resposta brasileira ao HIV/AIDS: Experiências exemplares. Ministério da
Saúde: Brasília, 1999a.
__________ Boletim Epidemiológico - Aids XIII Nº 01 - Semana Epidemiológica - 48/99 a
22/00 – dezembro/1999 a junho/2000, Ministério da Saúde: Brasília, 2000.
__________ Implantação da Vigilância de Gestantes HIV+ e Crianças Expostas. Ministério
da Saúde: Brasília, 2000a.
BRIGIDO LFM, VEIGA AP, D'AMBROSIO AC, BUENO A, CASSEB J, GALBITTI FF
Low adherence in antiRetroviral users at Sao Paulo, Brazil. Proceedings of the XII
World AIDS Conference, Geneva, 28 June to 3 July, Poster 32370, 1998.
BURKE LE, DUNBAR-JACOB JM, HILL MN. Compliance with cardiovascular disease
prevention strategies: a review of the research. Ann Behav Med 19:239-63, 1997.
CAMARGO Jr. KR. As ciências da AIDS & a AIDS das ciências: o discurso médico e a
construção da AIDS. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
CAMPOS SPR. AIDS: Novas formas do sintoma. Belo Horizonte: Escola Brasileira de
Psicanálise, Curinga nº 10, nov/1997.
CARNEIRO-DA-CUNHA C, MALTA M, BASTOS FI, STRATHDEE AS, KERRIGAN
D. Assessing and improving adherence to highly active anti-retroviral therapy among
socially disadvantaged persons living with HIV/AIDS in Rio de Janeiro, Brazil.
Proceedings of the XIV International AIDS Conference, Barcelona, Italy, July 7 – 12,
2002
CASTIEL LD. O buraco e o avestruz, a singularidade do adoecer humano. Campinas:
Papirus, 1994.
__________ Força e vontade: aspectos teóricos-metodológicos do risco em epidemiologia e
prevenção do HIV/AIDS. Revista de Saúde Pública 30:91-100, 1996.
36
CATZ SL, KELLY JA, BOGART LM, BENOTSCH EG, MCAULIFFE TL. Patterns,
correlates, and barriers to medication adherence among persons prescribed new
treatments for HIV disease. Health Psychol 19:124-33, 2000.
CELENTANO DD, VLAHOV D, COHN S, SHADLE VM, OBASANJO O, MOORE RD.
Self-reported antiretroviral therapy in injection drug users. JAMA 280:544-6, 1998.
CHEQUER P & KALICHMAN A. Relatório Final da Pesquisa de Adesão ao Tratamento
por Anti-retrovirais (ARV). Brasília: Ministério da Saúde, 1999.
CHEQUER P (org) Impacto da Terapia Anti-Retroviral. Rio de Janeiro: Coordenação
Nacional de DST/AIDS - Ministério da Saúde, 1999.
CHESNEY MA, ICKOVICS JR, CHAMBERS DB, GIFFORD AL, NEIDIG J, ZWICKL
B, WU AW. Self-reported adherence to antiretroviral medications among participants
in HIV clinical trials: the AACTG adherence instruments. Patient Care Committee &
Adherence Working Group of the Outcomes Committee of the Adult AIDS Clinical
Trials Group (AACTG). AIDS Care 12:255-66, 2000.
CHESNEY MA, MORIN M, SHERR L. Adherence to HIV combination therapy. Soc Sci
Med 50:1599-605, 2000a.
CLAVREUL J. A ordem médica - poder e impotência do discurso médico. São Paulo:
Brasiliense, 1983.
COOK RL, SEREIKA SM, HUNT SC, WOODWARD WC, ERLEN JA, CONIGLIARO J.
Problem drinking and medication adherence among persons with HIV infection. J
Gen Intern Med. 16:83-8, 2001.
CRESPO-FIERRO M. Compliance/adherence and care management in HIV disease. J
Assoc Nurses AIDS Care 8:43-54, 1997.
de RONDE A, VAN DOOREN M, VAN DER HOEK L, BOUWHUIS D, de ROOIJ E,
VAN GEMEN B, de BOER R, GOUDSMIT J. Establishment of new transmissible
and drug-sensitive human immunodeficiency virus type 1 wild types due to
transmission of nucleoside analogue-resistant virus. J Virol 75:595-602, 2001.
DANIEL H. A cura da AIDS. Jornal do Brasil. 1992
DEAN LM & KING ES. Promoting medication adherence in HIV treatment. Nurs Spectr
(Wash DC) 9:12-4, 1999.
EDITORIAL. More bad news on AIDS. Nature 370(6489):400, 1994.
ELDRED L & CHEEVER L, Hopkins HIV Rep 10: 10, 1998.
ERLEN JA & MELLORS MP. Adherence to combination therapy in persons living with
HIV: balancing the hardships and the blessings. J Assoc Nurses AIDS Care 10:75-84,
1999.
37
FIGUEIREDO AC. Vastas confusões e atendimentos imperfeitos: a clínica psicanalítica no
ambulatório público. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997.
GALVÃO J. AIDS no Brasil: a agenda de construção de uma epidemia. Rio de Janeiro:
Editora 34, 2000.
GAO X & NAU DP. Congruence of three self-report measures of medication adherence
among HIV patients. Ann Pharmacother 34:1117-22, 2000.
GAO X, NAU DP, ROSENBLUTH SA, SCOTT V, WOODWARD C. The relationship of
disease severity, health beliefs and medication adherence among HIV patients. AIDS
Care 12:387-98, 2000.
GOMES MRO. Mortalidade por Aids no Brasil – atualização até 1997.In: Boletim
Epidemiológico – Aids XII, Semana Epidemiológica 48/1998 – 08/1999. Ministério
da Saúde: Brasília, 1999.
GOMES R. A Análise de dados em pesquisa qualitativa. In: Pesquisa Social: Teoria,
Método e Criatividade (Minayo MCS org.). Petrópolis: Ed Vozes, 1994.
GOMES R, SILVA CM, DESLANDES SF, SOUZA ER. Avaliação da assistência
ambulatorial a portadores de HIV/AIDS no Rio de Janeiro, segundo a visão de seus
usuários. Cad Saúde Pública 15:789-97, 1999.
GORDILLO V, DEL AMO J, SORIANO V, GONZALEZ-LAHOZ J. Sociodemographic
and psychological variables influencing adherence to antiretroviral therapy. AIDS
13:1763-9, 1999.
GORDILLO V & GONZALEZ-LAHOZ J. Psychological variables and adherence to
antiretroviral treatment. An Med Interna 17:38-41, 2000.
HABERMAS J. Teoria de la Acción Comunicativa. Madrid: Taurus, 1987.
HOLZEMER WL, CORLESS IB, NOKES KM, TURNER JG, BROWN MA, POWELLCOPE GM, INOUYE J, HENRY SB, NICHOLAS PK, PORTILLO CJ. Predictors of
self-reported adherence in persons living with HIV disease. AIDS Patient Care STDS
13:185-97, 1999.
HOLZEMER WL, HENRY SB, PORTILLO CJ, MIRAMONTES H. The Client Adherence
Profiling-Intervention Tailoring (CAP-IT) intervention for enhancing adherence to
HIV/AIDS medications: a pilot study. J Assoc Nurses AIDS Care 11:36-44, 2000.
KANT I. Lógica transcendental. In: Crítica à Razão Pura (V. Rodhen & V. B. Moosburger,
org.), pp. 56-99, São Paulo: Editora Abril, 1980.
KELLY JA, OTTO-SALAJ LL, SIKKEMA KJ, PINKERTON SD, BLOOM FR.
Implications of HIV treatment advances for behavioral research on AIDS: protease
inhibitors and new challenges in HIV secondary prevention. Health Psychol 17:3109, 1998.
38
KERRIGAN D, MALTA M, CARNEIRO-DA-CUNHA C, BASTOS FI, STRATHDEE
SA. HIV “treatment optimism” viewed cross-culturally: findings from an
ethnographic study of HAART related attitudes and behavior in Brazil. Proceedings
of the XIV International AIDS Conference, Barcelona, Italy, July 7 – 12, 2002
KLEEBERGER CA, PHAIR JP, STRATHDEE SA, DETELS R, KINGSLEY L,
JACOBSON LP. Determinants of heterogeneous adherence to HIV-antiretroviral
therapies in the Multicenter AIDS Cohort Study. J Acquir Immune Defic Syndr
26:82-92, 2001.
KOBAYASHI JS & STANDRIDGE WL. An integrated program for comprehensive HIV
care. New Dir Ment Health Serv 87:111-8, 2000.
LAWS MB, WILSON IB, BOWSER DM, KERR SE. Taking antiretroviral therapy for HIV
infection: learning from patients' stories. J Gen Intern Med 15:848-58, 2000.
LENT C & VALLE A. Enfrentando o AparthAIDS. Rio de Janeiro: Banco de Horas/ IDAC,
1997.
LENT C & VALLE A. Pontes - AIDS e assistência. Rio de Janeiro: Banco de Horas/ IDAC,
1998.
LOYOLA MA. AIDS e Sexualidade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.
MALTA M, CARNEIRO-DA-CUNHA C, KERRIGAN D, STRATHDEE SA, MONTEIRO
M & BASTOS FI. Case-management of HIV-infected injection drug users: A case
study in Rio de Janeiro, Brazil. (No Prelo) J Acquir Immune Defic Syndr.
BASTOS FI & MALTA M (2002). Indicadores em DST/HIV/AIDS: Referências
bibliográficas selecionadas. Série Estudos e Pesquisas 1. Brasília: Ministério da Saúde.
MALTA M, CARNEIRO-DA-CUNHA C, BASTOS FI, STRATHDEE SA, KERRIGAN
D. In the Words of the Women: Barriers to Adherence to HAART among HIV+
Woman in Rio de Janeiro, Brazil. Proceedings of the XIV International AIDS
Conference, Barcelona, Italy, July 7 – 12, 2002a.
MALTA M, CARNEIRO-DA-CUNHA C, KERRIGAN D, STRATHDEE SA, BASTOS
FI. The role of integrated case management for HIV+ injection drug users in Rio de
Janeiro, Brazil. Proceedings of the XIV International AIDS Conference, Barcelona,
Italy, July 7 – 12, 2002b.
MALTA M, CARNEIRO-DA-CUNHA C, PONTES M, LINHARES-DE-CARVALHO MI
& BASTOS FI. Two successful experiences of caring & supporting HIV-infected
Dus in RJ, Brazil. Proceedings of the 13th International Conference on the Reduction
of Drug Related Harm, Ljubljana, Slovenia, 2002c.
MALTA M; PINA MF & BASTOS FI. HIV/AIDS entre usuários de drogas na América
Latina e Caribe. In: Cruz, MS & Ferreira, SMB (orgs.). Álcool e Drogas: Usos,
39
dependência e tratamentos, pp. 33-62. Rio de Janeiro: Edições do IPUB (UFRJ),
2001.
BASTOS FI; KERRIGAN D; MALTA M; CARNEIRO-DA-CUNHA C & STRATHDEE,
SA (2001). Treatment for HIV/AIDS in Brazil: strengths, challenges, and opportunities
for operations research. AIDS Science 1(15), 27 de Novembro. (disponível em
http://www.aidscience.com/Articles/aidscience012.asp)
MARLATT GA, BLUME AW, PARKS GA. Integrating harm reduction therapy and
traditional substance abuse treatment. J Psychoactive Drugs 33(1):13-21, 2001.
MARTINI M, NASTA P, RICCI E, PARAZZINI F, AGNOLETTO V. Perceptions of
disease and therapy are factors influencing adherence to antiretroviral therapy. Sex
Transm Infect 76:496-7, 2000.
MCPHERSON-BAKER S, MALOW RM, PENEDO F, JONES DL, SCHNEIDERMAN N,
KLIMAS NG. Enhancing adherence to combination antiretroviral therapy in nonadherent HIV-positive men. AIDS Care 12:399-404, 2000.
MEHTA S, MOORE RD, GRAHAM NM. Potential factors affecting adherence with HIV
therapy. AIDS 11:1665-70, 1997.
MEYSTRE-AGUSTONI G, DUBOIS-ARBER F, COCHAND P, TELENTI A.
Antiretroviral therapies from the patient's perspective. AIDS Care 12:717-21, 2000.
MINAYO MSC. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. São Paulo:
Editora Hucitec/ Rio de Janeiro: Abrasco. 1992.
MINAYO MSC & SANCHES O. Quantitativo-Qualitativo:
complementaridade. Cad Saúde Pública 9:239-262. 1993.
Oposição
ou
MINAYO MC, DE SOUZA ER, DE ASSIS SG, CRUZ NETO O, DESLANDES SF, DA
SILVA CM. Avaliação dos Centros de Orientação e Apoio Sorológico/CTA/Côas da
Região Nordeste do Brasil. Cad Saúde Pública 15:355-67, 1999.
MOATTI JP, SOUTEYRAND Y. HIV/AIDS social and behavioural research: past
advances and thoughts about the future. Soc Sci Med 50:1519-32, 2000.
MOREIRA SL. A relação médico-doente com Aids e o lugar do analista. Belo Horizonte:
Instituto de Estudos Psicanalíticos, Rev Griphos Psicanálise nº 13, set/1995.
MOSTASHARI F, RILEY E, SELWYN PA, ALTICE FL. Acceptance and adherence with
antiretroviral therapy among HIV-infected women in a correctional facility. J Acquir
Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 18:341-8, 1998.
MOTTA CG. Grupo de Investigación Psicoanálisis y Sida: Subjetividad de la época.
Buenos Aires: Escudela de La Orientacion Lacaniana, El Caldero de La Escuela nº
58, jan/fev, 1998.
40
MURPHY DA, WILSON CM, DURAKO SJ, MUENZ LR, BELZER M; THE
ADOLESCENT MEDICINE HIV/AIDS RESEARCH NETWORK. Antiretroviral
medication adherence among the REACH HIV-infected adolescent cohort in the
USA. AIDS Care 13:27-40, 2001.
MURRI R, AMMASSARI A, GALLICANO K, DE LUCA A, CINGOLANI A,
JACOBSON D, WU AW, ANTINORI A. Patient-reported non-adherence to HAART
is related to protease inhibitor levels. J Acquir Immune Defic Syndr 24:123-8, 2000.
NEMES MIB (org.) Aderência ao Tratamento por Anti-retrovirais em Serviços Públicos no
Estado de São Paulo. Ministério da Saúde: Brasília, 2000.
OSTROP NJ, HALLETT KA, GILL MJ. Long-term patient adherence to antiretroviral
therapy. Ann Pharmacother 34:703-9, 2000.
PAIVA V, SANTOS N, VENTURA-FILIPE EM, HEARST N, REINGOLD A. Compliance
with reverse transcriptase inhibitors or combination therapy among HIV+ women in
Sao Paulo, Brazil Proceedings of the XII World AIDS Conference, Geneva, 28 June
to 3 July, 1998.
PARKER R. Quebrando o silêncio - mulheres e AIDS no Brasil. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1996.
__________ Políticas, Instituições e AIDS: enfrentando a epidemia no Brasil. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.
PARKER R & CAMARGO Jr KR. Pobreza e HIV/AIDS: aspectos antropológicos e
sociológicos. Cad de Saúde Pública, 16:89-102, 2000.
PARKER R & GALVÃO J. Saúde, desenvolvimento e política: Respostas frente à AIDS no
Brasil. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.
RIGSBY MO, ROSEN MI, BEAUVAIS JE, CRAMER JA, RAINEY PM, O'MALLEY SS,
DIECKHAUS KD, ROUNSAVILLE BJ. Cue-dose training with monetary
reinforcement: pilot study of an antiretroviral adherence intervention. J Gen Intern
Med 15:841-7, 2000.
ROBERTS KJ & MANN T. Barriers to antiretroviral medication adherence in HIV-infected
women. AIDS Care 12:377-86, 2000.
SAMAJA J. La combinación de métodos: pasos para una comprensión dialectica del trabajo
interdisciplinario. Educación Médica y Salud, 26:4-34, 1992.
SANCHES RM. Estamos juntos nessa história: caminhos e descaminhos da AIDS mental.
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1991.
SANTORO-LOPES G, HARRISON LH, MOULTON LH, LIMA LA, DE PINHO AM,
HOFER C, SCHECHTER M. Gender and survival after AIDS in Rio de Janeiro,
Brazil. J of AIDS and Hum Retrov 19:403-7, 1998.
41
SCHWARTZ B, DILLEY J, SORENSEN JL. Case management of substance abusers with
HIV disease. J Case Manag 3(4):173-8, 1994.
SHERR L. Adherence--sticking to the evidence. AIDS Care 12:373-5, 2000.
SIEGAL HA (org.) Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement
Protocol Series (TIPS) # 27: Comprehensive Case Management for Substance Abuse
Treatment.U.S. Department of Health and Human Services, 1998. (disponível em
http://www.health.org/govpubs/BKD251/index.htm).
SILVESTRE D. A Aids e o saber. Belo Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise, Curinga
nº 8, set/1996.
SINGH N, SQUIER C, SIVEK C, WAGENER M, NGUYEN MH, YU VL. Determinants
of compliance with antiretroviral therapy in patients with human immunodeficiency
virus: prospective assessment with implications for enhancing compliance. AIDS
Care 8:261-9, 1996.
SINGH N, BERMAN SM, SWINDELLS S, JUSTIS JC, MOHR JA, SQUIER C,
WAGENER MM. Adherence of human immunodeficiency virus-infected patients to
antiretroviral therapy. Clin Infect Dis 29:824-30, 1999.
SMITH MY, RAPKIN BD, MORRISON A, KAMMERMAN S. Zidovudine adherence in
persons with AIDS. The relation of patient beliefs about medication to selftermination of therapy. J Gen Intern Med 12:216-23, 1997.
STONE VE, CLARKE J, LOVELL J, STEGER KA, HIRSCHHORN LR, BOSWELL S,
MONROE AD, STEIN MD, TYREE TJ, MAYER KH. HIV/AIDS patients'
perspectives on adhering to regimens containing protease inhibitors. J Gen Intern
Med 13(9):586-93, 1998.
STRATHDEE SA, PALEPU A, CORNELISSE PG, YIP B, O'SHAUGHNESSY MV,
MONTANER JS, SCHECHTER MT, HOGG RS. Barriers to use of free
antiretroviral therapy in injection drug users. JAMA 280(6):547-9, 1998.
SZWARCWALD CL. Comportamento de Risco dos Conscritos do Exército Brasileiro,
1998: Uma apreciação da infecção pelo HIV segundo diferenciais socioeconômicos.
In: Sobre a epidemia da Aids no Brasil: distintas abordagens. Ministério da Saúde:
Brasília, 1998.
SZWARCWALD CL. Estimativa do número de órfãos decorrentes da Aids materna, Brasil,
1987-1999, uma nota técnica.In: Boletim Epidemiológico – Aids XII: 9 - 15, Semana
Epidemiológica – 35-47, setembro/novembro. Ministério da Saúde: Brasília, 1999.
SZWARCWALD CL & CASTILHO EA. Estimativa do número de pessoas de 15 a 49 anos
infectadas pelo HIV, Brasil, 1998: uma nota técnica. In: Boletim Epidemiológico –
Aids XII: 7-10ª Semana Epidemiológica – 09-21, março/maio, Ministério da Saúde:
Brasília, 1999.
42
SZWARCWALD CL, BASTOS FI, ANDRADE CLT, CASTILHO EA. Aids: O Mapa
Ecológico do Brasil, 1982-1994 In: A Epidemia da Aids no Brasil: Situação e
Tendências.1 Ministério da Saúde: Brasília, 1997.
SZWARCWALD CL, BASTOS FI, ESTEVES MA, DE ANDRADE CL. A disseminação
da epidemia da AIDS no Brasil, no período de 1987-1996: uma análise espacial. Cad
Saúde Pública 16:7-19, 2000.
TEIXEIRA PR (org) Tá difícil de engolir? Experiências de adesão ao tratamento antiretroviral em São Paulo. São Paulo: NEPAIDS, 2000.
THOMPSON AS, BLANKENSHIP KM, SELWYN PA, KHOSHNOOD K, LOPEZ M,
BALACOS K, ALTICE FL. Evaluation of an innovative program to address the
health and social service needs of drug-using women with or at risk for HIV
infection. J Community Health 23(6):419-40, 1998.
TULDRA A, FUMAZ CR, FERRER MJ, BAYES R, ARNO A, BALAGUE M, BONJOCH
A, JOU A, NEGREDO E, PAREDES R, RUIZ L, ROMEU J, SIRERA G, TURAL
C, BURGER D, CLOTET B. Prospective randomized two-Arm controlled study to
determine the efficacy of a specific intervention to improve long-term adherence to
highly active antiretroviral therapy. J Acquir Immune Defic Syndr 25:221-8, 2000.
URBSHOTT GB. Reflections on HIV, adherence, and objectivity. J Assoc Nurses AIDS
Care 10:99-100, 1999.
VALENTI WM. Impact of terrorist acts on HIV care: opportunities for program assessment
and strategic planning. AIDS Read 11(12):604-7, 2001.
VENTURA-FILIPE EM, BUGAMELLI LE, LEME B, SANTOS NJ, GARCIA S, PAIVA
V, HEARST N. Risk perception and counseling among HIV-positive women in Sao
Paulo, Brazil. Int J of STD and AIDS 11:112-4, 2000.
VITÓRIA MA. Mortalidade e Morbidade por AIDS no Brasil e no Mundo (1992 - 1998).
Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 1999.
WAGNER GJ & RABKIN JG. Measuring medication adherence: are missed doses reported
more accurately then perfect adherence? AIDS Care 12:405-8, 2000.
WAINBERG ML & COURNOS F. Adherence to treatment. New Dir Ment Health Serv
87:85-93, 2000.
WALSH JC, DALTON M, GAZZARD BG. Adherence to combination antiretroviral
therapy assessed by anonymous patient self-report. AIDS 12:2361-3, 1998.
WILLEY C, REDDING C, STAFFORD J, GARFIELD F, GELETKO S, FLANIGAN T,
MELBOURNE K, MITTY J, CARO JJ. Stages of change for adherence with
medication regimens for chronic disease: development and validation of a measure.
Clin Ther 22:858-71, 2000.
43
WILLIAMS A. Antiretroviral therapy: factors associated with adherence. J Assoc Nurses
AIDS Care 8:18-23, 1997.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. The Guide on Rapid Assessment Methods for Drug
Injecting. Centre for Research on Drug and Health Behaviour: Londres, 2001.
WRIGHT MT. The old problem of adherence: research on treatment adherence and its
relevance for HIV/AIDS. AIDS Care 12:703-10, 2000.
44