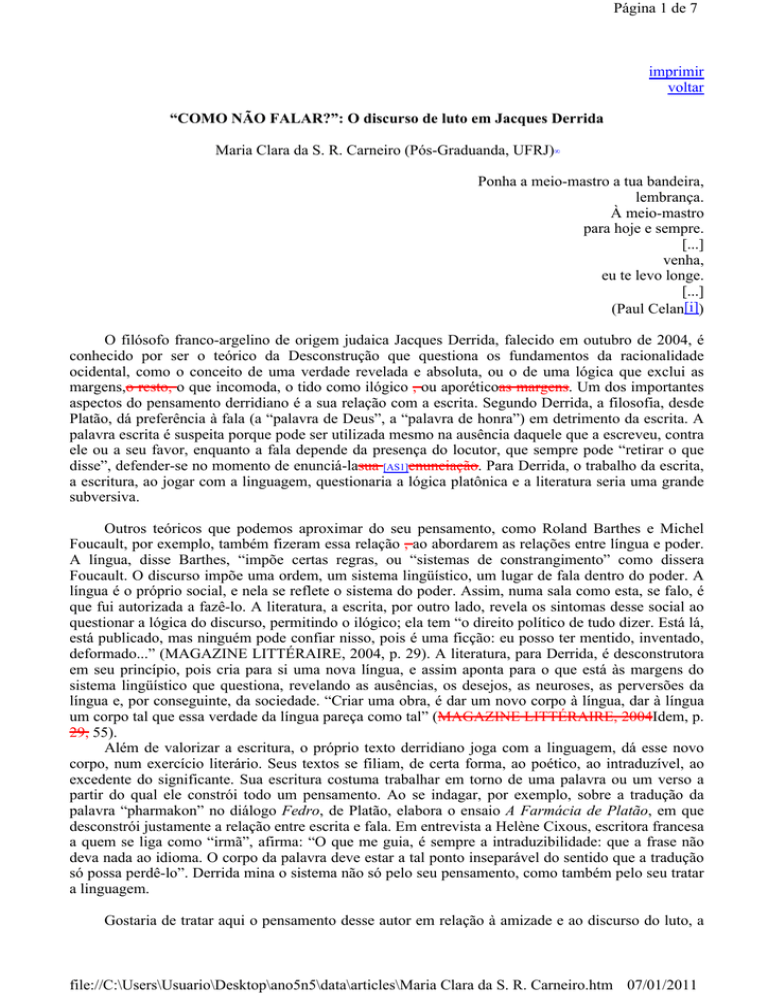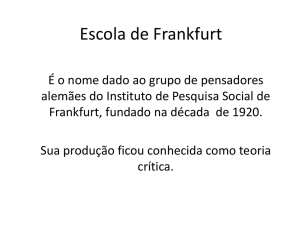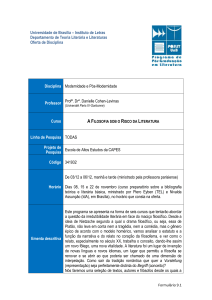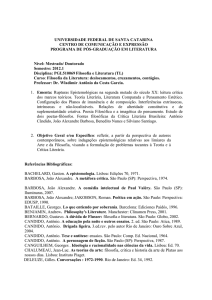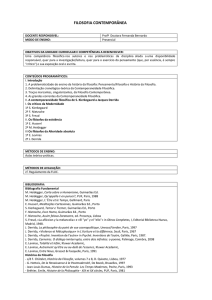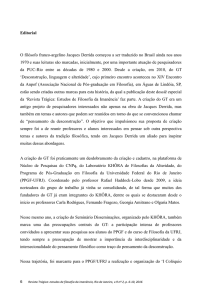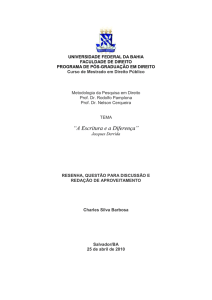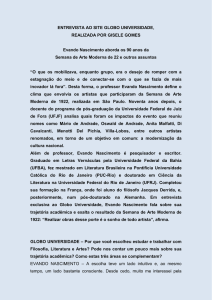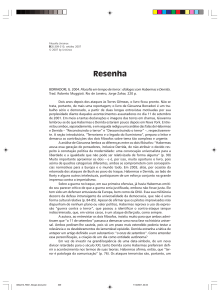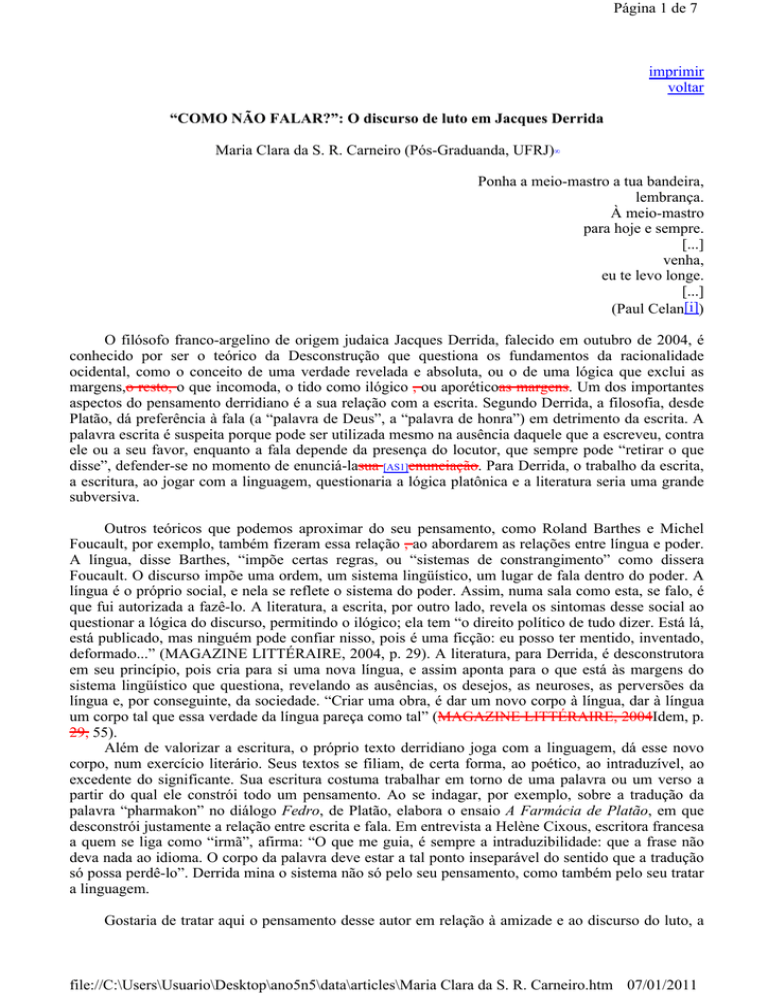
Página 1 de 7
imprimir
voltar
“COMO NÃO FALAR?”: O discurso de luto em Jacques Derrida
Maria Clara da S. R. Carneiro (Pós-Graduanda, UFRJ)•
Ponha a meio-mastro a tua bandeira,
lembrança.
À meio-mastro
para hoje e sempre.
[...]
venha,
eu te levo longe.
[...]
(Paul Celan[i])
O filósofo franco-argelino de origem judaica Jacques Derrida, falecido em outubro de 2004, é
conhecido por ser o teórico da Desconstrução que questiona os fundamentos da racionalidade
ocidental, como o conceito de uma verdade revelada e absoluta, ou o de uma lógica que exclui as
margens,o resto, o que incomoda, o tido como ilógico , ou aporéticoas margens. Um dos importantes
aspectos do pensamento derridiano é a sua relação com a escrita. Segundo Derrida, a filosofia, desde
Platão, dá preferência à fala (a “palavra de Deus”, a “palavra de honra”) em detrimento da escrita. A
palavra escrita é suspeita porque pode ser utilizada mesmo na ausência daquele que a escreveu, contra
ele ou a seu favor, enquanto a fala depende da presença do locutor, que sempre pode “retirar o que
disse”, defender-se no momento de enunciá-lasua [AS1]enunciação. Para Derrida, o trabalho da escrita,
a escritura, ao jogar com a linguagem, questionaria a lógica platônica e a literatura seria uma grande
subversiva.
Outros teóricos que podemos aproximar do seu pensamento, como Roland Barthes e Michel
Foucault, por exemplo, também fizeram essa relação , ao abordarem as relações entre língua e poder.
A língua, disse Barthes, “impõe certas regras, ou “sistemas de constrangimento” como dissera
Foucault. O discurso impõe uma ordem, um sistema lingüístico, um lugar de fala dentro do poder. A
língua é o próprio social, e nela se reflete o sistema do poder. Assim, numa sala como esta, se falo, é
que fui autorizada a fazê-lo. A literatura, a escrita, por outro lado, revela os sintomas desse social ao
questionar a lógica do discurso, permitindo o ilógico; ela tem “o direito político de tudo dizer. Está lá,
está publicado, mas ninguém pode confiar nisso, pois é uma ficção: eu posso ter mentido, inventado,
deformado...” (MAGAZINE LITTÉRAIRE, 2004, p. 29). A literatura, para Derrida, é desconstrutora
em seu princípio, pois cria para si uma nova língua, e assim aponta para o que está às margens do
sistema lingüístico que questiona, revelando as ausências, os desejos, as neuroses, as perversões da
língua e, por conseguinte, da sociedade. “Criar uma obra, é dar um novo corpo à língua, dar à língua
um corpo tal que essa verdade da língua pareça como tal” (MAGAZINE LITTÉRAIRE, 2004Idem, p.
29, 55).
Além de valorizar a escritura, o próprio texto derridiano joga com a linguagem, dá esse novo
corpo, num exercício literário. Seus textos se filiam, de certa forma, ao poético, ao intraduzível, ao
excedente do significante. Sua escritura costuma trabalhar em torno de uma palavra ou um verso a
partir do qual ele constrói todo um pensamento. Ao se indagar, por exemplo, sobre a tradução da
palavra “pharmakon” no diálogo Fedro, de Platão, elabora o ensaio A Farmácia de Platão, em que
desconstrói justamente a relação entre escrita e fala. Em entrevista a Helène Cixous, escritora francesa
a quem se liga como “irmã”, afirma: “O que me guia, é sempre a intraduzibilidade: que a frase não
deva nada ao idioma. O corpo da palavra deve estar a tal ponto inseparável do sentido que a tradução
só possa perdê-lo”. Derrida mina o sistema não só pelo seu pensamento, como também pelo seu tratar
a linguagem.
Gostaria de tratar aqui o pensamento desse autor em relação à amizade e ao discurso do luto, a
file://C:\Users\Usuario\Desktop\ano5n5\data\articles\Maria Clara da S. R. Carneiro.htm 07/01/2011
Página 2 de 7
partir, principalmente, de três livros seus: Políticas da Amizade, Béliers- le dialogue
ininterrompu, entre deux infinis, le poème e Chaque fois unique, la fin du monde, todos de 2003, e
apenas o primeiro apresenta tradução para a língua portuguesa[ii].
Em Políticas da Amizade, o filósofo discorre sobre a Amizade a partir do leitmotiv “Ó meus
amigos, não há nenhum amigo”, frase citada por Montaigne no ensaio “Da amizade”, atribuída por ele
a Aristóteles. Para Montaigne, Aristóteles referia-se a uma desconfiança da existência da amizade, e
contrapõe a dúvida de Aristóteles a outras citações e sua própria experiência de amizade, fazendo seu
elogio fúnebre do amigo La Boétie[iii].
Desse lamento sobre a ausência do amigo aos amigos, Derrida escreve sobre a importância do
amigo como possibilidade da minha própria sobrevivência após a minha morte (“quantos somos,
quantos amigos podemos ter, que amigo é esse que se foi e a quem me dirijo?”, são algumas das
reflexões que ele nos dirige em seu primeiro capítulo). O amigo é aquele que tomo como “exempla”,
testemunha gloriosa da minha existência, aquele que me ama até antes de ser amado.
Porque a gente o olha nos olhando, se olhar assim, porque a gente o vê guardar nossa
imagem nos olhos, na verdade nos nossos, a “sobre-vida” é então esperada, antes mesmo
iluminada, se não assegurada, por esse Narciso que sonha com a imortalidade. Além da
morte, o porvir absoluto recebe assim sua luz estática, ele aparece somente a partir desse
narcisismo e segundo essa lógica do mesmo. (DERRIDA, 2003:2, p. 20)
A amizade, afirma ele em outro texto, é marcada por esse contrato, de que um dos dois deverá
“levar o outro”. O amigo, meu outro, deverá me sobreviver ou eu a ele. A interrupção do diálogo
entre dois amigos marca sempre essa dor da possibilidade de ser final. O filósofo das Desconstruções
foi levado a escrever vários textos de elogio fúnebre. Seus livros Béliers e Chaque fois unique...
compreendem tais discursos. O primeiro foi desenvolvido para uma conferência em homenagem ao
teórico alemão Hans-Georg Gadamer, que escreveu sobre a tradução e o mal entendido. Além do
pensamento, os dois tiveram em comum a amizade do poeta também alemão Paul Celan, cujo verso
“Die Welt ist fort, Ich muss dich tragen”[iv] guia a escritura de Béliers. Já em Chaque fois unique...,
foram reunidos em livro (por Pascale-Anne Brault e Michael Naas) vários discursos fúnebres escritos
por ele após algumas perdas, como para Roland Barthes, Emmanuel LevinasLévinas, Michel
Foucault, Maurice Blanchot... Como ele explica em seu prefácio:
Esse livro é um livro de adeus. Uma saudação, mais de uma saudação (salut). Cada vez
única. Mas é o adeus de uma saudação que se resigna a saudar, como eu acredito que toda
saudação digna desse nome seja feita para isso, a possibilidade sempre aberta, vista a
necessidade do não-retorno possível, do fim do mundo como fim de toda a ressurreição.
(DERRIDA, 2003:2, p. 11).
Sendo o amigo esse meu “duplo ideal”, o “eu melhor”, o “exempla”, a morte do amigo provoca
essa dor irreparável, um luto que, parra Derrida, representaria a cada vez de modo diferente e,
portanto único, o fim do mundo.
Pois cada vez, e cada vez regularmente, cada vez infinitamente, cada vez
insubstituivelmente, cada vez infinitamente, a morte não é nada menos que um fim do
mundo. Não somente um fim entre os outros, o fim de alguém ou de alguma coisa no
mundo, o fim de uma vida ou um ser vivo. A morte não dá termo a alguém no mundo, nem
a um mundo entre outros, ela marca cada vez, cada vez desafiando a aritmética, o fim
absoluto, fim do único e mesmo mundo, desse que cada um dá por um só e mesmo mundo,
o fim do único mundo, o fim da totalidade desse que é ou pode se apresentar como a
origem do mundo para tal e único ser vivo, que ele seja humano ou não. (DERRIDA,
2003:1, p. 23)
O luto, para Freud, é uma concentração de energia provocada por uma perda. O “objeto
perdido”, o outro, não “é mais”, “não está mais lá” e a atenção, o carinho, o afeto, o amor que
file://C:\Users\Usuario\Desktop\ano5n5\data\articles\Maria Clara da S. R. Carneiro.htm 07/01/2011
Página 3 de 7
depositávamos nele fica sem destinatário. Como explica Freitas, ao comentar o luto de Machado
de Assis por sua amada Carolina,
Ao perder um objeto amoroso uma pessoa normalmente tem uma reação de luto, um
período necessário em que o objeto perdido ocupa quase inteiramente a vida do enlutado.
[...] Quando enlutada, uma pessoa tem sempre uma sensação muito dolorosa, pois a prova
da realidade apontando para a impossibilidade do objeto exige a retirada da libido
colocada nesse objeto. Porém, não se abandona de bom grado uma posição libidinal, até
mesmo quando há um substituto. O eu provoca uma alucinação carregada de desejo –
mantém o morto vivo, negando assim a realidade. [...] Entretanto, quando o quadro não se
desenvolve para a morbidez a realidade se impõe [...]. Todavia, o trabalho do luto é lento e
só com muito vagar pode ir sendo elaborado através da pena e do papel. (FREITAS, 1999,
p. 145)
Trabalhar o luto seria encontrar onde despender essa energia suspensa. Esse seria um processo
que terminaria após a interiorização da imagem do perdido e no transporte dessa energia para outro
objeto, com a aceitação da perda, a conformação.
Para Barthes, o luto é “o meio do caminho”, é quando descobrimos que somos, de fato,
morrentes, que a morte é real e mesmo nosso outro, o amado, é efêmero. Trabalhar o luto, para
Barthes e também para Derrida, pode se dar no campo da escritura, com a recriação desse solo. A
escritura propicia falar desse ausente, tocá-lo. O título do último texto deixado por Roland Barthes
sobre sua máquina de escrever era: “On échoue toujours à dire ce qu’on aime”[v]. É tentando
alcançar o ausente, seja esse o Objeto Perdido ou o Objeto de Desejo, que se escreve, pois sendo o
perdido aquele outro impossível de ser alcançado, relaciona-se estreitamente com o desejo, esse
“impossível”, como escreve Simone Weil (“O desejo é impossível”). Se escrever é frustrar-se,
escrever é enlutar-se.
A literatura, para Derrida, teria, portanto, uma relação íntima com a morte. No diálogo Fédon,
Sócrates pergunta: “A palavra morte não quer dizer isto: libertação da alma do corpo?”. Para Derrida,
a escritura também quer dizer isto: a separação do corpo de quem escreve daquilo que escreveu ou,
como ele escreve em Chaque fois, “a separação do corpo do corpus”. Além disso, o luto apresenta
essa aporia: é ao mesmo tempo um êxito que fracassa e um fracasso que tem êxito, pois há o êxito da
interiorização da imagem do outro (êxito da substituição da imagem do perdido), deixa-o em nós, mas
que guarda ainda o fracasso do alcance desse outro, reduzido totalmente ao fora, ao invisível, ao
intocável. A memória, nos diz Drummond, torna imortal[vi] o que já não é mais ou, segundo Derrida,
A-Deus quer dizer uma eterna esperança de reencontro.
Falo aqui de dois lutos: em primeiro lugar, o do amigo, o segundo, o daquele mesmo que
escreve. A escritura envolve ambos, no sentido em que se escreve tentando eternizar o outro, criando
a imagem dele na escritura. Fazendo seu luto de Barthes, Derrida escreveu diversos fragmentos como
que “pedrinhas aguardando retorno”, assim como no modelo judeu de sepultamento e, de certa forma,
homenageando o escritor amigo que preferia sempre escrever dessa forma discontínuadescontínua.
Nesse texto sobre Barthes, intitulado As mortes de Roland Barthes, o escritor tenta, na homenagem,
tocar o amigo, como numa oração fúnebre, trabalhando seu luto, sua dor, pela escrita. Em segundo
lugar, ao escrever, o autor trabalha o seu próprio luto, pois a escrita é essa droga que permite que eu
continue a ser citado mesmo após a minha morte, que continue a existir em espectro.
Para Derrida, o luto começaria já no nome próprio. “O meu nome guarda a minha identidade” e
é a possibilidade de repetição ad infinitum do meu nome que assinala minha própria finitude; a
possibilidade de se dizer “eu sou” mesmo em minha ausência. Quanto ao nome próprio do outro,
sendo o nome vocativo por excelência, dizer o nome do outro implicaria a ausência desse. Todo nome
próprio deveria possibilitar sua própria repetição (infinita), mesmo na ausência do referente (finito).
Assinar (escrever meu próprio nome), além de indicar a propriedade daquilo que assino (títulos
bancários, cartas, poemas), indica minha ausência, permite que o que eu assinei seja usado mesmo
após a minha morte, contra ou a meu favor. Dizer “eu” não é o mesmo que assinar meu nome. “Eu”
digo em presença, mas “meu nome próprio me sobrevive” na escrita (BENNINGTON, 1996, p. 107).
“Meu nome declara meu próprio desaparecimento”. O lugar do autor seria atrás da chamada
file://C:\Users\Usuario\Desktop\ano5n5\data\articles\Maria Clara da S. R. Carneiro.htm 07/01/2011
Página 4 de 7
“cena da escritura”. Como o que assino pode ser usado contra mim, meu nome declara minha
possibilidade de finitude. “Ninguém é pai de um poema sem morrer”, escreveu Manoel de Barros, a
“escrita assassina seu autor”, disse Foucault. Minha escrita é parricida (me mata, me sobrevive), mas
escrevo. Escrevo para salvar aquilo que escrevo: o ausente, o desejo. A literatura seria, portanto, o
sacrifício do “ego” pelo “outro” bem amado. Derrida cita seu amigo Jean-Marie Benoist: “Pois o deus
da escritura também é o deus da morte. Eles castigaráEle castigará o imprudente que, na sua busca do
saber ilimitado, termina por beber o livro dissolvido” (DERRIDA, 2003:2, p. 137).
Para Barthes, a escritura seria uma tentativa de salvar os seus da morte, de preservar a memória
desses, eternizá-los como num monumento. Como escreveu Derrida, o discurso de luto tenta falar a
esse amigo, interiorizá-lo em nós e para nós, é também uma tentativa de fazê-los falar através de nós,
falar o outro post mortem.
“Então o sobrevivente fica só [...], responsável sem mundo (Weltos), sem solo de nenhum
mundo, daí em diante, num mundo sem mundo, como sem terra para além do fim do
mundo” (DERRIDA, 2003:1, p. 23). O sobrevivente, ou o herdeiro é, sem querer, aquele que deve
continuar o outro, que recebe essa “missão” de consertar esse mundo, diante da catástrofe.
Falar ao amigo, dialogar com ele, é um luto desde o começo. Como afirma Blanchot em
Diálogo inconcluso, o que nos liga ao outro é a linguagem. O outro, na filosofia ocidental, sempre foi
pensado a partir da filosofia do mesmo (o outro seria apenas um outro ego) mas, a partir de Lévinas, o
outro adquire um status de presença, o “outro é o totalmente outro” (BLANCHOT, 1986, p. 101).
Diante do outro, do estrangeiro, do desconhecido, haveria, para Blanchot, apenas duas possibilidades:
a luta ou a fala. Manter a palavra¸ para Blanchot, representaria um lugar de paz. O diálogo seria um
lugar onde o outro e o eu dariam as mãos. O amigo não seria um outro que tomamos para nós (esse
outro que espero que me leve, que tento reconhecer como um “eu mesmo”)? Referir-se ao outro pode
implicar sempre um contato com o desconhecido. Dialogar, ou tocar esse outro, é trazê-lo a si, como
no trabalho do luto para Derrida, é falar com ele e por ele, é fazê-lo presença. Desde o início de uma
amizade, tenta-se interiorizar esse amigo no eu, como no luto. Ao falar seu luto por Lévinas, Jacques
Derrida diz que “Há muito tempo, tanto tempo, eu teimava em dizer Adeus à Emmanuel Lévinas”, ou
sobre Benoist: “Ter um amigo: guardá-lo” (DERRIDA, 2003:2, p. 241 e 137), guardar como se
guarda a imagem deste quando ele não está mais lá. Como para Derrida não há o fora do texto, é pela
escritura que se toca o outro, e é escrevendo que ele interioriza a imagem do amigo, ou do invisível,
ou do fantasma, ou do desconhecido, do outro que se presentifica no texto. A escritura seria o único
lugar (im)possível para o encontro com o corpo daquele que se foi.
Após sua morte, alguns de seus amigos se reuniram em seu nome. Cada um, a sua maneira,
tentou falar para ele, falar nele. Marie-Louise Mallet, por exemplo, retoma o texto Como não falar de
Derrida, onde ele trabalhava seu luto por Paul de Man, sobre essa dificuldade de se falar do amigo,
“para ele, com ele, lhe falar”. Michel Déguy nos lembra sobrede como ele nos ensinava a “escrutar as
condições da impossibilidade”, sobre a hospitalidade impossível da qual ele nos falava, de aceitar o
outro (o estrangeiro, não apenas o amigo, mas também o “inimigo”). Além desses dois, Philippe
Lacoue-Labarthe, Helène Cixous, Geoffrey Bennington, Paul Ricoeur, Hügen Habermas e vários
outros se reuniram para saudar (dizer Salut, despedida que guarda em si também um cumprimento de
encontro), e nos lembram sobre sua generosidade, como ao carinho que tinha, por exemplo, em tentar
sempre encontrar palavras diferentes para falar aos alunos, aos amigos ou como sua última
apresentação pública, já bem doente, no Brasil. Aqui, Derrida nos falou sobre essa hospitalidade e
perdão impossíveis, sobre o improvável e sobre o humainisme: a criação de uma humanidade de mãos
dadas.
Perguntado sobre o que seria imperdoável para ele, em entrevista, respondeu que não perdoaria
Heidegger, por ter retirado a dedicatória que havia feito a seu amigo Bertrand Russel na segunda
edição de O Ser e o Tempo. “Como não falar” sobre Derrida, sobre essa generosa filosofia de respeito
ao outro? “Falar é impossível, mas se calar o seria também, ou se ausentar ou recusar partilhar sua
tristeza” (DERRIDA, 2003:2, p. 101).
Nas palavras escritas por ele como despedida, ele nos pedia para “preferir sempre a vida e
reafirmar sempre a sobrevivência (la survie)”, dizendo que nos sorri “de onde quer que esteja”. Além
do impossível, em nós, através de nós, a obra derridiana, que se dissemina desde sua assinatura (como
comentou Luiz Fernando de Carvalho em conferência), nos atravessa e se interioriza no corpus dos
file://C:\Users\Usuario\Desktop\ano5n5\data\articles\Maria Clara da S. R. Carneiro.htm 07/01/2011
Página 5 de 7
seus herdeiros.
A fala desses amigos nos prova essa sobrevida esperada por Derrida, seu olhar, seu pensamento,
distribuído nos olhares do outro. “O mundo se vai, o mundo desaparece, Die Welt ist fort, Ich muss
dich tragen, me é preciso te levar, lá onde não haveria mais mundo, ainda não mundo, lá onde o
mundo se distanciaria, perdido ao longe, ainda a vir [...]” (DERRIDA, 2003:4, p. 213).
file://C:\Users\Usuario\Desktop\ano5n5\data\articles\Maria Clara da S. R. Carneiro.htm 07/01/2011
Página 6 de 7
Referências Bibliográficas
BARTHES, Roland. La Préparation du roman I et II : Cours et séminaires au Collège de France
1978-1979 et 1979-1980. Paris: Seuil, 2002.
BENNINGTON, Geoffrey & DERRIDA, Jacques. Jacques Derrida. Trad.: SKINNER, Anamaria.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
BLANCHOT, Maurice. Michel Foucault tel que je l’imagine. Paris: Fata Morgana, 1986.
______. El diálogo inconcluso. trad. Pierre de Place. Caracas: Monte Ávila, 1996.
DERRIDA, Jacques. Béliers. Paris: Galilée, 2003.
______. Chaque fois unique, la fin du monde. Paris: Galilée, 2003.
______. Mémoires. Pour Paul de Man. Paris : Galilée, 1988
______. Politiques de l’Amitié. Paris: Galilée, 2003.
______. Voyous. Paris: Galilée, 2003.
FREITAS, Luiz A. Pinheiro. Memorial de Aires ou o luto por Carolina de Assis. In: TEMPO
PSICANALÍTICO. Rio de Janeiro, n. 31, 1999.
FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: ______. Edição Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud em CD-Rom. Rio de Janeiro: Imago.
MAGAZINE LITTÉRAIRE, 430. Paris, Abril de 2004.
RUE DESCARTES, 49. Salut à Jacques Derrida. Collège International de Philosophie – PUF, Abril
de 2005.
PLATÃO. Diálogos. Trad.: BRUNA, Jaime. São Paulo: Cultrix.
Maria Clara da S. R. Carneiro é mestranda em Literatura Francesa do Programa de Pós-Graduação
em Letras Neolatinas, uma das criadoras da revista improvável (www.improvavel.com), que pretende
publicar escritores em gestação e participa como apoio técnico da revista Confraria do Vento
(www.confrariadovento.com). Graduada em junho de 2005 em Letras Português-Francês, participa
desde 2002 do projeto de pesquisa “A metalinguagem literária legada por Roland Barthes, Jacques
Derrida e Michel Foucault”, orientada pela Professora Doutora Anamaria Skinner. No Mestrado,
pretende pesquisar as relações entre luto e literatura a partir do livro A Câmara clara, de Roland
Barthes, filiando-se à filosofia de Jacques Derrida, principalmente a partir de Chaques fois unique, la
fin du monde.
•
Maria Clara da S. R. Carneiro é mestranda em Literatura Francesa do Programa de Pós-Graduação em Letras
Neolatinas, uma das criadoras da revista improvável (www.improvavel.com), que pretende publicar escritores em
gestação e participa como apoio técnico da revista Confraria do Vento (www.confrariadovento.com). Graduada em junho
de 2005 em Letras Português-Francês, participa desde 2002 do projeto de pesquisa “A metalinguagem literária legada por
Roland Barthes, Jacques Derrida e Michel Foucault”, orientada pela Professora Doutora Anamaria Skinner. No Mestrado,
pretende pesquisar as relações entre luto e literatura a partir do livro A Câmara clara, de Roland Barthes, filiando-se à
filosofia de Jacques Derrida, principalmente a partir de Chaques fois unique, la fin du monde.
[i] Poema Schibboleth, para o qual Derrida também dedica um livro, em memória de Paul Celan. Esse trecho foi traduzido
por mim a partir da tradução para o francês de Jean-Pierre Lefebvre. Segue o original:
Schibboleth
Mitsamt meinen Steinen,
den großgeweinten
hinter den Gittern,
schleiften sie mich
in die Mitte des Marktes,
dorthin,
wo die Fahne sich aufrollt, der ich
keinerlei Eid schwor.
Flöte,
Doppelflöte der Nacht:
denke der dunklen
Zwillingsröte
file://C:\Users\Usuario\Desktop\ano5n5\data\articles\Maria Clara da S. R. Carneiro.htm 07/01/2011
Página 7 de 7
in Wien und Madrid.
Setz deine Fahne auf Halbmast,
Erinnerung.
Auf Halbmast
für heute und immer.
Herz:
gib dich auch hier zu erkennen,
hier, in der Mitte des Marktes.
Ruf's, das Schibboleth, hinaus
in die Fremde der Heimat:
Februar. No pasaran.
Einhorn:
du weißt um die Steine,
du weißt um die Wasser,
komm,
ich führ dich hinweg
zu den Stimmen
von Estremadura.
[ii] “Áries: o diálogo não-interrompido, entre dois infinitos, o poema” e “Cada vez único, o fim do mundo”. A tradução de
Politiques de l’Amitié existem somente em tradução portuguesa (Políticas da Amizade.Porto. Campo das Letras) , mas
recentemente (em 2004) foi publicada uma entrevista de Derrida sobre o tema, como informa o site do grupo Traduzir
Derrida, (http://www.unicamp.br/iel/traduzirderrida): Política e Amizade: uma Discussão com Jacques Derrida (1997),
tradução de Rafael Haddock-Lobo. In: Desconstrução e Ética - Ecos de Jacques Derrida (org. Paulo Cesar DuqueEstrada). Edições Loyola e Editora PUC-Rio, Rio de Janeiro - Brasil, p. 235 - 47.
[iii] “O mes amys, il n’y a nul amy”, no original de Montaigne, ou, como lembra Derrida, “o philoi, oudeis philos”. Essa
frase também é citada por Blanchot em sua homenagem póstuma a Michel Foucault, como Derrida lembra, no livro
Michel Foucault tel que je l’imagine Blanchot diz que a frase foi atribuída por Diógenes a Aristóteles, no entanto ele cita:
“Ó meus amigos, não existe amigo”, ou “não há amigo” (O mes amis, il n’y a pas d’ami).
[iv] “O mundo se foi, é preciso que eu te leve”, traduzido a partir da tradução feita pelo próprio Derrida.
[v] “Frustramo-nos sempre ao falar do que se ama”.
[vi] Poema Memória, de Drummond : Amar o perdido/deixa confundido/este coração.
Nada pode o olvido/ contra o sem sentido/ apelo do Não.
As coisas tangíveis/ tornam-se insensíveis/ à palma da mão
Mas as coisas findas/ muito mais que lindas,/essas ficarão.
file://C:\Users\Usuario\Desktop\ano5n5\data\articles\Maria Clara da S. R. Carneiro.htm 07/01/2011