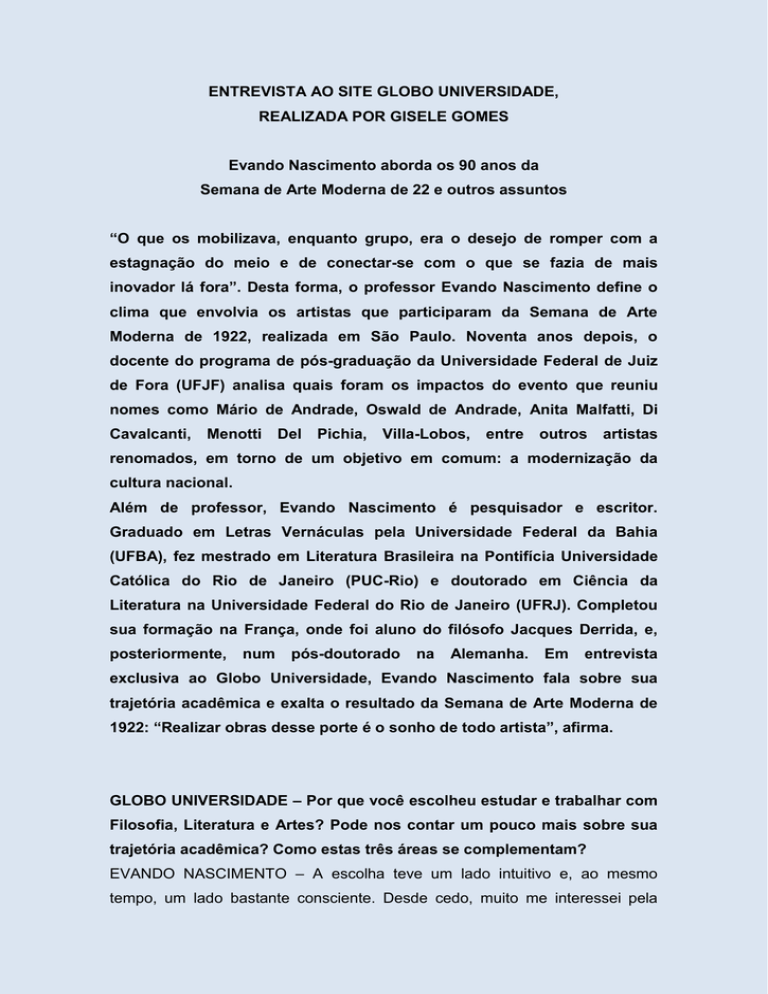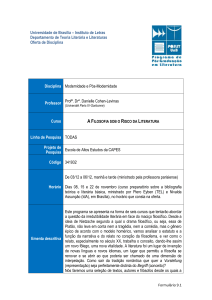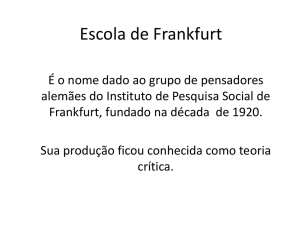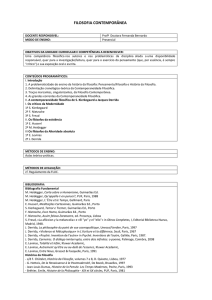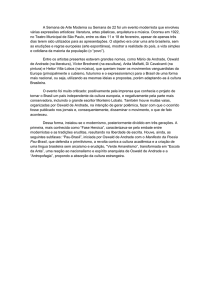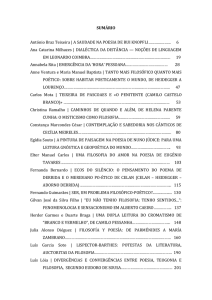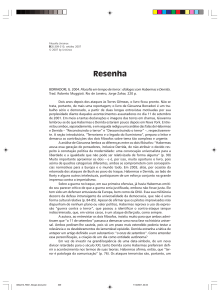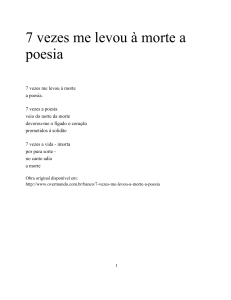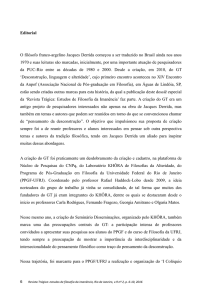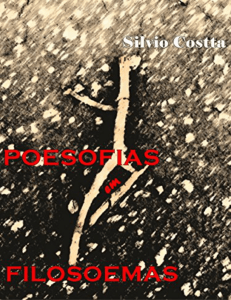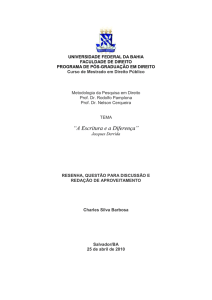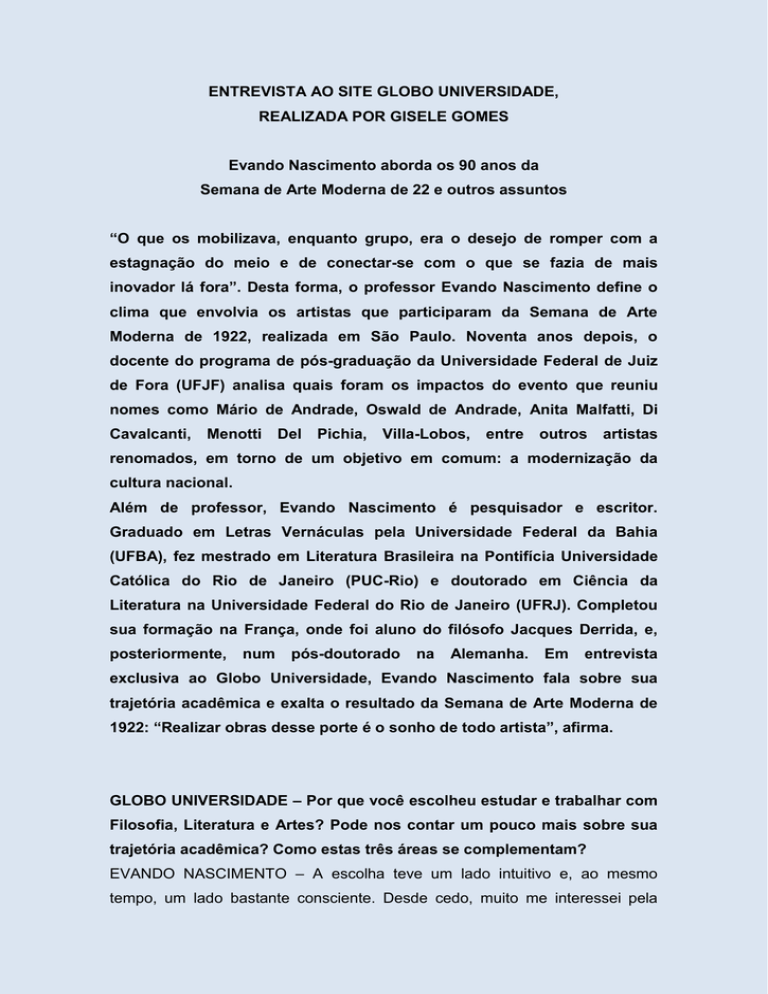
ENTREVISTA AO SITE GLOBO UNIVERSIDADE,
REALIZADA POR GISELE GOMES
Evando Nascimento aborda os 90 anos da
Semana de Arte Moderna de 22 e outros assuntos
“O que os mobilizava, enquanto grupo, era o desejo de romper com a
estagnação do meio e de conectar-se com o que se fazia de mais
inovador lá fora”. Desta forma, o professor Evando Nascimento define o
clima que envolvia os artistas que participaram da Semana de Arte
Moderna de 1922, realizada em São Paulo. Noventa anos depois, o
docente do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF) analisa quais foram os impactos do evento que reuniu
nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Di
Cavalcanti,
Menotti
Del
Pichia,
Villa-Lobos,
entre
outros
artistas
renomados, em torno de um objetivo em comum: a modernização da
cultura nacional.
Além de professor, Evando Nascimento é pesquisador e escritor.
Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA), fez mestrado em Literatura Brasileira na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e doutorado em Ciência da
Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Completou
sua formação na França, onde foi aluno do filósofo Jacques Derrida, e,
posteriormente,
num
pós-doutorado
na
Alemanha.
Em
entrevista
exclusiva ao Globo Universidade, Evando Nascimento fala sobre sua
trajetória acadêmica e exalta o resultado da Semana de Arte Moderna de
1922: “Realizar obras desse porte é o sonho de todo artista”, afirma.
GLOBO UNIVERSIDADE – Por que você escolheu estudar e trabalhar com
Filosofia, Literatura e Artes? Pode nos contar um pouco mais sobre sua
trajetória acadêmica? Como estas três áreas se complementam?
EVANDO NASCIMENTO – A escolha teve um lado intuitivo e, ao mesmo
tempo, um lado bastante consciente. Desde cedo, muito me interessei pela
poesia, que lia na escola, e pelo desenho, que aprendi um pouco na escola e
um pouco de maneira autodidata. A leitura induzia a uma atitude contemplativa,
indispensável ao gosto pela filosofia. Fui marcado então por esses três
comportamentos: a leitura e a escrita, o desenho e a pintura, e a atividade
reflexiva. De modo que foi um pequeno drama decidir que curso faria na
Universidade. Os testes vocacionais davam o caminho da Literatura. Quando
entrei para o Instituto de Letras da UFBA, de imediato me interessei
profundamente por uma disciplina chamada Teoria da Literatura, que era uma
combinação de Literatura com questões filosóficas. A partir daí fui, infelizmente,
abandonando o desenho, mas, felizmente, me dedicando cada vez mais à
Literatura. Toda minha formação universitária foi marcada pelo triplo gosto pela
literatura, pela filosofia e pelas artes visuais. A formação filosófica se acentuou
quando, em 1991, obtive uma bolsa do CNPq para estudar o pensamento de
Nietzsche na Sorbonne com a grande filósofa Sarah Kofman. Em Paris, acabei
me tornando aluno também de Jacques Derrida, que eu já tinha lido no Brasil, e
isso marcou meu trabalho definitivamente. Em 1996, eu voltava ao Brasil com a
bagagem literária e filosófica consideravelmente ampliada e com uma cultura
visual bastante desenvolvida, por causa do contato com os grandes museus
europeus e as megaexposições parisienses. A partir daí, passei a estabelecer
cada vez mais o diálogo entre essas três práticas culturais: a literatura, a
filosofia e as artes visuais, em especial a pintura e o cinema, sobre os quais já
escrevi diversos artigos e livros.
GU – Quais são suas áreas de pesquisa atuais? Que disciplinas você
leciona para seus alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora?
EN – Dentro desse campo geral de interesses que acabei de esboçar, vários
têm sido os objetos, textos e produções que tenho estudado nos últimos anos.
No momento, está saindo um livro sobre Clarice Lispector, pela Coleção
Contemporânea: Filosofia, Literatura & Artes, que dirijo para a editora Record.
Desde os dezoito anos, escrevo sobre Clarice e estava me devendo um volume
apenas sobre o que chamo de sua “literatura pensante”. Essa categoria –
desenvolvida em minha tese de Doutorado, depois transformada no livro
Derrida e a literatura (EdUFF, 2ª, ed. 2001) – não deve ser confundida com
“literatura filosófica”, que é uma expressão pedante. Para mim, certos textos
literários, como os de Machado de Assis, Thomas Mann, Raduan Nassar e
Guimarães Rosa, elaboram um tipo de pensamento que nada fica a dever à
filosofia, ao contrário, tratam de temas que foram pouco abordados pela
tradição dita metafísica. Cito, por exemplo, a questão da relação entre o
humano e o animal, que aparece em inúmeros textos de Clarice. Esse é um
tema apaixonante para mim, e a primeira vez que escrevi extensamente sobre
o assunto foi em 1999, em diálogo com escritores e filósofos, como Kafka,
Nietzsche, Borges, Guimarães, Deleuze, Lyotard e Derrida, entre outros.
Simultaneamente, estou concluindo também uma pesquisa sobre as relações
entre o poeta Haroldo de Campos e o artista plástico Hélio Oiticica. O
fascinante na produção dos dois é que o poeta Haroldo tinha uma alta cultura
visual e a utilizou em sua poesia, desde a época do concretismo, entre os anos
1950 e 1960; já o artista Hélio era um leitor voraz e deixou inúmeros escritos
com forte teor inventivo, em grande parte marcados pelo diálogo com o próprio
Haroldo. Na Universidade, sou professor de Teoria da Literatura, o que me
permite continuar estudando e lecionando Literatura e Filosofia, em diálogo
com as referidas Artes.
GU – Desconstrução é uma palavra recorrente em seus trabalhos
publicados. Como você aplica esta filosofia a suas pesquisas?
EN – Não se trata de aplicação, pois esse termo tem um forte teor determinista,
do tipo causa e efeito. Trata-se mais de uma interlocução que venho
estabelecendo desde o Mestrado na PUC-Rio (mas as primeiras referências já
começaram na Graduação na UFBA) com a obra de Jacques Derrida. Quanto a
isso, são necessários alguns esclarecimentos. Primeiro, o próprio Derrida
sempre fez questão de dizer que a desconstrução (ou as desconstruções) não
é uma invenção sua. Seria, antes, um termo que comparece em seus escritos
desde a década de 1960 para dar conta de um processo que ocorre no tecido
da cultura em geral. Um processo que sempre existiu, mas que certamente se
acelerou no século XX e que seria uma “crítica” a qualquer tipo de centramento
cultural: por exemplo, o etnocentrismo europeu se impondo sobre todas as
outras formas culturais; ou o chamado falocentrismo, que é o privilégio do “falo”
(a representação simbólica do pênis) nas relações marcadas pela chamada
diferença sexual. Ora, tudo isso que durante séculos correspondeu a formas
arraigadas de colonialismo e de sujeição passou a ser questionado por
disciplinas como Etnologia, Antropologia, Sociologia, Estudos Literários e
Filosofia. Como Derrida enfatizava em seus primeiros trabalhos, era (e ainda é)
preciso empreender um longo e minucioso exercício de desconstrução da
“tradição metafísica”, no sentido de desierarquizar diversas polaridades
dicotômicas, tais como masculino / feminino, homem / animal, presença /
ausência, vida / morte, centro / periferia. Não se trata de inverter a hierarquia e
colocar o antigo dominado no lugar do dominador, mas sim de liberar o regime
de oposições em que se fundam as relações culturais. No chamado Ocidente,
mas certamente também em inúmeras outras culturas, temos enorme
dificuldade de pensar a diferença ou as diferenças de maneira não opositiva.
Para muitos, importa opor o branco ao negro, em vez de buscar os matizes e
aceitar a impossibilidade da pureza étnica. O que me interessa a cada vez que
comento um filme ou um livro, como numa série de conferências que realizei no
ano passado acerca do “Autor como leitor”, é ver em que a produção artística
abordada me ajuda a desatar certos nós culturais. Procuro sempre ver a
Literatura, a Filosofia e as Artes Visuais como modos de desconstruir as
tensões que levam a formas de escravização e submissão do outro, do
diferente, daquilo que não é visto como nossa imagem especular. Tudo isso,
entretanto, deve vir imbuído de forte prazer estético, sem o qual não tem graça
alguma.
GU – Jacques Derrida e Clarice Lispector são autores abordados
frequentemente em suas pesquisas. Você pode nos explicar um pouco
sobre os fatores que o levaram a estudar suas respectivas obras? O que
elas têm em comum?
EN – Creio que uma coisa os aproxima: a força do pensamento. São dois
autores altamente pensantes, curiosamente ambos são judeus e migrados.
Clarice, como se sabe, nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil muito nova;
Derrida nasceu na Argélia, mas viveu a maior parte do tempo na antiga
metrópole francesa. Em Derrida, o interesse pela filosofia esteve desde a
adolescência associado ao interesse pela literatura, e ele relutou bastante entre
seguir uma ou outra carreira. Já Clarice não teve formação filosófica, mas leu
Nietzsche, por exemplo, e o tipo de ficção que escreveu é dotado de grande
potência reflexiva. No fundo, esses dois discursos (filosofia e literatura) me
fascinam, sobretudo porque me permitem pensar questões fundamentais para
o que faço e para o modo como atuo na vida: a questão do humano, da
alteridade, do afeto, da amizade, das relações políticas, do que é familiar ou
estrangeiro, entre outras. Esses e diversos outros temas-forma se encontram
sobejamente na ficção de Clarice e na filosofia desconstrutora de Derrida. Uma
curiosidade que não é insignificante: Derrida era amigo íntimo de Hélène
Cixous, escritora e crítica francesa, grande leitora e divulgadora da obra de
Clarice. Para mim, trata-se, portanto de dois pensadores, cujas obras
continuam me interessando, não para repetir o que disseram, mas para pensar
temas da contemporaneidade tanto quanto problemas que obsessivamente me
acompanham por toda a vida.
GU – Há 90 anos, acontecia, no Brasil, mais exatamente em São Paulo, a
Semana de Arte Moderna de 1922. Para você, qual foi o impacto deste
evento para a expressão artística no país?
EN – Creio que, de imediato, a Semana não teve tanto impacto assim, embora
tenha sido um evento bem noticiado, sobretudo no palco onde ocorreu, a
capital paulista. Mas sua maior força foram os desdobramentos nos anos e
décadas seguintes. Com isso, quero dizer que ela ficou na história como um
marco cultural, a partir da necessidade que sentiu um grupo de jovens de
promover inovações no campo das artes. É preciso lembrar o que era o Brasil,
em particular São Paulo, na década de 1920: certamente um país ainda muito
atrasado, mas já em busca de desenvolvimento. Em termos literários, a
despeito da obra magistral de um Euclides da Cunha e de um Lima Barreto,
predominava a estagnação decorrente da repetição dos movimentos estéticos
do século XIX, sobretudo o simbolismo e o parnasianismo. Era uma literatura
muito convencional, que ignorava as revoluções estéticas já em curso na
Europa e, de modo incipiente, nos Estados Unidos. Em viagens a esses
países ou indiretamente através de jornais e de livros, jovens artistas como
Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pichia e Di
Cavalcanti começaram a fomentar o desejo de uma atualização das letras no
país, ou como disse posteriormente Oswald, era preciso “Acertar o relógio
império da literatura nacional”. Hoje se sabe que nem todos os que apoiaram
e/ou participaram da Semana eram tão modernos assim. Essa contradição era
inevitável, pois se estava propondo algo que era muito pouco conhecido: as
formas experimentais de arte próprias a estilos como cubismo, dadaísmo,
expressionismo e futurismo. O que tornava tudo mais complexo é que essas
formações artísticas teriam que necessariamente ser reformuladas no universo
geocultural brasileiro. De nada adiantaria simplesmente importar ideias sem
reinventá-las em outro tempo e espaço, e isso vai ocorrer efetivamente depois
da Semana, quando haverá grande preocupação em apreender a singularidade
brasileira. Até hoje, há forte resistência conservadora às ideias modernistas,
como um mal a ser superado. Por vezes, tenho a impressão de que as atitudes
mais radicais de um Oswald jamais serão assimiladas pelo conservadorismo
oficial. Mas felizmente há inúmeras produções posteriores que se deixaram
marcar de maneira voluntária pelo vanguardismo tropical, tais como a Poesia
Concreta e a Tropicália.
GU – Que consequências a Semana trouxe para a cultura brasileira em
termos de Artes e Literatura? Que aspectos daquelas obras e do
Movimento Modernista como um todo perpetuam-se até os dias de hoje?
EN – Creio que o maior legado da Semana foi reivindicar o direito permanente
à invenção: aquilo que Hélio Oiticica, décadas depois, chamará de
“experimentar o experimental”. Pela primeira vez foi colocada, de modo
explícito e até violento, a necessidade de não se repetir simplesmente a
tradição. Claro que cada escritor ou artista foi modernista a seu modo. Toda
unidade e homogeneidade nesse caso são ilusórias. O que os mobilizava,
enquanto grupo, era o desejo de romper com a estagnação do meio e de
conectar-se com o que se fazia de mais inovador lá fora. Vigorava um forte
movimento antiacadêmico, embora um de seus fomentadores, como se sabe,
Graça Aranha, pertencesse à Academia Brasileira de Letras, com a qual veio
posteriormente a romper. Mário de Andrade jamais aderiu de todo à
obrigatoriedade de ignorar ou de negar a tradição. Nesse sentido, vale lembrar
a importância da Antropofagia, fundada por Oswald em 1928, como um dos
desdobramentos mais fecundos da Semana. Cabe entender como esse
movimento antropofágico tentava rever a cultura brasileira para além do
nacionalismo estreito, herdado do romantismo. Havia a consciência de que,
para ser brasileiro de fato, era preciso “devorar” o outro, assimilando suas
melhores qualidades, tal como no ritual antropofágico de nossos indígenas,
narrados por viajantes e missionários. O grande legado da “devoração”
antropofágica é compreender que nenhuma cultura sobrevive isoladamente: o
futuro das artes de um país é se mesclar com as de outros povos, numa
relação de mão dupla que faz de todos nós pequenos “antropófagos”. E, se
todos somos, uns mais, outros menos, ninguém é mais necessariamente
“primitivo”: todos somos, ou deveríamos ser, mais ou menos civilizados em
sentido forte, quer dizer, mesclados, híbridos. A única diferença para com a
Antropofagia oswaldiana hoje consistiria em indagar se a “devoração” continua
sendo uma boa metáfora – é o que questiono em textos recentes, propondo a
noção de comer junto, em vez de devorar o outro ou a outra...
GU – Que obra apresentada na Semana de Arte Moderna de 1922 mais o
impressiona? Por quê?
EN – Sem dúvida alguma os magníficos trabalhos de Anita Malfatti, que tanto já
haviam escandalizado Monteiro Lobato, numa exposição de 1917: O Homem
amarelo, A Mulher de cabelos verdes, A Estudante russa, A Boba. Mas
também gostaria de citar obras que aconteceram no rastro da Semana de 22.
Haveria muitos exemplos, porém ficaria com três grandes obras-primas do
Modernismo: Macunaíma, de Mário de Andrade; a poesia de Oswald e tudo o
que diz respeito à Antropofagia; e o Abaporu de Tarsila do Amaral, essa
autêntica antropófaga, que soube muito bem digerir seu mestre francês
Fernand Léger. Por que me impressionam? Por tudo o que acabei de dizer: são
combinações perfeitas do mais
legitimamente nacional com
o mais
autenticamente universal. Realizar obras desse porte é o sonho de todo artista.
GU – As questões filosóficas contemporâneas estão presentes nos seus
livros, Retrato Desnatural e Cantos do Mundo. Você poderia citar alguns
desses aspectos e por que decidiu abordá-los em suas obras? Como
utilizar a literatura nos dias de hoje, em um mundo predominantemente
digitalizado, para propor discussões e reflexões para os leitores?
EN – É sempre muito complexo falar do que a própria pessoa realizou. A
sensação é que disponho de um conjunto de questões que me acompanham
faz muito tempo e que vou elaborando ora via ensaio, ora via ficção. Esses
temas e formas obviamente se modificam de acordo com as experiências, as
quais suscitam também novas indagações. Mas o modo de trabalhar é
bastante distinto para cada uma das atividades. Quando escrevo um ensaio, ou
quando, por exemplo, escrevi a tese de doutorado, em geral tenho bastante
consciência dos temas e das discussões estéticas e éticas que desejo levantar.
Claro que, como se trata de uma pesquisa, de uma busca, muita coisa
descubro durante a própria escrita do ensaio. Para mim, qualquer texto, mesmo
o mais estritamente acadêmico, é uma ventura e uma aventura, na medida em
que deixo sempre um fator de acaso e surpresa comparecer até o ponto final.
O fato de escrever sobre poesia, ficção, artes plásticas e cinema ajuda muito
nesse aspecto mais livre, em que o pensamento efetivamente pode alçar voo.
As artes trabalham basicamente com um cruzamento entre realidade e
imaginação, e portanto nada mais natural do que, ao escrever sobre ou a partir
de obras artísticas, eu deixe também a imaginação funcionar. Foi assim que fiz
minha tese de Doutorado, o livro mencionado Derrida e a literatura, e foi assim
que acabei de escrever Clarice Lispector: uma literatura pensante (Record).
Para mim, são todos livros muito assinados, com as qualidades e defeitos
inerentes a qualquer assinatura.
Já quando escrevo ficção e poesia, o procedimento é diferente: com raras
exceções, normalmente primeiro vem uma forte intuição, um desejo difuso de
narrar uma história ou de compor um poema; em seguida vem a deliberação de
quando e como fazê-lo. Em outras palavras, o ensaio é mais projetado e
calculado; às vezes chego a fazer pequenos esquemas para organizar melhor
as ideias, embora a versão final possa ter uma ordenação completamente
diferente. Enquanto na ficção e na poesia, o projeto e o cálculo vêm depois,
quase como resultado do processo e não como ponto de partida. Retrato
desnatural fiz em aproximadamente três anos; Cantos do mundo, em dois. Mas
no fundo ambos são o resultado de toda uma vida de reflexões, vivências,
encontros, desencontros, alegrias, prazeres, insuficiências, respirações, muitos
acasos. Para concluir, minhas questões ensaísticas, literárias e filosóficas são
obsessivas mas, espero, também inesgotáveis: o humano, a diferença sexual,
o mundo rural (onde nasci), o mundo urbano (onde vivo), as complexas
relações com a alteridade, o contato entre as culturas, as relações de afeto, o
desejo, os animais, as plantas, as coisas etc. O escritor precisaria estudar
várias profissões para dar conta de tudo o que lhe interessa. Ser escritor é um
modo de realizar meu sonho de infância e adolescência, isto é, ter acesso a um
máximo de saber para poder utilizá-lo imaginariamente. Pois a literatura e a
arte, para mim, não passam disto: combinações complexas do real e da
imaginação por meio da linguagem.
Quanto ao par “mundo digital e literatura”, seria preciso no mínimo um ensaio,
um romance ou outra entrevista para tratar bem do assunto. O que posso dizer,
de modo bastante sucinto, é que sou um grande entusiasta da cultura digital,
pois creio que a literatura tem tudo a ganhar com esse novo suporte. Todavia,
creio que a internet e outros meios digitais são realmente bem aproveitados
quando sustentados por uma boa educação escolar e uma ótima cultura
livresca. Espero que o livro, o qual tanto serviu à poesia, à ficção e à filosofia,
perdure durante milênios, ainda que de forma virtual...
Esta
entrevista
se
encontra
também
disponível
no
Site
Universidade:
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/03/evandonascimento-aborda-os-90-anos-da-semana-da-arte-de-1922.html
Globo