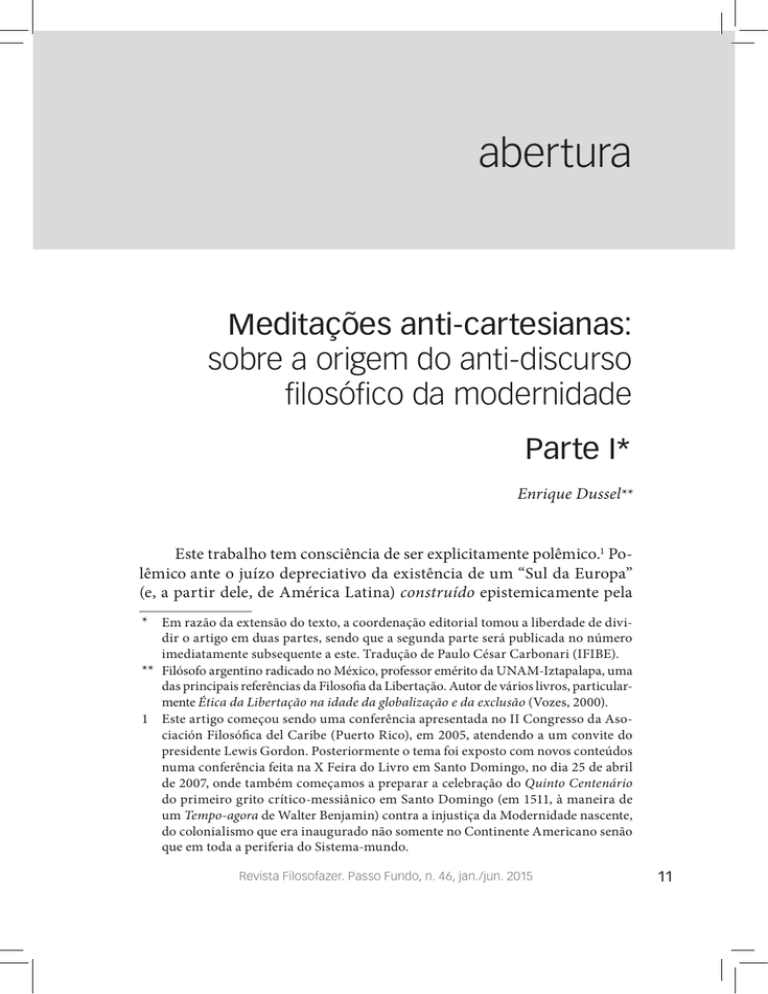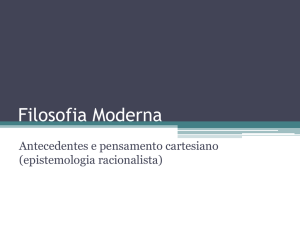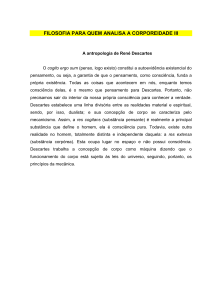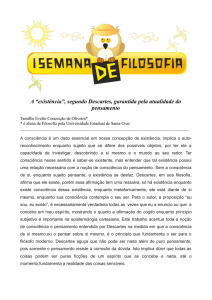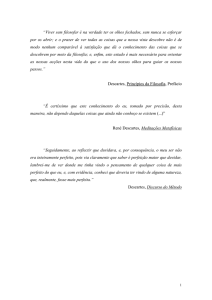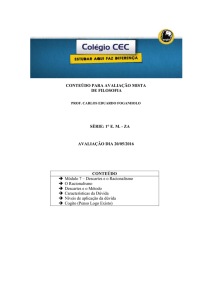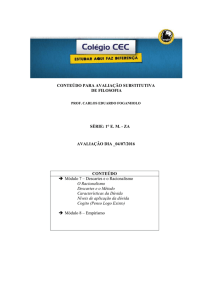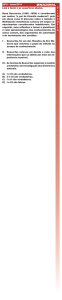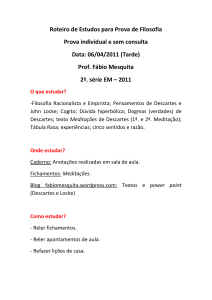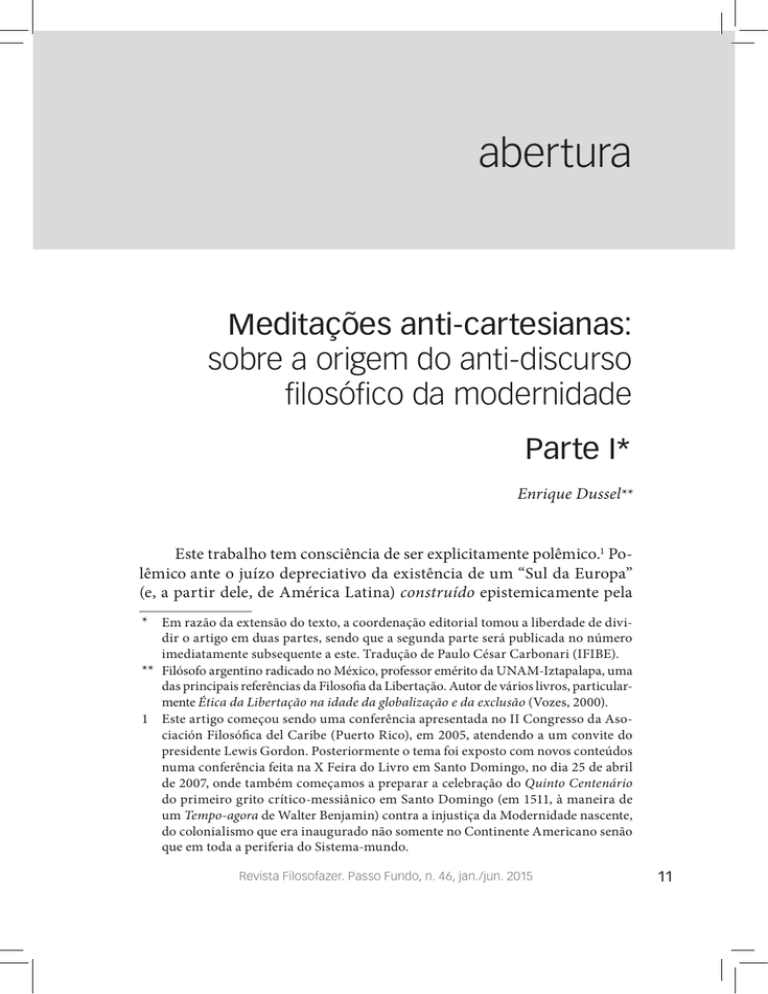
abertura
Meditações anti-cartesianas:
sobre a origem do anti-discurso
filosófico da modernidade
Parte I*
Enrique Dussel**
Este trabalho tem consciência de ser explicitamente polêmico.1 Polêmico ante o juízo depreciativo da existência de um “Sul da Europa”
(e, a partir dele, de América Latina) construído epistemicamente pela
* Em razão da extensão do texto, a coordenação editorial tomou a liberdade de divi-
dir o artigo em duas partes, sendo que a segunda parte será publicada no número
imediatamente subsequente a este. Tradução de Paulo César Carbonari (IFIBE).
** Filósofo argentino radicado no México, professor emérito da UNAM-Iztapalapa, uma
das principais referências da Filosofia da Libertação. Autor de vários livros, particularmente Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão (Vozes, 2000).
1 Este artigo começou sendo uma conferência apresentada no II Congresso da Asociación Filosófica del Caribe (Puerto Rico), em 2005, atendendo a um convite do
presidente Lewis Gordon. Posteriormente o tema foi exposto com novos conteúdos
numa conferência feita na X Feira do Livro em Santo Domingo, no dia 25 de abril
de 2007, onde também começamos a preparar a celebração do Quinto Centenário
do primeiro grito crítico-messiânico em Santo Domingo (em 1511, à maneira de
um Tempo-agora de Walter Benjamin) contra a injustiça da Modernidade nascente,
do colonialismo que era inaugurado não somente no Continente Americano senão
que em toda a periferia do Sistema-mundo.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
11
Ilustração do centro e norte da Europa desde meados do século XVIII.
A Ilustração construiu (foi um making inconscientemente exibido) três
categorias que ocultaram a “exterioridade” europeia: o orientalismo (descrito por Edward Said), o ocidentalismo eurocêntrico (fabricado entre
outros por Hegel), e a existência de um “Sul da Europa”. Este “Sul” foi
(no passado) centro da história, no entorno do Mediterrâneo (Grécia,
Roma, os impérios de Espanha e Portugal, sem esquecer do mundo
árabe de Magreb, já desfeito dois séculos antes) que, porém, neste momento já era um resto cultural, uma periferia cultural, porque para a
Europa do século XVIII, que realizava a Revolução Industrial, todo o
mundo Mediterrâneo era um “mundo antigo”. No dizer de Pauw: “nos
Pirineus começa a África”, e as Américas Ibéricas, como é evidente,
eram situadas como colônias das já semiperiféricas Espanha e Portugal.
Dessa forma, a América Latina simplesmente “desapareceu do mapa e
da história” até hoje, começo do século XXI. Pretender reinstalá-las na
geopolítica mundial e na história da filosofia é a tentativa deste curto
trabalho, que certamente será criticado por ser “pretensioso”.
§ 1. René Descartes foi o primeiro filósofo moderno?
Começamos com uma indagação sobre uma das histórias europeias
da filosofia dos últimos dois séculos. As histórias não só indicam o tempo dos acontecimentos, mas também o lugar geopolítico. A Modernidade surge, segundo a interpretação corrente e que pretenderemos refutar,
num “lugar” e num “tempo”. O “deslocamento” geopolítico desse “lugar”
e desse “tempo” significará igualmente um deslocamento “filosófico”,
temático, paradigmático.
a. Onde e quando foi tradicionalmente situada a origem da
Modernidade?
Stephen Toulmin escreve:
Algumas pessoas datam a origem da modernidade no ano de
1436,2 com a adoção dos tipos móveis por Gutenberg; alguns em
2 Lembremos que os chineses haviam descoberto empírica e historicamente a imprensa
séculos antes.
12
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
1520, com a revolta de Lutero contra a autoridade da Igreja; outros
em 1648, com o fim da Guerra dos Trinta Anos; outros com a
Revolução Americana, de 1776, ou Francesa, de 1789; enquanto que os tempos modernos começam para alguns apenas em
1895 [...] (1992, p. 5). A moderna ciência e tecnologia podem,
assim, ser consideradas como a fonte de uma das bênçãos, ou
de problemas, ou ambos. Em qualquer dos casos, a sua origem
intelectual é a década de 1630, a mais plausível data do começo
da Modernidade (1992, p. 9).
A origem da Modernidade, de modo geral e inclusive para J. Habermas,3
tem um “movimento” de Sul a Norte, de Leste a Oeste, na Europa do
século XV ao século XVII que é aproximativamente o seguinte: a) do
Renascimento italiano do Quatrocento (não considerado por Toulmin);
b) a Reforma luterana alemã; c) a Revolução científica do século XVII; e
culmina com d) a Revolução política burguesa inglesa, norte-americana
e francesa. Observe-se a curva do processo: da Itália, a Alemanha, a França
para a Inglaterra e Estados Unidos. Mas, devemos refutar esta construção
histórica “ilustrada” do processo de origem da Modernidade por ser una
visão “intra” europeia, eurocêntrica, autocentrada, ideológica, feita desde
a centralidade do Norte da Europa e a partir do século XVIII e que foi
imposta até os nossos dias.
Vislumbrar a origem da Modernidade com “novos olhos” exige se
colocar fora da Europa germano-latina e vê-la como um observador externo (“comprometido” evidentemente, porém não sendo o “ponto zero”
da observação). A chamada Europa medieval, feudal, ou noite escura,
não é senão uma miragem eurocêntrica que não se reconhece a si mesma a partir do século VII como uma civilização periférica, secundária,
ilhada, “enclausurada”, “sitiada” pelo e ante o mundo muçulmano mais
desenvolvido e conectado com a história da Ásia e da África até 1492. A
Europa precisou se relacionar com as grandes culturas através do Mediterrâneo oriental que, desde 1453 (em razão da tomada de Constantinopla) era efetivamente otomano. A Europa estava “bloqueada” desde
o século VII, impedida (apesar das tentativas das Cruzadas) de todo
contato com o mais denso da cultura, da tecnologia e da economia do
3 Jürgen Habermas (1989, p. 15) inclui “o descobrimento do Novo Mundo”, porém,
seguindo as teses de Max Weber, não poderá tirar nenhuma consequência dessa
indicação puramente acidental.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
13
“mundo antigo” (que chamamos a “terceira fase do sistema inter-regional
asiático-afro-mediterrâneo”) (DUSSEL, 2007).
Estudamos esta relação geográfico-ideológica em várias obras.4
Aqui apenas resumimos o estado da questão. A Europa nunca foi o centro
da história mundial até o final do século XVIII (digamos, até 1800, e
fazem somente dois séculos). Será centro em consequência da Revolução
Industrial. Porém, em razão de uma miragem, como dissemos, aparece
aos próprios olhos obnubilados do eurocentrismo como se toda a história
mundial anterior (posição de M. Weber) tivesse a Europa como centro.
Isto distorce a origem do fenômeno da Modernidade. Vejamos mais uma
vez o caso de Hegel.
Em todas as Lições Universitárias Hegel expõe seus temas tendo
como horizonte de fundo certa categorização histórica mundial. Em
suas Lições da Filosofia da História, Hegel (1970, vol. 12) divide a história
em quatro momentos: “o mundo oriental”,5 “o mundo grego”, “o mundo
romano” e o “mundo germano”. Fica claro o sentido esquemático desta
construção ideológica, completamente eurocêntrica – é mais, é germano-cêntrica do Norte da Europa (já produziu a negação do “Sul da Europa”). Por outro lado, o “mundo germânico” (não se diz “europeu”) se
divide em três momentos: “o mundo germânico-cristão” (descartando
o “latino”), “a Idade Média” (sem situá-la geopoliticamente na história
mundial), “o tempo moderno”. Este último, por sua vez, tem três momentos: “a Reforma” (fenômeno germânico), “a Reforma na constituição
do Estado” moderno, e “a Ilustração e a Revolução”.
Nas Lições de Filosofia da Religião (HEGEL, 1970, vol. 16-17), novamente a história se divide em três momentos: a) “a religião natural”
(que compreende as religiões “primitivas”, chinesa, veda, budista, dos
persas e sírios); b) “a religião da individualidade espiritual” (judia, grega,
romana), e, como sua culminação, c) “a religião absoluta” (o cristianismo).
O Oriente é sempre propedêutico, infantil, dá os “primeiros passos”. O
“mundo germânico” (a Europa do “norte”) é o final da história.
Nas Lições de Estética (HEGEL, 1970, vol. 13-15), a história é considerada como o “desenvolvimento do ideal das formas particulares da beleza
artística” em três momentos: a) “as formas de arte simbólica” (zoroastrismo,
brahamânico, egípcio, hindu, maometano e a mística cristã); b) “a forma de
4 Ver: DUSSEL, E. The Invention of the Americas (1995) e também DUSSEL, 1998
(introdução); 2001 (2ª parte); 2007; etc.
5 Afirma já a ideologia do “orientalismo”.
14
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
arte clássica” (os gregos e romanos), e c) “a forma de arte romântica”. Este
último se divide em três: a) o do cristianismo primitivo; b) o do “cavalheiresco” na Idade Média, e c) o da “autonomia formal das particularidades
individuais” (que, como nos casos anteriores, é a Modernidade).
Porém, nada melhor para nosso tema que as Lições de História da
Filosofia (HEGEL, 1970, vol. 18-20). A história começa com a) a “Filosofia
Oriental” (segundo o “orientalismo” recentemente construído), com a
filosofia chinesa e hindu (vedanta em Shankara e budista em Gotama e
outros); passa depois para b) a “Filosofia grega” (sem tratar da filosofia
romana); segue para c) a “Filosofia da Idade Média” (em dois momentos:
a) “Filosofia árabe”, incluindo os judeus, e a b) “Filosofia escolástica”,
que culmina com o Renascimento e a Reforma luterana;6 e, por último,
c) a “filosofia moderna” (Neuere Philosophie). Aqui devemos nos deter.
Hegel suspeita de algumas questões, porém ele não sabe dar-lhe uma
razoabilidade suficiente. Escreve sobre a Modernidade:
O ser humano adquire confiança em si mesmo (Zutrauen zu sich
selbst) [...] Com a invenção da pólvora7 desaparece a inimizade
pessoal da guerra [...] O homem8 descobre a América, seus tesouros e seus povos, descobre a natureza, se encontra a si mesmo
(sich selbst) (HEGEL, III, Introd., 1970, vol. 20, p. 62).
Tendo dito isso acerca das condições geopolíticas exteriores à Europa,
Hegel se fecha numa reflexão puramente centrada sobre a Europa. Nas
primeiras páginas sobre a Filosofia Moderna, pretende explicar a nova
6 Isto significa que, para Hegel, o Renascimento não é parte constitutiva da Modernidade. Neste ponto, por diversas razões, coincidimos com Hegel contra Giovanni
Arrighi, por exemplo. Numa visão “eurocêntrica” – como é o habitual – Hegel indica
que: “Mesmo que já Wiclef, Hus e Arnaldo de Brescia tivessem se afastado do caminho da filosofia escolástica [...] é Lutero quem dá a arrancada para o movimento da
liberdade de espírito” (Lecciones de Historia de la Filosofía, II, 3, C; HEGEL, 1970, vol.
20, p. 50). Se o Atlântico não tivesse sido aberto para a Europa do Norte, Lutero teria
sido um Wiclef ou Hus do começo do século XVI sem importância posterior.
7 Parece que não sabe que a pólvora, o papel, a imprensa, a bússola e muitos outros descobrimentos técnicos tinham sido inventados a séculos pela China. Eurocentrismo
infantil de pura ignorância.
8 Como se os indígenas americanos não fossem “humanos” que haviam “descoberto” o seu
próprio continente há muitos milênios. Teria que esperar os europeus para que “o homem” descobrisse a América. Ideologema vulgar não digno de um filósofo de renome.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
15
situação do filósofo ante a realidade sócio histórica. Seu ponto de partida
negativo é a Idade Média (para mim o “terceiro estágio do sistema inter-regional”). “Nos séculos XVI e XVII é quando reaparece a verdadeira
filosofia”.9 Em primeiro lugar, para Hegel esta filosofia nova se desdobra:
a) por um lado há um realismo da experiência que contrapõe “o conhecimento e o objeto sobre o qual recai” (HEGEL, 1970, p. 68), que tem uma
vertente a1) como observação da natureza física, e outra a2) como análise
política do “mundo espiritual dos Estados” (HEGEL, 1970, p. 67). Por outro lado, b) há uma direção idealista, onde “tudo reside no pensamento e
o próprio Espírito é todo o conteúdo” (HEGEL, 1970, p. 67). Em segundo
lugar, Hegel detalha os problemas centrais da nova filosofia (Deus e sua
dedução desde o espírito puro; a concepção do bem e do mal; a questão
da liberdade e da necessidade). Em terceiro lugar, ocupa-se de duas fases
históricas. “a) Primeiro, anuncia a conciliação daquelas contradições sob
a forma de várias tentativas […] ainda não suficientemente claras e precisas; aqui temos Bacon [nasce em Londres em 156110] e Jacobo Boehme”
(HEGEL, 1970, p. 70). Ambos nascem na segunda metade do século XVI;
“b) A conciliação metafísica. Com ela se inicia a autêntica filosofia deste
tempo: começa com Descartes” (HEGEL, 1970, p. 70).
Meditemos agora sobre o que já acumulamos. Em primeiro lugar,
como é evidente, Hegel introduz Jacobo Boehme (nasce em Alt-Seidenberg em 1575), que é um alemão, o místico e popular pensador da
“interioridade germânica”, uma nota folclórica simpática e nacionalista;
porém, nada mais do que isso. Em segundo lugar, mesmo que pretenda
falar de “aspectos histórico-externos das circunstâncias de vida dos filósofos” (HEGEL, 1970, p. 70), não vai além de indicar aspectos sociológicos que fazem do filósofo moderno não um monge e sim um homem
comum da rua, que “não se isola do resto da sociedade” (HEGEL, 1970,
p. 71-72). Por nada imagina em sua ignorância norte-europeia o cataclismo geopolítico mundial que se produziu desde o final do século XV em
todas as culturas da Terra (no extremo Oriente, no Sudeste asiático, na
Índia, na África subsaariana e na Ameríndia pela invasão europeia ao
“quarto continente”).
9 “Reaparece” a filosofia da antiguidade, ainda que com diferenças, sem descobrir
cabalmente o giro geopolítico radical da Modernidade – que se situa pela primeira
vez num Sistema-mundo completamente impossível para gregos e romanos.
10 É preciso lembrar as datas, já que em sua velhice viverá até o começo do século
XVII, nascendo 70 anos depois do início da “Invasão” da América por Cristóvão
Colombo, quando Bartolomé de Las Casas estava próximo a sua morte (+ 1566).
16
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
É nesta visão eurocêntrica e provinciana que Descartes aparece no
discurso histórico de Hegel como aquele que “começa a autêntica filosofia da época moderna” (Cartesius fängt eigentlich die Philosophie der
neueren Zeit an) (HEGEL, 1970, p. 70). Vejamos a questão nos detendo
um pouco mais.
b. Descartes e os jesuítas
René Descartes nasceu na França, em La Haye, perto de Tours, em
1596, e morreu em 1650. Ficou órfão pouco depois de seu nascimento
e foi educado por sua avó. Viveu no começo do século XVII. Em 1606
entrou no colégio jesuíta de La Flèche. Ali recebeu até 1615 sua única
formação filosófica formal (GAUCKROGER, 1997; COTTINGHAM,
1995). Abandonou sua casa aos dez anos e o padre jesuíta Chastellier
passou a ser como que o seu segundo pai. A primeira obra filosófica
que estuda é a denominada Disputationes Metaphysicae de Francisco
Suárez, publicada em 1597, um ano depois do nascimento de Descartes.
Sabe-se que o espanhol basco Inácio de Loyola (que nasceu quase
com a Modernidade, em 1491, um ano antes do “descobrimento do
Atlântico” ocidental por Colombo; e que morreu em 1556, quarenta
anos antes do nascimento de Descartes), estudante de filosofia em Paris,
fundou colégios para formar filosoficamente clérigos e jovens nobres ou
de estamentos burgueses. Em 1603 os jesuítas foram chamados pelo rei
Enrique (depois de terem sido expulsos da França, em 1591), fundando
o colégio de La Flèche, em 1604, alojado num enorme palácio (quatro
hectares quadrados) dado aos padres pelo próprio rei. A formação, segundo o Concílio de Trento (o concílio que “moderniza” racionalizando
todos os aspectos da igreja católica), era completamente “moderno” em
sua ratio studiorum. Cada jesuíta constituía uma subjetividade singular,
independente, moderna, sem cantos nem orações no coro de uma comunidade como no caso dos monges beneditinos medievais, realizando
diuturnamente um “exame de consciência” individual.11 Ou seja, o jovem
11 Em 1538 falava-se já “do examinar a consciência com aquele modo das linhas”
(Autobiografia, 99; LOYOLA, 1952, p. 109). Num caderno, numa linha para cada
dia, eram indicadas as faltas cometidas, contabilizando-as por hora, desde a manhã, ao levantar-se, depois do meio dia e à noite (três vezes por dia). Ver Ejercicios,
Primeira semana [24] (LOYOLA, 1952, p. 162).
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
17
Descartes devia, cada dia,12 em três oportunidades, retirar-se em silêncio,
refletir sobre sua própria subjetividade e “examinar” com extrema claridade e autoconsciência a intenção e o conteúdo de cada ação, das ações
cumpridas a cada hora, julgando o que havia feito sob o critério de que
“o homem é criado para louvar, fazer reverência e servir a Deus”.13 Eram
uma rememoração dos exercitatio animi de Agostinho de Hipona. Era
una prática cotidiana de ego cogito: “Eu tenho autoconsciência de ter
feito isto e aquilo”; tudo disciplinadamente dominava a subjetividade
(mesmo antes do calvinismo proposto por M. Weber como a ética do
capitalismo). Os estudos eram extremamente metódicos:
Não estudem as faculdades principais por compêndios e nem
imperfeitamente, antes, baseiem-se fortemente nelas, dando-lhes
tempo e estudo competente […] As faculdades que todos ordinariamente devem aprender são: letras de humanidades, lógica,
filosofia natural e, tendo condições, algumas matemáticas e moral,
metafísica e teologia escolástica [...] Haja a cada dia uma hora de
disputas em qualquer das faculdades em que se estude […] Aos
domingos, depois do almoço, haja disputas públicas.14
Assim, o jovem Descartes, de 1606 a 1611, teve que praticar lectio,
repetitiones, sabbatinae, disputationes, e, ao final de cada mês, a menstruae
disputationes.15 Nesses exercícios se lia Erasmo, Melanchton e Sturm e
textos do “Irmão da vida comum”, mesmo que o mais referido fosse o
jesuíta espanhol F. Suárez (que era vivo na época em que Descartes estudava
filosofia e que morreu somente em 1617, na época em que Descartes
abandonou o colégio). Tinha começado sua formação propriamente filosófica pela Lógica (aproximadamente em 1610, depois de seus estudos
clássicos de latim). A estudou no texto consagrado e usado em todos os
12 “Usem o examinar a cada dia suas consciências” (Constituciones, III, 1 [261])
(LOYOLA, 1952, p. 430).
13 Constituciones [23] (LOYOLA, 1952, p. 161).
14 Reglas de San Ignacio, II. Constituciones de los colegios [53-64] (LOYOLA, 1952,
p. 588-590).
15 Então, não é extraordinário que a obra magna de F. Suárez tenha por título o recomendado pela Regla de San Ignacio: Disputationes Metaphysicae, e que o próprio
Descartes tenha escrito, ele mesmo, Regles sur la direction de l’esprit (mesmo que a
palavra “direction de l´esprit” nos recorde os “diretores espirituais” dos colégios jesuítas).
No Discours de la Méthode, II e III, continua falando de “regras”: “Principales regles
de la méthode”, “Quelques regles de la morale”. Lembranças da juventude?
18
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
colégios europeus da Companhia, razão pela qual teve inúmeras edições
em todo o velho continente, desde a Itália, a Espanha, a Holanda e a
Alemanha e também a França. Trata-se da Logica mexicana sive Commentarii in universam Aristotelis Logicam (Köln, 1606, ano que marcou
a entrada de René no colégio de La Flèche) do filósofo mexicano Antonio Rubio (1548-1615).16 Quem poderia pensar que Descartes estudou a
parte dura da filosofia, a Lógica, a Dialética, numa obra de um filósofo
mexicano! Isto constitui uma parte de nosso argumento. Em 1612 introduziu-se nas matemáticas e em astronomia, partes componentes do currículo, como comentamos. Da metafísica (as suarecianas Disputationes
Metaphysicae é a primeira obra que foi lida por Descartes, segundo sua
própria confissão e como já indicamos acima) e da ética se ocupará nos
anos de 1613 e 1614.
Como veremos mais adiante, esta obra de Suárez (antecipada por
sugestões de Pedro de Fonseca em Coimbra, como explicaremos depois)
não é um comentário à Metafísica de Aristóteles, senão que a primeira
obra sistemática sobre o tema (e que antecipa todas as ontologias dos
séculos XVII e XVIII, como as de Baumgarten, Leibniz ou Wolff, a qual
todos eles recorreram explicitamente).
Em todos os momentos do “argumento cartesiano” podem ser observadas influências de seus estudos com os jesuítas. Desde a reflexão radical
da consciência sobre si mesma no ego cogito, até o “resgate” do mundo
empírico graças ao recurso ao Infinito (questão tratada na Disputatio 28
da citada obra de Suárez), demonstrando anselmianamente (questão
tratada na Disputatio 29) sua existência, para, desde ele reconstruir
um mundo real matematicamente conhecido. O método (que tomava
a matemática como exemplar) era um dos temas que eram discutidos apaixonadamente nas aulas dos colégios jesuítas. Estes, como é
evidente, procedem do Sul da Europa, da Espanha, do século XVI,
do Mediterrâneo recentemente voltado ao Atlântico. Então, o século
XVI não terá algum interesse filosófico? Descartes não será fruto de
16 Mesmo que de origem peninsular, chegou ao México aos 18 anos e estudou toda sua
filosofia na Universidad de México (fundada em 1553). Ali escreveu sua obra, por
isso tem por nome Logica mexicana (mesmo que o título seja em latim). No México
escreveu também uma Dialecticam (publicada posteriormente, em 1603, em Alcalá),
uma Physica (publicada em Madrid, em 1605), um De Anima (Alcalá, 1611), e um In
de Caelo et Mundo (Madrid, 1615). Outros mestres eram igualmente estudados no
colégio, como o português Pedro de Fonseca (professor de Coimbra desde 1590).
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
19
uma geração anterior que preparou o caminho? Não haverá filósofos
ibero-americanos modernos anteriores a Descartes e que abriram a
problemática da filosofia moderna?
c. Descartes e o agostinismo do ego cogito: o “novo paradigma”
moderno
O tema do ego cogito17 tem antecedentes ocidentais e mediterrâneos,
mesmo que isto não lhe tire nada de sua novidade. As referências a
Agostinho de Hipona são inocultáveis, mesmo que Descartes pretendesse aparentar não ter se inspirado no grande retórico romano do Norte
da África. Tampouco admitia as influências de Francisco Sánchez e de
nenhum outro. Com efeito, em seu tempo, Agostinho argumentava contra
o ceticismo dos acadêmicos; Descartes contra o ceticismo dos libertinos.
Por isso é que recorre à indubitabilidade do ego cogito.
O tema retorna sempre à “consciência de si” (ou autoconsciência),
questão filosófica que se referia também a um texto clássico de Aristóteles
na Ética a Nicômacos, no qual se inspirou Agostinho e, posteriormente,
entre outros, R. Descartes:
Existe uma faculdade pela qual sentimos nossos atos […]. O que
vê, sente (aisthánetai)18 que vê, o que ouve [sente] que ouve, o que
caminha [sente] que caminha, e assim nas outras coisas, sentimos
(aisthanómenon) o que fazemos. Por isso podemos sentir (aisthanómeth) que sentimos (aisthanómetha) e conhecer (noômen) que
conhecemos. Porém, sentimos e pensamos porque somos, porque
ser (eînai) é sentir e pensar (EN, IX, 9, 1170a, 29-34).19
Trata-se, então, do fenômeno da “autoconsciência”, que deve ser
definido, segundo Antonio Damasio, como um “sentimento” (feeling)
17 Os textos centrais estão na IV Parte do Discours de la méthode (DESCARTES,
1953, p. 147ss) e na “Segunda Meditação” das Méditations touchant la Première
Philosophie (Meditationes de prima philosophia que, em sua primeira versão francesa,
assemelhava-se mais a Suárez: Méditations métaphysiques).
18 É um ato de “sensibilidade, para o estagirita, e hoje igualmente para A. Damasio,
para quem o cogito é um “feeling” (DAMASIO, 1994).
19 Esta autoconsciência dos atos humanos era denominada pelos estóicos synaísthesis
(ARNIM, J. V. Stoicorum veterum Fragmenta. Stuttgart, 1964, vol. 2, p. 773-911),
e por Cícero de tactus interior. É toda a questão das “hight self consciousness” de
Edelman, 1992.
20
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
(DAMASIO, 2003) ligado neurologicamente aos centros da fala (EDELMAN,
1992). Agostinho havia escrito de maneira análoga no De Trinitate:
Vivere se tamen, et meminisse et intelligere et velle et cogitare et
scire et iudicare quis dubitet? Quando quidem etiam si dubitat,
vivit (De Trinitate, X, 10, n. 14). Nulla in his veris academicorum
argumenta formido dicentium: quid, si falleris? Si enim fallor,
sum (De Trinitate, XV, 12, 21).
É por isso que quando Mersenne, tão logo depois de ter lido o Discours de Descartes, advertiu seu amigo da semelhança de seu texto com
o de Agostinho no De civitate Dei, livro XI, capítulo 26. Descartes responde que lhe parece que Agostinho “havia se servido do texto com
outro sentido do uso que eu lhe dei” (GILSON, 1951, p. 191). Arnauld
reage da mesma maneira ao se referir ao texto De Trinitate já citado
acima. Tempos depois, em suas respostas às objeções contra as Meditaciones, Descartes sugere outro texto.20 Pode-se dizer, então, que, certamente, Descartes tinha lido e se inspirado em Agostinho, o que não
tira o sentido novo e profundo de seu argumento – que não somente
refuta o cético, senão que funda a subjetividade nela mesma, intenção
completamente ausente em Agostinho, que a havia fundado em Deus e,
ademais, nunca como subjetividade solipsista. Esta nova fundamentação,
intuída na experiência ontológica de 1619 junto ao rio Rhin, deve, de
todo modo, ser inscrita na tradição agostiniana:
O método de Agostinho é da mesma natureza do que o de
Descartes. [...] Enquanto matemático, Descartes decidiu partir
do pensamento, [e] não poderá, enquanto metafísico, partir de
outro pensamento que não seja o dele próprio. Porque decidiu
ir do pensamento à coisa não poderá definir seu pensamento de
outra maneira que não pelo conteúdo que seu próprio pensamento exibe à intuição que o apreende [...] Uma metafísica da
distinção entre corpo e alma tinha em Agostinho um forte apoio
[… o mesmo que] a prova da existência de Deus [… que] Santo
Anselmo tinha julgado necessário modificar e simplificar [... sendo]
a última saída que se lhe oferecia a Descartes (GILSON, 1951, p. 201).
20 “Si non esses, falli omnino non posses” (De libero arbitrio II, 3, n. 7). Ver a edição
de Ch. Adam-P.l Tannery (DESCARTES, 1996, vol. 7, p. 197ss).
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
21
Descartes tomava as matemáticas, no terceiro nível de abstração
de Francisco Suárez,21 como o modo exemplar de uso da razão. Descobria,
dessa forma, um novo paradigma filosófico, que, mesmo que fosse conhecido na filosofia anterior, nunca havia sido usado em sentido ontológico redutivo. A metafísica do ego individual moderno, o paradigma da
consciência solipsista (diria K.O. Apel), iniciava sua longa história.
d. A ratio mathematica, o racionalismo epistêmico e a
subjetividade como fundamento da dominação política
dos corpos coloniais, de cor, femininos
Antropologicamente (o que significa dizer ética e politicamente)
Descartes enfrentou uma aporia que nunca poderia solucionar. Por um
lado, necessitava que o ego do ego cogito fosse uma alma independente
de toda materialidade, de toda extensão. A alma era, para Descartes,
uma res, porém “coisa” espiritual, imortal, substância separada do corpo:
[...] Conheci por ele que eu era uma substância (substance) cuja
essência em sua totalidade ou natureza consistia somente em
pensar e que, para ser, não tinha necessidade de nenhum lugar,
nem de depender de qualquer coisa material. Assim que, este eu
(moi), ou seja, minha alma (âme), pela qual sou o que sou, era
inteiramente distinta do corpo e, mesmo que fosse mais fácil de
ser conhecida do que ele e mesmo que ele não fosse ela, não deixaria de ser tudo o que é ([Discours, IV] DESCARTES, 1953, p.
148; DESCARTES, 1996, vol. 6, p. 33).22
21 Já nos Commentarii Collegii Conimbricensis, sobre a Física (In octo libros Physicorum
Aristotelis), fala-se dos “tres esse abstractiones […]” (Art.3, Proemio; Antonii Mariz,
Universitatis Typographi, 1592, p. 9): a abstração da matéria sensível (filosofia natural), a abstração da matéria inteligível (a metafísica), e a abstração de toda matéria
(matemáticas). Neste livro fala-se da sabedoria originária “secunum Aegyptios”
(Proemium, p. 1), quando ainda não se havia caído no helenocentrismo absoluto, já
que foram eles os que descobriram que a intelecção do universo não pode ser alcançada sem “solitudine, atque silentio” (é a skholé que Aristóteles também atribuía aos
egípcios) (Ibid.). Mario Santiago de Carvalho (2007) mostra que neste curso de Física
já aparece um conceito moderno de tempo imaginário (que nos faz pensar em Kant).
22 No tomo de 1598 dos Commentarii Coll. Conimbrisenses, In tres libros de Animae
(ed. por Antonii Mariz em Coimbra) pode-se ler um Tractatus de Anima Separata
(Disp. 1, art. 1, p. 442ss) sobre a imortalidade da alma no qual Descartes pôde se
inspirar. Veja-se o artigo de Mario S. de Carvalho, no qual indica que, seguindo
22
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
Depois do aparecimento do Discours, em 1637, e das Meditations,
posteriormente, Arnauld entendia que Descartes “revelou-se demasiado”
(GILSON, 1951, p. 246) porque, ao afirmar a substancialidade independente da “alma” (res cogitans), era-lhe impossível voltar depois a uni-la ao
corpo igualmente substancial (res extensa). Regius, de maneira mais clara,
indicava que somente lhe restava como saída uma unidade acidental
(per accidens) da alma e do corpo.
Descartes precisava afirmar a substancialidade da alma para ter,
ante os céticos, todas as garantias suficientes da possibilidade de uma
mathesis universale; de uma certeza sem possibilidade de dúvida. Porém,
para poder integrar o problema das sensações, da imaginação e das paixões, devia definir a maneira como o corpo (uma máquina quase-perfeita, que consiste somente em quantidade) poderia fazer-se presente na
alma. Ademais, depois de assegurar-se da existência de Deus (pela demonstração anselmiana puramente a priori), deveria agora igualmente
poder ter acesso ao “mundo exterior”, físico, real. O corpo era a mediação necessária. Caía, dessa forma, num círculo: para se abrir ao mundo
exterior necessitava ter por pressuposto a união do corpo e da alma;
porém, a união do corpo e da alma se fundava no pressuposto de um
mundo exterior ao qual o corpo se abre pelos sentidos, a imaginação e
as paixões postas em questão pelo cogito. Gilson escreve: “A partir do
momento no qual Descartes decide unir a alma ao corpo, fica-lhe difícil
poder [...] distingí-los. Não podendo pensá-los senão que como dois,
deve, entretanto, senti-los como uno” (1951, p. 250).
Por ter tomado o corpo como uma máquina sem qualidade (puramente quantitativa: objeto da matemática, da mecânica), fica-lhe complicado responder hipoteticamente a duas objeções. A primeira: como
uma máquina física pode se comunicar com uma substância imaterial?
A hipótese dos “espíritos animais” (transportados pelo sangue) que se
unem ao corpo na “glândula pineal” não era convincente. A segunda:
como as paixões podem mover ou reter o ato cognitivo da alma? Por
mais que tente, nunca pode mostrar que as paixões, vinculadas ao corpo,
conectam-se à alma e ao seu ato cognitivo, movendo-a. Ademais, como
o corpo é somente uma máquina quantitativa e as paixões necessitam de
um organismo qualitativo, resultam numa ambiguidade total.
Pomponazzi e Caetanus os Conimbrisensis propunham: “La singularité de l´âme
[…] ne tient uniquement à son indépendance de la matière, mais aussi au fait d´avoir
un activité progre” (2006, p. 127), que Descartes tomará como paradigma.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
23
Essa máquina pura não notará sua cor da pele e nem sua raça (evidentemente Descartes só pensa desde a raça branca), nem obviamente
seu sexo (igualmente pensa só desde o sexo masculino), e é a de um
europeu (não toma em conta e nem se refere a um corpo colonial, de
um índio, de um escravo africano ou de um asiático). A indeterminação
quantitativa de toda qualidad será igualmente o começo de todas as abstrações ilusórias de “grau zero”23 da moderna subjetividade filosófica e
da constituição do corpo como mercadoria quantificável com um preço
(como acontece no sistema de escravidão o do salário no capitalismo).
§ 2. A crise do “antigo paradigma” e os primeiros filósofos
modernos – o ego conquiro: Guinés de Sepúlveda
Antes de Descartes, porém, havia acontecido todo o século XVI que
a história da filosofia moderna centro-europeia e norte-americana pretendeu desconhecer até o presente. A maneira mais direta de fundamentar a práxis de dominação colonial transoceânica – colonialidade
que é simultânea à própria origem da Modernidade e, por isso, novidade
na história mundial – é mostrar que a cultura dominante outorga à mais
atrasada (“torpeza”, que em latim Guinés chamará turditatem e I. Kant
unmündigkeit24) os benefícios da civilização. Este argumento, que está sob
toda a filosofia moderna (desde o século XVI ao XXI), é esgrimido com
grande maestria e ressonância pela primeira vez por Guinés de Sepúlveda
23 Santiago Castro-Gómez denomina “hybris do ponto zero” a pretensão desmedida
do pensar cartesiano pretender situar-se além de toda perspectiva particular. O
artista renascentista, ao traçar a linha do horizonte e o ponto de fuga da perspectiva
de todos os objetos que pintará, fará com que o próprio artista não apareça no
quadro, porém é sempre subjetivamente “o que observa e constitui o quadro” (é o
“ponto de fuga” ao inverso) e que toma a posição de “ponto zero” da perspectiva.
Entretanto, longe de ser um “ponto de vista” sem compromisso, é o ponto que constitui todos os compromissos. M. Weber, com sua pretensão de uma visão objetiva
e “sem valores” pressupostos, é o melhor exemplo dessa pretensão impossível do
“ponto zero”. O ego cogito inaugura esta pretensão na Modernidade.
24 Na qual consistiria o que chamamos de uma “falácia desenvolvimentista”; na crença de
que a Europa está mais “desenvolvida” – como “desenvolvimento” [Entwicklung] do
conceito para Hegel – que as outras culturas (APEL; DUSSEL, 2005, p. 107; DUSSEL,
1995 [The Invention of the Americas]).
24
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
(+1573), aluno do filósofo renascentista P. Pomponazzi (1462-1524), no
debate de Valliadolid de 1550 – que Carlos V (1500-1558) promoveu
ao modo dos Califas islâmicos para “tranquilizar sua consciência”.
Era uma disputa “atlântica” (já não era “mediterrânea”, entre cristãos
e “sarracenos”) que tratava de compreender o estatuto ontológico dos
“índios”, “bárbaros” diferentes daqueles da Grécia, da China ou do
mundo muçulmano, que Montaigne, com profundo sentido crítico definia como canibal (ou caribes25), ou seja, aos que “podemos chamar
bárbaros tomando em conta as nossas regras da razão” (De Canibales,
MONTAIGNE, 1967, p. 208).26 Guinés escreve:
Será sempre justo e conforme ao direito natural que tais gentes
[bárbaras] se submetam ao império de princípios e nações mais
cultas e humanas, para que, por suas virtudes e pela prudência de
suas leis, deixem a barbárie e se humanizem pelo culto à virtude
(SEPULVEDA, 1967, p. 85).
É a releitura de Aristóteles, o filósofo escravista grego no Mediterrâneo
oriental, agora situado no horizonte do Oceano Atlântico, ou seja, com
significado mundial, que o inspira:
E se rejeitam tal império se pode lhes impor por meio das armas e
tal guerra será justa segundo o direito natural o declara […] Em
suma: é justo, conveniente e conforme a lei natural que os homens
probos, inteligentes, virtuosos e humanos dominem sobre todos
os que não têm estas qualidades (SEPÚLVEDA, 1967, p. 87).
Este argumento tautológico, porque parte da superioridade da
própria cultura simplesmente por ser a própria cultura, se imporá em
toda a Modernidade. Declara-se como sendo não-humano o conteúdo
de outras culturas por ser diferentes da própria cultura, como quando
Aristóteles declarava os asiáticos e europeus como bárbaros porque, em
seu entender, “humanos” eram somente “os que habitavam as cidades
[helênicas]” (Política I, 1; 1253a, p. 19-20).
25 Os taínos das Antilhas não pronunciavam o “r”, daí que “caribe” e “canibal” era o mesmo.
26 Montaigne sabia muito bem que se situasse na perspectiva dos “chamados” bárbaros,
os europeus eram dignos de ser chamados de “selvagens” em razão dos atos irracionais
e brutais que cometiam contra estas pessoas.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
25
O mais grave do argumento filosófico é que se justifica a guerra justa
contra os indígenas pelo fato de se oporem para impedir a “conquista”
que, aos olhos de Guinés, é a “violência” necessária que deveria ser exercida
para que o bárbaro fosse civilizado, visto que, se fosse civilizado, já não
haveria motivo para a guerra justa:
Quando os pagãos não são mais pagãos [...] não há mais motivo
para castigá-los, nem para atacá-los com as armas, de tal modo
que, se no Novo Mundo se encontrasse alguma pessoa culta, civilizada e humana que não adorasse ídolos e sim ao Deus verdadeiro
[…] seria ilícita a guerra (SEPÚLVEDA, 1967, p. 117).
A causa da guerra justa não era porque eram pagãos, mas porque
não eram civilizados. É por esta razão que, para Guinés, as culturas do
império asteca, a dos maias e dos incas não eram mostra de alta civilização. E, por outro lado, pretender a possibilidade de encontrar outro
povo que adorasse ao “Deus verdadeiro” (europeu, cristão) era uma condição absurda. Por isso, resultava tautologicamente justificada a guerra
de conquista a povos “atrasados”. Porém, sempre sob o argumento que
inclui a “falácia desenvolvimentista”:
Observa, porém, o quanto se enganam e o quanto estou em desacordo com semelhante opinião vendo, ao contrário, nessas instituições
[astecas ou incas] uma prova da barbárie rude e da inata servidão
destes homens […] Têm [certamente] um modo institucional
de república, porém nenhum deles possui qualquer coisa como
própria,27 nem uma casa, nem um campo, de que possam dispor
e nem deixar em testamento aos seus herdeiros [...] estão sujeitos
à vontade e aos caprichos [de seus senhores] e não à sua própria
liberdade [...] Tudo isso [...] é sinal certíssimo do ânimo de servos
e de submissão destes bárbaros (SEPÚLVEDA, 1967, p. 110-111).
E inclui de maneira cínica que os europeus educam aos indígenas
na “virtude, na humanidade, na verdadeira religião [que] são mais valiosas do que o ouro e que a prata” (SEPÚLVEDA, 1967, p. 110-111)28
27 Adiantando-se a J. Locke e Hegel, põe a “propriedade privada” como condição de
humanidade.
28 Numa das viagens de João Paulo II à América Latina, um indígena equatoriano
entregou ao Papa uma Bíblia num gesto que pretendia devolver-lhe a religião que
tinha pretendido lhe ensinar e lhe pediu que lhe devolvesse as riquezas extraídas
das Índias ocidentais.
26
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
que os europeus extraem brutalmente das minas americanas. Uma vez
provada a justiça da expansão europeia como uma obra civilizadora,
emancipadora, da barbárie da qual estavam imbuídos, todo o restante
(a conquista por armas, a espoliação do ouro e da prata e o declarar aos
índios “humanos” em abstrato, porém não suas culturas, a organização
política na qual o poder reside nas instituições coloniais, a imposição de
uma religião estrangeira de maneira dogmática, etc.) resulta justificado.
Algum tempo antes, o professor de Paris, Juan Mayor (1469-1550),
escotista escocês, tinha escrito seu Comentario a las Sentencias referindo-se aos índios americanos como: “aquele povo vive bestialmente (bestialiter) [...] razão pela qual, o primeiro que vier a conquistá-lo imperará
justamente sobre eles, porque são por natureza escravos (quia natura
sunt servi)” (MAYOR, 1510, dist. XLIV, q. III).
Todo o argumento se fundava politicamente, em última instância,
no direito que o Rei da Espanha tinha para tal domínio colonial. No
livro I, título I, Lei 1 da Recopilación de las Leyes de los Reynos de las
Indias (1681) se lê: “Deus nosso Senhor, por sua infinita misericórdia e
bondade, serviu-se dar-nos sem mérito nosso, tão grande parte no Senhorio
deste mundo [...]” (1943, vol. 1, p. 1). Essa concessão, outorgada pela bula
Inter caetera, de 1493, assinada pelo papa, funcionava como justificativa
política (e/ou religiosa), porém não filosófica. Por isso, o argumento de
Guinés era necessário e complementar.
Há um último argumento que quero lembrar e é o seguinte: “A segunda causa é afastar torpezas nefastas […] e salvar de grandes injúrias
a muitos inocentes mortais que estes bárbaros imolavam todos os dias”
(SEPÚLVEDA, 1967, p. 155). Ou seja, estava justificada a guerra para resgatar as vítimas humanas oferecidas aos deuses, como no México. Vejamos
a surpreendente resposta de Bartolomé de Las Casas.
§ 3. A primeira e mais nascente filosofia acadêmico-metafísica
moderna: Francisco Suárez
O impacto da invasão moderna da América, da expansão da Europa
no Atlântico ocidental, produziu uma crise no antigo paradigma filosófico, porém sem formular outro inteiramente – como o pretenderá René
Descartes, partindo dos desenvolvimentos do século XVI. A produção
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
27
filosófica do século XVI na Espanha e em Portugal estava diariamente
articulada aos acontecimentos atlânticos, com a abertura da Europa
ao mundo. A Península Ibérica era o território europeu que vivia a
efervescência dos descobrimentos inesperados. Chegavam permanentemente notícias das províncias de ultramar, da América hispânica e das
Filipinas para a Espanha; do Brasil, da África e da Ásia para Portugal.
Os professores de filosofia das universidades de Salamanca, Valladolid,
Coimbra ou Braga (que desde 1581, em razão da unidade entre Portugal
e Espanha funcionavam como um único sistema universitário) tinham
alunos provenientes desses territórios ou partiam para eles e os temas
relacionados a esses mundos lhes eram inquietantes e conhecidos. Nenhuma universidade ao norte dos Pirineus tinha tal experiência mundial
na Europa. A segunda escolástica, assim chamada, não era uma simples
repetição do que havia sido dito na Idade Média latina. Nas universidades, a irrupção de uma Ordem religiosa completamente moderna, não
simplesmente por estar influenciada pela Modernidade, mas por ser
uma das suas causas intrínsecas,29 os jesuítas, impulsiona os primeiros
passos de uma filosofia moderna na Europa.
Interessa a uma história da filosofia latino-americana o pensamento filosófico da nova Ordem moderna dos Jesuítas, fundada em 1539, e
que chegou ao Brasil em 1549 e ao Peru em 1566, quando a conquista e
a organização institucional colonial das Índias já havia sido estabelecida definitivamente. Eles não puseram em questão a ordem estabelecida.
Ocuparam-se das duas raças “puras” do continente: os criollos (filhos
de espanhóis nascidos na América) e os povos originários ameríndios.
As raças, como provou Aníbal Quijano, eram o modo habitual de classificação social no começo da Modernidade. O mestiço e a raça africana não
tinham a mesma dignidade. Por isso, nos colégios e nas fazendas jesuítas
havia escravos africanos que trabalhavam para conseguir benefícios que
eram investidos nas missões indígenas.
Na península Ibérica houve um desenvolvimento simultâneo porque,
de fato, a América ibérica colonial e a Espanha e Portugal metropolitanos
formavam um mundo filosófico que se influenciava de maneira contínua
e mútua. Vejamos alguns desses grandes mestres da filosofia da primeira
Modernidade, que abrirão o caminho para a segunda Modernidade inicial
29 Os jesuítas rapidamente chegaram a ter quase que o monopólio do ensino da filosofia
na Europa católica, isto porque o protestantismo se inclinava a dar maior importância
exclusivamente à teologia.
28
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
(a de Amsterdam de Descartes e Spinoza, este último judeu hispânico
ou sefardita por sua formação filosófica).
Não se pode deixar Pedro de Fonseca (1528-1597) de lado, já que,
em Portugal, foi um dos criadores da chamada escolástica barroca
(1550-1660) (FERRATER MORA, 1963).30 De 1548 a 1551 estudou em
Coimbra, onde começou a lecionar em 1552. Os Comentários à Metafísica de Aristóteles (1577)31 é sua obra mais famosa. Seus escritos foram
publicados, em repetidas edições (seu comentário à Metafísica foi reeditado 36 vezes), em Lyon, Coimbra, Lisboa, Colônia, Veneza, Magúncia
e Estrasburgo.
Mesmo que não tenha conduzido pessoalmente, Fonseca formou
a equipe de jesuítas (entre eles Marcos Jorge, Cipriano Soares, Pedro
Gomes, Manuel de Góis e outros) que se propôs a modificar completamente a exposição da filosofia fazendo-a mais pedagógica, profunda
e moderna, incorporando os descobrimentos recentes, criticando os
métodos antigos e inovando em todas as matérias. O curso começou a
ser editado em 1592. Foram oito volumes sob o título de Commentarii
Collegii Conimbricensis, concluídos em 1606, um texto imprescindível
para os alunos e professores de filosofia em toda a Europa (Descartes e
Leibniz, por exemplo, elogiaram sua consistência).
Em sua famosa obra, Descartes se propôs a uma reflexão sobre o
método. Este era o tema preferido dos filósofos conimbrisenses do século XVI (PEREIRA, 1967, p. 280ss), que se inspiravam na problemática
aberta, entre outros, por R. Agrícola (1442-1485), que influenciará Pedro
Ramo, nos tratados sobre Dialética, que era onde se estudava o método.
Luis Vives (1492-1540) será outro influente pensador na questão do método. O próprio Fonseca, em sua famosa obra Instituciones Dialécticas
(1564), 32 identifica o “método” como “a arte de fazer raciocinar sobre
30A segunda escolástica em seu sentido mais tradicional é inaugurada com a obra de
Juan de Santo Tomás, Cursus philosophicum (1648), que, de todo modo, tem uma
clareza e profundidade excepcionais e que decairá com o passar das décadas.
31 Consultamos os Commentariorum Petri Fonsecae in libro Metaphysicorum Aristotelis,
editado por Franciscum Zanettum (Roma, 1577), com texto grego e tradução latina,
y simultaneamente os comentários.
32 Em Coimbra consultamos a Institutionum Dialecticarum, Libri Octo, publicado
por Iannis Blavii, 1564. Veja-se a edição de Joaquim Ferreira Gomes, das Instituições
Dialécticas, feita em 1964 pela Universidade de Coimbra. Começa dizendo: “Hanc
artem, qui primi invenerunt Dialecticam nominarunt, postrea veteres Peripatetici
Logicam appellaverunt” (cap. 1; p. 1).
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
29
qualquer questão provável” (I, 2). Depois de novas precisões, Fonseca
indica que a “ordem metódica tem três objetivos: solucionar problemas,
revelar o desconhecido e esclarecer o confuso” (PEREIRA, 1967, p. 340),
tendo o método matemático como exemplar, o que o conduz a um “essencialismo tópico-metafísico” sui generis que, de alguma maneira antecipa
o método cartesiano.
Por seu turno, Francisco Suárez (1548-1617), da mesma Ordem e
com o mesmo impulso renovador, arrematou a obra de seus predecessores.
Foi professor em Salamanca, desde 1570, e também em Coimbra e em
Roma. Suas Disputationes Metaphysicae (1597) podem ser consideradas
a primeira ontologia moderna. Deixou de lado o modo de exposição
dos Comentários a Aristóteles e pela primeira vez expôs um livro sistemático que marcará a todas as ontologias posteriores (já falamos de
Baumgarten, de Ch. Wolff – e, por meio deles, de Kant e Leibniz; e ademais, também de A. Schopenhauer a M. Heidegger e X. Zubiri). Teve um
exemplar espírito de independência, usou os grandes mestres filósofos,
porém nunca se ateve a somente um deles. Depois de Aristóteles e de
Tomás de Aquino, foi Duns Escoto o que mais o inspirou. A obra tem
uma ordem sistemática. Nas primeiras 21 Disputas trata da ontologia
em general. A partir da 28, como indicamos, entra na questão do “Ser
Infinito” e do “ser finito”. As Disputationes Metaphysicae33 tiveram 19
edições de 1597 a 1751, oito delas na Alemanha, onde substituíram os
manuais de Melanchton durante um século e meio.
Francisco Sánchez (1551-1623), pensador português, teria que ser
lembrado por sua possível influência em R. Descartes e por sua originalidade, visto que a obra inovadora que escreveu Quod nihil scitur (Que
nada se sabe), que apareceu em Lyon em 1581 e foi reeditada em Frankfurt em 1628, foi onde certamente Descartes tomou algumas ideias para
33 Consultamos a Metaphysicarum disputationem, publicada por Koannem et Andream Renaut (Salamanca, 1597), cujo vol. 1 inclui as 27 primeiras Disputationem,
e o vol. 2 o restante, até a 54. A questão do “Ser Infinito” e o “ser finito” era tratada
desde a Disp. 28, sect. 2, vol. 2, p. 6ss, desde a “opinio Scoti expenditur” (o qual
é perfeitamente coerente, já que foi Duns Escoto o que levantou desta maneira a
questão do absoluto). Na sect. 3, trata do problema da “analogia”. À sua Dialéctica deve-se agregar a Isagoge filosófica, publicada em 1591 (a reedição crítica é de
Joaquín Ferreria Gomez e foi publicada em 1965 pela Universidade de Coimbra),
igualmente teve 18 edições até 1623.
30
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
formular sua obra prima. Ele se propunha a chegar através da dúvida a
uma certeza fundamental. A ciência fundamental é a que pode provar
que nihil scimus (nada sabemos): “Quod magis cogito, magis dubito”
(quanto mais penso, mais duvido). O desenvolvimento posterior de uma
tal ciência deveria ser, primeiro, Methodus sciende (o método de conhecer); depois, Examen rerum (a observação das coisas); e, em terceiro lugar, De essentia rerum (a essência das coisas). Por isso é que “scientia est
rei perfecta cognitio” (a ciência é conhecimento perfeito da coisa), na
realidade nunca pode ser alcançada.
Gómez Pereira, judeu sefardita convertido que nasceu em Medina
del Campo, um famoso médico e filósofo que estudou em Salamanca,
escreveu uma obra científica autobiográfica (como O discurso do método), que tem o estranho título de Antoniana Margarita, opus nempe
physicis, medicis ac theologis..., onde lemos, depois de pôr em dúvida
todas as certezas, como os nominalistas: “Nosco me aliquid noscere, et
quidquid noscit est, ergo ego sum” (Sei que conheço algo e aquele que
é capaz de conhecer algo, logo eu sou) (BUENO, 2005, p. 328). No ambiente filosófico do século XVI um certo ceticismo do antigo abria as
portas ao novo paradigma filosófico da Modernidade do século XVII.
A influência destes autores do Sul na Europa central e nos Países
Baixos foi determinante no começo do século XVII. Eles romperam a
estrutura do antigo paradigma (o árabe-latino do medievo).
§ 4. O primeiro anti-discurso filosófico da Modernidade
nascente – a crítica à Europa do Império-mundo:
Bartolomé de Las Casas (1514-1566)
Mesmo que a posição filosófica de Bartolomé de Las Casas (14841566) seja anterior àquela dos pensadores já expostos, deixamos para
apresentá-la por último para mostrar com maior clareza a diferença que
tem em relação às outras posições. Bartolomé é o primeiro crítico frontal
da Modernidade, duas décadas depois do seu nascimento. Porém, sua
originalidade não se situa na Lógica ou na Metafísica, senão na Ética,
na Política e na História. Tudo começa num domingo de 1511 quando
Antón de Montesinos e Pedro de Córdoba lançaram na cidade de Santo
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
31
Domingo a primeira crítica contra o colonialismo inaugurado pela Modernidade. A partir de textos semitas (de Isaías e de João 1, 23) exclamaram:
“Ego vox clamantis in deserto […] Eu sou uma voz […] no deserto desta
ilha […] todos estais em pecado mortal, e nele viveis e morreis, pela crueldade e tirania que usais com essas vítimas inocentes” (LAS CASAS, 1957,
vol. 2, p. 176).34 É um ego clamo acusativo, que critica a nova ordem estabelecida; um eu crítico ante o ego conquiro originário da Modernidade:
“[Os índios] não são homens? Não tem alma racional? Não sois obrigados a amá-los como a vocês mesmos? […] Como podeis estar dormindo
num sonho de tamanha profundidade letárgica?” (LAS CASAS, 1957,
vol. 2, p. 176).
Toda a Modernidade, durante cinco séculos, ficará neste estado de
uma consciência ético-política em situação “letárgica”, “dormindo”, sem
“sensibilidade”35 ante a dor do mundo periférico do Sul.
Três anos depois e não sem relação com esta irrupção crítica em
Santo Domingo, em 1514, em Cuba, na aldeia Sancti Spiritus, três anos
antes de M. Lutero expor suas teses em Erfurt ou de Maquiavel publicar
O Príncipe, Bartolomé de Las Casas compreendeu claramente a razão
desta crítica. Quando a Europa ainda não tinha despertado do choque
que o descobrimento (para ela) de todo um Mundo Novo lhe havia causado,
Bartolomé já iniciava sua crítica ante os efeitos negativos desse processo
civilizatório moderno.
De uma maneira estritamente filosófica, argumentativa, Bartolomé
refuta: a) a pretensão de superioridade da cultura ocidental, da qual se
deduz a barbárie das culturas indígenas; b) com uma posição filosófica
sumamente criativa define a diferença clara entre b1) outorgar ao Outro
(ao índio) a pretensão universal de sua verdade, b2) sem deixar de afirmar
34 LAS CASAS, Bartolomé de. Historia de las Indias, III, 4.
35 Montesinos pergunta: “Não sentis isto?” (LAS CASAS, 1957, vol. 2, p. 176). As páginas seguintes da Historia de las Indias são dignas de serem lidas meditadamente
(p. 177ss). É o momento em que a Modernidade poderia ter mudado de rumo. Não
o fez e a rota se fixou inflexível até o século XXI. Era tal o assombro dos conquistadores de que tudo o que faziam era injustiça e falta moral contra os índios que não
podiam crer. Discutiu-se amplamente. Os dominicanos tinham os argumentos filosóficos; os colonos seus costumes tirânicos e injustos. Ao final prevaleceram para
sempre os costumes e sobre eles se fundou a Filosofia Moderna europeia. Desde o
século XVII nunca mais se discutirá o direito dos modernos europeus (e no século
XX dos norteamericanos) conquistar o planeta.
32
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
honestamente a própria possibilidade de uma pretensão universal de validez em sua proposta a favor do evangelho; e, por último, c) demonstra
a falsidade da última causa possível de fundamentação da violência da
conquista enquanto forma de salvar as vítimas dos sacrifícios humanos,
por ser contra o direito natural e todo ponto de vista injusto. Tudo é
provado argumentativamente em volumosas obras em meio a contínuas
lutas políticas, desde uma práxis valente e em meio a fracassos que não
dobram sua vontade de serviço aos recém descobertos habitantes do
Novo Mundo injustamente tratados: o Outro da Modernidade nascente.
A vida de Las Casas pode ser dividida em etapas que permitem
descobrir seu desenvolvimento teórico-filosófico: de sua chegada ao
Caribe até o dia da ruptura com uma vida de cumplicidade com os
conquistadores (1502-1514); de jovem soldado de Velázquez em Cuba
até ser sacerdote católico (ordenado em Roma em 1510); como pároco
encomendero em Sancti Spiritus, até abril de 1514 quando lê o texto de
Ben Sira 34, 20-22, numa celebração litúrgica solicitada pelo governador
Velásquez: “É imolar ao filho na presença de seu pai, oferecer em sacrifício o que é roubado aos pobres. O pão é a vida do pobre e quem o rouba
dele comete assassinato. É matar ao próximo subtrair-lhe o alimento; é
derramar seu sangue privá-lo do salário devido” (DUSSEL, 2007b, II, 5,
p. 179-193). Num texto autobiográfico escreveu:
Começou – recorda Bartolomé – por considerar a miséria e a
servidão a que padeciam aquelas gentes [os índios]. [...] Aplicando
um [o texto semita] ao outro [a realidade do Caribe] determinou-se, em si mesmo, convencido da própria verdade, ser injusto e
tirânico tudo quando acerca dos índios se cometia nestas Índias
(LAS CASAS, 1957, vol. 2, p. 356).36
E o filósofo da primeira hora refere:
Em confirmação de tudo quanto lia achava favorável e costumava
dizer e afirmar que, desde a primeira hora que começaram a se
abrir as trevas daquela ignorância nunca leu em livro de latim ou
razão ou autoridade para provar e corroborar a justiça daquelas
gentes indígenas e para a condenação das injustiças, males e danos
que se lhes foi feito (LAS CASAS, 1957, vol. 2, p. 357).
36 Historia de las Indias, Libro III, cap. 79.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
33
Os anos de 1514 a 1523 são de viagens à Espanha, aconselhamentos
com Cisneros (regente do Reino), com o rei, de preparação para a fundação
de uma comunidade pacífica de camponeses espanhois que teriam que
dividir a vida com os indígenas em Cumaná (o primeiro projeto
de colonização pacífica), o fracasso e seu retiro em Santo Domingo
(DUSSEL, 1977, p. 142ss). A nova etapa (1523-1539) será de longos anos
de estudo, começando em 1527, com a Historia de las Indias [História das
índias], livro que deve ser lido sob a ótica de uma filosofia da nova história,
e a monumental Apologética história das Índias, onde começa a descrição
do desenvolvimento exemplar e o tipo ético de vida das civilizações
ameríndias contra as críticas de sua barbárie:
Publicaram que não eram pessoas de boa razão para serem governadas, carentes de policiamento humano e de repúblicas ordenadas
[...] Para a demonstração da verdade que é ao contrário,trazem-se
e compilam-se neste livro [inúmeros exemplos]. Quanto à política,
digo, não somente se mostraram serem pessoas muito prudentes e de vivos e atentos entendimentos, sendo suas repúblicas
[...] prudentemente regidas, providas e com justiça prosperadas
[...] (LAS CASAS, 1957, vol. 3, p. 3-4).37 Todas estas universais e
infinitas gentes de todo gênero criou Deus as mais simples, sem
maldade nem dobras, obedientíssimas e fidelíssimas a seus senhores naturais, sem brigas ou disputas que existem no mundo
(LAS CASAS, 1957, vol. 5, p. 136).38
Prova, então, que em muitos aspectos eram superiores aos europeus
e, desde um ponto de vista ético, em cumprimento estrito com seus próprios
valores. Por isso não pode suportar e estoura com imensa cólera contra
a brutalidade violenta com que os modernos europeus têm destruído
estas “infinitas gentes”:
Tem tido duas maneiras gerais e principais os que lá têm passado e
que se chamam cristãos [e não o são de fato] para remover e extirpar da face da terra aquelas miseráveis nações. Uma, por injustas,
crueis e sangrentas guerras. A outra, depois de ter matado a todos
os que poderiam desejar, suspirar ou pensar em liberdade,39 ou
37 Apologética historia, proemio.
38 Brevísima relación de la destrucción de las Indias.
39 Bartolomé está descrevendo a “dialética do senhor e do escravo”. Também mostra
que a “pacificação” das Índias pode ser feita “depois que tiverem sido mortos todos
34
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
em sair dos tormentos que padecem, como são todos os senhores
naturais e os homens (porque comumente não deixam a vida nas
guerras e não os moços e as mulheres), oprimindo-os com a mais
dura, horrível e áspera servidão em que jamais nem homens e nem
bestas poderiam ser postos (LAS CASAS, 1957, vol. 5, p. 137).
Um século antes do Discurso do Método de Descartes40 – em 1537
– escreveu em latim De unico modo (Do único modo de atrair aos povos
à verdadeira religião), com a qual, em mãos, empreendeu a pregação pacífica entre os povos indígenas que receberiam o nome de Vera Paz, na
Guatemala. O que mais chama à atenção da parte do livro que chegou
até nós (somente do capítulo quinto ao sétimo)41 é a potência teórica do
escritor, o entusiasmo pelo tema, a enorme bibliografia com a qual devia
contar na cidade de Guatemala naquele momento. É uma impressionante obra intelectual. Com lógica precisa, com incrível conhecimento
de textos semitas, da tradição grega e latina dos Padres da Igreja e da
filosofia latino-medieval, com imperturbável senso de distinção, vai enfrentando os argumentos com uma quantidade abundante de citações
que ainda hoje em dia seriam de fazer inveja a um prolixo e prolífero
escritor. Bartolomé tinha 53 anos, uma população de conquistadores
contra ele e um mundo indígena maia que concretamente desconhecia,
porém que respeitava como iguais. É um manifesto de filosofia intercultural, de pacifismo político e de crítica certeira e antecipada a todas as
“guerras justas” (como a que foi justificada por John Locke) da Modernidade (desde a conquista da América Latina, que se prolonga depois
com a conquista puritana da Nova Inglaterra, da África e da Ásia, das
guerras coloniais até a guerra do Golfo Pérsico, do Afeganistão ou do
Iraque em nossos dias). Seria muito útil que os dirigentes europeus e
norteamericanos relessem esta obra prima do início crítico do pensamento moderno. O argumento central está filosoficamente formulado
da seguinte maneira:
os que poderiam desejar ou suspirar ou pensar em liberdade”. Bartolomé tem uma
clara visão antecipada da violência do colonialismo.
40 Descartes fundamentará a ontologia moderna no abstrato e solipsista ego cogito.
Bartolomé, pelo contrário, fundamenta a crítica ético-política de tal ontologia
desde a responsabilidade pelo Outro ao qual deve argumentos para demonstrar a
própria pretensão de verdade. É um paradigma instaurado desde a Alteridade.
41 Que somam 478 páginas na edição mexicana de 1942.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
35
O entendimento conhece voluntariamente quando aquilo que se
conhece não se manifesta imediatamente como verdadeiro sendo necessário um prévio raciocínio para que possa aceitar que
se trata de uma coisa verdadeira [...] procedendo de uma coisa
conhecida a outra desconhecida por meio do discurso da razão
(LAS CASAS, 1942, p. 81).42
Aceitar o que o Outro diz como verdadeiro significa um ato prático, um ato de fé no Outro que pretende dizer algo verdadeiro, e isso
“porque o entendimento é o princípio do ato humano que contém a
raiz da liberdade [...] Efetivamente, a razão toda da liberdade depende
do modo de ser do conhecimento, porque tanto quer a vontade quanto
compreende o entendimento” (LAS CASAS, 1942, p. 82). Adiantando-se
séculos à ética do discurso, recomendou, por isso, “estudar a natureza
e os princípios da retórica” (LAS CASAS, 1942, p. 94). Ou seja, o único
modo de atrair os membros de uma cultura estranha a uma doutrina
desconhecida é aplicando a arte de convencer (por “um modo persuasivo, por meio de razões no que diz respeito ao entendimento, e suavemente atrativo em relação à vontade” (LAS CASAS, 1942, p. 303-304),
contar com a livre vontade do ouvinte para que, sem coação, possa aceitar as razões racionalmente. É evidente que o temor, o castigo, o uso das
armas e a guerra são os meios mais distantes de uma possível aceitação
através da argumentação.
Bartolomé tem clareza de que a imposição pela força, pela guerra,
de uma teoria ao Outro era a maneira de expansão do “Mesmo” como “o
mesmo”. Era a inclusão dialética do Outro num mundo estranho e como
instrumento, como alienado (DUSSEL, 1983, p. 295ss).
42 Del único modo, cap. 5, 3.
36
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
Figura 1: Movimento violento de expansão da modernidade
B
A
1
II
2
I
Esclarecimentos do esquema: I. Mundo indígena. II. Mundo moderno europeu. A.
Horizonte ontológico europeu. B. Horizonte da inclusão do Outro no projeto do Império-mundo colonial moderno. 1. Ato violento da expansão moderna (a conquista,
que situa o mundo indígena I como um ente, um objectum dominatum).43 2. Ato de
dominação do moderno sobre o mundo periférico.
Fonte: o autor.
Las Casas, ao contrário, propõe-se a um duplo ato de fé: a) no Outro como outro (porque se não se afirma a igual dignidade do Outro e se
crê em sua interpelação não há possibilidade de acordo racional ético);
e b) na pretensão da aceitação da proposta de uma nova doutrina pelo
Outro, o que exige, por parte do Outro, também um ato de fé. Para isso
é necessário que o Outro seja livre, que aceite voluntariamente as razões
que lhe são propostas.
43 Em Descartes ou Husserl o ego cogito constrói o Outro (neste caso colonial) como
cogitatum. Porém, antes, o ego conquiro o constituiu como “conquistado” (dominatum). Em latim conquiro significa buscar com diligência, inquirir com cuidado,
reunir. Por isso, conquisitum é o buscado com diligência. Porém, na Reconquista
espanhola contra os muçulmanos, a palavra passou a ter o sentido de dominar, submeter, sair para recuperar territórios para os cristãos. Usaremos agora este novo
sentido ontologicamente.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
37
Figura 2: Movimento da fé na palavra do Outro como responsabilidade
pelo Outro
A
B
1
I
2
II
Esclarecimentos do esquema: Primeiramente: I. Mundo do cristão (Las Casas). II.
Mundo indígena. A. Horizonte ontológico do cristão. B. Alteridade do Outro. 1. Interpelação do Outro à justiça (do indígena). 2. Fé de Bartolomé em sua palavra (a revelação de sua cultura outra). Em segundo lugar, se agora se inverte a situação, I seria
o mundo indígena e a interpelação fundamentada de Bartolomé de Las Casas. Essa
interpelação devia ser seguida por uma argumentação, por razões e pelo “movimento
suave da vontade” (LAS CASAS, 1942, p. 65), e permitiria ao Ouro (ao indígena) (flecha 2) aceitar as propostas dos que não usavam armas para propor o cristianismo (II:
Bartolomé de Las Casas).
Fonte: o autor.
Tendo praticado o método pacífico de doutrinar os maias em Vera
Paz, parte para a Espanha onde, graças a muitas lutas, consegue a promulgação das Leyes Nuevas [Novas Leis], de 1542, que suprimiam paulatinamente as “encomiendas” em todas as Índias. São épocas de muitos
escritos argumentativos em defesa do índio: o Outro da Modernidade. É
nomeado bispo de Chiapas, porém em seguida deve renunciar ante a violência dos conquistadores (não somente contra os maias como também
contra o bispo).
Instala-se na Espanha desde 1547 mesmo que, atravesse o Oceano
por várias vezes. É ali que escreve a maior parte de suas obras maduras.
Em 1550 enfrenta Guinés de Sepúlveda em Valladolid, o primeiro debate
filosófico público e central da Modernidade. A pergunta perene ante a
modernidade será: que direito a Europa tem de dominar colonialmente
as Índias? Uma vez resolvido o tema (que filosoficamente é refutado de
forma convincente por Las Casas, porém que fracassa rotundamente
na práxis colonial moderna das monarquias absolutas e do sistema capitalista como sistema-mundo), a Modernidade nunca mais se perguntará
existencial nem filosoficamente por este direito à dominação da periferia
até o presente. Este direito à dominação se imporá como a natureza das
38
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
coisas, e estará subjacente a toda a filosofia moderna. Ou seja, a filosofia
moderna posterior ao século XVI se desenvolverá tendo como pressuposto óbvio e oculto a não necessidade racional (porque é impossível e irracional) de fundamentar ética e politicamente a expansão europeia que
não se opõe a que se imponha tal dominação como fato incontroverso de
ter construído um sistema mundial sobre a exploração contínua da periferia. A primeira filosofia moderna da Modernidade nascente não tinha
consciência tranquila da injustiça cometida e refutou sua legitimidade.
Por isso queremos voltar aos argumentos racionais que provam a
injustiça da expansão colonial da Modernidade. Refutando que a falsidade
dos ídolos dos indígenas poderia ser causa da guerra para exterminá-los,
Bartolomé argumenta assim:
Dado que eles [os índios] se comprazem em se sustentar [...] que,
ao adorar seus ídolos, adoram ao verdadeiro Deus [...] e que, apesar
da suposição de que eles têm uma consciência errônea até que
não lhes seja pregado o verdadeiro Deus com melhores e mais
críveis e convincentes argumentos, sobretudo com os exemplos
de sua conduta cristã, eles estão, sem dúvida, obrigados a defender o culto a seus deuses e a sua religião e a sair com suas forças
armadas contra todo aquele que tente privá-los de tal culto [...];
assim, estão obrigados a lutar contra eles, matá-los, capturá-los
e exercer todos os direitos que são corolário de uma guerra justa,
conforme o direito das gentes (LAS CASAS, 1989, p. 168).
Este texto mostra muitos níveis filosóficos a serem realizados. O
essencial é que nele se outorga ao índio uma pretensão universal de verdade (já que desde sua perspectiva “adoram ao verdadeiro Deus”), o que
não quer dizer que o próprio Las Casas não tenha ele mesmo sua própria pretensão (já que Las Casas opina que é “consciência errônea”). Las
Casas reconhece tal pretensão aos índios porque não receberam “críveis
e convincentes argumentos”. E como não os receberam, têm todo o direito de afirmar suas convicções, defendê-las até a possibilidade de uma
guerra justa.44 Ou seja, a prova de Guinés é invertida: não é a “barbárie”
ou os seus falsos deuses justifiquem que se lhes faça uma guerra justa,
senão que, pelo contrário, por terem “deuses verdadeiros” (enquanto
44 Se aplicarmos tão clara doutrina ao caso da conquista da Nova Inglaterra e daí em
diante até a atual Guerra do Iraque se poderia entender que os patriotas que defendem
sua terra estão justificados pelo argumento lascasiano (DUSSEL, 2007c, p. 299).
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
39
não se provar o contrário), são eles que têm motivos para fazer uma
guerra justa contra os europeus invasores.
O argumento chega ao paroxismo ao enfrentar a objeção mais difícil
para um cristão e que é proposta por Guinés de Sepúlveda, que justifica
a guerra dos espanhois como forma de salvar a vida das vítimas inocentes dos sacrifícios humanos aos deuses astecas. Las Casas raciocina
da seguinte maneira:
[Os] homens, por direito natural, estão obrigados a honrar a
Deus com os melhores meios a seu alcance e a oferecer-lhe em
sacrifício as melhores coisas [...]. Contudo, corresponde à lei humana e à legislação positiva determinar que coisas devem ser
oferecidas a Deus; isto é confiado a toda a comunidade [...] A
própria natureza dita e ensina [...] que, diante da falta de uma
lei positiva que ordene o contrario, devem imolar inclusive vítimas humanas ao Deus, verdadeiro ou falso, considerado como
verdadeiro, de modo que, ao oferecer-lhe a coisa mais preciosa,
mostram-se especialmente agradecidos por tantos benefícios recebidos (1989, p. 155-156; 157; 160).
Novamente se pode ver que, ao reconhecer ao Outro a pretensão
de verdade (“falso, considerado [por eles, enquanto não se provar o contrário,] como verdadeiro”), Bartolomé chega assim ao que poderíamos
chamar “o máximo de consciência crítica possível para um europeu nas
Índias” – que não é a consciência crítica do próprio índio oprimido –, e
é tão original o argumento que depois confessa que “tive e provei muitas
conclusões que antes de mim nunca um homem ousou tocar ou escrever,
e uma delas foi não ser contra a lei e nem a razão natural [...] oferecer homens ao Deus, falso ou verdadeiro (tendo o falso por verdadeiro)
em sacrifício” (LAS CASAS, 1957, vol. 5, p. 471).45 Com isto conclui que
a pretensão de Guinés de justificar a conquista para salvar a vida das
vítimas humanas dos sacrifícios não somente não prova o que se propõe, senão que se mostra que os indígenas, ao considerar tais sacrifícios
como o mais digno a oferecer, segundo suas convicções (que não foram
refutadas com argumentos convincentes), têm o direito, caso fossem
impedidos pela força de realizá-los, de fazer uma guerra, agora “guerra
justa”, contra os espanhóis.
Um século antes de T. Hobbes ou B. Spinoza, Bartolomé dá um
passo importante em filosofia política e define sua posição a favor do
45 Carta aos Dominicanos da Guatemala, de 1563.
40
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
direito do povo (neste caso, o povo indígena) ante as instituições vigentes,
inclusive o próprio rei, quando não são cumpridas as condições de legitimidade nem é respeitada a liberdade dos membros da república. Na
ocasião em que os encomenderos do Peru desejavam pagar um tributo ao
rei para praticamente apropriar-se para sempre dos serviços dos índios,
Bartolomé escreveu De regia potestate, que deve ser relacionada a De
thesauris e ao Tratado das doze dúvidas. Na primeira destas obras, diz:
Nenhum rei ou governante, por mais supremo que seja, nada
pode ordenar ou mandar no que diz respeito à república que seja
em prejuízo ou em detrimento do povo (populi) ou dos súditos,
sem que tenha tido a aprovação (consensu) deles, de forma lícita
e devida. De outro modo, não valeria (valet) por direito [...] Ninguém pode legitimamente (legitime) [...] gerar prejuízo algum à
liberdade de seus povos (libertati populorum suorum); se alguém
decidisse contra o que é de utilidade do povo, sem contar com a
aprovação do povo (consensu populi) tais decisões seriam nulas.
A liberdade (lib ertas) é o mais precioso e estimável que um povo
livre pode ter (LAS CASAS, 1969, p. 47; 49).46
Isto atentava contra a pretensão do rei de exercer poder absoluto.
Las Casas tem claro que a sede do poder reside no povo, entre os súditos
(não somente entre os Reinos que firmaram o pacto com o rei ou a rainha
de Castilla) e, por isso, a legitimidade das decisões políticas se funda no
consentimento prévio do povo. Estamos no primeiro século da Modernidade nascente, antes que se consolide como óbvio e universal o mito
da Modernidade europeia como civilização que exerce o poder com direito universal sobre as colônias e o globo (o ius gentium europeum de
Carl Schmitt) definitivamente fetichizado na Filosofia do direito de Hegel
(DUSSEL, 2007, § 10.3, p. 380ss). Bartolomé de Las Casas explica:
Todos os infieis, de qualquer seita ou religião que sejam [...],
quanto ao direito natural ou divino e ao que chamam direito das
gentes, têm e possuem domínio sobre suas coisas [...] E, com a
mesma justiça, possuem seus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdições e domínios. O regente ou governador não
pode ser outro senão aquele que toda a sociedade e comunidade
inicialmente elegeu (1957, vol. 5, p. 492).47
46 De regia potestate, § 8.
47 Tratado de las doce dudas, Primeiro princípio.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
41
Bartolomé entende que o direito que o pontífice romano e os reis
espanhois, sob a obrigação do “anúncio do evangelho”, outorgam como
um “direito sobre as coisas (iure in re)” (LAS CASAS, 1958, p. 101)48
– sobre os índios –, somente operava in potentia enquanto não tivesse
concordância por parte dos indígenas (como “direito às coisas” [ius ad
rem]) para operar in actu e, como não existiu tal consentimento, a conquista é ilegítima, razão pela qual conclui de maneira certeira: “O rei,
nosso senhor, é, pois, obrigado, sob pena de não se salvar, a restituir os
reinos ao rei Tito [assim era chamado um Inca quando vivo], sucessor
ou herdeiro de Gayna Cápac e dos demais Incas e nele por todas as suas
forças e poder” (LAS CASAS, 1958, p. 218).49
Trata-se da obra mais argumentada racionalmente do começo da
Modernidade, da primeira filosofia moderna, que refutava minuciosamente as provas que se enunciavam a favor de uma justificação da expansão colonial da Europa moderna. Trata-se, como tentamos provar, do
primeiro anti-discurso da Modernidade (anti-discurso filosófico e moderno), dentro de cuja tradição sempre haverá representantes em toda a
história da filosofia latinoamericana nos cinco séculos seguintes.
O anti-discurso filosófico crítico de Las Casas será usado pelos rebeldes
dos Países Baixos para se emancipar da Espanha no começo do século
XVII; novamente será relido na revolução norteamericana, na independência das colônias latinoamericanas, em 1810, e em outros processos
de transformação profunda no continente. Derrotada politicamente, sua
filosofia irradiará até o presente.
Referências
APEL, K.-O.; DUSSEL, E. Ética del discurso y ética de la liberación.
Madrid: Trotta, 2005.
CARVAHLO, Mario de. Intellect et Imagination. In: Rencontres
de Philosophie Médiévale, Brepols, 11, p. 119-158, 2006.
48 De Thesauris.
49 De Thesauris.
42
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
CARVAHLO, M. de. Aos ombros de Aristóteles (Sobre o nãoaristotelismo do primeiro curso aristotélico dos Jesuítas de Coimbra).
In: Revista Filosófica de Coimbra, 32, p. 291-308, 2007.
COTTINGHAM, John (Ed.). Descartes. Cambridge (UK): Cambridge
University Press, 1995.
DAMASIO, Antonio. Looking for Spinoza. Joy, Sorrow, and the Feeling
Brain. Orlando-London: Harcourt Inc., 2003.
DESCARTES, René. Œuvres de Descartes. Ed. Ch. Adam-P. Tannery.
Paris: J. Vrin, 1996. Vol. 1-11.
______. Oeuvres et letters de Descartes. Paris: La Pléiade, Gallimard,
1953.
DUSSEL, E. 20 tesis de política. México: Siglo XXI, 2006.
______. Ética de la liberación. Madrid: Trotta, 1998.
______. Hacia una filosofía política crítica. Bilbao: Desclée de Brower,
2001.
______. Materiales para una política de la liberación.
Madrid-México: Plaza y Valdés, 2007.
______. Política de la liberación. Historia mundial y crítica.
Madrid: Trotta, 2007.
______. The invention of the Americas. New York: Continuum, 1995.
EDELMAN, G. M. Bright Air, Brillant Fire. On the Matter of the Mind.
New York: Basic Books, 1992.
FERRATER MORA, José. Suárez et la philosophie moderne. In:
Revue de Métaphysique et de Morale, 13 (2), p. 155-248, 1963.
FONSECA, Pedro de. Instituições dialécticas. Coimbra: Universidad
de Coimbra, 1964. Vol. 1-2.
______. Isagoge filosófica. Coimbra: Universidad de Coimbra, 1965.
FRAILE, Guillermo. Historia de la filosofía, III. Del Humanismo a la
Ilustración (siglos XV-XVIII). Madrid: BAC, 1966.
GAUKROGER, Stephen. Descartes. An intellectual biography. Oxford:
Clarendon Press, 1997.
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015
43
GILSON, Etienne. Études sur le rôle de la pensée Médiévale dans la
formation du système cartesien. Paris: J. Vrin, 1951.
HABERMAS, Juergen. El discurso filosófico de la Modernidad.
Buenos Aires: Taurus, 1989.
HEGEL, G.W.F. Werke in zwanzig Bände. Frankfurt: Suhrkamp Verlag,
1970. Vol. 1-20.
HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditationen. Haag:
Martinus Nijhoff, 1963.
LAS CASAS, B. de De Thesauris. Madrid: CSIC, 1954.
______. Apología. Madrid: Alianza, 1989.
______. De regia Potestate. Madrid: CSIC, 1969.
______. Obras escogidas. Madrid: BAE, 1957. Vol. 1-5.
______. Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera
religión. México: FCE, 1942.
LOYOLA, Ignacio de. Obras completas. Madrid: BAC, 1952.
MARX, Karl. Marx Engels Werke (MEW). Berlin: Dietz Verlag, 1956.
Vol. 1ss.
MONTAIGNE, M. De. Œuvres complètes. Paris: Gallimard-Pléiade,
1967.
PEREIRA, Miguel B. Pedro da Fonseca. O Método da Filosofía.
Coimbra: Universidad de Coimbra, 1967.
SARTRE, J. P. L´être et le neant. Paris: Gallimard, 1943.
SEPÚLVEDA, Guinés de. Tratado sobre las Justicas causas de la Guerra
contra los indios. México: FCE, 1967.
SUÁREZ, Francisco. Metaphysicarum disputationem. Salamanca:
Ioannem et Andream Renaut, 1597. Vol. 1-2.
TOULMIN, Stephen. Cosmópolis. Chicago: The University
of Chicago Press, 1992.
44
Revista Filosofazer. Passo Fundo, n. 46, jan./jun. 2015