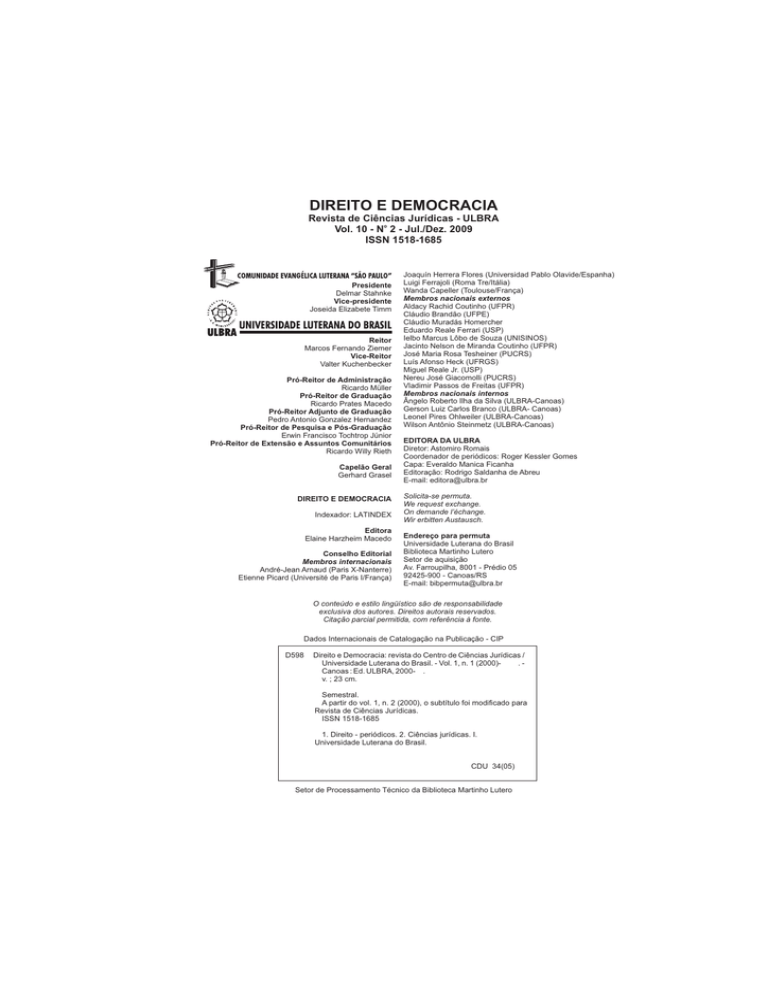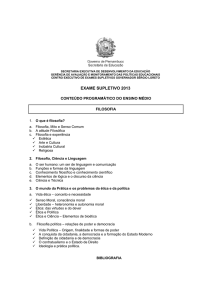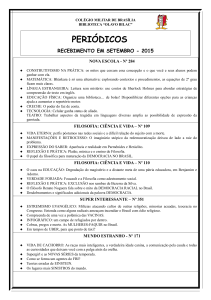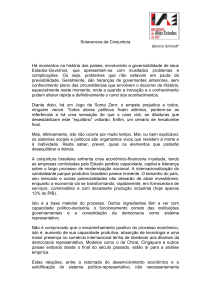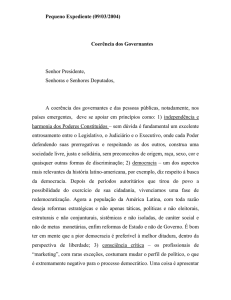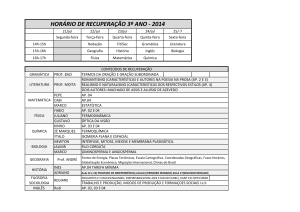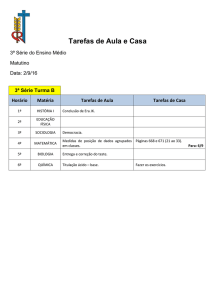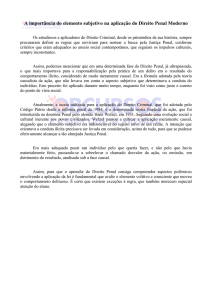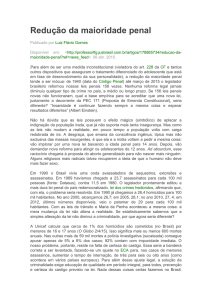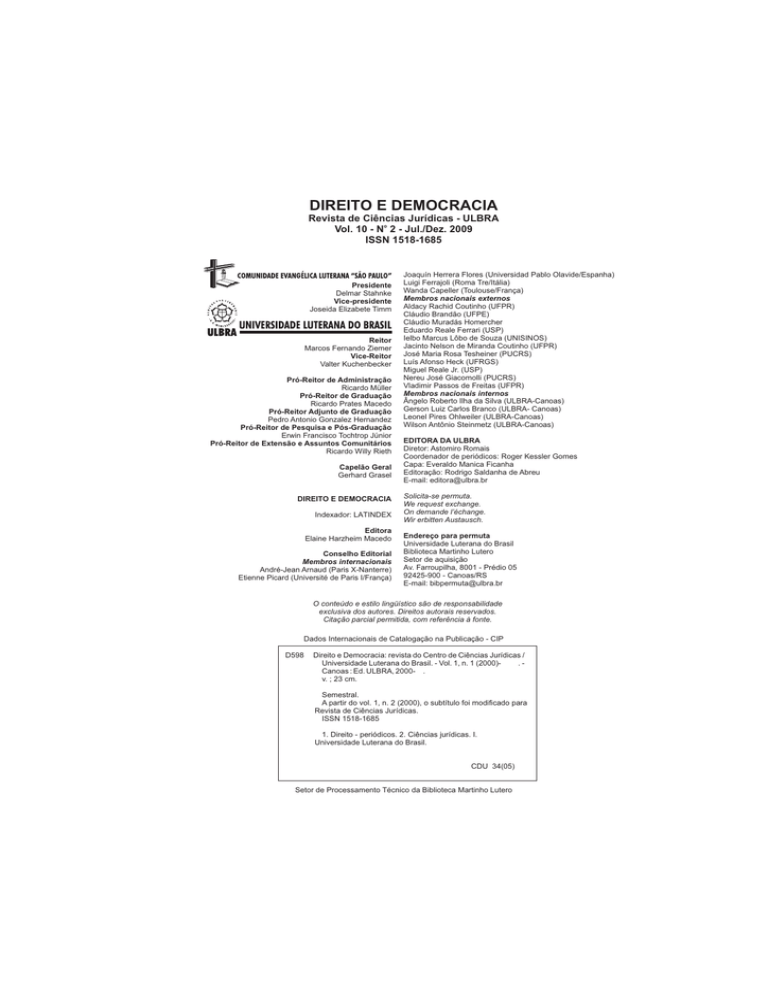
DIREITO E DEMOCRACIA
Revista de Ciências Jurídicas - ULBRA
Vol. 10 - No 2 - Jul./Dez. 2009
ISSN 1518-1685
Presidente
Delmar Stahnke
Vice-presidente
Joseida Elizabete Timm
Reitor
Marcos Fernando Ziemer
Vice-Reitor
Valter Kuchenbecker
Pró-Reitor de Administração
Ricardo Müller
Pró-Reitor de Graduação
Ricardo Prates Macedo
Pró-Reitor Adjunto de Graduação
Pedro Antonio Gonzalez Hernandez
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Erwin Francisco Tochtrop Júnior
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários
Ricardo Willy Rieth
Capelão Geral
Gerhard Grasel
DIREITO E DEMOCRACIA
Indexador: LATINDEX
Editora
Elaine Harzheim Macedo
Conselho Editorial
Membros internacionais
André-Jean Arnaud (Paris X-Nanterre)
Etienne Picard (Université de Paris I/França)
Joaquín Herrera Flores (Universidad Pablo Olavide/Espanha)
Luigi Ferrajoli (Roma Tre/Itália)
Wanda Capeller (Toulouse/França)
Membros nacionais externos
Aldacy Rachid Coutinho (UFPR)
Cláudio Brandão (UFPE)
Cláudio Muradás Homercher
Eduardo Reale Ferrari (USP)
Ielbo Marcus Lôbo de Souza (UNISINOS)
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (UFPR)
José Maria Rosa Tesheiner (PUCRS)
Luís Afonso Heck (UFRGS)
Miguel Reale Jr. (USP)
Nereu José Giacomolli (PUCRS)
Vladimir Passos de Freitas (UFPR)
Membros nacionais internos
Ângelo Roberto Ilha da Silva (ULBRA-Canoas)
Gerson Luiz Carlos Branco (ULBRA- Canoas)
Leonel Pires Ohlweiler (ULBRA-Canoas)
Wilson Antônio Steinmetz (ULBRA-Canoas)
EDITORA DA ULBRA
Diretor: Astomiro Romais
Coordenador de periódicos: Roger Kessler Gomes
Capa: Everaldo Manica Ficanha
Editoração: Rodrigo Saldanha de Abreu
E-mail: [email protected]
Solicita-se permuta.
We request exchange.
On demande l’échange.
Wir erbitten Austausch.
Endereço para permuta
Universidade Luterana do Brasil
Biblioteca Martinho Lutero
Setor de aquisição
Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 05
92425-900 - Canoas/RS
E-mail: [email protected]
O conteúdo e estilo lingüístico são de responsabilidade
exclusiva dos autores. Direitos autorais reservados.
Citação parcial permitida, com referência à fonte.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP
D598
Direito e Democracia: revista do Centro de Ciências Jurídicas /
Universidade Luterana do Brasil. - Vol. 1, n. 1 (2000).Canoas : Ed. ULBRA, 2000- .
v. ; 23 cm.
Semestral.
A partir do vol. 1, n. 2 (2000), o subtítulo foi modificado para
Revista de Ciências Jurídicas.
ISSN 1518-1685
1. Direito - periódicos. 2. Ciências jurídicas. I.
Universidade Luterana do Brasil.
CDU 34(05)
Setor de Processamento Técnico da Biblioteca Martinho Lutero
Sumário
187 Editorial
189 Breves considerações sobre o olhar, ouvir e escrever enquanto passos constitutivos
da pesquisa qualitativa no âmbito jurídico: aproximações entre antropologia e
direito
Vinícius Gil Braga
200 Estado social brasileiro e equilíbrio financeiro
Paulo Sergio Rosso
212 O desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais numa perspectiva
histórica
Alberto de Magalhães Franco Filho
228 O princípio da igualdade na sociedade brasileira pluralista: a questão das cotas
raciais em universidades
Helton Kramer Lustoza
250 O compromisso de compra e venda e a vigência das Súmulas 84 e 239 do STJ
Gerson Luiz Carlos Branco
267 A utilização do Sistema de Registro de Preços por órgãos que não participaram da
licitação: uma análise do art. 8º do Decreto Federal nº 3.931, de 19 de setembro
de 2001
Thiago Dellazari Melo
286 O monumento bárbaro: desconcertando o sistema penal entre violência, crime e
logos
Alexandre Costi Pandolfo
295 Discurso, poder e ética na decisão penal
Gabriel Antinolfi Divan
311 O ensino do Direito Penal: da legitimação da violência à luta pela vida
Marília Denardin Budó
331 Giorgio Agamben e o garantismo: razões de um desencontro
Moysés da Fontoura Pinto Neto
344 Documento histórico
A carta, de Pero Vaz de Caminha
186
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Editorial
É de Edgar Morin a crítica de que o progresso não se resume ao enunciado de
que o amanhã será melhor que o ontem, embora tenha sido essa uma verdade vendida
aos quatro ventos. A ambivalência se faz presente no progresso, afirma o sociólogo,
produzindo, ao mesmo tempo, curas milagrosas para doenças que muito atormentaram
o homem e armas de destruição em massa; a economia se divide entre a concentração
de riquezas e os guetos de miserabilidade; a cultura se dissipa entre a massificação e a
retomada da tradição e do pluralismo. Nessa bipolarização também o direito se defronta
com novas e velhas probabilidades, desafiando o jurista a encontrar o seu mister, porque,
ao mesmo tempo, é partícipe e destinatário diretamente comprometido desse constante
(re)nascer, não lhe cabendo abdicar do seu próprio destino.
E é nesse espaço que vem a lume a Direito e Democracia, em seu volume 10,
número 2, orgulhosa em veicular os trabalhos de seus articulistas, juristas conscientes
de seu papel e de seu lugar neste universo.
A indispensabilidade da necessária pesquisa qualitativa do direito, através de
um diálogo atento à epistemologia e à antropologia, estabelecendo novos olhares
sobre a realidade experimentada, transformando-a, a partir do olhar, do ouvir e do
escrever, faculdades a serem estimuladas no entendimento sociocultural, é enfrentada
por Vinícius Gil Braga.
De Paulo Sergio Rosso vem a contribuição sobre o estudo do equilíbrio financeiro
entre as exigências do estabelecimento do Estado social e o seu poder de arrecadação,
assentando a melhor adequação dos serviços prestados, porque vedado o retrocesso
dos direitos sociais como única alternativa jurídica sobejante.
O desenvolvimento dos direitos humanos e a mudança de paradigmas dos direitos
individuais para os transindividuais é objeto do trabalho que leva a autoria de Alberto
de Magalhães Franco Filho, tema que sempre merece atenção de todo estudioso do
direito.
Helton Kramer Lustoza aborda a polêmica da questão das cotas raciais em
universidades, situada entre os extremos de uma política de discriminação positiva e
da ausência de legitimação perante o princípio da igualdade.
A distinção entre o regime dos efeitos do compromisso de compra e venda
registrado, com eficácia real, e o não registrado, com eficácia obrigacional, gerando
respectivamente ações reais e ações obrigacionais, diante das novas disposições do
CCB de 2002 e a jurisprudência pretérita, consolidada pelas Súmulas 84 e 239 do STJ,
ganha corpo no artigo da lavra de Gerson Luiz Carlos Branco.
No âmbito das licitações, recebe de Thiago Dellazari Melo estudo o Sistema
de Registro de Preços por órgãos não participantes da chamada pública, com vistas
à preservação e manutenção dos princípios jurídicos que fundamentam o respectivo
ordenamento de regência.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
187
A desconstrução do poder punitivo, a partir da análise do pensamento de Walter
Benjamin, Giorgio Agamben e Robert Musil, é o foco do artigo firmado por Alexandre
Costi Pandolfo, a apontar que o sistema penal e bem assim o direito, estado e história
representam monumentos bárbaros retratando a violência intrínseca ao próprio
logos.
De Gabriel Antinolfi Divan vem o estudo sobre o discurso, o poder e a ética nas
decisões penais, com vistas a não ser infligida ao acusado pena que ultrapasse a devida
cominação, sob o equívoco de manifestação atécnica, passional e exageradamente
estigmatizante.
Diante da deslegitimação teórica e fática do sistema penal, Marília Denardin Budó
esgrima o descompasso dessa constatação com o ensino do direito penal no Brasil,
onde ainda não se questionam o real exercício de poder e a violência que vigora no
próprio sistema, a marcá-lo pela morte, denunciando a articulista que o tratamento de
tais questões de forma crítica significa de certa forma poupar vidas.
Moysés da Fontoura Pinto Neto critica as apropriações do pensamento do filósofo
Giorgio Agamben por grande parte dos juristas, propondo uma leitura diversa ao
resgatar de seus textos a ênfase de uma “política que vem”, na qual conceitos atuais
como soberania, direitos humanos e contrato social perdem seu papel.
No espaço documento histórico, a Direito e Democracia oferece aos seus leitores
versão oficial de A Carta de Pero Vaz de Caminha, que não apenas retrata descrições
geográficas da terra descoberta, mas também assinala os primeiros atos jurídicos da
civilização europeia nas terras brasileiras.
Aos nossos consumidores, que aproveitem a leitura.
Elaine Harzheim Macedo
Editora
188
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Breves considerações sobre o olhar, ouvir e
escrever enquanto passos constitutivos da
pesquisa qualitativa no âmbito jurídico:
aproximações entre antropologia e direito1
Vinícius Gil Braga
Resumo
O presente escrito tem por finalidade a proposição de novas possibilidades à pesquisa
qualitativa no direito. Nesse sentido, estabelece um diálogo atento à epistemologia e à antropologia,
sugerindo ao jurista/discente do direito a realização de um exercício de observação capaz de instigar
o estabelecimento de novos olhares sobre a realidade experienciada, transformando-a. Para tanto,
estimula-se o desenvolvimento de três faculdades de entendimento sociocultural, inerentes ao modo
de conhecer das ciências sociais: o olhar, o ouvir e o escrever.
Palavras-chave: Direito. Antropologia. Epistemologia. Pesquisa qualitativa.
Short contributions about watching, listening and writing as
constitutives steps of qualitative research in the juridical space:
Approaches between anthropology and law
Abstract
The present work aims at the proposition of new possibilities for qualitative law research.
Therefore, an attentive dialogue is established in relation to epistemology and anthropology. Such
dialogue suggests to jurist/law students the performance of an observation exercise capable of
providing the viable establishment of new perspectives about an experienced reality, modifying it.
Thus, the development of three socio-cultural understanding senses is stimulated; those inserted
into the social sciences pattern of acquiring knowledge: watching, listening, and writing.
Keywords: Law. Anthropology. Epistemology. Qualitative research.
Vinícius Gil Braga é Mestre em Ciências Criminais (PUCRS). Professor de Direito na Faculdade
Cenecista de Osório (CNEC/Osório) e American College of Brazilian Studies (AMBRA).
E-mail: [email protected]
1 O presente artigo se constitui em fragmento de um trabalho de maior fôlego – ainda inédito –, voltado ao exame
e proposição de novas possibilidades à pesquisa qualitativa no direito; ademais, esse escrito segue como fonte de
estímulo e orientação o artigo intitulado “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever”, de autoria de Roberto
Cardoso de Oliveira. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. Revista
de Antropologia (USP), vol. 39, nº 1, São Paulo, 1996, p.13-37.
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.189-199
jul./dez. 2009
(...) a procura das coisas perdidas é dificultada pelos hábitos rotineiros
e é por isso que dá tanto trabalho encontrá-las.
Gabriel García Márquez (Cem anos de solidão)
1 Considerações iniciais – ou da necessidade
de um pensamento complexo
Je travaille les idées qui me travaillent2
Edgar Morin
Não falamos todos do mesmo lugar. Ter posições claras a respeito de condições
e circunstâncias históricas, culturais, sociais, psicológicas particulares importa na
assunção de uma posição particular – a nossa posição enquanto sujeitos do conhecimento
–, a partir da qual falamos e direcionamos nossos esforços para a construção do
conhecimento através de um exercício reflexivo pessoal e compartilhado. Nesse
particular, atente-se à formação sutil da palavra “conviver”, necessário “viver com” o
outro, em aberto respeito à sua dignidade e diferença.3
Somos sobreviventes de nossa história.4 O conhecimento produzido traz consigo
nossa carga de historicidade, vivências, relações, angústias, limites, etc. Encontrase, portanto, sujeito às nossas ideias, experiências e faltas, persistindo – sempre – a
inextricável relação entre o saber próprio ao pesquisador e o conhecimento por ele
produzido, ou, da influência do observador no resultado de sua observação. Ditas
contingências delineiam nossos conceitos e concepções, importando, nessa esteira, que
um ponto de vista seja tão somente “a vista de um ponto”; ou, em melhor expressão,
a consciência de que o olhar lançado dirige-se sobre uma perspectiva, apenas uma, no
seio de tantas outras possíveis.
As duas assertivas acima traduzem a sensível necessidade de refletir as questões
inerentes ao conhecer, isto é, que o embasam e fundamentam, e a partir das quais
são informadas e legitimadas suas formas de construção. Tão somente a partir desse
horizonte compreensivo uma base metodológica qualitativa e suas técnicas de pesquisa
passam a auferir sentido, isto é, trata-se fundamentalmente da conscientização crítica
sobre os modos de expressão do processo científico, necessariamente marcados pela
indagação e pelo questionamento de seus limites e possibilidades.
2 “Trabalho as ideias que me trabalham” (tradução livre do francês). Entretien avec Edgar Morin. M.A.R.S. Le
Monde Arabe dans la Recherche Scientifique, nº 6, Paris, 1996, p.59.
3 SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre a construção do sentido: o pensar e o agir entre a vida e a filosofia. São
Paulo: Perspectiva, 2004, p.15-16.
4 Esse breve escrito é tributário do convívio e dos ensinamentos do filósofo e professor Ricardo Timm de Souza,
exemplo de ser-humano que levaremos sempre conosco como fonte de incentivo e inspiração.
190
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Como bem refere Edgar Morin, até a metade do século XX, a maior parte das
ciências tinha a redução como método do conhecimento – isto é, do conhecimento de
um todo para o conhecimento das partes que o compõem –, e o determinismo como
conceito principal – ou seja, a ocultação/desconsideração do acaso, do novo, das
invenções –, e a aplicação da lógica mecânica da máquina artificial aos problemas vivos,
humanos e sociais. Interessante perceber, em contraponto, que a cultura humana geral
sempre admitiu a possibilidade de se buscar a contextualização de toda informação
ou ideia. Ao passo que a cultura técnica e científica, como referido, em nome do
seu caráter disciplinar especializado, optou por seguir um modelo de racionalidade
responsável por separar e compartimentar os conhecimentos, prejudicando, ainda mais,
a contextualização dos mesmos.5
Com propriedade, assevera o epistemólogo francês:
Deveríamos, portanto, ser animados por um princípio de pensamento que nos
permitisse ligar as coisas que nos parecem separadas, umas em relação às
outras. Ora, nosso sistema educativo privilegia a separação em vez de praticar
a ligação. A organização do conhecimento sob a forma de disciplinas seria útil
se estas não estivessem fechadas em si mesmas, compartimentadas umas em
relação às outras; assim, o conhecimento de um conjunto global, o homem, é um
conhecimento parcelado. Se quisermos conhecer o espírito humano, podemos
fazê-lo através das ciências humanas, como a psicologia, mas o outro aspecto do
espírito humano, o cérebro, órgão biológico, será estudado pela biologia. Vivemos
numa sociedade multidimensional, simultaneamente econômica, psicológica,
mitológica, sociológica, mas estudamos estas dimensões separadamente, e não
umas em relação com as outras. O princípio de separação torna-nos talvez mais
lúcidos sobre uma pequena parte separada do seu contexto, mas nos torna cegos
ou míopes sobre a relação entre a parte e o seu contexto.6 (destaque nosso)
Acreditamos que a leitura jurídica do corrente Século XXI somente apresenta
sentido de realidade se tomar o direito como uma ciência aberta ao seu tempo. Um
modo de pensar aberto, disposto a explorar os sentidos plurais pertencentes às interfaces
entre direito e sociedade, qual seja, disposto à reflexão e à problematização, com
vistas a desenvolver nova consistência e tratamento, legitimidade e fundamentação.
Em outras palavras, voltado à configuração de uma dogmática jurídica renovada, que
vislumbra no direito um mecanismo renovado de regulação social – o que, todavia, não
se confunde com “engessamento da realidade” – mais próximo e adequado à realidade
social a qual se destina.
O referido modelo reflexivo enseja a assunção de um compromisso com a arte de
5 MORIN, Edgar. A necessidade de um pensamento complexo. In Representação e complexidade. MENDES,
Candido (organizador). Rio de Janeiro: Garamond, 2003.
6 MORIN, Edgar. Da necessidade de um pensamento complexo. In Para navegar no século 21. Tecnologias do
imaginário e cibercultura. MARTINS, Francisco Menezes; SILVA, Juremir Machado da (organizadores). 2ª ed.
Porto Alegre: Sulina, 2000, p.20.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
191
saber/viver em espaço aberto, plural e de respeito à diferença. Isto é, uma cultura de
protagonistas – cujos diferentes projetos oriundos da diversidade possam ser respeitados
e valorizados na medida e riqueza de cada experiência. As recentes percepções em torno
ao Estado democrático de direito já caminham nessa direção, muito embora, demasiado
resta ao que se aprender/discutir/reformular: um projeto vivo no tempo. Para tanto,
faz-se necessário estabelecer novas relações, quer dizer, dar azo ao diálogo para com
outras dimensões do conhecimento, inclusive à arte.
Nesse sentido, a partir deste escrito, gostaríamos de ensejar a percepção de que o
aprender exige-nos um remanejamento do olhar, reaprender a olhar, não raro importando,
em certas circunstâncias, desaprender, qual seja, estarmos abertos a novas experiências
e possibilidades reconstrutivas. Legitimamente, experimentar. Extrair do conhecimento
todo o seu sabor. O sabor de conhecer.7
Isto se aplica diretamente às chamadas metodologias qualitativas, marcadas
por privilegiar, de modo geral, a análise de microprocessos através do estudo das
ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados (tanto
em amplitude quanto em profundidade), caracterizada – consoante se depreende do
exposto – pela heterodoxia no momento da análise.8 As páginas que seguem visam
a estabelecer um exercício de observação capaz de instigar o discente do direito ao
estabelecimento de novos olhares sobre a realidade experienciada, transformando-a.
Sobretudo, quando se reconhece o fato do quão adstrita está a pesquisa jurídica ao uso
de fontes bibliográficas e/ou jurisprudenciais, bem como do consequente imobilismo
que essa postura tem acarretado.
7 GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 10ª ed. Rio
de Janeiro: Record, 2007.
8 MARTINS, Heloísa. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e pesquisa, v. 30, nº 2, São Paulo, 2004,
p.292. Nas palavras da autora: “Outra característica importante da metodologia qualitativa consiste na heterodoxia
no momento da análise dos dados. A variedade de material obtido qualitativamente exige do pesquisador uma
capacidade integrativa e analítica que, por sua vez, depende do desenvolvimento de uma capacidade criadora
e intuitiva. A maior dificuldade da disciplina de métodos e técnicas de pesquisa está na dificuldade de ensinar
como se analisa os dados – isto é, como se atribui a eles significados – sendo mais fácil ensinar a coletá-los ou a
realizar trabalho de campo. A intuição aqui mencionada não é um dom, mas uma resultante da formação teórica
e dos exercícios práticos do pesquisador. Já no desenvolvimento do emprego de metodologias quantitativas, o
que se procura é justamente o contrário, isto é, controlar o exercício da intuição e da imaginação, mediante a
adoção de procedimentos bem delimitados que permitam restringir a ingerência e a expressão da subjetividade
do pesquisador. (...) O uso de uma metodologia ou de outra dependerá muito do tipo de problema colocado e
dos objetivos da pesquisa. (...) no que se refere especificamente à metodologia qualitativa, é que com ela, a
pesquisa depende, fundamentalmente, da competência teórica e metodológica do cientista social. Trata-se de um
trabalho que só pode ser realizado com o uso da intuição, da imaginação e da experiência do sociólogo (o que
não significa que no caso da metodologia quantitativa também não seja requerida a competência, é que, neste
caso, a formalização técnica acaba dominando o pesquisador” (p.292-293).
192
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
2 Por um remanejo do Olhar: breve exercício
de análise com vistas à promoção de novas
possibilidades reflexivas ao estudo do
direito
A metodologia qualitativa trabalha sempre com unidades sociais, privilegia os
estudos de caso – entendendo-se como caso, o indivíduo, a comunidade, o grupo, a
instituição.9 Em seu seio estão presentes três faculdades de entendimento sociocultural,
isto é, inerentes ao modo de conhecer das ciências sociais – e do direito, enquanto
modalidade de ciência social aplicada –, a saber: o olhar, o ouvir e o escrever.10
Notoriamente, quando aludimos ao (re)aprender a olhar está se fazendo referência
à postura epistemológica do conhecer, conformadora de uma visão de mundo e,
igualmente, do estudo escolhido – envolvendo, por conseguinte, as três faculdades de
entendimento nomeadas.
O olhar – em sentido estrito – é, no mais das vezes, a primeira experiência do
pesquisador em sua situação de pesquisa, marcado, sobremaneira, por sua domesticação
teórica. Consoante adverte Roberto Cardoso de Oliveira, a partir do momento em que
nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto sobre o qual dirigimos
o nosso olhar, já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Em outras
palavras, seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo esquema
conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade.11
Nas palavras de Cardoso de Oliveira,
Esse esquema conceitual, disciplinadamente apreendido durante o nosso itinerário
acadêmico (daí o termo disciplina para as matérias que estudamos), funciona
como uma espécie de prisma por meio do qual a realidade observada sofre um
processo de refração (...). É certo que isso não é exclusivo do Olhar, uma vez
que está presente em todo processo de conhecimento, envolvendo, portanto,
todos aqueles atos cognitivos (...) em seu conjunto. Mas é certamente no Olhar
que essa refração pode ser mais bem compreendida. A própria imagem óptica –
refração – chama a atenção para isso.12
9 MARTINS, Heloísa. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e pesquisa, v. 30, nº 2, São Paulo, 2004,
p.294.
10 CARDOSO DE OLIVEIRA, op.cit., p.14 e seguintes.
11 Idem, p.15.
12 Idem, p.16.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
193
Imaginemos a situação de um estudante de direito que se dirige ao Fórum de sua
cidade, com vistas a observar o Juizado Especial Criminal13 em sua ritualística, dinâmicas
e procedimentos. Claro está que a sua condição de estudante de direito não pode ser
desconsiderada no processo de seu exercício de observação. Ao ingressar no ambiente do
Fórum, perceberá os olhares que a ele são dirigidos de parte dos funcionários de segurança,
servidores dos cartórios e demais transeuntes. A sua postura, vestimenta e empatia poderão
levar um simples pedido de informações a diferentes possibilidades. Olhares e posturas que
poderão encetar, ou não, alguma significação. Com o passar do tempo, vai-se desenvolvendo
uma espécie de sensibilidade no trato dessas questões, uma sorte de conhecimento produzido
a partir de acertos e equívocos, responsáveis por – ao longo desse processo – conduzir-nos
a uma gradativa sensação de segurança e colocação diante destas situações. Retomando
o argumento. Não obstante, além da sua vivência junto à prática jurídica, de igual modo,
serão os seus conhecimentos de direito material e processual responsáveis por balizar as
suas percepções primeiras. Ao adentrar na sala de audiência, o observador identificará a
disposição dos atores jurídicos – juiz de direito, defesa e acusação – tal qual estudou em
disciplinas e manuais de direito penal, processo penal e organização judiciária. Observará,
ainda, as características arquitetônicas da sala de audiência e suas similitudes e/ou diferenças
em relação às outras que por ventura tenha presenciado, ou assistido em filmes ou demais
fontes de informação. Todavia, em seguida, chegará à conclusão de que para dar conta da
natureza das relações sociojurídicas estabelecidas nesse ambiente, somente o Olhar não seria
suficiente. Como alcançar o significado dessas relações sem se valer, concomitantemente,
de outro recurso para obtenção dos dados, o Ouvir?
Se o Olhar possui uma significação específica para um cientista social, o Ouvir
também o tem. Ao observador de uma audiência do Juizado Especial Criminal, os
discursos terão como liame comum o desenvolvimento de argumentos pautados por essa
esfera do direito (penal e processual penal). Entretanto, o mesmo poderá reparar em certos
equívocos ou imprecisões no uso dessa linguagem e, inclusive, dos próprios termos e
institutos do direito. Ninguém está livre de falhas. Poderá perceber, ainda, uma ampla gama
de não-ditos, por vezes ensurdecedores, e, inclusive, posturas violadoras ao sentimento
de justiça. O Olhar aliado ao Ouvir poderá, portanto, informar ao estudante uma série
de circunstâncias imponderáveis, imprevistas, que não estavam presentes no repertório
legislativo e doutrinário de seu aprendizado em uma disciplina acadêmica. Outro aspecto,
o pesquisador poderá avançar em seu entendimento desde que atento à globalidade de
informações que se entrecruzam naquele campo, a exemplo dos ditos/não-ditos, olhares,
etc., presentes no próprio intervalo entre as audiências da pauta de julgamentos em questão,
ou, ainda, no perfil das partes envolvidas e suas dinâmicas, entre outros. Em suma, trata-se
13 Os Juizados Especiais Criminais tiveram sua origem por ocasião da Lei 9.099/95, responsável por estabelecer
a informalização dos procedimentos judiciais (civil e criminal) no âmbito da administração da justiça. Sob esse
prisma, a esfera criminal (do dispositivo) passou a se ocupar das chamadas infrações de menor potencial ofensivo,
isto é, contravenções penais e demais crimes cuja pena máxima não excede dois anos de prisão (Lei 10.251/01).
Para tanto, compreende um amplo rol de pequenos delitos que, com o passar dos anos, encontravam-se afastados
da justiça criminal tradicional – em nome do princípio da insignificância (ou “bagatela”) –, assim, regressando ao
sistema penal e às agências oficiais de controle. Para uma rápida referência aos juizados especiais criminais
(princípios e regras gerais) vide GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Juizados especiais criminais: doutrina e
jurisprudência atualizadas. São Paulo: Saraiva, 1998.
194
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
de um repertório amplo de possibilidades, que podem fazer-se presentes nas situações de
pesquisa experienciadas, delineadas de acordo com o recorte da pesquisa em particular,
seu problema de estudo e seus objetivos anteriormente delimitados – orientando, inclusive,
para novos rumos e eventuais correções de adequação da pesquisa.
Todavia, faz-se relevante esclarecer que o Ouvir não se restringe à sua manifestação
passiva – isto é, um observador mergulhado no curso de um ritual judiciário não pode se
manifestar, interromper a audiência e/ou retirar suas dúvidas com as partes envolvidas.
Imaginemos, por conseguinte, um momento posterior, em que o mesmo tem a oportunidade
de realizar entrevistas. Mas, para isso, há de se saber Ouvir. Acompanhando Roberto Cardoso
de Oliveira, entendemos que esse exercício se apresenta como delicado, problemático,
ínsito à própria natureza da relação estabelecida entre entrevistador e entrevistado. O
observador/entrevistador deve estar aberto às situações a ele colocadas, consoante referimos
anteriormente, o aprender exige-nos um remanejamento do olhar, reaprender a olhar (aqui
compreendido como olhar – em sentido estrito –, ouvir e escrever), não raro importando,
em certas circunstâncias, desaprender, qual seja, estarmos abertos a novas experiências
e possibilidades reconstrutivas. Legitimamente, experimentar. Extrair do conhecimento
todo o seu sabor. O sabor de conhecer. Pois bem, perceba-se que caso essa atitude não seja
espontaneamente assumida, teremos tão somente perguntas feitas em busca de respostas
pontuais, criando um campo ilusório de interação. Em outras palavras, não se pode perguntar
com vistas a orientar a resposta que se quer ouvir. Isto porque, a rigor, não há verdadeira
interação entre entrevistador e entrevistado se não se cria condições de efetivo diálogo.
Portanto, estamos falando de dois níveis de importância, a saber: a primeira, atinente ao
próprio sujeito do conhecimento, que deve se mostrar aberto, crítico e “positivamente
inquieto” no curso do processo de pesquisa; e, ainda, uma segunda, que diz respeito à
necessidade de se perceber no informante um interlocutor, qual seja, edificar uma relação
em que o pesquisador tenha a habilidade de ouvir o entrevistado e por ele ser igualmente
ouvido, construir pontes cognitivas, encetando um diálogo teoricamente de iguais, sem
receio de estar, assim, contaminando o discurso do informante com elementos de seu próprio
discurso (pesquisador). Portanto, sabendo-se não ser possível a neutralidade idealizada
pelos defensores da objetividade absoluta, é tão somente no diálogo, marcado pela fusão
de horizontes, que o Ouvir ganha em qualidade e altera uma relação, qual estrada de mão
única, numa outra, de mão dupla, constituindo assim uma verdadeira interação.14
De outra sorte, é oportuno referir que uma relação em tal nível envolve um exercício
mais aprofundado de pesquisa, mais intenso, o que em antropologia convencionou-se
chamar de observação participante. Nas palavras de Cardoso de Oliveira,
14 Idem, p.21.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
195
(...) o que significa dizer que o pesquisador assume um papel perfeitamente
digerível pela sociedade [ou situação de pesquisa] observada, a ponto de viabilizar
uma aceitação senão ótima pelos membros daquela sociedade [ou situação], pelo
menos afável, de modo a não impedir a necessária interação. (...) Entendo que
tal modalidade de observação realiza um inegável ato cognitivo, desde que a
compreensão (Verstehen) que lhe é subjacente capta aquilo que um hermeneuta
chamaria de “excedente de sentido”, i. e., aquelas significações (por conseguinte,
dados) que escapam a quaisquer metodologias de pretensão nomológica. (...)
[Portanto], por meio do qual o pesquisador busca interpretar (melhor dizendo:
compreender) a sociedade e a cultura do Outro “de dentro”, em sua verdadeira
interioridade. Tentando penetrar nas formas de vida que lhe são estranhas, a
vivência que delas passa a ter cumpre uma função estratégica no ato de elaboração
do texto, uma vez que essa vivência – só assegurada pela observação participante
“estando lá” – passa a ser evocada durante toda a interpretação do material
etnográfico no processo de sua inscrição no discurso da disciplina.15
Assim, para que a pesquisa se realize é necessário que o pesquisado aceite o
pesquisador, disponha-se a falar sobre sua vida, introduza o pesquisador no seu grupo e
dê-lhe liberdade de observação. Esse mergulho na vida de grupos e culturas aos quais o
pesquisador não pertence exige uma aproximação baseada na simpatia, confiança, afeto,
amizade, empatia, etc.16 Entretanto, há de se ter prudência na escolha dos informantes,
sobretudo, quando se restringe a pesquisa tão somente a um informante privilegiado.
Sobre a questão, adverte Heloísa Martins
O recurso ao depoimento oral, como forma de construção do documento, tem
levado várias questões (e objeções) que dizem respeito à memória. A referência
“às peças que a memória prega” baseia-se na compreensão de que entre o tempo
do acontecimento e o tempo presente do relato o informante, cuja memória se
apela, viveu um conjunto de experiências que, de certa forma, orientam a visão
que ele tem do passado. Seu olhar presente para o já vivido sofre a interferência
daquelas experiências; muitas vezes ele não espelha a “verdade” sobre a vida
passada, mas se limita a lembrar aquilo que ele quer ou pode recordar, à luz
das vivências mais recentes. Nesse sentido, o informante estaria fazendo
interpretações, e não expondo a verdade. Essa é uma questão que frequentemente
preocupa os historiadores, que sempre recomendaram que se fizesse a crítica do
dado, da fonte, do documento, para averiguar sua veracidade. Daí a constante
desconfiança acerca da confiabilidade de certos relatos.17
15 Idem, p.21-22; 31.
16 MARTINS, op.cit., p.294.
17 Idem, p.295. Interessante referir, em contraponto, o relato presente no texto “O grande mentiroso: tradição,
veracidade e imaginação em história oral”, de autoria de Janaína Amado (AMADO, Janaína. O grande mentiroso:
tradição, veracidade e imaginação em história oral. História, nº 14, São Paulo, 1995, p.125-136). A autora, com base
na análise de uma entrevista, explora a questão da mentira na história oral; para tanto, defende a ideia de que
depoimentos desprezados por historiadores por serem “mentirosos” – isto é, por não promoverem reconstituições
históricas fidedignas dos fatos pesquisados – podem conter dimensões simbólicas extremamente importantes. O
exemplo utilizado demonstra como tradição, imaginação e cultura erudita e popular combinaram-se para produzir
um depoimento “mentiroso” que, entretanto, se revelou o mais rico e fértil para a análise histórica.
196
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Retomando o argumento, se o Olhar etnográfico, tanto quanto o Ouvir, cumpre sua
função elementar na pesquisa empírica, é o Escrever, momento posterior e particular,
que se revela como o passo mais fecundo da interpretação; e é por meio dele – quando
se textualiza a realidade sociocultural – que o pensamento se manifesta em sua plena
criatividade.18
Desse modo, o Escrever é a etapa seguinte à observação – “olhar” e “ouvir”
–, cumprindo a mais alta função cognitiva. Em outros termos, envolve o processo
de textualização dos fenômenos socioculturais observados “estando lá”, trazendo
ao texto os fatos observados (vistos e ouvidos) para o plano do discurso. Trata-se
de um empreendimento bastante complexo, que não se confunde com as anotações
e/ou rabiscos que por ventura tenham sido feitos na primeira fase da pesquisa. É,
portanto, necessariamente recursivo,19 cíclico, um processo de idas e vindas, aliando o
conhecimento teórico em compasso com as circunstâncias experienciadas, mediadas,
permanentemente pela reflexão.
Como bem pondera Roberto Cardoso de Oliveira,
Pelo menos minha experiência indica que o ato de escrever e o de pensar são
de tal forma solidários entre si que, juntos, formam praticamente um mesmo
ato cognitivo. Isso significa que nesse caso o texto não espera que o seu autor
tenha primeiro todas as respostas para, só então, poder ser iniciado. Entendo que
ocorra na elaboração de uma boa narrativa que o pesquisador, de posse de suas
observações devidamente organizadas, já inicie o processo de textualização, uma
vez que esta não é apenas uma forma escrita de simples exposição (uma vez que
há também a forma oral), porém é a produção do texto também produção de
conhecimento. Não obstante, sendo o ato de escrever um ato igualmente cognitivo,
esse ato tende a ser repetido quantas vezes for necessário: portanto, ele é escrito
e reescrito repetidamente, não apenas para aperfeiçoar o texto do ponto de vista
formal, mas também para melhorar a veracidade das descrições e da narrativa,
aprofundar a análise e consolidar argumentos.20
Desse modo, concluindo o exemplo mencionado, imaginemos que o nosso
observador poderia textualizar em sua síntese final de que o exercício de pesquisa
realizado permitiu-lhe estranhar um descompasso entre a previsão abstrata da lei e
o âmbito das práticas rituais – ou seja, do exercício do poder emanado da lei e sua
imbricação com as dinâmicas estabelecidas –, ilustrado a partir da corporalidade
e demais expressões performáticas – olhares, posturas, atos de fala, brincadeiras,
sutis repreensões, violências explícitas e simbólicas, entre outros – dos atores nas
diferenciadas relações envolvidas. Portanto, depreende-se do exposto que o olhar,
18 CARDOSO DE OLIVEIRA, op. cit., p.13.
19 A respeito do caráter recursivo da construção do conhecimento no âmbito das ciências humanas, vide DESHAIES,
Bruno. Metodologia da investigação em ciências humanas. Lisboa: Instituto Piaget, 1992, p.213-215.
20 CARDOSO DE OLIVEIRA, op. cit., p.29.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
197
o ouvir e o escrever podem e devem ser questionados em si mesmos, embora num
primeiro momento possam nos parecer tão familiares e, por isso, tão triviais, a
ponto de nos sentirmos dispensados de problematizá-los; todavia, num segundo
momento – marcado por nossa inserção nas ciências sociais –, essas “faculdades”
ou, melhor dizendo, esses “atos cognitivos” delas decorrentes, assumem um sentido
todo particular, de natureza epistêmica, uma vez que é com tais atos que logramos
construir o nosso saber.21
3 Considerações finais
Este breve escrito objetivou informar ao discente do direito sobre a análise e
reflexão dos atos inerentes ao processo cognitivo, orientando-o à realização de exercícios
de pesquisa de cunho qualitativo. Notoriamente, o exposto não pode ser desvinculado
de outras ideias centrais, vinculadas a um conjunto mínimo de decisões e práticas que
devem necessariamente acompanhar o desenho de qualquer pesquisa, conduzindo a
mesma a diferentes possibilidades, a saber: (a) decisões relativas à construção do objeto
(ou delimitação do problema a ser investigado); (b) decisões relativas à seleção dos
dados e suas especificidades (pessoas, locais, documentos, entre outros); (c) decisões
relativas à coleta dos dados e seus corolários (os meios necessários para a obtenção
da informação indispensável para fins de investigação: questionários, entrevistas,
dentre outros); (d) decisões concernentes à análise dos dados e demais elementos da
pesquisa (técnicas e ferramentas empregadas para ordenar, resumir, dar sentido às
informações coletadas).22 Considerando, portanto, o processo de conhecimento em
toda sua complexidade.
Referências
AMADO, Janaína. O grande mentiroso: tradição, veracidade e imaginação em história
oral. História, n.14, São Paulo, 1995.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever.
Revista de Antropologia (USP), v.39, n.1, São Paulo, 1996.
DESHAIES, Bruno. Metodologia da investigação em ciências humanas. Lisboa: Instituto
Piaget, 1992.
ENTRETIEN AVEC EDGAR MORIN. M.A.R.S. Le Monde Arabe dans la Recherche
Scientifique, n.6, Paris, 1996.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em
Ciências Sociais. 10.ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Juizados especiais criminais: doutrina e
jurisprudência atualizadas. São Paulo: Saraiva, 1998.
21 Idem, p.15.
22 MARRADI, Alberto; ARCHENTI, Nélida; PIOVANI, Juan. Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires:
Emecé, 2007, p.71-85.
198
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
MARTINS, Heloísa. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e pesquisa, v.30,
n.2, São Paulo, 2004.
SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre a construção do sentido: o pensar e o agir entre a
vida e a filosofia. São Paulo: Perspectiva, 2004.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
199
Estado social brasileiro
e equilíbrio financeiro
Paulo Sergio Rosso
RESUMO
Procura encontrar solução para o problema decorrente das exigências do Estado social e os
poucos recursos financeiros disponíveis. Delineia as características históricas do Estado liberal e
do Estado social. Rememora implantação do Estado social no Brasil. Aponta os graves problemas
decorrentes das limitações orçamentárias a que está submetido o moderno Estado social brasileiro em
razão das imensas responsabilidades que lhe são impostas constitucionalmente. Indica as principais
possibilidades de conduta dos governantes visando a atender as responsabilidades impostas pela
Constituição. Conclui pela impossibilidade de aumento da carga tributária em razão da existência
do princípio da vedação ao confisco bem como pela impossibilidade de redução dos investimentos
sociais do Estado, em face ao princípio da impossibilidade de retrocesso dos direitos sociais. Sugere
a melhor adequação dos serviços prestados pelo Estado, não apenas como solução administrativa,
mas como única alternativa jurídica sobejante.
Palavras-chave: Estado social. Estado liberal. Crise financeira. Despesas públicas.
Brazilian social State and financial balance
ABSTRACT
The aim of this paper is to find the solution to problems having recourse from the demands
of the social State and also of the scarce financial resources available. It outlines the historical
characteristics of the liberal State and of the social State. It goes on to review the implementation of
the Social State in Brazil. It also highlights severe problems recurring from the budget limitations to
which Brazilian modern social State is submitted to, due to the huge responsibilities constitutionally
imposed on in. It shows the main behavioral possibilities of the governors, aiming to attend to the
responsibilities imposed by the Constitution. It ends by outlining the impossibility of increasing the
taxation burden due to the existence of a confiscation breach principle as well as the impossibility
of reducing the social investments of the State, in face of the impossibility of receding social rights
principle. It also suggests a better adaptation of the services provided by the State, not only as an
administrative solution, but also as the only exceeding legal alternative.
Keywords: Social state. Liberal state. Financial crisis. Public expenditure.
Paulo Sergio Rosso é procurador do Estado do Paraná. Professor de Direito Tributário e Sociologia Jurídica na
UENP/FUNDINOPI e FANORPI. Mestrando em Ciência Jurídica. E-mail: [email protected]
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.200-211
jul./dez. 2009
1 INTRODUÇÃO
A Constituição brasileira caracteriza-se por sua clara preocupação social.
Indubitavelmente, a conformação atribuída ao Estado brasileiro tem por escopo uma
atuação bastante presente do Estado na vida dos cidadãos, não se limitando a fazer às
vezes de mediador das relações, mero tutor das liberdades, como ocorria no Estado
liberal.
Inúmeros são os direitos sociais previstos pela lei, mas limitados são os recursos
dos quais o Estado dispõe visando à solução dos problemas sociais, cada vez mais
amplos.
Ao atender os reclamos da sociedade, os governos democráticos veem-se
balizados por duas possíveis soluções: aumentar a carga tributária ou reduzir as despesas
estatais. A primeira solução é, em regra, a eleita, mas a carga tributária brasileira é
tida pelos setores produtivos como excessiva, fato que diminui a competitividade do
país e atravanca o crescimento econômico, enquanto a segunda solução – redução de
despesas – pode esbarrar no risco de se minimizarem ainda mais os investimentos
públicos no setor social.
O presente artigo procura analisar o problema situando-o especialmente sob
o ângulo jurídico, e não apenas administrativo, como sói acontecer nos estudos
existentes sobre o tema. No âmbito do direito, há que se questionar se os governos,
ainda que democraticamente eleitos, podem ampliar a arrecadação do Estado mediante
incrementos na tributação, ao seu talante, ou se o próprio Poder Constituinte originário
previu limites para tanto. Da mesma forma, deve-se indagar se a redução de despesas,
com a consequente decadência da qualidade dos serviços públicos, não significaria, da
mesma forma, uma conduta inconstitucional, face às obrigações impostas ao Estado
brasileiro pela Constituição de 1988.
Há que se destacar, com maior rigor, a importantíssima missão do Poder Judiciário
que pode e deve interferir neste processo, não avocando indevidamente para si as funções
do administrador, mas impedindo que a administração descumpra, por excessos ou
omissões, os ordenamentos constitucionalmente inscritos.
Num primeiro momento, este trabalho faz breves reminiscências sobre a história da
implantação do Estado social no Brasil, bem como as razões que ocasionaram as crises
econômicas verificadas a partir da década de 70. Ao final, analisa como deve ser pautada
a atuação do administrador público em respeito à Constituição Federal de 1988.
2 ESTADO SOCIAL E ESTADO LIBERAL
O Estado social nasceu das novas demandas surgidas com a ascensão política
de classes antes renegadas e alijadas do poder. Enquanto o Estado liberal representava
o modelo ideal para a classe burguesa, abraçando a ideia do Estado mínimo, nãointervencionista, o Estado social advém do desejo das classes economicamente
desfavorecidas de, ao lado do seu crescente poderio político, obterem também progressos
sociais.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
201
No Estado liberal, a atuação estatal era preponderantemente negativa, limitandose a proteger os cidadãos da possível violência decorrente da relação de convivência;
no Estado social os objetivos a serem alcançados são muito mais ousados: pretende-se
garantir ao cidadão condições materiais de sobrevivência digna. Problemas atinentes à
desigualdade econômica, educação, saúde e outros direitos, recentemente nascidos, são
encarados como problemas de todos, obrigação e prioridade do Estado (BONAVIDES,
1994, p.344).
O Estado aparece doravante como o aliado, o protetor dos novos valores, ao passo
que a Sociedade figura como o reino da injustiça, o estuário das desigualdades.
De tudo isso se pode inferir, conforme disse Huber, que o Estado de Direito foi
um produto da Revolução burguesa enquanto o Estado social é um produto da
sociedade industrial. (BONAVIDES, 1994, p.345)
O grande problema que exsurge das promessas feitas pelo Estado social é que,
diante do aumento de demandas, cada vez mais numerosas e complexas, as despesas
decorrentes de suas crescentes funções tornam-se tão amplas que os desequilíbrios
financeiros daí decorrentes passam a ser cada vez mais graves e frequentes, ocasionando
crises, minando governos e democracias, fazendo nascer a sensação de que o projeto
de Estado, como instrumento para o alcance do bem comum, fracassou.
Nos anos 70, houve uma melhor compreensão mundial acerca das dificuldades
de se manter um Estado gigante, interessado em todos os aspectos da vida social. Cai
por terra a expectativa de que, por meio do Estado, todos os problemas sociais possam
ser solucionados. A crise do petróleo agravou a situação brasileira, levando o país a
uma situação de insolvência no final da década, prenunciando-se a enorme explosão
inflacionária vivenciada na década de 80
Os anos 1970 irão aprofundar esse desequilíbrio econômico, na medida em que
o aumento da atividade e das demandas em face do Estado e a crise econômica
mundial – explicitada a partir da crise da matriz energética de base petroquímica
–, com os reflexos inexoráveis sobre o cotidiano das pessoas, impondo-lhes
necessidades e retirando-lhes a capacidade de suportá-las, implicam um acréscimo
ainda maior de despesas públicas, o que redundará no crescimento do déficit
público, na medida em que o jogo de tensões sociais sugere uma menor incidência
tributária ou estratégias de fugas – seja via sonegação, seja via administração
tributária –, projetando uma menor arrecadação fiscal por um lado e, de outro, as
necessidades sociais, muitas delas, inerentes a um momento de crise econômica e
das atividades produtivas, avolumam-se formando um círculo vicioso entre crise
econômica, debilidade pública e necessidades sociais. (MORAIS, 2002, p.41)
O caso da política brasileira é especialmente didático. Analisando o século XX,
podemos perceber que a visão governamental sempre esteve ligada ao Estado provedor,
202
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
ao Estado como primeiro e maior responsável pelo progresso do país, como se pode
verificar em Getúlio Vargas, figura política mais marcante do século, que chefiou um
primeiro governo bastante longo (1930-1945), caracterizado pelo autoritarismo e pelos
avanços sociais. No que pertine à positivação dos direitos sociais, a Constituição de
1934 representa um marco para o constitucionalismo brasileiro
Em 1934 demos o grande salto constitucional que nos conduziria ao Estado
social, já efetivado em parte depois da Revolução de 30 por obra de algumas
medidas tomadas pela ditadura do Governo Provisório. Os novos governantes
fizeram dos princípios políticos e formais do liberalismo uma bandeira
de combate, mas em verdade estavam mais empenhados em legitimar seu
movimento com a concretização de medidas sociais, atendendo assim a um
anseio reformista patenteado de modo inconsciente desde a década de 20,
por influxo talvez das pressões ideológicas sopradas do velho mundo e que
traziam para o País o rumor inquietante da questão social. (BONAVIDES,
2002, p.331)
A Constituição de 1934 foi diretamente influenciada pela Constituição mexicana
de 1917 e a chamada “Constituição de Weimar,” de 1919 (BRENDLER, 2005).
Também nos momentos posteriores, como na Constituição de 1946, esta visão
constitucional foi mantida: o Estado tomando para si a responsabilidade pelo avanço
social e econômico do país (BONAVIDES, 1994, p.335). Nos vinte anos de ditadura
militar (1964-1985) verificou-se uma mesma orientação, nacionalista e estatizante,
características suportadas pelo poderio internacional que preferia esta linha de atuação
ao risco de tomada de poder pelas linhas de pensamento socialistas.
Enfim, a história constitucional brasileira, no Século XX, está profundamente
marcada pela Constituição de Weimar, culminando com o texto de 1988
De último, prosseguiu, com não menos força, na mais recente das Constituições
brasileiras, a de 5 de outubro de 1988, conforme podemos averiguar examinandolhe alguns capítulos ou artigos. Na técnica, na forma e na substância da matéria
pertinente a direitos fundamentais, a derradeira Constituição do Brasil se
acerca da Lei Fundamental alemã de 1949, e até ultrapassa em alguns pontos.
(BONAVIDES, 1994, p.335)
A Constituição inspirada na ideia de um Estado social é marcantemente distinta
daquela construída sob a égide do Estado liberal. Esta, é uma Constituição anti-governo
e anti-Estado enquanto a Constituição social contém a ideologia anti-absolutista e
anti-individualista, mas com claras preocupações sociais, buscando garantir a todos
um mínimo material (BONAVIDES, 1994, p.336).
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
203
Especificamente no caso brasileiro, a demanda pelo cumprimento das grandiosas
funções atribuídas ao Estado está em plena consonância com os princípios insculpidos
pela Constituição de 1988, segundo os quais não há democracia nem liberdade sem o
reconhecimento de que o indivíduo depende das prestações do Estado ( BONAVIDES,
1994, p.343).
Entretanto, o pensamento otimista sobre o Estado do bem estar social começa a
naufragar em meados da década de 60:
Os primeiros sintomas da crise fiscal ou financeira começaram a surgir em meados
dos anos 60, através da constatação de que estava havendo um desequilíbrio na
balança fiscal, no sentido de que os gastos em políticas sociais estavam sendo
maiores do que a receita arrecadada pelo Estado.
[...] A situação começou a agravar-se no final dos anos 70, quando iniciou um
crescimento descontrolado da inflação, ao mesmo tempo em que há um quadro
de intensa estagnação econômica. Desta forma, todo o estímulo ou desestímulo
da demanda, que haviam sido as alternativas características deste modelo
Estatal, mostrou-se ineficiente frente ao aumento daqueles dois indicadores.
(BRENDLER, 2005)
Nos anos 80 e 90, o Estado brasileiro viu-se obrigado a adotar medidas
contingenciais, visando à redução de gastos, até em razão das fortes pressões
internacionais. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de
04/05/00) que fixou limites de gastos com pessoal, responsabilizando pessoalmente o
administrador público quanto ao respeito de tais limites, tem caráter emblemático para
a época, marcada pela intensa pressão em prol do controle dos gastos públicos.
A gravíssima crise financeira vivida pelo país logo após o retorno ao regime
democrático, a partir de 1985, trouxe à baila o discurso neo-liberal, anti-estatizante,
o qual foi seguido pelo Governo Collor (1990-1993) e, em menor grau, por Fernando
Henrique Cardoso (1994-2002). Enquanto no breve governo Collor a intenção era
reduzir ao máximo o tamanho do Estado, com Fernando Henrique Cardoso a intenção
era manter o Estado na condição de fiscalizador e mediador, outorgando à iniciativa
privada a responsabilidade pelos investimentos públicos. Com base nesse raciocínio,
justifica-se a criação e a tentativa de estruturação das Agências Reguladoras, que fariam
o papel regulador e fiscalizador (missão originária do Estado).
Difícil dizer até que ponto tratou-se efetivamente de uma mudança de mentalidade
ou apenas de uma situação insuperável, inevitável, diante da realidade econômica
interna, das pressões internacionais e das exigências da sociedade, cada vez mais
complexa e cheia de necessidades desatendidas.
204
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
3 LIMITES FINANCEIROS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Diante da imensa gama de esperanças depositadas sobre o Estado social e aos limitados
recursos disponíveis em países com economias relativamente frágeis como a brasileira,
vislumbram-se duas opções viáveis: a) Ampliar a arrecadação ou b) Reduzir despesas.
3.1 Ampliar a arrecadação
Para os governantes, a opção de aumentar tributos é sempre preferível. Na origem, a
tributação é uma relação de poder. Ainda que essa visão tenha evoluído para o conceito de
relação jurídica, os governos não parecem preocupados com a capacidade de pagamento
dos cidadãos, nem demonstram sensibilidade diante do fato de que a carga tributária, no
Brasil, hoje atinge o alarmante e crescente percentual de 37,7% (RIBEIRO, 2006, on line).
Nenhuma empresa ou cidadão comum tem a faculdade de, ao sofrer restrições financeiras,
aumentar sua arrecadação sem maiores esforços. Ao governo basta negociar e legislar.
Realidade insofismável é que os limites razoáveis da carga tributária brasileira
foram há muito superados, de forma que parece ser insuportável uma adicional
ampliação dessa carga, embora isso não possa ser descartado ante a histórica falta de
visão governamental acerca dos limites de tributação e a relativa timidez do Poder
Judiciário em coibir essa prática. Não parece estar sendo respeitado o princípio de
vedação ao confisco, insculpido no art. 150, inc. III, alínea “d”, da Constituição
Federal.
Segundo Ives Gandra Martins (2001, p.23), há desatendimento ao princípio
“sempre que a tributação agregada retire a capacidade de o contribuinte se sustentar e
se desenvolver (ganhos para suas necessidades essenciais e ganhos a mais do que essas
necessidades para reinvestir ou se desenvolver)”.
Muito embora o princípio constitucional de vedação ao confisco seja, realmente,
fluído, já que os limites daquilo que equivaleria a confisco, deixando de ser mera
tributação, são de difícil definição, verdade é que o problema sempre haverá de ser
resolvido tendo-se em vista o princípio da razoabilidade (AMARO, 2005 p.144).
Considera-se, pois, que se a tributação é, por sua grande magnitude, não razoável em
virtude da exagerada carga imposta ao cidadão, também haverá de ser considerada,
por consequência, inconstitucional. Infelizmente, como princípio que é, o conceito de
vedação ao confisco deveria ser aplicado pelo legislador, respeitado pelo administrador
público e salvaguardado pelo Poder Judiciário, de forma mais específica e ousada do
que vem sendo.
O princípio da vedação ao confisco ainda não apresenta contornos suficientemente
definidos, cabendo, dentre outras dúvidas, o questionamento referir-se-ia apenas a algum
tributo, singularmente considerado, ou representaria mais que isso, uma limitação geral
à carga tributária imposta aos cidadãos. Segundo Ives Gandra Martins, o princípio de
vedação ao confisco pode ser considerado em relação à totalidade dos tributos incidentes,
e não apenas a um tributo isoladamente
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
205
Na minha especial maneira de ver o confisco, não posso examiná-lo a partir de
cada tributo, mas da universalidade de toda a carga tributária incidente sobre
um único contribuinte.
Se a soma dos diversos tributos incidentes representa carga que impeça o pagador
de tributos de viver e se desenvolver, estar-se-á perante carga geral confiscatória,
razão pela qual todo o sistema terá de ser revisto, mas principalmente aquele
tributo que, quando criado, ultrapasse o limite da capacidade contributiva do
cidadão. (MARTINS, 2001, p.23)
Parece óbvio que a atual carga tributária pode ser tomada como não razoável
e, consequentemente, inconstitucional, especialmente considerando-se o fato de
que o retorno em serviços concedido pelo Estado ao cidadão é, confessadamente,
insignificante.
Infelizmente, há uma inexplicável timidez por parte dos operadores jurídicos
que, diante da real dificuldade de estabelecimento de critérios mais objetivos para
estabelecimento de limites à chamada “sanha arrecadatória” do Estado, terminam por
fazer “letra morta” um princípio tão caro ao Direito Constitucional Tributário.
Seguindo este raciocínio, desprezado pelos tribunais e pela sociedade como um
todo, qualquer intenção de aumento da carga tributária, no estágio atual, poderia ser visto
como atentado à Constituição, fato que levaria à inviabilidade jurídica da ampliação da
carga tributária brasileira graças a uma necessária e desejável atuação do Judiciário.
À parte do aspecto meramente jurídico, o senso geral é que a carga tributária
atingiu patamares insuportáveis, sendo pouco recomendável sua ampliação em razão
dos funestos resultados que disso adviriam (sobrecarga do setor produtivo, aumento da
sonegação fiscal, redução da capacidade de investimentos, redução da competitividade
internacional e outros).
Afasta-se, portanto, a ideia de ampliação da carga tributária, tanto por questões
administrativas, quanto jurídicas.
3.2 Reduzir despesas
Restringido o caminho da ampliação da carga tributária, remanesceria a outra
possível solução: reduzir os gastos. Na visão liberal, este seria o caminho recomendável,
o que passaria, invariavelmente, pela minimização estrutural do Estado. Obviamente, a
supressão de órgãos estatais ou estruturas que não estejam adequadas a dar retorno útil
à sociedade é sempre recomendável seja qual for a ideologia adotada, muito embora, na
prática, tal solução encontre inesperados percalços, visto implicar no desatendimento
a interesses de grupos burocráticos, alguns deles extremamente influentes.
Ocorre, porém, que na maioria dos casos a redução de estruturas ocasiona também
decadência na qualidade dos serviços prestados. Em suma, o Estado, hoje tão criticado
por sua omissão, em casos tais, ousa recuar ainda mais, afastando-se de sua missão
constitucional.
206
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Entretanto, uma coisa é a ideologia liberal do Estado mínimo; outra, bastante
diversa, é a ideologia abraçada pela Constituição. Num Estado de direito, não cabe ao
governante, que é efêmero, modificar, limitar ou desatender os princípios constitucionais,
que ao menos tencionam ser eternos.
Trabalhar continuamente pelo atendimento aos direitos sociais não é uma opção do
administrador público: trata-se de obrigação imposta pelo Estado de direito instaurado
no Brasil a partir da Constituição de 1988. Segundo Moraes (1999, p.184), os direitos
sociais são fundamentos do próprio Estado democrático
Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como
verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado
Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos
hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados
como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição
Federal.
Sendo assim, afigura-se que a fuga do Estado de campos nos quais está obrigado
a atuar, representaria, no caso brasileiro, verdadeiro desatendimento à Constituição, já
que esta lhe impõe a obrigação de atender seus cidadãos em inúmeros aspectos, zelando
pela consecução de padrões consideráveis de qualidade de vida.
Partindo-se do pressuposto de que a redução de despesas pode ser efetuada sem
qualquer prejuízo à qualidade dos serviços públicos, nada poderia se opor. Como se
afirmou anteriormente, a realidade demonstra que esta solução, aparentemente simples,
apresenta dificuldades, razão pela qual geralmente é disfarçada em atos que, na prática,
não atingem os objetivos anunciados, como a extinção de órgãos, mas a manutenção
das estruturas, passando-as à responsabilidade de outros órgãos sobreexistentes, sem
nenhuma efetiva melhoria administrativa.
Ao reduzir estruturas, o governante deve estar cônscio de que qualquer tipo
de atentado aos direitos sociais já conquistados esbarraria na discussão sobre a
constitucionalidade desse ato. Há que se concluir pela impossibilidade de supressão de
direitos sociais, seja por modificações legislativas, seja pela omissão ou desinteresse
do Estado em trazer os direitos constantes do ordenamento legal ao mundo fático (em
muitos casos, mantém-se o direito na previsão legal e nada se faz para efetivá-lo).
Trata-se do princípio da “proibição de retrocesso” que Sarlet (2004, p.147) assim
conceitua
Em linhas gerais, o que se percebe é que a noção de proibição de retrocesso tem
sido por muitos reconduzida à noção que José Afonso da Silva apresenta como
sendo de um direito subjetivo negativo, no sentido de que é possível impugnar
judicialmente toda e qualquer medida que se encontre em conflito com o teor
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
207
da Constituição (inclusive com os objetivos estabelecidos nas normas de cunho
programático), bem como rechaçar medidas legislativas que venham, pura e
simplesmente, subtrair supervenientemente a uma norma constitucional o grau
de concretização anterior que lhe foi outorgado pelo legislador.
Como se não bastasse o mencionado princípio (implícito) constitucional, o Brasil
é signatário do Pacto de São Salvador, integrado ao sistema legal pátrio pelo Decreto
Legislativo nº 56, de 19 de Abril de 1995, que assim dispõe em seu art. 1º
Artigo 1 – Obrigação de adotar Medidas. Os estados-partes neste Protocolo
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos comprometemse a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna como por meio da
cooperação entre os estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo
dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim
de conseguir, progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena
efetividade dos direitos reconhecidos neste Protocolo.
Pontifique-se que discussões de cunho puramente ideológico, sobre a conveniência
ou não recomendabilidade da atuação estatal de forma tão ampla, devem ser reservadas
ao âmbito legislativo (político), o que não significa dizer que a ideologia não participe
do mundo do direito. Há que se reconhecer, entretanto, que no Estado democrático e
pluralista há um lócus especificamente destinado às lutas ideológicas, que é o campo
político. A existência de uma Constituição positivada serve, justamente, para minimizar
este tipo de debate no âmbito da administração pública que já sofre muito pelo excesso
de discussões vazias de pragmatismo.
Nossa opção constitucional voltou-se para uma forte participação estatal na área
social, respeitando-se a propriedade privada e a economia de mercado, e esta opção
do constituinte, representante popular, deve ser respeitada mesmo por aqueles que
dela discordam.
Em suma, reduzir despesas quase sempre redunda em malefícios à qualidade dos
serviços estatais, o que se afigura, também, conduta inconstitucional, passível, portanto,
de controle jurisdicional (muita embora – há que se reconhecer – a intervenção do
Judiciário seja extremamente tímida nessa questão). Sobre a atuação do Judiciário,
Streck (2006, p.121) comenta
O problema é que o judiciário sempre se encontra diante de um dilema: se assume
postura intervencionista, imiscuindo-se até mesmo no controle de políticas
públicas, é acusado de ativista (quando não, de utilizar a jurisprudência dos
valores); se assume uma postura self restreinting (veja-se o caso do mandado
de injunção e a discussão sobre a cassação das liminares durante a “grande
208
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
privatização” ocorrida no governo Fernando Henrique) é criticado pela sua
timidez ou conservadorismo.
Ainda que tais atos sejam de difícil detecção por parte do Judiciário e mesmo da
sociedade, há que se compreender que o administrador público está obrigado a atender a
Constituição mesmo que sua eventual desobediência possa passar impune, isto é, mesmo
inexistindo efetivo controle jurisdicional sobre tais comportamentos governamentais, o
administrador público tem a obrigação de atender os ditames constitucionais que não
são dirigidos exclusivamente ao Poder Judiciário. Muito embora essa visão seja rara
nos governantes, nem por isso deixa de ser desejável, cabendo ao cidadão exigir da
classe política respeito aos balizamentos impostos pela ordem constitucional.
4 CONCLUSÃO
Por um aspecto, não se pode cogitar em ampliação da carga tributária, tendo em
vista o grande sacrifício já imposto à coletividade que, talvez, possa ver no princípio
constitucional da vedação ao confisco um válido e legítimo instrumento de defesa
contra o irrefreável vício estatal de ampliar cada vez mais a arrecadação tributária.
Por outro aspecto, reduzir os gastos estatais atingindo a qualidade ou amplitude dos
serviços prestados pelo Estado, também pode ser tomado como atentado ao princípio
da vedação de retrocesso das conquistas sociais encampadas por nossa Constituição,
salvo quando tais reduções decorram de readequações administrativas que preservem
a atuação estatal.
Frente a tantas exigências e tão parcos recursos, estaria o Estado brasileiro diante
de um impasse insuperável?
Obviamente, a solução não poderá ser encontrada em condutas tradicionais. Mais
do que nunca, está em jogo a capacidade administrativa do administrador, eleito pelo
povo, em antever soluções que não impliquem nem em ampliação da carga tributária,
nem em redução da atuação ou da qualidade dos serviços públicos, tão deficientemente
prestados pelo Estado brasileiro. O governante está constitucionalmente impossibilitado
de recuar nos serviços públicos já prestados e também obrigado, dentro do possível, a
envidar esforços pelo avanço na efetivação de tais direitos, tendo em vista ser este o
fim e a razão de existência do Estado social.
Reorganizar a administração pública, realocando recursos financeiros e humanos
parece ser a única solução viável. Melhorar o desempenho dos servidores públicos,
buscando a melhoria da produtividade, enfim, reduzir despesas sem reduzir a capacidade
do Estado em atender aos primordiais anseios do povo. As parcerias com o setor privado
ou a retirada do Estado de setores econômicos nos quais não está vocacionado a atuar
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
209
são decisões positivas, desde que não representem simples abdicação dos interesses
públicos em prol do setor privado.
Especialmente complexo é o enfrentamento a setores burocráticos cujo poderio
hipertrofiou juntamente com o Estado; enfrentar essa situação é causa de extremo
desgaste para o político que muitas vezes prefere o caminho da omissão ao invés do
enfrentamento. Entretanto, o Estado existe para a sociedade, não o inverso.
As poucas soluções apontadas neste estudo, consistentes na readequação do
modelo administrativo do Estado, não são meras opções; consistem nas únicas
alternativas juridicamente viáveis neste momento, tendo em vista que os demais
caminhos estão cerrados ao administrador público, não por questões de inconveniência
ou impraticabilidade administrativa, mas em razão dos próprios mandamentos
insculpidos na Constituição. Não é, em suma, questão meramente administrativa, mas
também jurídica.
REFERÊNCIAS
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 5.ed. São Paulo: Malheiros,
1994.
BONAVIDES, Paulo. História Constitucional do Brasil. 4.ed. Brasília: OAB Editora,
2002.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm>. Acesso em: 25 set.
2007.
______. Decreto Legislativo nº 56 de 19 de abril de 1995. Pacto de São Salvador.
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/legislacao/vol1_5.htm> Acesso em: 07 set.
2006.
BRENDLER, Karina Meneghetti. A panaceia do estado social e a crise fiscal. CD-ROM
Juris Síntese nº 53 – Maio/Jun. 2005.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
6.ed. Coimbra: Almedina, 2002.
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de direito tributário. 8.ed. São Paulo: Saraiva,
2001.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e transformação
espacial dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
RIBEIRO, Ana Paula. Orçamento deixa de fora corte de gasto público e prevê mínimo
de R$ 375. Folha Online. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/
ult91u110686.shtml> Acesso em: 07 set. 2006.
210
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso:
algumas notas sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de
crise. In: Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre, 2004.
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias
discursivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
211
O desenvolvimento dos direitos humanos
fundamentais numa perspectiva histórica
Alberto de Magalhães Franco Filho
RESUMO
Costuma-se fracionar o desenvolvimento dos direitos humanos em eras ou dimensões. A
primeira geração de direitos fundamentais surge no século XIX e é composta dos direitos de liberdade,
correspondentes aos direitos civis e políticos, relativos à primeira fase do constitucionalismo. A
segunda geração, que dominou o século XX, compõe-se dos direitos sociais, culturais e econômicos,
inseridos nas constituições das diversas formas de Estados sociais. Já a terceira geração de direitos
é fruto da alteração da sociedade por mudanças na comunidade internacional (sociedade de massa,
crescente desenvolvimento tecnológico) que fazem surgir novos problemas e preocupações
mundiais como a preservação do meio ambiente, proteção dos consumidores etc. Em nosso trabalho
pretendemos comentar o desenvolvimento dos direitos humanos e a mudança de paradigmas dos
direitos individuais para os transindividuais.
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Direitos humanos. Gerações. Dimensões. Eras de
direitos.
The development of the basic human rights
in a historical perspective
ABSTRACT
It is custom if to divide the development of the human rights in ages or dimensions. The
first generation of basic rights appears in century XIX and is composed of the rights of freedom,
correspondents to the civil laws and politicians, relative the first phase of the constitutionalism.
The second generation, that dominated century XX, is composed in social, cultural and economic,
inserted the rights in the constitutions of the diverse forms of social States. Already the third
generation of rights is fruit of the alteration of the society, for changes in the international community
(mass society, increasing technological development) that they make to appear new problems and
world-wide concerns as the preservation of the environment, protection of the consumers etc. In
our work we intend to comment the development of the human rights and the change of paradigms
of the individual rights for the transindividuais.
Keywords: Basic rights. Human rights. Generations. Dimensions. Ages of rights.
Alberto de Magalhães Franco Filho é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo Centro
Universitário de Patos de Minas – UNIPAM. Mestrando em Direito Coletivo e Função Social do Direito pela
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Bolsista da CAPES pelo programa PROSUP. Advogado.
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.212-227
jul./dez. 2009
1 INTRODUÇÃO
No presente trabalho pretendemos analisar a evolução e o desenvolvimento dos
direitos humanos fundamentais.
Inicialmente iremos buscar uma terminologia adequada para os direitos, que terão
sua trajetória evolutiva estudada.
Em um segundo momento, traçaremos um esboço histórico do surgimento das
chamadas declarações de direitos, marco inicial, do estudo dos direitos humanos
fundamentais.
Posteriormente trataremos da evolução dos direitos fundamentais, sob a
perspectiva das eras de direitos, com o estudo das ondas geracionais ou dimensionais
dos direitos humanos fundamentais.
Por fim analisaremos a mudança de paradigmas entre os direitos individuais e os
interesses transindividuais.
2 A TERMINOLOGIA ADEQUADA
Como bem salienta José Adércio Leite Sampaio,
Qualquer estudo que se faça de um instituto ou categoria jurídicos como quase
tudo nessa vida não prescinde do exame da terminologia apropriada e das
perspectivas conceituais que se apresentam na doutrina como forma de encontro
de uma semântica comum ou pelo menos de maneira de evitar confusões.1
O estudo dos direitos do homem reveste-se de grande importância e relevância
não só para o mundo jurídico, talvez por isso tantos estudiosos de diversas áreas do
conhecimento tenham se debruçado sobre ele, dando ensejo a um grande número
de expressões tidas como sinônimas, e consequentemente a uma grande imprecisão
terminológica.
A doutrina2 tem apontado diversas expressões para designar tais direitos, entre
elas podemos citar: direitos naturais; direitos inatos; direitos originários; direitos
humanos; direitos do homem; direitos fundamentais; direitos humanos fundamentais;
direitos individuais; direitos civis; direitos políticos; direitos públicos subjetivos;
direitos morais; direitos sociais; direitos econômicos, sociais e culturais; direitos do
1 SAMPAIO. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. 2004, p.5.
2 Cf. SILVA. Curso de direito constitucional positivo. 2001, p.179; CANOTILHO. Direito constitucional e teoria
da constituição. 2006, p.393-398; MIRANDA. Manual de direito constitucional, tomo 4. 1988, p.48-72. PÉREZ
LUÑO. Los derechos fundamentales. 1998, p.23; TAVARES, André Ramos. “Direitos fundamentais (definição)”.
In DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário de direito constitucional. 2007, p.124.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
213
cidadão; direitos de personalidade; direitos dos povos; interesses difusos; liberdades
fundamentais; liberdades públicas; garantias e deveres fundamentais etc.
Esse grande número de expressões empregadas atesta a confusão3 teórica e
normativa envolta sobre o tema. Tais expressões, efetivamente não são sinônimas,4
porém muitas vezes erroneamente empregadas como tal. Vejamos a crítica de Paulo
Bonavides, quanto ao emprego descompassado destas expressões
Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na literatura
jurídica, ocorrendo porém o emprego mais frequente de direitos humanos e
direitos do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em coerência aliás
com a tradição histórica, enquanto a expressão direitos fundamentais parece ficar
circunscrita á preferência dos publicistas alemães.5
Em outro sentido e com relação á dimensão empregada na expressão, Canotilho
afirma que
Segundo sua origem e significado poderiamos distingui-las da seguinte maneira:
direitos do homem são direitos validos para todos os povos em todos os tempos
(dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos são
os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaciotemporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana
e daí o seu caráter inviolável intemporal e universal; os direitos fundamentais
seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.6
Então qual expressão seria a mais adequada? Tal questionamento é importante,
pois a expressão utilizada deverá refletir o real significado da complexidade do tema
ora tratado. Neste sentido é a lição de Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes
Júnior que asseveram: “qualquer opção terminológica deve guardar o objetivo de melhor
refletir a relação de correspondência sígnica entre a expressão eleita e a realidade que
por ela se pretende produzir”.7
Uadi Lamego Bulos sugere o uso da expressão “liberdades públicas em sentido
amplo”, que designariam um “conjunto de normas constitucionais que consagram
3 Em um capítulo intitulado “Um eterno problema de nomes”, José Adércio Leite Sampaio analisa com pormenor
a confusão teórica e normativa destes termos, atribuindo grande parte desta confusão à história dos usos e
costumes linguísticos da França e dos Estados Unidos da América, que são os países de destaques em todo o
exame retrospectivo destes direitos (SAMPAIO. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. 2004, p.5-22).
4 Para um maior aprofundamento sobre o significado de cada uma das expressões mencionadas e a confrontação
entre elas, consultar as obras dos constitucionalistas portugueses José Joaquim Gomes Canotilho (CANOTILHO.
Direito constitucional e teoria da constituição. 2006, p.393-398) e Jorge Miranda (MIRANDA. Manual de direito
constitucional, tomo 4. 1988, p.48-72).
5 BONAVIDES. Curso de direito constitucional. 2002, 514.
6 CANOTILHO. Ob. cit., p.393.
7 ARAUJO; NUNES JÚNIOR. Curso de direito constitucional. 2006, p.107.
214
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
limitações jurídicas aos Poderes Públicos”.8 Nesse sentido também é o magistério de
Maria Garcia, que opta por “liberdades públicas”,9 somente.
Porém, como alerta Jorge Miranda10 a expressão “direitos fundamentais” tem sido
a preferida pela doutrina e pelos textos constitucionais. Araújo e Nunes Júnior afirmam
que este termo é o “único apto a exprimir a realidade jurídica precipitada”.11
Já, José Afonso da Silva, esclarece que
direitos fundamentais do homem constituía a expressão mais adequada a este
estudo (...) no qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que não se trata
de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive,
e as vezes nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a
todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta
e materialmente efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no
sentido de pessoa humana. (destaques do autor)12
Não obstante a interessante justificativa do autor, julgamos ser mais pertinente
a expressão “direitos humanos fundamentais” utilizada por e Manoel Gonçalves
Ferreira Filho13 e Alexandre de Moraes, 14 por entendermos que esses direitos,
inicialmente, pertencem às pessoas humanas e justamente por isso, são qualificados
como fundamentais
Alexandre de Moraes define direitos humanos fundamentais como,
o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por
finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o
arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e
desenvolvimento da personalidade humana.15
Por fim, entendemos ser também adequado o emprego da expressão “direitos
fundamentais”, adotada pela maioria dos doutrinadores e dos textos constitucionais.
8 BULOS. Curso de direito constitucional. 2007, 401.
9 GARCIA. Desobediência civil: direito fundamental. 2004.
10 MIRANDA. Ob. cit. 1988, p.48.
11 ARAUJO; NUNES JÚNIOR. Ob. cit., p.109.
12 SILVA. Ob. cit., p.182.
13 FERREIRA FILHO. Direitos humanos fundamentais. 2008.
14 MORAES. Direitos Humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da
Republica Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 1998.
15 Idem, p.39.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
215
3 HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
Segundo a lição de Norberto Bobbio,
os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos,
ou seja, nascidos em certas circunstancias, caracterizadas por lutas em defesa de
novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos
de uma vez e nem de uma vez por todas.16
Assim como os direitos do homem tem origem histórica, se quisermos
compreender a fase atual do desenvolvimento destes direitos é preciso lançarmos um
olhar sobre a história.
Alexandre de Moraes comenta que a origem dos direitos individuais do homem
pode ser encontrada no antigo Egito e Mesopotâmia, no terceiro milênio a. C., onde
já existiam alguns mecanismos de proteção individual em face do Estado. A primeira
codificação a consagrar direitos comuns a todos os homens seria o Código de Hamurabi
(1690 a. C.). O autor salienta também a influência filosófico-religiosa dos direitos do
homem com a propagação das ideias de Buda (500 a. C.). 17
Grécia e Roma antigas, são consideradas para alguns18 como a proto-história dos
direitos humanos fundamentais. Contudo, conforme Oscar de Carvalho, “o mundo antigo
não conheceu o primado da liberdade individual e por via de consequência nele não se
fizeram presentes as condições históricas necessárias ao desenvolvimento dos direitos
humanos”.19 Há também a contribuição do Cristianismo, que trouxe uma mudança de
paradigmas do paganismo grego e romano.
Ferreira Filho aponta como remoto ancestral da doutrina dos direitos fundamentais
a antiguidade, onde existia um direito superior não estabelecido pelos homens, mas dado
a este pelos deuses, com referência a Antígona de Sófocles, ao diálogo De Legibus,
de Cícero até a Suma teológica de São Tomás de Aquino. Porém afirma o autor que
foi com a escola do direito natural e das gentes, que se formulou a doutrina adotada
pelo pensamento iluminista que seria expressado mais á frente nas declarações de
direitos.20
Sintetizando a origem histórica dos direitos fundamentais, José Adércio Leite
Sampaio salienta que,
16 BOBBIO. A era dos direitos. 2004, p.25.
17 MORAES. Ob. cit., 1998, p.24-25.
18 ACCIOLI apud PUHL. “Breve histórico sobre a evolução dos direitos fundamentais”. in Revista Jurídica
UNIGRAN, p.10
19 CARVALHO. “Gênese e evolução dos direitos fundamentais”. in Revista Instituto de Pesquisas e Estudos:
Divisão Jurídica, p.32.
20 FERREIRA FILHO. Ob. cit., 2008, p.9-10.
216
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
temos dispostas assim três grandes matrizes do sistema de direitos humanos:
religião, processo e propriedade. Ou mais precisamente a liberdade religiosa, as
garantias processuais e o direito de propriedade. Essas matrizes tiveram raízes
e desdobramentos nos três grandes modelos de desenvolvimento dos direitos
humanos: Inglaterra, Estados Unidos e França.21
Não obstante a menção destes momentos históricos como sendo a gênese dos
direitos humanos fundamentais, o certo é que “somente a partir do momento em que
limites foram colocados ao poder incontrastável do Estado é que o conceito de direitos
humanos formou-se na história”.22
Diante desta constatação somente a partir da elaboração de declarações de direitos
é que podemos afirmar o surgimento efetivo dos direitos fundamentais. Dalmo de
Abreu Dallari anota que,
O exame dos documentos legislativos da antiguidade revela já uma preocupação
com a afirmação de direitos fundamentais, que nascem com o homem e cujo
respeito se impõe, por motivos que estão acima da vontade de qualquer
governante. Observa-se, porém que nos documentos antigos mesclavam-se
preceitos jurídicos, morais e religiosos, não se dissociando a recomendação
de regras morais da imposição coercitiva de certos comportamentos. Durante
a Idade média também não se encontravam documentos que tenham o caráter
de declarações abstratas de direitos, havendo apenas documentos legislativos
como a legislação dos povos germânicos, que contém regras de vida social, nas
quais está implícita a existência dos direitos fundamentais. Foi na Inglaterra, já
na ultima fase da Idade Média, que teve a iniciativa de afirmações que podem
ser consideradas precursoras das futuras declarações de direitos.23
Segundo Manoel G. Ferreira Filho, “o registro de direitos num documento escrito
é pratica que se difundiu na segunda metade da Idade Média”.24 Sendo manifestada
inicialmente por meio de pactos, forais ou cartas de franquia.25
O primeiro registro escrito de direitos foi a Magna Charta Libertatum, outorgado
por João Sem-Terra em 15 de junho de 1215, onde foram consagrados direitos dos
barões e prelados ingleses, restringindo o poder absoluto do monarca. Vejamos seus
dois artigos iniciais
21
22
23
24
25
SAMPAIO. Ob. cit., p.141.
Cf. CARVALHO. Idem., p.31.
DALARI. Elementos da teoria geral do estado. 2007, p.206.
FERREIRA FILHO. Ob. cit. 2008, p.11.
FERREIRA FILHO. Curso de direito constitucional. 2007, p.4-5.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
217
1 – A Igreja de Inglaterra será livre e serão invioláveis todos os seus direitos e
liberdades: e queremos que assim seja observado em tudo e, por isso, de novo
asseguramos a liberdade de eleição, principal e indispensável liberdade da Igreja
de Inglaterra, a qual já tínhamos reconhecido antes da desavença entre nós e os
nossos barões [...].
2 – Concedemos também a todos os homens livres do reino, por nós e por nossos
herdeiros, para todo o sempre, todas as liberdades abaixo remuneradas, para serem
gozadas e usufruídas por eles e seus herdeiros, para todo o sempre [...].26
Gomes Canotilho faz menção à Carta inglesa de 1215, afirmando que embora
contivesse fundamentalmente direitos estamentais, já fornecia aberturas para a
transformação dos direitos corporativos em diretos dos homens.27
Após foram editados também na Inglaterra o Petition of Right em 7 de junho de
1628, o Habeas Corpus Act de 1679, o Bill of Right em 13 de fevereiro de 1689 e o
Act of Settlement de 12 de junho de 1701.
Muito embora, os referidos documentos sirvam de precedentes históricos, nas
palavras de José Afonso da Silva, “a primeira declaração de direitos fundamentais
em sentido moderno, foi a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia”. Esta
declaração foi feita em 16 de junho de 1776, e consubstanciava as bases dos direitos
do homem, vejamos alguns de seus dispositivos
I – Todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes e têm
certos direitos inatos de que, quando entram no estado de sociedade, não podem
por nenhuma forma, privar ou despojar a sua posteridade, nomeadamente o gozo
da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de
buscar e obter felicidade e segurança.
II – Todo poder reside no povo e, por consequência, deriva do povo; os
magistrados são seus mandatários e servidores e responsáveis a todo tempo
perante ele.
III – O governo existe e deve existir para o bem comum, proteção e segurança
do povo, nação ou comunidade; de todos os modos e formas de governo o
melhor é o que é capaz de produzir o maior grau de felicidade e segurança,
e está mais eficazmente organizado contra o perigo de má administração; e,
sempre que qualquer governo se mostre inadequado ou contrário a estes fins,
a maioria da comunidade tem o direito incontestável, inalienável e irrevogável
de o reformar, modificar ou abolir da maneira que for julgada mais conducente
à felicidade geral.28
26 Cf. MIRANDA. Textos históricos do direito constitucional. 1990, p.13.
27 CANOTILHO. Ob. cit., p.382-383.
28 Cf. MIRANDA. Idem. 1990, p.31-32
218
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Em segundo lugar de precedente histórico, porém ocupando o destaque entre as
declarações de direitos, está a Déclaration dês Droits de l’Homme et du Citoyen, de 26
de agosto de 1789. Ela se encontra em vigor até os dias atuais na França, e foi “por um
século e meio o modelo por excelência das declarações”.29 José Afonso da Silva comenta
que a Declaração Francesa é mais importante, tendo em vista seu caráter abstrato e
“universalizante”, enquanto a Declaração Americana era mais concreta, “preocupada
com a situação particular que afligia aquelas comunidades”, seus três caracteres
fundamentais eram o “intelectualismo”, o “mundialismo” e o “individualismo”.30
Vejamos seu preâmbulo e art. 1º
Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional,
considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do
homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos,
resolveram em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados
do Homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os
membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e seus deveres;
a fim de que os actos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser
em cada momento comparados com a finalidade de toda a instituição política,
sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reclamações dos cidadãos,
doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à
conservação da Constituição e à felicidade geral.
Por consequência, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob
os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão:
Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais
só podem fundamentar-se na utilidade comum.31
Raul Machado Horta assevera que “com a declaração de direitos de 1789,
‘arquétipo constitucional’ de documentos dessa natureza, fez-se na verdade a catalogação
mais famosa dos direitos individuais de resistência ao Estado e ao Poder”.32
Note-se que as duas declarações de direitos de Virginia (1776) e francesa (1789)
precedem as Constituições Americana (1787) e Francesa (1791), tal fato é explicado
por Ferreira Filho no sentido de que primeiro formalizou-se em um documento escrito
o pacto social (declaração de direitos) contendo os direitos naturais e os limites
destes, e somente posteriormente com a garantia destes formalizou-se o pacto político
(Constituição). Somente mais adiante, na era do constitucionalismo, por economia de
tempo e trabalho que se passou a estabelecer num mesmo documento a declaração de
Direitos e a Constituição.33
29
30
31
32
33
FERREIRA FILHO. Ob. cit. 2008, p.19.
SILVA. Ob. cit., p.161-162.
Cf. MIRANDA. Ibidem., p.57.
HORTA. Estudos de direito constitucional. 1995, p.244.
FERREIRA FILHO. Idem., p.5-6.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
219
4 A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
A PARTIR DAS ONDAS GERACIONAIS
OU DIMENSIONAIS
Em 1979, proferindo a aula inaugural no Curso do Instituto Internacional dos
Direitos do Homem, em Estraburgo, o jurista francês Karel Vazak utilizou, pela primeira
vez, a expressão “gerações de direitos do homem”, buscando, metaforicamente,
demonstrar a evolução dos direitos humanos com base no lema da revolução francesa
(liberdade, igualdade e fraternidade). Vejamos o comentário de Paulo Bonavides
o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político francês,
exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos direitos
fundamentais, profetizando até mesmo a sequência histórica de sua gradativa
institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade.
Com efeito, descoberta a fórmula de generalização e universalização, restava
doravante seguir os caminhos que consentissem inserir na ordem jurídica positiva
de cada ordenamento político os direitos e conteúdos matériais referentes
àqueles postulados. Os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a
manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo
cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo faz prever, tem por bússola uma
nova universalidade: a universalidade material e concreta, em substituição da
universalidade abstrata e, de certo modo metafísica daqueles direitos, contida
no jus naturalismo do século XVIII.
Existem outros autores como o alemão Konrad Hesse,34 o português Canotilho35
e entre nós, Ingo Wolfgang Sarlet36 e Leonardo Martins,37 que preferem a utilização
do termo “dimensões”, pois o vocábulo gerações daria a ideia de substituição de uma
geração por outra. Há ainda quem critique tanto a ideia de gerações quanto dimensões
como Antônio Augusto Cançado Trindade38 e George Marmelstein Lima.39
Passemos então ao estudo das “eras dos direitos”40 humanos fundamentais, que
sem dúvida, historicamente passaram por um “processo expansivo de acumulação de
níveis de proteção de esferas da dignidade da pessoa humana”.41
34 HESSE. Estudos de direito constitucional da republica federal da Alemanha. 1998.
35 CANOTILHO. Ob. cit., p.386-387.
36 SARLET. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2004
37 MARTINS. “Direitos fundamentais (história) – liberdade”. In DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário de direito
constitucional. 2007, p.127-128.
38 Palestra proferida durante o “Seminário Direitos Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional”. Disponível
on-line: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cancadotrindade/Cancado_Bob.htm>
39 LIMA. “Crítica à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais”. in Revista Opinião
Jurídica, Fortaleza, v. 2, n. 3, p.171-182, 2004.
40 Expressão cunhada pelo italiano Norberto Bobbio.
41 ARAUJO; NUNES JÚNIOR. Ob. cit., p.115.
220
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Os primeiros direitos abrangem aqueles referidos nas declarações de Direitos das
Revoluções americana e francesa; são os primeiros a serem positivados e por isso são
chamados de primeira geração ou dimensão, eles “se fundam numa separação entre
Estado e sociedade, que permeia o contratualismo individualista dos Séculos XVIII e
XIX”.42 São os direitos de liberdade que se dividem em civis e políticos.
José A. L. Sampaio afirma que os direitos ou liberdade civis são aqueles que
“mediante garantias mínimas de integridade física e moral, bem assim de correção
procedimental nas relações judicantes entre indivíduos e o Estado, asseguram uma
esfera de autonomia individual de modo a possibilitar o desenvolvimento de cada um”.
Já os políticos são “de inspiração democrática (...) seu núcleo se encontra no direito
de votar e ser votado”.43
Os direitos de primeira geração têm como titular o indivíduo singularmente
considerado. Eles surgem após o absolutismo, no Estado de Direito Liberal, e
representam um “não-agir do Estado”;44 basicamente traduzem-se em “postulados
de abstenção dos governantes, criando obrigações de não fazer, de não intervir sobre
aspectos da vida pessoal de cada individuo”.45 Parafraseando Paulo Bonavides, estes
direitos apresentam-se “como faculdade ou atributos da pessoa e ostentam uma
subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou
de oposição perante o Estado”.46
Como alerta Gilmar Mendes,
o descaso para com os problemas sociais, que veio a caracterizar o État Gendarme,
associado ás pressões decorrentes da industrialização em marcha, o impacto
do crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no interior da
sociedade, tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao Estado um papel
ativo na realização da justiça social. O ideal absenteísta do Estado liberal não
respondia, satisfatoriamente, ás exigências do momento. Uma nova compreensão
do relacionamento Estado/sociedade levou os Poderes Públicos a assumir o dever
de operar para que a sociedade lograsse superar as angústias estruturais. Daí o
progressivo estabelecimento pelos Estados de seguros sociais das ações estatais
por objetivos de justiça social (destaques do autor)47
42
43
44
45
46
47
SAMPAIO. Ob. cit., p.260.
SAMPAIO. Idem., p.260.
BOBBIO. Ob. cit., p.26
MENDES [et. al.]. Curso de direito constitucional. 2007, p.223.
BONAVIDES. Ob. cit. 2002, p.517.
MENDES [et. al.].. Idem., p.223.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
221
Os direitos de segunda geração, da mesma forma que a primeira, foram
inicialmente objeto de formulação especulativa em campos políticos e filosóficos que
possuíam grande cunho ideológico. Dominaram o século XX assim como os de primeira
geração dominaram o século XIX. Tiveram seu nascedouro nas reflexões ideológicas
e no pensamento antiliberal desse século. 48
A segunda geração de direitos está ligada ao principio da igualdade (na visão de
Karel Vazak) e são enquadrados como direitos prestacionais, ou seja, aqueles relativos à
exigência de participação do Estado na realização da justiça social, através de medidas
efetivas para garantir o mínimo necessário à vida digna do ser humano.
Estes direitos são chamados também de “direitos sociais, culturais e econômicos”.
Essa trilogia normalmente é apresentada sob o rótulo geral de “direitos sociais”, porém
há quem trace distinções internas. É o magistério de José Adércio Leite Sampaio
Os direitos sociais propriamente ditos seriam aqueles necessários á participação plena
na vida da sociedade, incluindo o direito á educação, a instituir e manter uma família,
á proteção da maternidade e da infância; bem como para permitir o gozo efetivo dos
direitos de primeira geração, como o reconhecimento do direito ao lazer e o direito
a não haver discriminação. Já os direitos econômicos se destinam a garantir um
nível mínimo de vida e segurança materiais de modo que a cada pessoa desenvolva
suas potencialidades. Estão nesta lista os direitos trabalhistas, a exemplo do direito
ao trabalho e a um salário mínimo digno, e previdenciários, direitos de assistência
social, do direito á saúde, á alimentação, ao vestuário e o direito á moradia. Por fim
os direitos culturais dizem respeito ao resgate, estímulo e a preservação das forma
de preservação cultural das comunidades, bom como se destinam a possibilitar a
participação de todos nas riqueza esperituais comunitárias.49
Vale ressaltar que, segundo Gilmar Mendes, os direitos sociais recebem esta
denominação não por que sejam direitos de coletividades, mas pelo fato de estarem
ligados às reivindicações de justiça social.50
É imperioso esclarecer também que estes direitos, diferentemente dos primeiros,
possuem um aspecto objetivo, qual seja a “garantia de valores e princípios de proteção
com que escudar e proteger as instituições”, dando vezo ao surgimento das “garantias
institucionais”.51
A terceira geração de direitos é fruto da desigualdade entre as nações. Para
Norberto Bobbio os direitos de terceira geração ou “novos direitos” são marcados
pela alteração da sociedade, por mudanças na comunidade internacional (sociedade
de massa, crescente desenvolvimento tecnológico) que fazem surgir novos problemas
48
49
50
51
BONAVIDES. Idem., p.518.
SAMPAIO. Ididem., p.262-263
MENDES [et. al.]. Ibidem., p.224.
BONAVIDES. Ibidem., p.519.
222
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
e preocupações mundiais como a preservação do meio ambiente, proteção dos
consumidores etc.52
Paulo Bonavides comenta que,
A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas
ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse
uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se
daquela que se assenta sobre a fraternidade, conforme assinala Karel Vasak.53
Assim, esses direitos assumem o caráter coletivo, o que não estava presente nas
duas dimensões anteriores, porquanto, visam à proteção do direito ao desenvolvimento,
à paz, ao meio ambiente, de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade
e à comunicação.54
Nesse sentido55 também se posiciona Gilmar Ferreira Mendes, afirmando que
os direitos de terceira geração “peculiarizam-se pela titularidade difusa ou coletiva,
uma vez que são concebidos para a proteção não do homem isoladamente, mas de
coletividades, de grupos”.56
No Brasil o órgão superior do poder judiciário e guardião da Constituição Federal
(Supremo Tribunal Federal – STF) reconhece expressamente a existência de três
gerações de direitos. 57 58
Os direitos de terceira geração surgem, portanto, num momento em que a
sociedade experimenta profundas transformações, trazendo uma nova realidade social,
econômica e jurídica. É o comentário pertinente Marcus Vinícius Rios Gonçalvez
52 BOBBIO. Idem., p.25-27
53 BONAVIDES. Ibidem., p.522.
54 BONAVIDES. Ibidem., p.523.
55 Registre-se que existem outros autores como por exemplo Etiene R. Mbaya que apresentam um sentido de
“solidariedade, que representaria a busca da cooperação internacional entre os povos. Tal sentido não representa
a mesma noção que nos apresentamos e julgamos ser a mais precisa, muito embora não discordemos destas
ponderações, simplesmente a consideramos como um dos sentidos da terceira onda geracional de direitos.
(MBAYA apud BONAVIDES. Ibidem., p.523-524.)
56 MENDES [et. al.]. Ibidem., p.224.
57 “Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas,
negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos,
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio
da igualdade, os de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente
a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no
processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados como valores
fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade”. (STF – Pleno – Mandado de Segurança
n. 22.164/SP – Relator Ministro Celso Melo, Diário da Justiça, Seção I, 17, novembro 1995, p.39.206).
58 É importante mencionar que existem doutrinadores que ainda apresentam uma quarta geração de direitos
e até mesmo uma quinta geração, contudo não iremos fazer nenhuma observação sobre esta gerações ou
dimensões, pois já atingimos a evolução dos direitos individuais aos interesses transindividuais, que é o objeto
de nosso estudo.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
223
A realidade sócioeconômica modificou-se com rapidez, e o século XX assistiu ao
desenvolvimento incessante das economias de massa. Os sistemas de produção
desenvolveram-se, com repercussão evidente na oferta de bens, para a satisfação
das necessidades humanas. O individualismo do século XIX cedeu lugar à
massificação em velocidade acelerada.59
Neste cenário, perdem os interesses puramente individuais o lugar de destaque,
para dar lugar aos interesses metaindividuais ou supra-individuais, cujos titulares não
são mais pessoas consideradas individualmente, mas grupos de pessoas.
5 CONCLUSÃO
À guisa das considerações finais, podemos afirmar que o estudo dos direitos
humanos fundamentais é tema bastante complexo, porém desafiador. A começar pela
infinidade de termos empregados para simbolizá-los, e a confusão teórica e normativa
causada por isso.
Também devemos ressaltar que os direitos humanos fundamentais, são direitos
essencialmente históricos, e demandam um olhar criterioso para a história, contudo
percebemos sua gênese está ligada diretamente às Declarações de Direitos, da Inglaterra,
dos Estados Unidos e da França.
Não podemos deixar de mencionar que estes direitos, após sua formalização
e positivação, sofreram um processo histórico evolutivo, dividido em gerações ou
dimensões, comumente chamado de Era dos Direitos.
Nestas ondas geracionais ou dimensionais, percebemos a clara evolução
cumulativa e qualitativa dos direitos pertencentes a indivíduos isolados (direitos
individuais) até direitos pertencentes a grupos ou coletividades de pessoas (interesses
transindividuais ou metaindividuais).
Assim vislumbramos na evolução dos direitos humanos fundamentais, não só
o nascimento de “novos direitos” oriundos da sociedade de massas, mas também o
surgimento de uma nova visão que rompe o axioma individualista da sociedade moderna,
para dar vezo á um novo paradigma, o da coletividade.
59 GONÇALVES. Tutela de interesses difusos e coletivos. 2007, p.1
224
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
REFERÊNCIAS
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12.ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2002.
______. Do estado liberal ao estado social. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
7.ed. Coimbra: Almedina, 2006.
CARVALHO, Oscar de. “Gênese e evolução dos direitos fundamentais”. In: Revista
Instituto de Pesquisas e Estudos: Divisão Jurídica, Bauru, edição 34, p.31-52 , abr./jul.
2002.
CEZNE, Andrea Nárriman. “A teoria dos direitos fundamentais: uma analise comparativa
das perspectivas de Ronald Dworkin e Robert Alexy”. In: Revista de Direito Constitucional
e Internacional, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 13, n.52, p.51-67, jul./set. 2005.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. 26.ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
DIMOULIS, Dimitri (org.). Dicionário brasileiro de direito constitucional. São Paulo:
Saraiva, 2007.
FESTER, Antonio Carlos Ribeiro (org.). Direitos humanos e... São Paulo: Brasiliense,
1989.
FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 33.ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2007.
______. Direitos humanos fundamentais. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
______. “O estado e os direitos fundamentais em face da globalização”. In: Arquivo de
direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, v.2, 2000.
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. “O futuro dos direitos humanos fundamentais”. In:
Revista Jurídica Consulex, Brasília, ano X, n.232, p.60-62, 15 set. 2006.
GARCIA. Maria. Desobediência civil: direito fundamental. 2.ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
GONÇALVES, Marcos Vinícius Rios. Tutela de interesses difusos e coletivos. 3.ed. rev.
São Paulo: Saraiva, 2007.
HESSE, Konrad. Estudos de direito constitucional da República Federal da Alemanha.
20.ed. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998.
HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey,
1995.
LALAGUNA, Paloma Duran. Manual de derechos humanos. Granada: Comares Editorial,
1993.
LIMA, George Marmelstein. “Crítica à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos
direitos fundamentais”. In: Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v.2, n.3, p.171-182,
2004.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
225
MARTINS, Ives Gandra da Silva; CAMPOS, Diogo Leite de (coords.). O direito
contemporâneo em Portugal e no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2004.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martirez; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais, tomo IV.
Coimbra: Coimbra, 1988.
______. Textos históricos de direito constitucional. 2.ed. Lisboa: Imprensa Nacional –
Casa da Moeda, 1990.
MORAES. Alexandre de. Direito constitucional. 23.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
______. Direitos Humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 2.ed. São
Paulo: Atlas, 1998.
MORAIS. José Luiz Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o estado
e o direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.
OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de; LEITE, José Rubens Morato (coords.).
Cidadania coletiva. Florianópolis: Paralelo 27, 1996.
PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Los derechos fundamentales. 7.ed. Madrid: Tecnos,
1998.
PINILLA, Ignácio Ara. Las transformaciones de los derechos humanos. Madrid: Tecnos,
1994.
PUHL, Adilson Josemar. “Breve histórico sobre a evolução dos direitos fundamentais”.
In: Revista Jurídica UNIGRAN, Dourados, v.5, n.9, p.9-25, jan./jun. 2003.
SAMPAIO. José Adércio Leite Sampaio. Direitos fundamentais: retórica e historicidade.
Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 3.ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2004.
SLAIB FILHO. Nagib. Direito constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
SIDOU, J. M. Othon. As garantias ativas dos direitos coletivos: habeas corpus, ação
popular, mandado de segurança – estrutura constitucional e diretivas processuais. Rio
de Janeiro: Forense, 1977.
______. Proteção ao consumidor: quadro jurídico universal, responsabilidade do
produtor no direito convencional, clausulas contratuais abusivas, problemática brasileira,
esboço de lei. Rio de Janeiro: Forense, 1977.
SILVA, Alexandre Vitorino da [et. al.]. Estudos de direito público: direitos fundamentais
e estado democrático do direito. Porto Alegre: Síntese, 2003.
226
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 19.ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Malheiros, 2001.
TRINDADE, Antonio Augusto Cançado; SANTIAGO, Jaime Ruiz de. La nueva
dimension de las necessidades de proteccíon de ser humano em el inicio del siglo XXI.
San José: Impressora Gossestra Internacional, 2001.
VASAK, Karel. Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Vol. 1.
Barcelona: Serbal/UNESCO, 1984.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
227
O princípio da igualdade na sociedade
brasileira pluralista: a questão das cotas
raciais em universidades
Helton Kramer Lustoza
RESUMO
A presente pesquisa vem avaliar a questão das cotas raciais em universidades no contexto
da sociedade brasileira, trazendo uma reflexão objetiva sobre pontos fundamentais sob o prisma do
direito constitucional contemporâneo. Primeiramente se faz uma analise do significado e da origem
das diferenças raciais existentes no país, para se encontrar a razão das medidas de legitimação de
diferenças raciais. Por fim se identifica a política de cotas raciais em universidades como uma
provável ação afirmativa (política de discriminação positiva) no direito brasileiro, mas que, neste
caso, não encontra legitimação perante o princípio da igualdade.
Palavras-chave: Igualdade. Política e discriminação.
The principle of equality in pluralist Brazilian society:
The question of racial quotas in universities
ABSTRACT
This research looks for evaluating the issue of racial quotas in Brazilian’s universities, bringing
an objective discussion about contemporary themes of constitutional law. First, the analysis will
be focus in the meaning and origin of racial differences in the country to find the right measures of
legitimization of racial differences. Finally, to identify the policy of racial quotas in universities as
a possible affirmative action (positive discrimination policy) under Brazilian law, but in this case,
without legitimacy because of equality principle.
Keywords: Equality. Political and discrimination.
1 A DOMINAÇÃO BASEADA NO ASPECTO
RACIAL NO BRASIL
Este trabalho visa a abordar a questão específica das cotas raciais em universidades
no contexto da sociedade brasileira de um modo desapaixonado à causa, buscando
trazer a reflexão pontos e situações fundamentais sob o prisma do direito constitucional
moderno.
Helton Kramer Lustoza é especialista em Direito Tributário pelo IBPEX em Curitiba-PR. Mestrando em Direito
Constitucional pela Unibrasil. Membro do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT. Pesquisador
integrante do Grupo: Justiça Tributária e Atividade Econômica da PUC-PR. Membro da comissão de Direito
Tributário da OAB-PR. Professor Universitário. E-mail: [email protected]
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.228-249
jul./dez. 2009
Para tornar mais objetiva a reflexão, toma-se como foco de análise inicial a busca
de um significado e origem das diferenças raciais existentes no país, de modo que
venha a legitimar mecanismos de inclusão social. Pois é com a análise dos problemas
do passado que se pode ter noção da eficácia de soluções do futuro.
Um dos principais problemas enfrentados pelo Brasil é a questão da desigualdade
social. Se por um lado a Constituição Federal de 1988 determina que todos são iguais
perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, algumas pessoas, ainda, se
utilizam de uma espécie de classificação por raça, para justificar algum ato de segregação
ou dominação.
O desafio do direito contemporâneo é dar respostas à questão de ambiguidades
que se apresentam na seara racial, permitindo uma garantia frente à pluralidade étnica
existente no Brasil. Para se iniciar um estudo sobre cotas raciais é essencial analisar-se
em que se baseou a formação do povo brasileiro, para entender a origem das diferenças
sociais existentes.
Desde a chegada dos europeus em terras tupiniquins observou-se a exploração de
mão de obra humana, na qual a escravidão sempre foi a base da produção econômica
brasileira,1 sendo baseada inicialmente com a obtenção de escravos indígenas e,
posteriormente, com escravos africanos.
A dificuldade enfrentada pelos exploradores foi na dominação dos índios que
rejeitavam explicitamente a aceitar aqueles mandos do homem branco, o que fez com
que houvesse uma expansão da importação de negros para trabalharem nas lavouras. Mas
o que se deve observar é que a escravidão foi tomada como mão de obra fundamental
para a economia nascente no país, no qual a dominação foi baseada em critérios
estritamente econômicos.
O professor Darcy Ribeiro leciona que o
processo de formação do povo brasileiro, que se fez pelo entrechoque de seus
contingentes índios, negros e brancos, foi, por conseguinte, altamente conflitivo.
Pode-se afirmar, mesmo, que vivemos praticamente em estado de guerra latente,
que, por vezes, e com frequência, se torna cruento, sangrento.2
Isso demonstra que desde o início havia um conflito entre povos, de modo que
o europeu impunha sua dominação sob a base de uma macroetnia expansionista. O
branco precisava se impor frente a população “dita inferior” e a justificativa utilizada
para a dominação foi através de uma hierarquia racial.
Após a abolição da escravatura, o Brasil passou por um grande período de
1 Cf. HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26.ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.48
2 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995,
p.168.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
229
contradições e dilemas, de uma sociedade rural em fase de transição para uma sociedade
urbana recém industrializada, mas que não conseguia libertar-se de suas estruturas
do passado. A substituição da mão de obra escravocrata por uma mão de obra livre
inviabilizava a industrialização do país que teimou em manter os padrões patriarcais.
A falta de uma racionalidade econômica e espírito competitivo fez com que o país,
pós-escravatura (meados século XX), passasse por uma incontrolável migração do meio
rural para o urbano, transformando as áreas marginais às cidades em grandes favelas. E
um dos principais problemas enfrentados pelo Brasil diz respeito às diferenças sociais
criadas pela imensa massa inserida nas cidades, após a tentativa de industrialização do
país, o que fez com que se constatasse um fato: “no Brasil, as classes ricas e as pobres
se separam umas das outras por distâncias sociais e culturais quase tão grandes quanto
as que medeiam entre povos distintos”.3
Observa-se que a tese de hierarquia de raças foi utilizada como justificativa para
se manter a dicotomia entre pobres e ricos. Assim,
percebe-se como o conceito de raça ‘pura’ foi transportado da Botânica e da
Zoologia para legitimar as relações de dominação e de sujeição entre as classes
sociais (Nobreza e Plebe), sem que houvesse diferenças morfobiológicas notáveis
entre os indivíduos pertencentes a ambas as classes.4
Os povos dominadores se utilizaram de uma comparação biológica de determinadas
raças para fixarem justificativas para legitimar diversos sistemas de dominação racial.
Observe-se o que o filósofo francês Voltaire escreveu em uma de suas obras
A raça negra é uma espécie humana tão diferente da nossa quanto a raça de
cachorros spainel dos galgos [...]. A lã negra nas suas cabeças e em outras partes
[do corpo] não se parece em nada com o nosso cabelo; e pode-se dizer que a
sua compreensão, mesmo que não seja de natureza diferente da nossa, é pelo
menos muito inferior.5
Isso deixa claro que o critério de classificação de raças sempre foi utilizado na
história para justificar as diferenças entres pessoas em uma sociedade, mas não uma
diferença que seria biológica. Essa diferença é cultural, criada pelo próprio homem
para justificar uma dominação social, o que serviu de embasamento para muitas
discriminações.
3 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, p.210
4 MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Palestra
proferida no 3º Seminário Nacional de Relações Raciais e Educação – PENESB-RJ, em 05 de jan. 2003. Disponível
em: <http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/09abordagem.pdf> Acesso em 15 de dez. de 2008.
5 Voltaire, citado por PENA, Sérgio D.J. Humanidade sem raças? São Paulo: Publi Folha, 2008, p.14.
230
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Segundo o professor Kabengele Munanga,6 a classificação de raças tem fundamento
histórico. No século XVIII, os filósofos iluministas contestavam o conhecimento da
Igreja e se recusam a aceitar a explicação até então dada à história da humanidade,
consequentemente, buscavam uma explicação baseada na razão. Esses filósofos colocaram
em debate se os povos recém descobertos (por exemplo, na América) integravam à antiga
humanidade como raças diferentes. Para esse docente da USP, levando em conta que as
classificações são instrumentos que ajudam a operacionalizar o conhecimento, foi essa
técnica utilizada para explicar a diversidade humana. O que não se poderia imaginar é que
esse método de conhecimento acabou servindo de base para justificação de uma espécie
de hierarquização, o que pavimentou o caminho do racismo.
Assim Kabengele Munanga contesta a existência de raça como elemento biológico,
mas acredita ser um elemento cultural
Combinando todos esses desencontros com os progressos realizados na própria
ciência biológica (genética humana, biologia molecular, bioquímica), os
estudiosos desse campo de conhecimento chegaram a conclusão de que a raça
não é uma realidade biológica, mas sim apenas um conceito alias cientificamente
inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças estancas.
Ou seja, biológica e cientificamente, as raças não existem.7
Isso não significa que todos os indivíduos são geneticamente idênticos, ao
contrário, são diferentes, mas essas diferenças não podem servir de suporte para se
defender uma classificação em raças. O grande problema histórico foi de se criar uma
escala de valores entre as denominadas raças, o que deu azo a enormes distorções na
sociedade, sendo utilizado como fundamento de grandes atrocidades, como por exemplo,
o nazismo, que defendia a existência de uma raça ariana superior.
O tipo físico, como pele ou cabelo não pode ser utilizado como mecanismos de
distinção, muito menos de classificação de pessoas, pois
não há raças biológicas, ou seja, na espécie humana nada que possa ser
classificado a partir de critérios científicos e corresponda ao que comumente
chamamos de ‘raça’ tem existência real, segundo, o que chamamos ‘raça’ tem
existência nominal, efetiva e eficaz apenas no mundo social e, portanto, somente
no mundo social pode ter realidade plena.8
O que deixa claro que “o conceito de raça tal como o empregamos hoje, nada tem
de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como todas as ideologias, ele
6 Cf. MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, hhtp://
www.acaoeducativa.org.br, acesso em 15.12.08.
7 MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, idem.
8 GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia. São Paulo: Editora 34, 2002. p.50
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
231
esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de dominação”,9 ou seja, são
construções fantasiosas criadas no imaginário social a partir das diferenças como a cor
da pele e, assim, manter uma discriminação a certa pessoa ou grupo social.
Pode-se encontrar até mesmo uma explicação da origem da dominação na doutrina
contratualista, como Rousseau,10 que defende que o homem viveu no estado de natureza
de forma simples, solitária e inocente, preocupando-se apenas com sua conservação.
Nessa época, o homem não possuía a ideia do “teu” e do “meu”, inexistia a ideia de
propriedade. Com a passagem da ordem natural para a formação da sociedade civil veio
a instituição da noção de propriedade e, assim que os homens, antes livres, se tornam
escravos uns dos outros. A partir desse momento o homem desenvolveu a ambição
de ficar num status acima dos outros homens e não se contentava de produzir frutos
somente para suas necessidades básicas, mas para ganhar à custa do trabalho dos outros.
É nesse sentido que se observa o surgimento de um sentimento de dominação sobre
outros homens, o que denota que o fundamento seria econômico (propriedade).
Nesse diapasão, qualquer tipo de discriminação tomada com base no critério de
classificação racial não encontrará um embasamento biológico. Isso mostra o grande
equívoco de muitas pessoas tomam apenas a raça ou traços culturais, linguísticos,
religiosos, para considerar que um determinado grupo social seria inferior a outro.
Fica claro que o aspecto raça é um conceito criado pela sociedade sem valor biológico
e científico, ou seja, “as raças não existem em nossa mente porque são reais, mas são
reais porque existem em nossa mente.”11
Tanto é assim que o juiz americano Warren no julgamento de um processo que
tratava sobre o racismo expressou que
não vejo como, no dia e na época de hoje, podemos separar um grupo do restante
e dizer que eles não têm direito ao mesmo tratamento de todos os outros. Fazer
isso isto seria contrário às Décima Terceira, Décima Quarta e Décima Quinta
Emendas. Elas visavam tornar os escravos iguais a todos os outros. Pessoalmente,
não consigo ver de que forma podemos hoje justificar a segregação unicamente
com base na raça.12
Com essa mesma linha de pensamento, o antropólogo Ralph Linton também
defende que a utilização de superioridade de raças é uma questão de ideologia da
dominação.
9 MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, idem.
10 Cf. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; ensaio sobre a origens das línguas; discurso sobre a origem
e os fundamentos da desigualdade entre os homens; discurso sobre as ciencias e as artes. Trad. Lourdes Santos
Machado. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p.266.
11 KAUFMAN, Jay S citado por PENA, Sérgio D.J. Humanidade sem raças? São Paulo: Publi Folha, 2008,
p.05.
12 MENEZES, Paulo Lucena de. A ação afirmativa (affirmative action) no direito norte-americano. 1.ed. São Paulo
: Revista dos Tribunais, 2001, p.82.
232
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Desde que os brancos eram mais bem-sucedidos que as outras raças, deviam
ser, em si mesmos, superiores aos outros. A falta de uma perspectiva mundial
do europeu médio obstava que ele verificasse quão recente era esse domínio
e o levava a complicadas tentativas, para provar que as outras raças estavam
realmente mais baixo, na escala da evolução física.13
Ainda que a classificação “raça” tenha sido desbancada pelas pesquisas
contemporâneas com DNA, ainda permanecem muitas mentalidades que defendem
teses racistas, não respeitando as diferenças culturais e étnicas. É nesse cenário que
se buscou a construção de uma política multiculturalista que garantisse a cada grupo
social um espaço dentro da sociedade.
Mas o que se pode perceber é que o critério de diferenciação de raças possui uma
origem econômica, utilizado com o fim de criar escalonamento na sociedade.
Esse debate se mostra de extrema importância para resolver o dilema educacional
da sociedade brasileira que oficialmente se diz democrática e postula a educação como
sendo um mecanismo de ascensão social, mas que, de fato, mostra-se seletiva e pouco
atraente para a classe desprestigiada. O que se deve compreender é que a desigualdade
social no Brasil parte-se de um problema econômico, devendo as políticas públicas
serem direcionadas nesse viés e não numa questão racial propriamente dita.
2 AÇÕES AFIRMATIVAS COMO POLÍTICAS DE
COMBATE A DISCRIMINAÇÃO RACIAL E A
INFLUÊNCIA DO PLURALISMO JURíDICO
A passagem do Estado liberal para o Estado social, frente a uma discussão
epistemológica contemporânea, pode ser compreendida como uma quebra de
paradigma,14 uma passagem no plano do pensamento jurídico e estatal.
Na égide do Estado liberal de Direito, a atuação estatal absorveu as bases teóricas
de Locke e Monstequieu, o que propiciou a difusão da ideia de direitos fundamentais e
separação de poderes. Os primados da legalidade e da liberdade foram elevados como
matriz do Estado, de modo que esses dois direitos foram os pilares do Estado liberal.
O Estado de Direito abandonou os elementos materiais para se reduzir a um
esquema formal, a partir disso “já não interessa indagar o que o Estado pode querer –
basta verificar se quer na via do direito”.15 Essa legalidade construída perde cada vez
13 LINTON, Ralph. O homem: uma introdução a antropologia. Trad. Lavínia Vilela. 11.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1981, p.57.
14 Um paradigma, segundo Kuhn, é um modelo ou padrão aceito, que, na dimensão científica, raramente é
suscetível de reprodução, porque, assim como decisões judiciais, o paradigma “é um objeto a ser mais bem
articulado e precisado em condições novas ou mais rigorosas” (KUHN, Thomas s. A estrutura das revoluções
científicas. São Paulo: Perspectiva, 2000. p.43/44).
15 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de direito: do estado de direito liberal ao Estado
social e democrático de direito. Coimbra: Coimbra, 1987, p.112.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
233
mais referência com o objetivo das liberdades e direitos individuais, o que se verifica
uma neutralidade do puro Estado de legalidade e consequente manipulação autoritária
do conceito.
O Estado liberal se mostrou incapaz de responder as necessidades sociais a partir
da mera separação das instancias política e social. Assim, entende Jorge Reis Novaes
que
(...) ao lado dos direitos e liberdades clássicos – moldados e comprimidos,
particularmente no que se refere ao direito de propriedade, à medida das novas
exigências de socialidade – avultam, agora, os chamados direitos sociais
indissociáveis das correspondentes prestações do Estado.16
Assume o Estado Social o encargo de buscar uma reconfiguração da atuação
estatal na sociedade, atendendo as mais variadas áreas até então deixa a cargo dos
particulares.
Diante da passagem de um modelo liberal para um modelo social de Estado,
Ronald Dworkin17 identifica um aparente conflito entre o princípio da liberdade e
o princípio da igualdade distributiva, haja vista que a liberdade concebida com sua
natureza negativa nega a possibilidade de concessões de privilégios somente a uma
parcela da sociedade. Frente a esse dilema, responde Dworkin que
Faço essa afirmação ousada porque acredito estarmos hoje unidos na aceitação
do princípio igualitário abstrato: o governo deve agir para tornar melhor a vida
daqueles a quem governa, e deve demonstrar igual consideração pela vida de
todos.18
Na égide do atual Estado social não se pode estabelecer um sistema em que a
liberdade irá prevalecer sobre a igualdade, pois o pensamento jurídico contemporâneo
é a favor de um Estado solidário, um Estado que intervém na sociedade para garantir
a igualdade de oportunidades.
É por isso que nesse novo cenário o princípio da igualdade surge como uma técnica
de saneamento de diferenças, isto é, um instrumento de combate as desigualdades
sociais existentes na sociedade.
16 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de direito: do estado de direito liberal ao Estado
social e democrático de direito, p.197.
17 Cf. DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Trad. Jussara Simões. São
Paulo: Martins Fontes, 2005, p.168.
18 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Trad. Jussara Simões. São Paulo:
Martins Fontes, 2005, p.169.
234
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
No Brasil, o sistema multicultural aliado a má distribuição de renda, desviando os
interesses estatais sempre em favor de uma classe hegemônica (baseado numa decisão
da maioria – sistema democrático), acabou culminando na marginalização política,
jurídica e social de uma classe na sociedade. Essa classe, por muitos denominados como
marginalizados, não tinham voz ativa nos rumos desta sociedade, sendo deixados às
margens de qualquer beneficio que uma civilização possa proporcionar. Essa classe não
possui uma denominação racial, mas sim sociológica, são os pobres (sem condições
financeiras para obter participação digna na sociedade).
Frente a estes aspectos o campo foi propício para que os movimentos sociais
assumissem um papel importante na defesa das minorias19 em busca de soluções a
problemas que até então as outras classes sociais não levaram em conta, já que a defesa
não seria de seu interesse.
O Estado social transformou a conotação dos direitos individuais de índole formal
em material, Celso Bastos descreve essa passagem como “os principais elementos
componentes deste alargamento das funções públicas foram à promoção do bem comum
e da justiça social”.20
Com o intuito de minimizar os problemas sociais, os governantes propuseram
uma séria de reformas estruturais, haja vista que a legitimidade do Estado vem a anos
sendo comprometida, pois como se observa, o Estado nunca agiu em prol do interesse
das classes marginalizadas. Sempre a maioria (fundamento da democracia) que decidia
os rumos da nação, nunca decidia em prol de todas as classes.
A busca para que a camada marginalizada de uma sociedade fosse resgatada para
participação social desencadeou reflexões em todos os campos das ciências, em especial
no Direito. Diante de uma crise dos instrumentos legais no campo de inclusão social a
teoria crítica do direito aparece como um instrumento de conscientização.
Começa-se a perceber que o direito legal era apenas um elemento componente
dentro do Direito,21 havendo enumeras outras formas de regulação social que tinham
aceitação dentro de uma determinada comunidade, mas que não estavam abrangidos
pelo direito legal.
É diante desse cenário que o pluralismo jurídico vem a estudar essas mudanças
da realidade social, oferecendo formas alternativas de realização das necessidades
esquecidas pelo poder público.
Antonio Carlos Wolkmer assim define o pluralismo jurídico:
(...) o pluralismo enquanto novo referencial do político e do jurídico necessita
contemplar a questão do Estado, suas transformações e desdobramentos mais
recentes, principalmente de um Estado limitado a reconhecer e garantir Direitos
19 Minoria não no sentido de quantitativo, mas sim no sentido de poder político e jurídico.
20 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. São Paulo: Saraiva, 1986, p.41.
21 Cf. COELHO, Luis Fernando. Teoria Critica do Direito. 3.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.442.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
235
emergentes. Por outro lado, há de se sublinhar a especificidade do pluralismo
como projeção de um paradigma interdiciplinar do político e do jurídico.22
Os movimentos sociais tiveram um papel importante nessa quebra de paradigma,
estão eles contribuindo para o impulso de uma nova cultura política participativa,
calcados no direito da diversidade. Para Wolkmer, os movimentos sociais
devem ser entendidos como sujeitos coletivos transformadores, advindos de
diversos estratos sociais e integrantes de uma prática política cotidiana com
reduzido grau de institucionalização imbuída de princípios valorativos comuns
e objetivando a realização de necessidades humanas fundamentais.23
Para o professor Marcos Augusto Maliska24, a implementação de processos
autônomos de participação irá ajudar na modelação das políticas publicas do Estado,
conforme reivindicações realizadas. Assim, o direito pode ser compreendido como um
instrumento de transformação social, através do qual a sociedade deve lutar, através de
suas formas associativas, para implementar os direitos previstos no texto legal.
Ante a necessidade de se resgatar a classe marginalizada e propulsionada pelas
correntes do pluralismo jurídico, o Estado inaugurou uma série de políticas públicas de
inclusão social, denominadas de ações positivas, que poderiam ser definidas como
um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo
ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de
gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da
discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do
ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o
emprego.25
Como representante do Direito Público, Carmem Lucia Antunes defende que
“a ação afirmativa é, então, uma forma jurídica para se superar o isolamento ou a
diminuição social a que se acham sujeitos as minorias”.26
Em outras palavras, ações afirmativas podem ser compreendidas como mecanismos
que promovem o princípio da igualdade de oportunidades, trazendo ao seio social
22 WOLKMER, Antonio Carlos. Citado por MALISKA, Marcos Antonio. Pluralismo jurídico e Direito moderno.
Curitiba: Juruá, 2000, p.65.
23 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura do direito. São Paulo:
Alfa Omega, 2001, p.125.
24 Cf. MALISKA, Marcos Antonio. Pluralismo jurídico e Direito moderno. Curitiba: Juruá, 2000, p.75/82.
25 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como instrumento
de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.40.
26 ROCHA, Carmem Lucia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica,
In: Revista Trimestral de Direito Público n.15/85.
236
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
aqueles que foram marginalizados em uma dada sociedade. Essa transformação visa
atingir uma maior representatividade dos grupos minoritários nas atividades públicas
e privadas.
As ações afirmativas tiveram origem nos Estados Unidos, com o fim da Guerra
civil americana e a escravidão, diversas medidas jurídicas e políticas foram tomadas
para combater a discriminação racial, como por exemplo, a Décima Terceira Emenda,
em 1865 (que proibiu a escravidão); Décima Quarta Emenda (que trouxe o princípio
do devido processo legal, proibindo a discriminação racial e considerando cidadãos
americanos todos aqueles nascidos nos EUA), e a Décima Quinta Emenda, em 1870,
(que impede o cerceamento do voto por motivo de raça).
Ocorre que todas as medidas tomadas pelos americanos não foram suficientes
para evitar que os estados que compõe os EUA adotassem medidas segregacionistas,
sobretudo os do sul, que lutaram na Guerra Civil em favor da manutenção da
escravidão.27
Entende Ronald Dworkin que o objetivo das ações afirmativas é implementar
uma verdadeira discriminação positiva
Muitas vezes se diz que os programas de ação afirmativa têm como objetivo
alcançar uma sociedade racialmente consciente, dividida em grupos raciais e
étnicos, cada um deles, como grupo, com direito a uma parcela proporcional de
recursos, carreiras ou oportunidades. Essa é uma análise incorreta. A sociedade
norte-americana, hoje, é uma sociedade racialmente consciente; essa é a
consequência inevitável e evidente de uma história de escravidão, repressão e
preconceito. (...) Os programas de ação afirmativa usam critérios racialmente
explícitos porque seu objetivo imediato é aumentar o número de membros de
certas raças nessas profissões. Mas almejam a longo prazo reduzir o grau em que
a sociedade norte-americana, como um todo, é racialmente consciente.28
O Brasil importou as ações afirmativas americanas, tentando adotar políticas de
combate à segregação, com o intuito de fazer valer o princípio da igualdade material
cristalizada no artigo 5º, I, da Constituição Federal de 1988. Assim, com o efeito de
combater os efeitos do passado escravocrata brasileiro o governo acaba implementando
políticas concretas de inclusão social, o que traz à baila a discussão acerca da necessidade
e constitucionalidade da adoção de medidas compensatórias dessa magnitude como a
reserva de cotas para ingresso em universidades públicas.
O assunto tomou destaque na mídia, uma vez que a questão é extremamente
polêmica. Se de um lado se envolve questões históricas como a desigualdade social,
27 Cf. SANTOS, Élvio Gusmão. Igualdade e raça. O erro da política de cotas raciais.
28 DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martis Fontes, 2000,
p.439.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
237
diferenças raciais, por outro se tem que analisar os primados do princípio da igualdade,
para o fim de se averiguar se a finalidade da medida possui respaldo e validade
constitucional.
O procurador federal Élvio Gusmão entende que a importação do sistema de cotas
em universidades que funciona nos Estados Unidos é uma tentativa equivocada de
solucionar um problema brasileiro com uma solução não compatível, argumenta que
A finalidade da importação da ideia de cotas dos Estados Unidos da América
é trazer uma solução para um racismo que lá era institucionalizado, a fim de
resolver um problema que é mais de natureza econômica que ideológica ou
institucional, pois a maior discriminação, como será demonstrado, se dá mais
em virtude da posição social e econômica da pessoa do que em relação a sua
cor no Brasil. Aqui, após a abolição, nunca houve lei alguma que promovesse
barreira institucional a negros ou qualquer outra etnia.29
No Brasil, de forma diversa que nos EUA, não existe uma discriminação
institucionalizada, embora possam ocorrer preconceitos de forma isolada, mas o que
não pode ocorrer é o fato de se aceitar como legítima toda e qualquer política pública
importada, sem realizar reflexões sobre as consequências da medida adotada.
É temerário admitir uma ação afirmativa (discriminação positiva) com base
racial, haja vista que a adoção de políticas de cotas poderá ocasionar uma série de
consequências distorcidas pelo simples fato de inexistir uma verdadeira diferença
biológica de raças, discutidas no primeiro tópico.
Se a questão da desigualdade social existente no Brasil se deve a relação
socioeconômica, pois a história demonstra que a escravidão ocorreu por conta do uso
do poderio econômico em prol de um modelo econômico nascente, a solução das cotas
raciais seria falha. Entende Elvio Gusmão que
O negro não foi escravizado por ser negro – embora tenham sido utilizadas razões
teológicas e pseudocientíficas para justificar a escravidão –, mas pelo fato de
a África fornecer a mão de obra necessária, mais abundante e de fácil captura,
bem como possuir civilizações e culturas menos avançadas tecnologicamente,
o que facilitou o seu domínio por parte do explorador europeu.30
Essa situação coloca em dúvida se as cotas raciais em universidades seria a medida
correta ou adequada para solucionar um problema social brasileiro.
Com isso, a criação de cotas como forma de inserção social de grupos
marginalizados, via criação de vagas exclusivas para grupos em universidades,
29 SANTOS, Élvio Gusmão. Igualdade e raça. O erro da política de cotas raciais.
30 SANTOS, Élvio Gusmão. Igualdade e raça. O erro da política de cotas raciais.
238
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
denominada de ação afirmativa, parte da premissa de problemas de segregação racial,
o que na verdade a história brasileira comprova que seria socioeconômica. Isso exige
que o sistema de cota deve ser melhor refletido para que deva funcionar de uma forma
diferente.
3 O PRIMADO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE E A
QUESTÃO DAS COTAS RACIAIS NO ENSINO SUPERIOR:
MEDIDA POLÍTICA DE (DES)LEGiTIMAÇÃO
CONSTITUCIONAL
A intenção deste trabalho é pesquisar a questão da política de cotas raciais em
universidades como ação afirmativa (política de discriminação positiva) no direito
brasileiro, levando-se em conta as diretrizes constitucionais sobre o princípio da
igualdade e sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
A constituição Federal de 1998 denota em seu art. 5º, I, que as leis devem ser
executadas sem consideração pessoais, o que exige que “toda norma jurídica seja
aplicada a todos os casos que sejam abrangidos por seu suporte fático e a nenhum caso
que não o seja”.31 Isso remete a máxima aristotélica de que consiste em tratar igualmente
os iguais e desigualmente os desiguais. Mas a indagação que involuntariamente se
apresenta é: quem são os iguais e quem são os desiguais? Deve-se perceber que a
discriminação pode ocorrer em dois sentidos: quando se trata como iguais pessoas em
situações diferentes e também quando se trata de forma diferente pessoas em situações
iguais.
Em outras palavras, o ordenamento jurídico brasileiro deve buscar um tratamento
semelhante em termos de direitos e obrigações para todos os cidadãos, o que não
impede, por via do princípio da igualdade, que determinada situação tenha tratamento
diferenciado de outra.
É possível que determinada situação, por apresentar-se como uma especialidade,
possa receber um tratamento diferenciado, desde que diante de uma justificativa
legitimada. Essa diferenciação não pode ser feita de maneira indiscriminada, sob pena
de violar o próprio postulado da igualdade, conforme alerta Pimenta Bueno “a lei
deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não
for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma
injustiça e poderá ser uma tirania”.32
31 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Vergílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008,
p.394.
32 BUENO, Pimenta. citado por MELLO, Celso Antonio B. de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade.
3.ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.18. Também é o entendimento de Robert Alexy: “Se o enunciado geral de
igualdade se limitasse ao postulado de uma práxis decisória universalizante, o legislador poderia, sem violá-lo,
realizar qualquer discriminação, desde que sob a forma de uma norma universal, o que é sempre possível.
A partir dessa interpretação, a legislação nazista sobre judeus não violaria o enunciado: os iguais devem ser
tratados igualmente” (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Vergílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008, p.398).
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
239
Frente a essas premissas, é possível trazer o entendimento de Robert Alexy onde
ele defende que o direito de igualdade definitivo abstrato desdobra-se no direito de ser
tratado igualmente, se não houver justificativa para o tratamento desigual e o direito de
ser tratado desigualmente se tal justificativa estiver presente.33 Este ainda compreende,
com base em uma jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, que
o enunciado da igualdade é violado se não é possível encontrar um fundamento
razoável, que decorra da natureza das coisas, ou uma razão objetivamente evidente
para a diferenciação ou para o tratamento igual feitos pela lei,34
sendo que “promover determinados grupos já significa tratar os outros de forma
desigual”.35
Fica claro que o princípio da igualdade se apresenta com caráter dúplice, que
de um lado obriga o Estado a não conceder privilégios injustificados, mas também
seria utilizado para a correção das injustiças sociais localizadas e pontuais (técnica de
saneamento de desigualdades). Mas esse tratamento diferenciado deve ser aplicado
com muita cautela, haja vista o perigo em estar criando um novo tipo de discriminação
com base em uma aparência de justiça.
Diante de uma dada situação, entende Celso Antonio B. Mello36 que, primeiramente,
se deve identificar aquela situação que é erigida em critério discriminatório, para depois
se descobrir se existe alguma razão racional para atribuir um tratamento jurídico
diferenciado. Verificado qual o fato social que se mostre discriminado, mecanismos
legislativos e administrativos compensatórios poderiam ser adotados para buscar a
solucionar o problema.
Nesse processo de identificação do fato discriminen deve-se ter o cuidado para
que a situação analisada seja efetivamente especial, ou seja, possua característica ou
traço diferenciado. Para numa segunda etapa encontrar uma correlação lógica entre
os fatores diferenciais do fato analisado com a diferenciação do regime jurídico
estabelecida na legislação, sendo que essa diferenciação somente poderá ser levada
a efeito se o presente tratamento jurídico esteja fundado em razão valiosa protegida
pela carta constitucional.37
Frente à perspectiva doutrinária acima delineada as políticas públicas precisam ser
avaliadas a partir de um fundamento sociológico e constitucional, buscando a promoção
da pessoa, sanando as reais desigualdades existentes na sociedade. A questão tormentosa
que o Estado contemporâneo tem que lidar é o fato de encontrar razões para justificar
33 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p.429.
34 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p.403.
35 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p.417.
36 Cf. Celso Antonio B. de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.38.
37 Cf. Celso Antonio B. de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, p.41.
240
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
as discriminações positivas, isto é, de que determinada situação é realmente especial
e merece guarida pelo Direito.
É nessa discussão que se insere a questão das cotas raciais em universidades, no
qual o Estado brasileiro elegeu como situação a merecer um tratamento diferenciado (art.
3º, III da CF38), elencado como uma ação afirmativa destinada a promover a igualdade
de acesso à educação. Mas o problema é de responder as críticas que se embasam na tese
de que as cotas raciais não encontrariam uma legitimidade constitucional, bem como
estaria criando, ao invés de uma inclusão social, uma nova forma de discriminação.
Sabe-se que o postulado da igualdade busca a concretização da justiça social,
visando um tratamento isonômico entre situações semelhantes. Pela justificativa política
da criação de cotas raciais em universidades ela estaria atrelada a concretização de uma
justiça compensatória, na qual
a melhor forma de correção e de reparação desse estado de coisas consistiria em
aumentar (via ações afirmativas) as chances dessas vítimas históricas de obterem
os empregos e as posições de prestigio que elas naturalmente obteriam caso não
houvesse discriminação.39
Observa-se que a ideia central da política de cotas é a concretização da igualdade
material entre os povos, sejam eles: brancos, negros ou índios. O que se buscou com
essa ação afirmativa foi diminuir as desigualdades sociais (ou tratar os desiguais na
medida da sua desigualdade), através de uma reparação de injustiças cometidas no
passado, o que deveria proporcionar uma correção social mediante a criação de um
sistema diverso de recepção de acadêmicos pela via racial.
Ainda que a intenção seja moralmente significativa e de grande valia, o problema
é justificar as cotas raciais diante do postulado constitucional da igualdade. Pois não se
poderia remediar um suposto problema do passado criando um novo problema para o
futuro, haja vista que se estaria criando um novo fato discriminador, assim,
o Estado brasileiro, copiando uma solução dos Estados Unidos da América para
um problema norte-americano, deu início a uma política de pretensa inclusão
social e econômica das populações negras e aborígenes com o fim de diminuir
as desigualdades vigentes entre estes e os de cor branca, incentivando, todavia,
a discriminação racial.40
38 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III – erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
39 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como instrumento
de transformação social. A experiência dos EUA, p.63/64.
40 SANTOS, Élvio Gusmão. Igualdade e raça. O erro da política de cotas raciais.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
241
Se a justificativa utilizada para a implantação da cotas raciais for de justiça
compensatória, existem pesadas críticas acerca de sua aceitação, haja vista que em
matéria de reparação de danos, somente quem sofreu o dano teria legitimidade de
receber a respectiva reparação, bem como somente quem praticou o ato danoso tem
o dever de arcar com a sanção, não sendo permitido repassar o encargo e benefícios
para terceiros. Essas críticas tendem a enfraquecer a tese compensatória das ações
afirmativas, segundo entendimento de Joaquim Barbosa.41
O sistema de cotas raciais foi uma opção política do Estado brasileiro como
solução a fim de resolver um problema que é mais de natureza econômica do que
ideológica ou racista (ao contrário da história dos EUA). A história brasileira comprova
que a maior discriminação existente ocorre em virtude da posição social e econômica do
que em relação à cor de pele. Se a questão de raça sempre foi utilizada como um meio
para a justificação de dominação de povos, pode-se compreender que a instituição de
uma forma diferenciada com base em raças, seria falha, ou pior, discriminatória.
Além disso, o artigo 208, inciso V da Constituição Federal determina que haverá o
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um”, o que impõe um caráter meritório na admissão de acadêmicos
pelo ensino superior, ao contrário do que ocorre no ensino fundamental e médio que
se orientam pelo princípio da universalização. Assim, é vedada qualquer eleição de
fator de discriminação que se baseia em nota intrínseca ou extrínseca do indivíduo,
como o sexo, a raça, a nacionalidade, religião, conforme já decidiu o Supremo Tribunal
Federal42 em casos semelhantes.
Defende Nina Beatriz Stocco Ranieri que as cotas raciais em universidades irá
criar uma distorção extremamente prejudicial na sociedade, realizando pesadas críticas
a este sistema
A reserva de vagas não resolve o problema da desigualdade educacional, cujas
raízes encontram-se nas condições de acesso, qualidade e permanência no
ensino fundamental e médio. Pelo contrário, além de não o solucionar, agrava
a desigualdade assim produzida de forma perversa. Cria duas categorias de
41 Cf. GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o direito como
instrumento de transformação social. A experiência dos EUA, p.65.
42 CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO
DE EMPRESA ESTRANGEIRA: ESTATUTOS DO PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO TRABALHADOR
ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR BRASILEIRO. C.F., 1967, ART. 153, § 1º; C.F., 1988, ART. 5º, CAPUT. I. –
AO RECORRENTE, POR NÃO SER FRANCÊS, NÃO OBSTANTE TRABALHAR PARA A EMPRESA FRANCESA,
NO BRASIL, NÃO FOI APLICADO O ESTATUTO DO PESSOAL DA EMPRESA, QUE CONCEDE VANTAGENS
AOS EMPREGADOS, CUJA APLICABILIDADE SERIA RESTRITA AO EMPREGADO DE NACIONALIDADE
FRANCESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE: C.F., 1967, ART. 153, § 1º; C.F., 1988, ART. 5º,
CAPUT). II. – A DISCRIMINAÇÃO QUE SE BASEIA EM ATRIBUTO, QUALIDADE, NOTA INTRÍNSECA OU
EXTRÍNSECA DO INDIVÍDUO, COMO O SEXO, A RAÇA, A NACIONALIDADE, O CREDO RELIGIOSO, ETC.,
É INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STF: AG 110.846(AGRG)-PR, CÉLIO BORJA, RTJ 119/465. III. –
FATORES QUE AUTORIZARIAM A DESIGUALIZAÇÃO NÃO OCORRENTES NO CASO. IV. – R.E. CONHECIDO E
PROVIDO. (RE 161243, RELATOR(A): MIN. CARLOS VELLOSO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 29/10/1996,
DJ 19-12-1997 PP-00057 EMENT VOL-01896-04 PP-00756).
242
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
alunos em termos de mérito e competência acadêmicas: os das cotas reservadas
e os que ingressam sem reserva de cotas; o que não só diminui a eficiência da
reconhecida qualidade do ensino superior público, uma vez que os primeiros
tendem a permanecer por mais tempo nos cursos de graduação, dadas as
consequências inerentes à facilitação do acesso, centradas basicamente no déficit
de aprendizagem. Este mesmo fato, considerado do ponto de vista do aluno
ingressante pelo sistema de cotas, produz efeito antissocial ante as possíveis
repetências e dificuldades de acompanhamento normal dos cursos. Não há
outro caminho para a redução de desigualdades na área educacional senão o
da melhoria de ensino fundamental e médio, o que supõe tanto o investimento
financeiro como a formação de professores devidamente capacitados para atuar
nesses níveis de ensino (...).43
Deve existir uma reflexão no sentido de que se prevalecer a tese de que é possível
criar um sistema em que defende uma concorrência apartada para os negros e índios,
tendo como justificativa que eles não teriam as mesmas capacidades que os brancos,
isso pode representar dois problemas graves: de um lado a quebra do princípio da
eficiência do ensino público, ao se flexibilizar o acesso de alunos; e por outro lado,
uma legalização do racismo ao invés de uma ação afirmativa.
Nesse sentido foi o entendimento da Desembargadora Vera Lúcia Lima
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região,44 ao julgar o Agravo de Instrumento
n.2008.02.01.012162-1, ocasião em que ela decidiu que as cotas raciais não atendiam
ao princípio da isonomia, haja vista que o acesso ao ensino universitário deve sempre
ser regulado de acordo com o critério meritório.
O que se tenta defender é que ao se criar um sistema diferenciado sob o pretexto
de que há raças exploradas historicamente, mas na verdade a exploração se deu por
aspectos econômicos, então a premissa adotada é falsa, logo o sistema pode não
funcionar da forma que se imagina.
Além da ação judicial acima citada, existem várias outras discutindo a matéria de
cotas raciais em universidades, dentre elas uma representação de inconstitucionalidade
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (processo n.º 2003.007.00021) e uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (ADIN 2858). Ambas as
43 RANIERI, Nina Beatriz Stocco . A reserva de vagas nas universidades públicas. BDA: Boletim de Direito
Administrativo, São Paulo, v.17, n.9, p.699-701, 2001.
44 CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. RESOLUÇÃO
Nº 33/2007 DA UFES. RESERVA DE 40% DAS VAGAS DOS CURSOS OFERECIDOS PARA ESTUDANTES DE
BAIXA RENDA EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE
PLENÁRIO. DESNECESSIDADE IN CASU. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ACESSO QUE DEVE PAUTAR-SE DE ACORDO COM O MÉRITO DE CADA
UM. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE META PROGRAMÁTICA INSTITUÍDA
PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO EM PROL DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR. DECISÃO
QUE NÃO MALFERE A AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA PREVISTA NO ART. 207 DA CR/88. RECURSO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TRF 2ª região – AI. 2008.02.01.012162-1. Julg. 11/03/2009.
Rel Des. Vera Lucia Lima).
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
243
ações trazem questões como estas que foram levantadas neste trabalho e que merecem
ser amadurecidas pela sociedade com muita clareza e objetividade.
Outro problema que se encontra no sistema de cotas raciais e que impede a
legitimidade constitucional é a respeito de sua operacionalidade, sendo que o aspecto
racial depende de uma análise subjetiva. Pois se já é difícil afirmar que raças existem,
como se fazer a confirmação de que alguém é negro, índio ou branco. E o mulato, seria
meio negro ou meio branco? Então teria ele direito a meia cota? Frente à interpretação
extensiva, admitida no direito constitucional, como tratar aquele de cor branca, mas
filho de mãe e pai negros?
Acredita-se que as cotas raciais poderão ocasionar mais distorções do que correção
na sociedade brasileira, pois a diferenciação a ser criada com base em raças além de
possuir premissas falhas, não admite um controle objetivo, possibilitando, por exemplo,
que negros ricos possuam privilégios e brancos pobres e marginalizados fiquem de
fora do programa.
Observe-se um caso real que ocorreu na Universidade de Brasília relatada pelo
procurador federal Élvio Gusmão
História bizarra aconteceu com os gêmeos Alan e Alex. No início de maio de
2007, o estudante Alan Teixeira da Cunha, de 18 anos, e seu irmão gêmeo Alex
foram juntos à Universidade de Brasília (UnB) para se inscrever no vestibular.
Visto que têm pele morena, eles optaram por disputar o concurso por meio do
sistema de cotas raciais. Desde 2004, a UnB e outras 33 universidades do país
reservam 20% de suas vagas a alunos negros e pardos que conseguem a nota
mínima no exame. Alan e Alex são gêmeos univitelinos, ou seja, foram gerados
no mesmo óvulo e, genética e fisicamente, são idênticos. Eles se inscreveram
no sistema de cotas por acreditar que se enquadram nas regras, já que seu pai é
negro e a mãe, branca. Seria de esperar que ambos recebessem igual tratamento.
Não foi o que aconteceu. Os “juízes da raça” olharam as fotografias e decidiram:
Alex é branco e Alan não. Alan, que quer prestar vestibular para educação física,
foi classificado como preto na subcategoria dos pardos e pode se beneficiar do
sistema de cotas. Alex, que pretende cursar nutrição, foi recusado.
A decisão da banca da Universidade de Brasília que determina quem tem direito
ao privilégio da cota mostra o perigo de classificar as pessoas pela cor da pele
– coisa que fizeram os nazistas e o apartheid sul-africano.45
Para o americano John Rawls as desigualdades sociais atingem as possibilidades
de vida dos seres humanos. É sobre tais desigualdades que a teoria da justiça deve ser
aplicada, através da defesa da equidade. Assim, defende este autor que
45 SANTOS, Élvio Gusmão. Igualdade e raça. O erro da política de cotas raciais.
244
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de
direitos e liberdades básicas para todos, projeto este compatível com todos os
demais; e, nesse projeto, as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter seu
valor equitativo garantido”. E também, “as desigualdades sociais e econômicas
devem satisfazer dois requisitos;(a) devem estar vinculadas a posições e cargos
abertos a todos, em condições de igualdade equitativa de oportunidades; e (b)
devem representar o maior benefício possível aos membros menos privilegiados
da sociedade.46
É possível defender que haja mecanismos de correções das desigualdades sociais
com a finalidade de privilegiar os menos favorecidos. O que não pode acontecer é
simplesmente eleger a questão racial como premissa para a diferenciação social, o que
em si já é uma discriminação, haja vista que no atual Estado Democrático de Direito
todo e qualquer tratamento diferenciado deve atender ao princípio da isonomia, afim de
que “(...) aquilo que é identificado como vontade da Constituição deve ser honestamente
preservado, mesmo que, para isso, tenhamos de renunciar a alguns benefícios, ou até a
algumas vantagens justas”,47 conforme defende o doutrinador alemão Konrad Hesse.
Uma alternativa legitima que poderia ser criada seria a implementação definitiva
de cotas para estudantes de escolas públicas ou cotas para pessoas sem condições
financeiras. Estas espécies de diferenciação, aparentemente, encontrariam fundamento
constitucional, pois se estaria combatendo a desigualdade social, com um problema
historicamente identificado e com mecanismos de caráter objetivo, sem riscos de se
privilegiar pessoas em situações iguais.
O princípio da igualdade, conforme concebido pelo Estado Democrático de Direito
moderno se traduz em uma técnica que visa o saneamento das desigualdades sociais. Mas
não pode ser tomado como fundamento para as cotas raciais, pois, nesse caso, estaria
aplicando a isonomia às avessas, o que deslegitima os primados constitucionais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A classificação de raças não tem caráter biológico, mas sim, tem um conceito
carregado de ideologia, esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de
dominação. É uma construção criada no imaginário social a partir das diferenças como
a cor da pele e, assim manter uma discriminação a certa pessoa ou grupo social.
A história brasileira demonstra que as desigualdades sociais possuem uma origem
econômica, no qual a questão racial foi elencada tão somente como uma justificativa
de dominação.
46 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, São Paulo, Martins Fontes, 2000, p.47/48.
47 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Fabris
Editor, 1991, p.22.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
245
Diante da existência das desigualdades sociais é que se percebeu o surgimento
de movimentos sociais que vieram a exercer um papel importante nessa quebra de
paradigma. Junto com esses movimentos da sociedade também surgiram políticas
públicas como forma de inserção social de grupos marginalizados, denominadas de
ações afirmativas.
O Brasil importou a ideia de cotas raciais para universidades dos Estados Unidos
da América, tentando trazer uma solução para desigualdade social, mas que não guarda
legitimidade com a carta constitucional brasileira de 1988. Ela parte da premissa de
problemas de segregação racial, o que na verdade a história brasileira comprova que
seria socio-econômica.
O princípio da igualdade concebido pela Constituição Federal de 1988 se
traduz numa técnica que visa o saneamento das desigualdades sociais e a adoção das
cotas raciais em universidades não encontra legitimidade constitucional, pois estaria
legalizando uma espécie de discriminação.
Aparentemente as cotas raciais se apresentam a sociedade como uma medida
de inclusão social, mas pode-se verificar que além de não possuir uma legitimidade
constitucional sua operacionalidade irá criar um antagonismo com o princípio da
isonomia. O critério verificador de raças ficará a cargo de uma análise subjetivista, o
que poderá criar verdadeiras distorções na finalidade dessa medida social.
REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais
no Estado de direito democrático. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro:
Renovar, n.217, jul./set. 1999.
______. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Vergílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008.
ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
ARAÚJO, Luiz Alberto David. Curso de direito constitucional. 6.ed. São Paulo: Saraiva,
2002.
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil.
São Paulo: Saraiva, 2000.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9.ed. São Paulo: Malheiros,
2000.
______. Teoria do Estado. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito
constitucional brasileiro (pós-modernindade, teoria crítica e pós-positivismo). In: Revista
Forense. Rio de Janeiro, v.358.
BOBBIO, Norberto. Dicionário da política. 10.ed. Trad. João Ferreira. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1997
CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
Coimbra: Almedina, 2000.
246
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
CÁCERES, Florival. História do Brasil. São Paulo: Moderna, 1997.
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão
na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
COELHO, Luis Fernando. Teoria Critica do Direito. 3.ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2003.
DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Trad. Jussara
Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
______. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martis Fontes,
2000.
FERNANDES, Florestan. Mudanças sociais no Brasil. São Paulo: Difusão Europeia
do livro, 1960.
______. A democratização do ensino. In: FERNANDES, Florestan. Educação sociedade
no Brasil. São Paulo: Dominus/EDUSP, 1966.
FERREIRA, Daniela Sanchez Ita; CHICANATTO, Dionísio. Ações afirmativas e a
política de cotas raciais dentro do sistema educacional brasileiro. Disponível na internet:
http://www.faimi.edu.br. Acesso em: 01/06/2009.
GEARY, Patrick J. O mito das nações. Trad. Fábio Pinto. São Paulo: Conrad Editora do
Brasil, 2005.
GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade:
o direito como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001.
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora
34, 2002.
HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição – contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição.
Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997.
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, Trad. Flávio
Beno Siebeneichler. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
HAYEK, Friedrich August Von. Os fundamentos da liberdade. Brasília: Ed. UnB, São
Paulo: Visão, 1983.
HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica europeia. Lisboa:
Publicações Europa-América, 1997.
HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha.
Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991.
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26.ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
LINTON, Ralph. O homem: uma introdução à antropologia. Trad. Lavínia Vilela. 11.ed.
São Paulo: Martins Fontes, 1981.
MALISKA, Marcos Antonio. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2001.
______. Pluralismo jurídico e direito moderno. Curitiba: Juruá, 2000.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
247
MARQUESE, Rafael de Bivar. A dinâmica da escravidão no Brasil: resistência, tráfico
negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX. Disponível na Internet: http://www.scielo.br/.
Acesso em: 22/05/2009.
MELLO, Celso Antonio B. de. Curso de Direito Administrativo. 17.ed. São Paulo:
Malheiros, 2004.
______. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3.ed. São Paulo: Malheiros,
1999.
MENEZES, Paulo Lucena de. A ação afirmativa (affirmative action) no direito norteamericano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
MONTELLATO, Andrea, CABRINI, Conceição; CATELLI Junior, Roberto. História
temática: o mundo dos cidadãos. Scipione, 2000.
MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2004.
______. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 5.ed. São
Paulo: Atlas, 2003.
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo,
identidade e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional de Relações Raciais e
Educação – PENESB-RJ, em 05 de jan. 2003. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.
org.br/downloads/09abordagem.pdf> Acesso em 15 dez. 2008.
______. Estratégias e políticas de combate à discriminação racial. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 1996.
NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de direito: do Estado de
direito liberal ao Estado social e democrático de direito. Coimbra: Coimbra, 1987.
PENA, Sérgio D. J. Humanidade sem raças? São Paulo: Publi Folha, 2008.
PETTIT, Philip. Republicanismo: uma teoria sobre la libertad y el gobierno. Barcelona:
Paidós, 1999.
RANIERI, Nina Beatriz Stocco. A reserva de vagas nas universidades públicas. BDA:
Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, v.17, n.9, p.699-701, 2001.
RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: ensaio sobre a origen das linguas;
discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; discurso
sobre as ciências e as artes. 2.ed. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril
Cultural, 1978.
ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1999.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3.ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2003.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. São Paulo: Companhia das Letras,
2002.
248
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
SILVA, Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. A separação dos poderes, as concepções
mecanicistas e normativas das Constituições e seus métodos interpretativos. Jus
Navegandi. Disponível em: <www.jusnavegandi.com.br>. Acesso em: 06. jul. 2005.
SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16.ed. São Paulo:
Malheiros, 1999.
SUNFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4.ed. São Paulo: Malheiros,
2000.
TODOROV, Tzvetan. Nós e os outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993.
TEMER, Michel. Elementos de direito Constitucional. 18.ed. São Paulo: Malheiros,
2002.
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura
do direito. São Paulo: Alfa Omega, 2001.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
249
O compromisso de compra e venda e a
vigência das Súmulas 84 e 239 do STJ
Gerson Luiz Carlos Branco
Resumo
O compromisso de compra e venda é um contrato disciplinado por diversas leis, editadas
de forma fragmentada ao longo de quase setenta anos, tendo os efeitos do seu registro no álbum
imobiliário sido disciplinados pelo Código Civil vigente. O advento do Código Civil (lei nova)
sobre o entendimento jurisprudencial sumulado precisa ser estudado e entendido, para que o contrato
e seus efeitos possam ser executados. O propósito deste artigo é fazer a distinção entre o regime
dos efeitos do compromisso de compra e venda registrado (com eficácia real e com possibilidade
de propositura de ações reais) do não registrado (com eficácia obrigacional e possibilidade de
propositura de ações para execução das obrigações).
Palavras-chave: Liberdade contratual. Compromisso de compra e venda. Adjudicação
compulsória. Embargos de terceiro.
The agreement to sale and the force of the dockets
84 and 239 from the STJ
Abstract
The “agreement to sale” is a contract disciplined by various laws, edited in a fragmented
way over nearly seventy years, and the effects of its inscription on the public records are governed
by the new Civil Code. The effects of new Civil Code over the “precedent” need to be studied
and understood, to that the contract and its effects can be executed. The purpose of this paper is
to distinguish between the effects of the “agreement to sale” recorded (with real effectiveness and
possibility of bringing real actions) of non-recorded (with the obligatory efficacy and possibility
of bringing actions to implement the obligations).
Keywords: Freedom of contract. Agreement to sale. Compulsory award. Embargoes
third.
1 INTRODUÇÃO
Desde 1937, quando da edição do Decreto-Lei 58, tem sido travado um contínuo
debate pela jurisprudência e doutrina a respeito da forma de execução de algumas das
obrigações do Compromisso de Compra e Venda, em especial a execução da obrigação
de transferir a propriedade do bem imóvel pelo vendedor e a proteção da posse do
comprador perante terceiros, quando o contrato não está registrado. Com a edição do
Gerson Luiz Carlos Branco é Doutor em Direito Civil, professor de Direito Civil da ULBRA Canoas e advogado.
E-mail: [email protected]
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.250-266
jul./dez. 2009
Código Civil vigente no ano de 2003 tais dúvidas foram ampliadas em razão de ter
sido reforçada a importância do registro do contrato pela criação do direito real do
promitente comprador, em um contexto de pacificação jurisprudencial provocado
pelas Súmulas 841 e 2392 do Superior Tribunal de Justiça.
Tais súmulas foram editadas respectivamente em 02 de julho de 1993 e 30 de
agosto de 2000 e, portanto, é preciso entender os efeitos da lei posterior aos referidos
entendimentos jurisprudenciais, pois se fossem disposições legais trariam o debate a
respeito de sua vigência.
É evidente que as normas cristalizadas pelo entendimento jurisprudencial também
ficam sujeitas aos efeitos da nova lei, mas como no caso do conflito das leis no tempo
é necessário analisar como o “modelo jurídico”3 foi influenciado ou alterado, já que
há um conjunto de diferentes leis e normas que regulam essa modalidade de contrato
de compra e venda. Em outras palavras, somente se pode identificar o regime do
cumprimento das obrigações derivadas de tal tipo contratual a partir da interpretação
do contexto da formação do modelo jurídico que o tipo representa.4
É preciso verificar os efeitos da vigência do Código Civil sobre o regime dos
efeitos dos contratos, em especial no que se refere aos mecanismos para tutela de tais
efeitos, seja no plano obrigacional, seja no plano do Direito Real. Sob o ponto de
vista prático será necessário examinar se houve alteração das hipóteses em que será
possível a propositura da ação de embargos de terceiro, da adjudicação compulsória
e da ação de nunciação de obra nova propostos com fundamento no compromisso de
compra e venda.
Embora a investigação proposta neste artigo seja predominantemente pragmática e
dogmática, é pressuposto do mesmo a indispensabilidade de qualquer estudo do Direito
1 “Súmula 84: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, publicada no DJ 02/07/1993,
p.13283.
2 “Súmula 239: O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e
venda no cartório de imóveis”, publicada no DJ 30/08/2000 p.118.
3 A concepção de modelo jurídico utilizada neste artigo segue a proposição de Miguel Reale, segundo quem os
modelos são estruturas postas em razão dos fins que devem ser realizados, expressando o conteúdo normativo
das fontes do direito. Por isso, os modelos desvinculam-se da pessoa do legislador, de seus motivos iniciais, para
que “possam atender, prospectivamente, a fatos e valores supervenientes suscetíveis de serem situados no âmbito
de validez das regras em vigor tão-somente mediante seu novo entendimento hermenêutico”. “A lei é mais sábia
do que o legislador”. reale, M. Fontes do direito — para um novo paradigma hermenêutico, p.31.
4 Partes dos pressupostos deste artigo já foram apresentadas em dois outros estudos, sobre os efeitos da unificação
das obrigações civis e mercantis sobre o regime da compra e venda e também sobre a técnica legislativa da
“legislação aditiva”. BRANCO, Gerson Luiz Carlos e MARTINS-COSTA, Judith. Diretrizes Teóricas do novo Código
Civil. São Paulo: Saraiva, 2002, e BRANCO, Gerson Luiz Carlos. O regime obrigacional unificado do Código Civil
brasileiro e seus efeitos sobre a liberdade contratual. A compra e venda como modelo jurídico multifuncional.
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 872, p.43–78.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
251
Privado a partir de sua perspectiva histórica,5 bem como do estudo dos contratos e seus
efeitos a partir da experiência social, já que o próprio conceito de contrato é indissociável
dos fatos sociais e das exigências valorativas de um determinado momento histórico. Ou
seja, a compreensão do modelo jurídico do “compromisso de compra e venda” somente
pode se dar a partir da leitura de um conjunto de elementos, de ordem histórica, social,
valorativa e normativa, que determinam a sua estrutura e funcionalidade.6
A análise das leis necessárias à compreensão da matéria, editadas ao longo de
oito décadas, exige a visualização do Código Civil vigente como um “eixo” do Direito
Privado.
Nessa perspectiva também é integrado o estudo da eficácia e da efetividade, pois
em modelos jurídicos como o compromisso de compra e venda não há como separar
e compartimentar o Direito Privado e o Direito Processual Civil em áreas estanques.
É preciso compreender as diferenças principiológicas, mas não se pode esquecer que
na “vida de relação” o destinatário da norma é o cidadão comum, cuja preocupação é
fundamentalmente com a efetividade.
Embora ditadas ao longo de oito décadas, as leis que regulamentaram o
compromisso de compra e venda estão alinhadas sob o ponto de vista principiológico,
pois a socialidade e a funcionalidade foram uma marca comum que pode ser vista tanto
no Decreto-Lei 58/37 às reformas processuais das últimas duas décadas para facilitar
a execução das obrigações de fazer.
Por isso, não se pode deixar de acentuar que o tipo legal nasceu com o Decreto-
5 Adota-se como conceito de História do Direito aquele fornecido por Paolo Grossi, segundo o qual é compreendida
como disciplina jurídica que tem por objeto a inserção das regras jurídicas no processo cultural que se desenvolve
no curso do tempo. GROSSI, Paolo. Pensiero Giuridico – Appunti per una «voce» enciclopedica. Separata da
Revista Quaderni Fiorentini, n. 17, 1988. GROSSI, Paulo. El punto y la línea. História del derecho y derecho positivo
em la formación del jurista de nuestro tiempo. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, n. 06, 2000, e
GROSSI, Paolo. Scienza giuridica italiana – Un profilo storico 1860 – 1950. Milano: Giuffrè Editore, 2000. Também
tem grande influência nessa concepção a obra de HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura
jurídica europeia. Lisboa: Europa-América, 1997.
6 Conforme diz AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, p.08, “o Direito Civil é, antes
de tudo, um fenômeno cultural em que predominam as notas da historicidade e da continuidade. Historicidade no
sentido de que se veio formando gradativamente, desde os primórdios da civilização ocidental, até se transformar
em um dos mais importantes ramos da ciência. Continuidade, pelo fato de ter-se mantido como processo constante
e de certo modo uniforme na maneira de solucionar os problemas jurídicos que lhe são próprios, revelando a
existência de princípios fundamentais a orientar a gênese e a aplicação de suas instituições”.
252
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937,7 editado para conter parte das consequências
sociais e econômicas da industrialização e do êxodo rural.8
Na época havia um processo de transformação da realidade econômica brasileira,
na qual o país deixava de ser predominantemente agrário para ter nas cidades a maior
concentração das populações e também de sua atividade econômica. O desenho da vida
agrária e da vida urbana foi alterado substancialmente durante essa época, cujo marco
pode ser a revolução de 1930. Enquanto no meio rural começa a surgir o problema
do êxodo e o agravamento dos conflitos pela terra, nas periferias das cidades a terra
começa a ser dividida pelos especuladores imobiliários.
O contrato de compra e venda, na forma como estava regulado no Código Civil
de 1916, não tutelava os interesses dos que não eram proprietários ou não tinham
condições de comprar um imóvel à vista. Os trabalhadores e a classe média urbana
e todos aqueles que só poderiam adquirir algum bem mediante pagamento parcelado
eram excluídos da possibilidade de comprar ou ficavam nas mãos dos especuladores,
que recebiam as parcelas do preço e depois se negavam a transmitir o imóvel, usando
como fundamento jurídico a regra do art. 10889 do Código Civil vigente na época, que
facultava o arrependimento, cabendo à parte apenas devolver o que havia recebido,
sem que houvesse uma reparação integral. No máximo havia a restituição do preço
pago com juros.
O exercício do arrependimento pelo comprador não era ilícito, mas exercício
de um direito potestativo de escolha numa espécie de “obrigação com faculdade de
substituição”, ou “obrigações com faculdade alternativa”.10
Como bem mencionam os considerandos do Decreto-Lei 58/37, multiplicavam-se
as fraudes, deixando os adquirentes desamparados.
7 O compromisso de compra e venda teve origem em Projeto de lei apresentado pelo Prof. Waldemar Ferreira
em 9.6.1936, tendo sido editado por Getúlio Vargas em 10.12.1937, como medida “governamental” de proteção
dos adquirentes de imóveis loteados. Na época a expressão não era usada, mas tratou-se de verdadeira “lei de
proteção ao consumidor”. MARCONDES, Sylvio. Professor Waldemar Ferreira. Revista da Faculdade de Direito
de São Paulo, v. LX, 1965, p.47–67.
8 Veja-se a exposição de motivos do Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 1937: “O Presidente da República
dos Estados Unidos do Brasil, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição: Considerando o
crescente desenvolvimento da loteação de terrenos para venda mediante o pagamento do preço em prestações;
Considerando que as transações assim realizadas não transferem o domínio ao comprador, uma vez que o art.
1.088 do Código Civil permite a qualquer das partes arrepender-se antes de assinada a escritura da compra e
venda; Considerando que êsse dispositivo deixa pràticamente sem amparo numerosos compradores de lotes, que
têm assim por exclusiva garantia a seriedade, a boa fé e a solvabilidade das emprêsas vendedoras; Considerando
que, para segurança das transações realizadas mediante contrato de compromisso de compra e venda de lotes,
cumpre acautelar o compromissário contra futuras alienações ou onerações dos lotes comprometidos; Considerando
ainda que a loteação e venda de terrenos urbanos e rurais se opera frequentemente sem que aos compradores
seja possível a verificação dos títulos de propriedade dos vendedores;”.
9 “Art. 1088. Quando o instrumento público for exigido como prova do contrato, qualquer das partes pode
arrepender-se, antes de o assinar, ressarcindo à outra as perdas e danos resultantes do arrependimento, sem
prejuízo do estatuído nos arts 1.095 a 1.097”.
10 VARELA, J.M. Antunes. Direito das Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p.338 e 339.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
253
O Decreto-Lei 58/37 regrou a venda de lotes, exigindo uma série de providências
prévias, para o vendedor (aprovação do plano e planta do loteamento pelas autoridades
públicas, regras rigorosas sobre a publicidade dos lotes etc.), podendo ser definido como
uma das primeiras normas de proteção ao consumidor, assim como uma das primeiras
leis que veio a proteger o compromisso de compra e venda.
Evidentemente que houve um salto expressivo no tratamento da matéria desde
1937 até os dias de hoje, salto que pode ser observado na regulamentação da matéria
pelo Código Civil.
É nesse espírito de consolidação dos avanços normativos e consolidação
cultural do modelo jurídico do compromisso de compra e venda que se pode dizer o
quão equivocados estão aqueles que afirmam ter o Código Civil de 2003 provocado
retrocesso no regulamento da matéria, em especial em razão do que dispõe o art. 463,
parágrafo único, e art. 1.417, que trata da exigência de registro do compromisso de
compra e venda.11
2 DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS NO REGIME DO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA REALIZADAS
PELO CÓDIGO CIVIL VIGENTE
O tradicional conceito do contrato de compromisso de compra e venda, construído
a partir do regime delineado no Decreto-Lei 58/37, é o de um contrato pelo qual uma das
partes se compromete a transferir a propriedade de um bem mediante uma nova declaração
de vontade a ser realizada no futuro e a outra a efetuar o pagamento do preço. Ambas
as partes comprometem-se a firmar um contrato translativo do direito de propriedade,
identificado costumeiramente como sendo o contrato de compra e venda.
Trata-se de contrato autônomo, ou, pelo menos de uma das modalidades da compra
e venda, segundo o que já lecionava Darcy Bessone em 1960, quando da primeira
edição da monografia intitulada Da compra e venda – promessa e reserva de domínio,
que tanto lhe notabilizou.12
Nesse aspecto, deve-se observar que a feição atual adotada pelo contrato reflete
uma das diversas escolhas que o legislador teve, tendo em vista a vasta polêmica
existente a respeito da eficácia de dito contrato, assim como sua aderência à vida real
e aos problemas do cotidiano, entre os quais se pode inserir a questão apresentada num
clássico estudo sobre a matéria que questionava sobre qual a razão para se percorrer
11 Para o conceito de modelo, adota-se a concepção de Miguel Reale, que de forma sintética Reale define modelo
jurídico como “estrutura normativa de atos e fatos pertinentes unitariamente a dado campo da experiência social,
prescrevendo a atualização racional e garantida dos valores que lhe são próprios”. REALE, Miguel. Fontes e
modelos do direito – para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1999, p.46. A esse respeito
tratamos no livro MARTINS-COSTA, Judith e BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do novo Código
Civil. São Paulo: Saraiva, 2002.
12 BESSONE, Darcy. Compra e venda. Promessa e Reserva de Domínio. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
254
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
um caminho tão longo se o motivo da negociação entre as partes foi a vontade de
vender e comprar.13
Evidentemente que o questionamento foi meramente provocativo, pois o
compromisso é um dos instrumentos mais ágeis e úteis da realidade atual, pois evita a
incidência excessiva de tributos na data da contratação, custos com escritura pública,
dando segurança ao adquirente, bem como fornece a devida garantia ao alienante
no caso de venda a prestações. Assim, com a cessação dos impedimentos fáticos ou
legais, podem as partes firmar a escritura pública hábil a transladar a propriedade, com
base no regulamento já estabelecido. Em outras palavras, o compromisso de compra
e venda, além de conter um mecanismo eficaz para permitir que as partes atinjam o
fim típico da compra e venda, também é um excelente instrumento de concessão de
crédito com garantia.
Como a proposta deste artigo é verificar os efeitos das alterações legislativas,
inicia-se pelo estudo do contrato no processo legislativo que resultou no Código Civil
vigente.
A análise dos trabalhos legislativos do Código Civil demonstra que na exposição
de motivos não houve referências expressas ao compromisso de compra e venda,
servindo para tal fim as discussões ocorridas na Câmara dos Deputados, onde foram
apresentadas emendas para tratar da matéria, pois a mesma foi objeto de discussão
unicamente quando se tratou do contrato preliminar atualmente regulado nos arts. 462
a 466 do Código Civil.
2.1 Artigos 462 a 466 do Código Civil
O art. 462 do Código Civil foi objeto de duas emendas durante o processo
legislativo, as de n. 38114 e 38215, com o objetivo de exigir que o contrato preliminar
também cumprisse a forma do contrato a ser celebrado. Ambas as emendas foram
rejeitadas, tendo sido mantida a redação original.
Além de tais manifestações, o próprio Agostinho Alvim, jurista encarregado de
elaborar o Capítulo do “Direito das Obrigações”, manifestou-se no sentido de que a
emenda fosse acolhida, argumentando que “a forma em matéria de contrato preliminar,
segundo o Código Civil Italiano, deve ser a mesma do contrato. A lei ressalvará os casos
em que a forma do contrato preliminar, como sói acontecer no caso de compromisso
de venda de imóvel, deva ser outra”.16
13 FERREIRA, Geraldo Sobral. Promessa Bilateral de Venda e Compromisso de Compra e Venda. Revista de
Direito Civil. N. 7, p.144.
14 NEVES, Tancredo. Justificação da emenda n. 381. Diário do Congresso Nacional (Seção I) Suplemento,
14.09.1983, p.258, justificação elaborada pela Advogada Maria Angélica Rezende, em nome da OAB do Estado
do Sergipe.
15 COELHO, Fernando. Justificação da emenda n. 379. Diário do Congresso Nacional (Seção I) Suplemento,
14.09.1983, p.259.
16 ALVIM, Agostinho. Pareceres. In: ABI-ACKEL, Ibrahim e REALE, Miguel. Emendas ao projeto de Código Civil
– Pareceres da Comissão Elaboradora e revisora. Brasília: Ministério da Justiça, 1984, p.84.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
255
Nessa citação, fica clara a manifestação de Agostinho Alvim no sentido de que o
compromisso de compra e venda de imóvel deve obedecer à lei especial, que ressalvará
a questão da forma. De qualquer maneira, a Câmara acolheu o projeto original, para que
todos os contratos preliminares prescindam quanto à forma do contrato principal.
A esse respeito, deve-se observar que a redação original apresentada por Agostinho
Alvim tinha texto distinto, na linha do Código Civil Italiano. Porém, na primeira versão
do projeto, há manuscrito de Miguel Reale alterando a redação do referido artigo, assim
como de praticamente todo o capítulo relativo ao contrato preliminar, determinando a
redação do projeto, que atualmente é a redação do Código.17
Por incrível que pareça, esse foi o único debate ocorrido a respeito do contrato,
para afirmar a não incidência das regras do contrato preliminar ao compromisso de
compra e venda.
Por isso, afasta-se o equívoco de considerar o contrato preliminar de que tratam os
arts. 462 a 466 do Código Civil como sendo o compromisso de compra e venda cujos
efeitos reais são regulados no art. 1.417 e art. 1.418 do mesmo diploma legal.18
O contrato preliminar de que tratam os arts. 462 a 466 do Código Civil não diz
respeito ao compromisso de compra e venda.
O contrato preliminar é um “tipo contratual” em que as obrigações das partes são
de celebrar um contrato, no futuro, uma promessa de contrato.19 Trata-se de um contrato
pelo qual as partes se obrigam a celebrar um contrato que irá regulamentar determinada
relação econômica. Por isso, chama-se preliminar, pré-contrato ou contrato promessa, já
que o preceito que irá disciplinar o relacionamento das partes e que definirá o que cada
um deverá fazer, dar ou não fazer, dependendo de uma nova declaração volitiva. Em
outras palavras, a única obrigação válida é a obrigação de contratar. As obrigações do
contrato a ser celebrado dependem ou da nova declaração de vontade ou da execução
coativa do contrato preliminar.20
17 REALE, Miguel. Código Civil. Anteprojetos com minhas revisões, correções, substitutivos e acréscimos. Texto
inédito, não publicado, parcialmente manuscrito, sem data.
18 No mesmo sentido tem-se a opinião de GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19 ed., Rio de Janeiro: Forense,
2007, p.361: “O compromisso de venda não é verdadeiramente um contrato preliminar”.
19 Embora a própria lei se utilize da expressão “promessa” em vez de “compromisso”, não havendo qualquer
distinção prática na utilização de uma ou outra expressão, opta-se pela denominação “compromisso de compra e
venda” pelas razões que justificaram a própria edição do Decreto-Lei 58/37 e toda a legislação posterior, que foi a
de criar um “tipo contratual” diferente do que até então existia que era a de um “contrato promessa”. Além disso, é
possível a “promessa” de “compromisso de compra e venda”, conforme previsto expressamente para os casos de
reserva de lote ou de outras modalidades de contratos preliminares, segundo a melhor lição de ALMEIDA COSTA,
Mário Júlio. Contrato Promessa – Uma síntese do regime vigente. 9 ed. Coimbra: Almedina, 2007.
20 Uma das polêmicas mais vivas do contrato preliminar diz respeito a aplicação de astreintes, no caso de
inadimplemento, conforme sustenta CATALAN, Marcos Jorge. Considerações sobre o contrato preliminar: em
busca da superação de seus aspectos polêmicos. In: DELGADO, Mário Luiz e outro. Novo Código Civil – Questões
Controvertidas – v. 4. São Paulo: Método Editora, 2005, p.319–341. Tal possibilidade é discutível no regime do
contrato preliminar em razão de que a lei é clara ao determinar ao Juiz que considere como “definitivo” o contrato
preliminar. Ou seja, o legislador considerou que sendo personalíssima a obrigação de “declarar vontade”, a
execução dessa obrigação se dá pelo “suprimento” da declaração e não pela aplicação de astreintes para que a
declaração seja feita coativamente. Nada obsta, é claro, que o Juiz antecipe os efeitos da tutela para considerar
que o contrato preliminar tenha os efeitos do contrato definitivo e, sendo este de obrigações de fazer, na execução
do mesmo sejam aplicadas astreintes.
256
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Trata-se de um contrato cuja problematicidade não é privilégio do direito brasileiro,
sendo instituto jurídico que nos mais diversos ordenamentos gera controvérsias a
respeito do seu regime de execução.21
O compromisso de compra e venda, seja no regime do DL 58/37, no regime da
Lei 6.766/79,22 assim como na Lei n. 4.591/65,23 consiste em um contrato definitivo, um
contrato pelo qual as partes disciplinam o seu comportamento para o futuro, estabelecem
o preceito que irá disciplinar sua relação intersubjetiva. Nesse ponto acentua-se que
o contrato ou o nascimento de qualquer obrigação independente de nova declaração
de vontade.
Porém, no conteúdo do preceito está, entre outros deveres, a obrigação de fazer
declaração de vontade, que é a obrigação de firmar escritura pública para translação
do direito real de propriedade, a fim de cumprir o disposto no artigo 134, I, do Código
Civil de 1916, reproduzido agora no art. 108 do Código Civil.
Porém, a escritura pública que é necessária para a translação do direito de
propriedade não é contrato definitivo que antecede um contrato preliminar. Trata-se
de mero negócio jurídico de adimplemento, cujo objetivo é a translação do direito real
de propriedade que permaneceu nas mãos do vendedor como garantia do pagamento
do preço e não verdadeiramente um contrato.24
Sob o ponto de vista estrutural, o contrato é um preceito que tem como gênese
um acordo de vontades emanadas por duas partes, identificadas pela existência de
dois núcleos de interesses contrapostos, com o objetivo de criar direitos e obrigações.
Caracteriza-se, portanto, pela obrigatória eficácia obrigacional, sem a qual não se pode
tecnicamente falar em contrato. Diferentemente, nos negócios dispositivos, não há um
preceito, pois celebrado o negócio sua eficácia é constitutiva de “título”, cujo registro
é hábil à translação da propriedade, sem efeitos obrigacionais.
Quando a compra e venda é celebrada por meio de escritura pública, no mesmo
ato está reunido o “contrato” e também o “negócio jurídico dispositivo”.
Quando alguém celebra um compromisso de compra e venda, esses dois negócios
jurídicos são separados sob o ponto de vista cronológico. O compromisso de compra e
21 A esse respeito veja-se no Direito Português, RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O campo de aplicação do regime
indemnizatório do artigo 442º do Código Civil: incumprimento definitivo ou mora. In: Direito dos Contratos. Estudos.
Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p.283–306: “Não obstante o labor interpretativo a que não se tem furtado a
nossa melhor civilística, permanecem vivas controvérsias e divergências de interpretação, que se repercutem
em decisões judiciais amiúde contrastantes. E se, quanto a certas questões, foi possível chegar a um consenso
estável, nalguns casos consagrado na lei ou em assento, outras questões, inicialmente ocultas, irromperam,
entretanto, alimentando novos debates ainda inconclusivos”.
22 Nova lei do loteamento imobiliário. Está lei substitui no que não foi revogado expressamente o Decreto-Lei
58/37 em matéria de direito urbanístico, o que atualmente também é regulado pelo Estatuto da Cidade.
23 A lei de Condomínio e Incorporação atualmente regula unicamente a incorporação imobiliária em suas
diversas modalidades, tendo em vista que a regulamentação do Condomínio Edilício foi regulado por inteiro no
Código Civil. Embora não tenha havido revogação expressa, a revogação se deu por força do art. 2º, §1º da Lei
de Introdução ao Código Civil.
24 A respeito dos negócios jurídicos dispositivos ver clássico estudo de COUTO E SILVA, Clóvis. Negócios Jurídicos
e Negócios Jurídicos de Disposição. Revista do Grêmio Universitário Tobhias Barreto. UFRGS, p.29-39, 1958.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
257
venda é uma modalidade de compra e venda, um contrato definitivo, cujo adimplemento
deverá ser feito no futuro,25 mediante uma declaração de vontade que será mero negócio
jurídico dispositivo, realizado plenamente no âmbito dos direitos reais, para execução
do preceito inicial e definitivo.
Observe-se que o contrato preliminar de compra e venda pode ser celebrado.
Basta, para tanto, que o preceito do contrato não seja o compromisso de compra e
venda segundo os termos do Decreto-Lei 58/37, mas um contrato preliminar em que
as partes simplesmente se comprometem a, no futuro, celebrar contrato de compra e
venda, que poderá ser de bens móveis ou imóveis. Tal contrato preliminar poderá ser
executado na forma do artigo 27 da Lei 6.766, de 19.12.1979, se for promessa de celebrar
compromisso de compra e venda que tem por objeto imóvel loteado, aplicando-se as
regras do Código Civil para os demais casos.26
Quando alguém celebra um compromisso de compra e venda por instrumento
particular, estabelecendo a obrigação de transferir a coisa, de pagar o preço e de no
futuro, ser transferido o direito de propriedade, é a própria compra e venda que está
sendo celebrada, sem que haja possibilidade de incidência dos dispositivos relativos
ao contrato preliminar em razão do que dispõe o próprio artigo 1,225, VII, do Código
Civil, assim como o art. 22 do Decreto-Lei 58/37.
2.2 Artigos 1417 e 1418
As disposições dos arts. 1.417 e 1.418, que criaram o direito real do promitente
comprador, passaram incólumes durante todo o processo legislativo, tendo como
conteúdo o direito real à aquisição da propriedade imobiliária.
Isso significa que o conceito tradicional acima apresentado sofreu pequena
modificação em função da ausência de qualquer disposição legal a incidir sobre os
requisitos de validade, de forma, de prova ou mesmo sobre quais são as obrigações
que cabem às partes.
Não havendo qualquer alteração no regime obrigacional, permanece em vigor o
Decreto-Lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937, bem como das disposições da Lei n.
4.591, de 16 de dezembro de 1964, e as disposições da Lei n. 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, que tratam do mesmo contrato em suas diferentes modalidades.
25 A expressão “futuro” é relevante no caso concreto, pois na compra e venda manual, embora o contrato
logicamente seja antecedente do adimplemento, a separação entre contrato e adimplemento é puramente
lógica, já que cronologicamente não se pode separá-los. Já o compromisso de compra e venda somente tem
sentido de existir pela separação cronológica entre o ato do nascimento do contrato e o adimplemento, elemento
essencial de sua funcionalidade plena, já que a “razão objetiva” de sua celebração está na ausência de elementos
econômicos ou jurídicos para a translação da propriedade no ato da contratação. Por essa razão é nulo o contrato
de “compromisso de compra e venda com pacto de retrovenda”, já que sua funcionalidade é incompatível com os
elementos do tipo. Nada obsta a cessão do compromisso de compra e venda submetida a determinada condição
resolutiva, o que é muito diferente de uma prática comum, porém ilícita, um claro “desvio socialmente típico”, que
é o pacto de retrovenda no compromisso de compra e venda.
26 Um dos poucos autores que trata sobre o regime de execução do “pré-contrato de promessa de compra e
venda” é RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.986.
258
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Porém, agregou-se ao regime uma eficácia específica que até então não existia,
que era o direito real de aquisição da propriedade imobiliária, criando uma nova gama
de efeitos cujo regime do cumprimento foi alterado para criar uma dualidade, que
deixou de ser teórica para ser prática. A dualidade teórica consistente no debate entre
os defensores dos “efeitos pessoais” e “efeitos reais” cedeu lugar a uma dualidade de
eficácia: pessoal e real.
3 DA DIFERENÇA DE REGIMES ENTRE O CONTRATO
REGISTRADO E O NÃO REGISTRADO
Outra questão vinculada com a eficácia do compromisso de compra e venda é a
verificação da obrigatoriedade do registro do contrato no Registro de Imóveis como
condição para a execução da obrigação do vendedor de transferir a propriedade do
imóvel e também para a proteção dos direitos do compromitente comprador.27
Ocorre que o contrato compromisso de compra e venda, como se pode ver de
uma simples leitura do Código Civil, não foi objeto de regulamentação geral pela nova
lei. E, não tendo sido objeto de regulamentação geral, mas somente especial, no que
respeita a alguns de seus efeitos (artigos 1.225, VII, 1417 e 1.418), deve-se aplicar a
regra do artigo 2º, §2º, da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a “lei
nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga
nem modifica a lei anterior”.
Isso tem por consequência a plena e completa vigência do Decreto-Lei 58/37,
bem como todo o seu regime eficacial, conforme determinado no seu texto e pela
própria jurisprudência.
Porém, o registro do compromisso de compra e venda a partir do advento do
Código Civil atribuirá um direito que até então o adquirente do imóvel não tinha, que
é o direito real à aquisição da propriedade.28
Tal direito real é novo e consiste na outorga ao adquirente de vários efeitos
específicos e próprios do direito das coisas, como são as ações reais.
A título exemplificativo, o titular do direito real à aquisição da propriedade passa
a ter embargos de terceiro com fundamento no direito real, ainda que não tenha posse,
a teor do que dispõe o art. 1.046 do Código de Processo Civil, e passa a ter ação de
nunciação de obra nova ainda que não tenha a posse do imóvel, bem como terá direito
de sequela e o próprio direito real à aquisição da própria propriedade.
27 Posição contrária a deste artigo esta é apresentada por KRAEMER, Eduardo. Algumas anotações sobre
os direitos reais no novo Código Civil. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O novo Código Civil e a Constituição.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.210, que afirma ser necessário o registro do contrato na forma do
art. 463 do Código Civil.
28 O debate a respeito da existência de eficácia real existente no regime anterior será tratado adiante, mas desde
já afirma-se que os efeitos do Registro do contrato até o advento do Código vigente não tinha outro efeito que a
outorga de “eficácia perante terceiros”, o que é diferente da “eficácia real”.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
259
Ao contrário, o adquirente de uma unidade imobiliária, como por exemplo um
apartamento a construir (“venda na planta”), em que a posse do imóvel é do construtor,
a ausência do registro do contrato não permitirá ao adquirente a oposição de embargos
de terceiro ou a propositura de ação de nunciação de obra nova etc., direitos que terá
se tiver o registro ou a posse.
O comprador sem posse e cujo compromisso de compra e venda não foi registrado
não está protegido pela Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. A edição da Súmula
84 visou a proteger a posse e não aos direitos obrigacionais derivados do contrato:
considerou-se que a posse que tem como causa um compromisso de compra e venda,
pelo seu caráter de definitividade, deve ser protegida da constrição judicial que visa a
atingir o patrimônio do vendedor.
O direito real à aquisição da propriedade trata-se de um mecanismo concedido
pelo legislador para que o adquirente deixe de ter um direito à coisa, para ter um
direito sobre a coisa. Este direito sobre a coisa modifica substancialmente a ação de
adjudicação compulsória.
A ação de adjudicação compulsória de que tratam os artigos 16 e 22 do DL
58/1937 somente tinha o apelido de adjudicação compulsória, pois sempre foi tratada
pela doutrina e pela jurisprudência, obedecendo ao comando dos dois artigos acima,
como ação de execução de obrigação de fazer, diferentemente da verdadeira ação real
de adjudicação compulsória que tem, por exemplo, o condômino preterido no seu direito
de preferência para aquisição da propriedade na forma do art. 1.139 do Código Civil
de 1916 e art. 504 do atual Código Civil.
A partir do advento do Código Civil, a ação de adjudicação compulsória proposta
com fundamento no compromisso de compra e venda tem um só nome e um duplo
regime de eficácia.29
No caso do compromisso registrado o comprador tem ação real, pela qual será
concedida a propriedade ao adquirente do bem, devendo ser objeto de prova, no seio
da demanda, todos os requisitos relativos às ações reais, inclusive aqueles que dizem
respeito aos princípios registrais previstos na Lei n. 6.015/73. Trata-se de verdadeira
ação reivindicatória30 da propriedade e não mera ação de cumprimento de contrato.31
29 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.1008, é mais enfático ao
afirmar que a falta do registro não concede o direito a “ação de adjudicação compulsória”, mas a uma “ação
condenatória ao cumprimento da obrigação de contratar, produzindo a sentença o mesmo efeito do contrato
prometido (o de venda)”.
30 No mesmo sentido RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.992,
que sustentava a possibilidade de ação reivindicatória proposta pelo titular de compromisso de compra e venda
registrado mesmo no regime anterior: “Barbosa Lima Sobrinho aprofundou mais o problema, defendendo que,
pelo contrato, o direito de usar, gozar e dispor do imóvel, e de reavê-lo de quem o ocupa indevidamente, passa
do proprietário para o promitente comprador. Assinado o compromisso irretratável e registrado, transferindo-se ao
compromissário o direito de dispor, ele torna-se parte legítima para propor a lide em questão”.
31 A esse respeito da forma de cumprimento da obrigação veja-se a seguinte decisão: “E mais, embora a sentença
não tenha especificado o seu cumprimento pelo art. 466-A, do CPC, perfeitamente cabível à hipótese e que autoriza
a transferência da propriedade por força da sentença, dispensando-se as partes destinatárias do comando judicial
(aqui, autores e réu, respectivamente), de firmarem negócio bilateral (escritura de compra e venda), sem embargo,
por óbvio, de cada uma delas arcarem com as respectivas despesas de seu título – carta de adjudicação –, é
260
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Isso significa que finda a ação judicial, com trânsito em julgado de uma sentença
de procedência, na primeira hipótese o autor será proprietário do imóvel. O registro
da sentença terá eficácia declaratória, não obstante o art. 1.418 afirme que o réu será
condenado a emitir a declaração de vontade, o efeito declaratório da sentença acrescido
aos efeitos do “direito real a aquisição da propriedade” produzido pelo registro do
compromisso de compra e venda atribui o direito à propriedade ao autor. Veja-se, não
se está dizendo que nasce um direito à coisa. Declara-se que há o direito à propriedade,
e o registro da sentença no registro de imóveis produz efeito similar que o registro de
uma sentença de uma ação de usucapião, cuja carga constitutiva existe, mas é secundária
em relação à carga declaratória.
Poder-se-ia opor a esse raciocínio o argumento de que o artigo 5º e art. 22 do
Decreto-Lei 58/37 já haviam concedido direito real ao adquirente de imóvel. Nada
mais equivocado do que isso, pois tais dispositivos legais nada mais diziam que o
comprador tinha “direito real oponível a terceiros” não atribuindo qualquer conteúdo
ou efeito a tal “direito real”.
O art. 167, I, 9, da Lei dos Registros Públicos tornava o compromisso de compra
e venda suscetível de registro e não simplesmente de averbação como diz o artigo 5°.
O registro implica, sempre, a criação, modificação ou extinção de um direito sobre a
própria coisa.
A averbação diz respeito às pessoas que são titulares de direitos reais ou à própria
coisa. Assim são averbáveis todas as modificações no estado das pessoas e também as
modificações sobre a coisa. Se modificar o direito, deverá ser registrado, exceto se for
averbação para cancelamento. Fora deste critério, segue-se a casuística do art. 167 da
Lei dos Registros Públicos.
Há direitos reais, como o de propriedade adquirida pela usucapião que mesmo
sem o registro possui eficácia erga omnes e confere ao proprietário as ações reais. Há
casos em que há o registro, como por exemplo o do contrato de locação, que não gera
direito real.32
Em outras palavras, o registro pode ser constitutivo de Direito Real o que somente
ocorrerá se a Lei Civil outorgar tal eficácia.
No regime anterior o domínio continuava integralmente com o vendedor, razão
pela qual não se reivindicava o bem do vendedor que não quer outorgar o título
translativo: ajuizava-se ação para o cumprimento do contrato. O contrato gera um
direito à coisa e não um direito sobre a coisa. O registro servia para que a publicidade
produzisse efeitos erga omnes33 e não conferia qualquer direito ou pretensão, mas
apenas oponibilidade contra terceiros.34
caso de ser a sentença declarada ao efeito de o seu cumprimento dar-se através do predito dispositivo legal,
expedindo-se oportunamente as competentes cartas de adjudicação”.TJRS, Ap. Civ. 70033242520, 17ª C.Civ.,
Rel. Desembargadora Elaine Harzheim Macedo, j. 03.12.2009, publicado no site www.tjrs.jus.br.
32 Pontes, v.13, § 1465, p.116.
33 Pontes, v. 13, §1465, p.116.
34 Pontes, § 1469, p.123: “A averbação confere eficácia quanto a terceiros, no que concerte às alienações e
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
261
Ademais, diante da tipicidade estrita dos direitos reais e da interpretação
teleológica de tal registro, a partir dos próprios considerandos do Decreto-Lei 58/37,
fica evidente que o registro foi um expediente para proteger o adquirente da venda do
bem para terceiros. Nada além disso.
Embora o legislador de 1937 estivesse preocupado com uma boa regulamentação
do contrato, o sistema dos “direitos reais” estava integralmente regulado no Código
Civil, diferentemente dos contratos e das obrigações que foram disciplinados na “lei
esparsa”.
É evidente que esse debate sempre admitiu argumentação em contrário, tendo
sido ultrapassado e não merecendo maiores considerações nesta seara pela superação
do mesmo pelo fato legislativo.
No caso do compromisso não registrado o comprador tem ação pessoal e terá
direito de propor a ação de adjudicação compulsória de que tratam os artigos 16 e 22 do
Decreto-Lei 58/37, que nada mais é do que uma demanda cujo objetivo é a condenação
da parte a emissão de uma declaração de vontade, que é suprida pelo juiz, servindo a
sentença como título para ser registrado, conforme os comandos dos artigos 466 B e
C do Código de Processo Civil.35
Evidentemente, os dispositivos legais supramencionados trataram de consolidar
o que a jurisprudência vinha fazendo que era criar mecanismos para melhorar a
efetividade dos mecanismos de execução, disciplinando de maneira clara o que já estava
parcialmente regulamentado nos artigos 639 a 641 do Código de Processo Civil, que
tratavam da execução das obrigações de fazer quando o objeto da obrigação de fazer
fosse “fazer declaração de vontade”.36
Embora sendo diploma adjetivo, o Código de Processo Civil estabeleceu regras
de direito material, e não somente procedimento. Nesse sentido, deve-se observar
que a doutrina e jurisprudência, após muito debate, assentaram que os dispositivos
revogados do Código de Processo Civil inseridos no “procedimento executivo”
somente poderiam ser alcançados após a obtenção prévia de uma sentença em um
onerações futuras. O próprio art. 5° é que o enuncia. Faltou-lhe apenas, terminologia técnica. A pretensão, ou o
direito, que emanou do pré-contrato, é que tem estendida a terceiro, pela averbação, a sua eficácia”.
35 TJRS, Ap. Civ. 70023729536, 17ª C.Civ., Rel. Desembargadora Elaine Harzheim Macedo, j. 03.12.2009, publicado
no site www.tjrs.jus.br. “A ação interposta – ainda que equivocadamente identificada como “execução” – veio
acompanhada dos documentos essenciais para a adjudicação compulsória, quais sejam, o contrato particular de
promessa de compra e venda, a prova da quitação do preço e a certidão do registro imobiliário, dando conta da
legitimação para alienação do contratante vendedor. E, além disso, o disposto nos artigos 466-B e 466-C, ambos
do CPC, autorizam o prosseguimento da ação, que tem, sim, conteúdo de ação de conhecimento, viabilizandose a ampla defesa e contraditório da parte ré, seja ela o próprio promitente vendedor, sejam seus herdeiros ou
sucessores.”
36 Os dispositivos foram revogados pela reforma processual realizada por meio da Lei n. 11.232, de 22 de dezembro
de 2005, sendo substituídos pelos atuais arts. 466, A, B e C do Código de Processo Civil. “art. 466-A. Condenado
o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos
da declaração não emitida. art. 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a
obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza
o mesmo efeito do contrato a ser firmado. art. 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por objeto a transferência
da propriedade de coisa determinada, ou de outro direito, a ação não será acolhida se a parte que a intentou não
cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas legais, salvo se ainda não exigível.”
262
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
processo de conhecimento, não podendo tal execução ser aparelhada com um “título
executivo extrajudicial”. Isso ficou indubitável com a edição da Lei n. 11.232, de 22
de dezembro de 2005.
A reforma processual promovida pela Lei n. 1232/2005 “veio sanar uma
contradição lógica” que existiu durante cerca de 30 anos de vigência do Código de
Processo Civil, pois eram disposições “que regem processo nitidamente de cognição,
com previsão de julgamento, sentença, condenação, categorias estranhas ao processo
expropriatório e que, no particular, culminam com um pronunciamento tipicamente
substitutivo da emanação de vontade do devedor, que a tanto se nega ou simplesmente
não pode fazê-lo”.37
Isso significa que o registro do contrato adicionou ao ordenamento um regime
eficacial, e que continua íntegra a Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito,
o fundamento da edição da súmula foi justamente de que a adjudicação compulsória de
que trata o art. 22 do Decreto-Lei 58/37 “é de caráter pessoal, restrito aos contratantes,
não se condicionando a obligatio faciendi à inscrição no Registro de Imóveis”.38
Da mesma forma continua plenamente em vigor a Súmula 84 do Superior Tribunal
de Justiça, já que as disposições do art. 1.417 e 1.418 vieram acrescentar hipóteses de
embargos de terceiro de “senhor” que não é possuidor, pois o titular de direito real à
aquisição da propriedade, tenha ele a posse ou não, terá acesso às ações reais. É claro
que faltando posse e faltando o registro não haverá oponibilidade contra terceiros,
assim como não haverá o direito de sequela sobre o bem.39
4 CONCLUSÃO
Embora a Lei Complementar 95, de 06 de fevereiro de 1998, estabeleça a
obrigatoriedade de o legislador consolidar a legislação sempre que disciplinar uma
matéria, a teor do que determinou o art. 59 da Constituição Federal, a realidade
legislativa brasileira demonstra que isso não acontece.
A maior prova disso é o emaranhado legislativo que disciplina um dos contratos
mais importantes para o mercado que é o compromisso de compra e venda.
Por isso a indispensabilidade do estudo a partir da perspectiva histórica e do
estudo dos contratos e seus efeitos a partir da experiência social, indissociável dos fatos
sociais e das exigências valorativas, que demonstram a necessidade de interpretação
das normas consoante a finalidade social do modelo jurídico, e firme observação da
dinâmica negocial que consagrou o compromisso de compra e venda como um dos
principais instrumentos do mercado imobiliário.
37 MACEDO, Elaine Harzheim. A sentença condenatória no movimento do sincretismo do processo. Direito e
Democracia. Canoas: Editora da Ulbra, v. 7, n. 1, 2006, p.207–222.
38 STJ, REsp n. 247.344/MG, Relator o Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 16/4/01; REsp n. 12.613/MT, Relator o
Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 30/9/91; RESP n. 004/0062303-0, DJ 23/04/2007, www.stj.jus.br.
39 VIANA, Marco Aurélio. Comentários ao novo Código Civil – Dos Direitos Reais. Rio de Janeiro: Forense,
2003, p.697.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
263
E, mesmo sob a perspectiva normativa, é preciso resgatar a ideia de que a estrutura
de “eixo” do Direito Privado do atual Código Civil exige uma mudança de visão em
relação ao fenômeno dos microssistemas, pois seu surgimento deveu-se a critérios
lógicos do processo histórico, fazendo nascer uma nova ordem conceitual e categorias
interpretativas que extrapolam o conceito de “lei extravagante”. Como já foi mencionado
por Natalino Irti, a técnica legislativa em que consistem os microssistemas não reduz
a “racionalidade sistemática”, mas promove-a para as leis especiais.40
E no exame da legislação especial, vê-se que as regras a respeito da validade e da
eficácia obrigacional estão reguladas na lei especial e que o Código Civil regulou os
efeitos reais do registro. O registro, por sua vez, continua regulado na Lei 6.015/73.
Por isso é equivocada a afirmação segundo a qual o compromisso de compra e
venda precisará ser registrado para que haja a oposição de embargos de terceiro para
proteção dos direitos do comprador que seja possuidor.
Em síntese, o compromisso de compra e venda não foi objeto de regulamentação
pela nova lei: o Código Civil disciplinou os efeitos do registro do contrato, atribuindo
a ele o direito real a aquisição da propriedade.
Isso tem por consequência a plena e completa vigência do Decreto-Lei 58/37,
bem como todo o seu regime eficacial, conforme determinado no seu texto e pela
própria jurisprudência.
Além disso, os princípios que norteiam o modelo jurídico forjado pela realidade
brasileira são comandados pelos ditames da socialidade, no caso, pela cláusula geral
da função social dos contratos, cuja integração com os contratos regulados em lei
especial é possível tendo em vista o caráter de “eixo” que foi atribuído ao Código Civil,
o que dá a devida unidade à colcha de retalhos legislativa que regulamenta a eficácia
normativa do contrato.
Para concluir, deve-se deixar claro que tanto a Súmula 84, quanto a Súmula 239
do STJ estão em pleno vigor, obedecidas as condições acima já explicitadas.
REFERÊNCIAS
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado do. Projeto do Código Civil. As obrigações e os contratos.
Revista dos Tribunais, n.775, maio de 2000, ano 89, p.18–31.
ALMEIDA COSTA, Mário Júlio. Contrato Promessa – Uma síntese do regime vigente.
9.ed. Coimbra: Almedina, 2007.
ALVIM, Agostinho. Pareceres. In: ABI-ACKEL, Ibrahim; REALE, Miguel. Emendas
ao projeto de Código Civil – Pareceres da Comissão Elaboradora e Revisora. Brasília:
Ministério da Justiça, 1984.
BESSONE, Darcy. Compra e venda. Promessa e Reserva de Domínio. 3.ed. São Paulo:
Saraiva, 1988.
40 IRTI, Natalino. L’età della decodificazione – vent’anni dopo. 4ª ed. Milano: Dot. A. Giuffrè Editore, 1999,
p.08.
264
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
BESSONE, Darcy. Do Contrato. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1997.
BRANCO, Gerson Luiz Carlos; MARTINS-COSTA, Judith. Diretrizes Teóricas do novo
Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002.
BRANCO, Gerson Luiz Carlos. O regime obrigacional unificado do Código Civil
Brasileiro e seus efeitos sobre a liberdade contratual. A compra e venda como modelo
jurídico multifuncional. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 872, p.43–78.
CATALAN, Marcos Jorge. Considerações sobre o contrato preliminar: em busca da
superação de seus aspectos polêmicos. In: DELGADO, Mário Luiz et al. Novo Código
Civil – Questões Controvertidas – v. 4. São Paulo: Método, 2005, p.319–341.
COELHO, Fernando. Justificação da emenda n.379. Diário do Congresso Nacional
(Seção I) Suplemento, 14.09.1983, p.259.
COUTO E SILVA, Clóvis. Negócios Jurídicos e Negócios Jurídicos de Disposição. Revista
do Grêmio Universitário Tobhias Barreto. UFRGS, p.29-39, 1958.
CREDIE, Ricardo Arcoverde. Adjudicação Compulsória. 5.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1991.
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, atualização por
Atualizado por FACHIN, Luiz Edson.
FERREIRA, Geraldo Sobral. Promessa Bilateral de Venda e Compromisso de compra e
Venda. Revista de Direito Civil, n.7, Revista dos Tribunais.
GOMES, Orlando. Contratos. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
GOMES, Orlando. Venda Real e Venda Obrigacional – Estudo comparativo no direito
português e brasileiro. Novos Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983.
IRTI, Natalino. L’età della decodificazione – vent’anni dopo. 4.ed. Milano: Dot. A.
Giuffrè Editore, 1999.
KRAEMER, Eduardo. Algumas anotações sobre os direitos reais no novo Código Civil.
In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O novo Código Civil e a Constituição. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2003.
MACEDO, Elaine Harzheim. A sentença condenatória no movimento do sincretismo
do processo. Direito e Democracia. Canoas: Editora da ULBRA, v.7, n.1, 2006,
p.207–222.
MARCONDES, Sylvio. Professor Waldemar Ferreira. Revista da Faculdade de Direito
de São Paulo, v. LX, 1965, p.47–67.
NEVES, Tancredo. Justificação da emenda n.381. Diário do Congresso Nacional (Seção
I) Suplemento, 14.09.1983.
REALE, Miguel et al. Anteprojeto de Código Civil. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça.
Comissão de Estudos Legislativos, 1972.
REALE, Miguel. Código Civil. Anteprojetos com minhas revisões, correções, substitutivos
e acréscimos. Texto inédito, não publicado, parcialmente manuscrito, sem data.
REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito – para um novo paradigma hermenêutico.
São Paulo: Saraiva, 1999.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
265
RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O campo de aplicação do regime indemnizatório do artigo
442º do Código Civil: incumprimento definitivo ou mora. In: Direito dos Contratos.
Estudos. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p.283–306.
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
VIANA, Marco Aurélio. Comentários ao Novo Código Civil – Dos Direitos Reais. Rio
de Janeiro: Forense, 2003, p.697.
266
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
A utilização do Sistema de Registro de
Preços por órgãos que não participaram da
licitação: uma análise do art. 8º do Decreto
Federal nº 3.931, de 19 de setembro de 2001
Thiago Dellazari Melo
RESUMO
O presente artigo traduz uma análise do Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931, de 19 de
setembro de 2001, o qual estabelece a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços por
órgãos ou entidades da Administração que não participaram da licitação, a qual deu origem aos
preços registrados. Inicialmente, será destacada a importância do estudo das licitações públicas,
em seguida serão delineados os princípios jurídicos a serem estudados, os quais orientam toda
a Administração Pública. Feito isso, será apresentado o Sistema de Registros de Preços (SRP),
regulamentado pelo Decreto Federal nº 3.931/01, destacando as vantagens da implantação do
referido sistema na gestão de recursos públicos, apresentando ainda a previsão de utilização dos
preços registrados por quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública. Dando continuidade
ao estudo, será conceituado o instituto da licitação pública, traçando-se um paralelo entre os
princípios constitucionais da Administração Pública e das licitações públicas em confronto com a
aplicação do Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/01. Diante das reflexões a serem apresentadas, o
estudo buscará discutir a adequada utilização do Sistema de Registro de Preços pela Administração
Pública, com vistas a preservação e manutenção dos princípios jurídicos que fundamentam o
ordenamento jurídico.
Palavras-chave: Licitação. Sistema de Registro de Preços. Ata de Registro de Preços.
The use of the System of Registration of Prices for organs that
didn’t participate in the auction: An analysis of art. 8th of the
Ordinance Federal nº 3.931, of 19 September of 2001
ABSTRACT
The present article translates an analysis of Art. 8th of the Ordinance Federal no. 3.931,
of September 19, 2001, which establishes the adhesion possibility to the Record of Registration
of Prices for organs or entities of the Administration that didn’t participate in the auction, which
created the registered prices. Initially, it will be outstanding the importance of the study of the
Thiago Dellazari Melo é bacharel em Direito pela UFPE. Mestrando em Direito pela UFPE. Professor substituto
da UFPE. Gestor de Licitações do Comando da Aeronáutica em Recife/PE. E-mail: [email protected]
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.267-285
jul./dez. 2009
public auctions, soon afterwards the juridical beginnings will be delineated they be studied,
which guide all the Public Administration. Made that, the System of Registrations of Prices
will be presented (SRP), regulated by the Ordinance Federal no. 3.931/01, detaching the
advantages of the implantation of the referred system in the administration of public resources,
still presenting the forecast of use of the prices registered by any organs or entities of the
Public Administration. Giving continuity to the study, the institute of the public auction will
be considered, being drawn a parallel one among the constitutional beginnings of the Public
Administration and of the public auctions in confrontation with the application of Art. 8th
of the Ordinance Federal no. 3.931/01. Before the reflections to be presented, the study will
look for to discuss the appropriate use of the System of Registration of Prices for the Public
Administration, with views the preservation and maintenance of the juridical beginnings that
you/they base the juridical order.
Keywords: Auction. System of Registration of Prices. Record of Registration of Prices.
1 INTRODUÇÃO
O Estado está presente na sociedade nas mais diversas áreas, segurança, saúde,
educação, saneamento básico, defesa da soberania, atividades legislativas e judiciárias,
dentre tantas outras em que atua direta ou indiretamente. O objetivo desta presença é
proporcionar à população a prestação dos serviços públicos e assegurar o bem estar de
todos que convivem harmonicamente em seu território.
Com vistas a bem desempenhar a função estatal, o Estado necessita recorrer a
iniciativa privada constantemente, a fim de contratar bens que não produz, serviços
que não executa e obras que não possui estrutura para construir; tais contratações, em
sede de despesas públicas, ganham significativa importância em face da vultosa soma
que representam no orçamento público.
A execução das despesas públicas com a contratação de particulares foi objeto
de preocupação do legislador constituinte, notadamente em face da magnitude dos
recursos públicos envolvidos, de modo que a Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988, instituiu, no Inc. XXI do Art. 37, o processo de licitação pública
como procedimento administrativo obrigatório a ser precedido em toda contratação
de bens, serviços, obras e alienações, ficando apenas a ressalva da não realização de
certame licitatório nas hipóteses de dispensa de licitação e inexigibilidade previstas
em legislação específica.
Dentre os aspectos gerais das licitações e dos contratos administrativos, a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, veio a criar o Sistema de Registro de Preços,
no inciso II de seu art. 15, porém a matéria permaneceu sem regulamentação por
vários anos, vindo a ser regulamentada somente em 2001, ou seja, 08 (oito) anos após
a promulgação da Lei Geral de Licitações, por intermédio do Decreto nº 3.931, de 19
de setembro de 2001.
Atualmente, a utilização do Sistema de Registro de Preços vem se tornando
prática muito comum pelos gestores públicos, principalmente, pelas vantagens
268
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
proporcionadas por tal sistema, as quais serão abordadas no presente estudo, dentre
elas a não obrigatoriedade do órgão detentor do Registro de Preços de realizar as
aquisições, a diminuição de certames licitatórios, a economia de recursos despendidos
para a realização de licitações, dentre outras.
O estudo pretende abordar a utilização do Sistema de Registro de Preços pela
Administração Pública, notadamente no que tange à utilização da Ata de Registro de
Preços por órgãos que não participaram do certame licitatório que deu origem aos preços
registrados. Analisa-se, assim, a contratação efetuada por órgãos que não participaram
da licitação e contratam diretamente com a empresa detentora da Ata de Registro de
Preços oriunda da licitação promovida por determinado órgão da Administração.
Dessa forma, será traçado um paralelo com os princípios que norteiam o processo
licitatório e a Administração Pública, de modo a demonstrar se o Sistema de Registro
de Preços apresenta-se como uma alternativa eficaz para a Administração Pública em
busca de contratações vantajosas que resguardem o interesse público, preservando a
igualdade de condições a todos os concorrentes que desejam participar de licitações
públicas promovidas pelo Poder Público.
2 Princípios como Fundamentos
do Sistema Jurídico
Para melhor compreensão da importância dos princípios no âmbito jurídico,
destaca-se a definição do constitucionalista Celso Ribeiro Bastos,1 segundo o qual
Princípio é, por definição, o mandamento nuclear de um sistema, ou se preferir, o
verdadeiro alicerce dele. Trata-se de disposição fundamental que se irradia sobre
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata
compreensão e inteligência. O princípio ao definir a lógica e a racionalidade do
sistema normativo acaba por lhe conferir a tônica e lhe dar sentido harmônico.
Observa-se que a relevância da compreensão dos princípios é fundamental, posto
que estruturam e identificam todo o sistema normativo. Este mesmo sistema deverá
ser composto por normas que serão editadas seguindo as diretrizes traçadas pelos
princípios gerais que alicerçam a matéria, sob pena de quebra da harmonia existente
no ordenamento jurídico. Os princípios fundamentam o sistema jurídico, servindo de
ideias básicas para a formação das regras do direito positivo e ocupam três funções
relevantes: fundamentação, base de interpretação e fonte de supressão de lacunas.
Com isso, pode-se afirmar que todo o Direito Administrativo deverá guardar
estreita consonância com os princípios constitucionais dos quais este ramo do Direito é
1 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002, p.80.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
269
originado, haja vista que toda a construção jurídica e doutrinária deverá estar pautada nas
disposições constitucionais que fundamentam o sistema. Da mesma forma, as licitações
públicas, além de seguirem as diretrizes constitucionais, ainda deverão estar submetidas
aos princípios específicos que orientarão a realização dos processos licitatórios.
2.1 Princípios gerais da Administração Pública
e das licitações públicas
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, fixou em seu art. 37 os
princípios gerais que norteiam a Administração Pública, conforme se pode observar
Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Em seguida, o legislador originário descreveu nos demais incisos uma série de
disposições gerais acerca da Administração Pública, dentre as quais destacamos o inciso
XXI que reza a utilização de processo de licitação pública, como regra geral, para as
contratações de obras, serviços, compras e alienações
XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
A Lei Federal nº 8.666/93 ainda acrescentou aos princípios constitucionais da
Administração Pública, quais sejam, o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência, todos previstos no caput do art. 37 da Constituição
Federal, os princípios gerais das licitações públicas, elencados no seu art. 3º:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
270
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Assim, além dos princípios constitucionais da Administração Pública citados
anteriormente, a Lei Geral de Licitações também lançou novos princípios que
deverão fundamentar as licitações públicas e ao final do art. 3º a Lei ainda ampliou
sobremaneira este rol, deixando aberto à doutrina a possibilidade de definição de outros
princípios, posto que o artigo encerra com a seguinte frase: “...e dos demais que lhe
são correlatos.”
Diante da amplitude de princípios que regem a Administração Pública e as
licitações públicas, e da falta de consenso na doutrina acerca da fixação de tais princípios,
este estudo enfrentará apenas os princípios constitucionais previstos no caput do art. 37
da Constituição da República Federativa do Brasil, acrescentando ainda os princípios
específicos das licitações públicas que gozam de certo consenso entre a doutrina, fixando
a análise utilizando os seguintes princípios:
a) Princípio da legalidade; b) Princípio da impessoalidade; c) Princípio da
moralidade; d) Princípio da publicidade; e) Princípio da eficiência; f) Princípio
da isonomia entre os licitantes; g) Princípio da vinculação ao instrumento
convocatório; e h) Princípio da proposta mais vantajosa.
3 O Sistema de Registro de Preços
Definidos os princípios que balizam o presente estudo, bem como a importância
da análise principiológica na sistematização das normas de Direito Administrativo a
serem utilizadas na gestão dos recursos públicos, notadamente através da realização
de certames licitatórios, pode-se então avançar a discussão trazendo a lume o que vem
a ser o Sistema de Registro de Preços.
A Lei Geral de Licitações previu o instituto no inciso II do seu art. 15, verbis:
Art. 15 (...) As compras, sempre que possível, deverão:
(...)
II – ser processadas através de sistema de registro de preços;
Apesar da previsão da Lei nº 8.666/93, o Sistema de Registro de Preços somente
veio a ser regulamentado por intermédio do Decreto Federal nº 3.931, de 19 de setembro
de 2001, e a definição do seu conceito se deu através da redação acrescida pelo Decreto
Federal nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, transcrita a seguir:
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
271
Art. 1º (...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:
I – Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
contratações futuras; (Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.08.2002)
Do exposto, verifica-se que o Sistema de Registro de Preços é um conjunto de
procedimentos formais com o objetivo de registrar preços para contratações futuras.
Este conjunto de procedimentos formais consiste na realização de certame licitatório,
por intermédio do respectivo processo administrativo.
Dentre os processos licitatórios para que o órgão possa proceder o Registro de
Preços, o Decreto nº 3.931/01 prevê, exclusivamente, a utilização das modalidades de
licitação “Concorrência” e “Pregão”, sendo que este último poderá ser utilizado tanto
na forma presencial, na qual os fornecedores estão presentes no local da licitação para
oferta de lances verbais, ou na forma eletrônica, na qual os fornecedores utilizam-se
da internet para a propositura de lances durante a realização do certame licitatório que
é feito on-line pela Internet.
Importante lembrar que um dos pioneiros a conceituar o Sistema de Registro de
Preços foi Hely Lopes Meirelles,2 ensinando
O sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer materiais,
equipamentos ou gêneros ao Poder Público concordam em manter os valores
registrados no órgão competente, corrigidos ou não, por um determinado período,
e a fornecer as quantidades solicitadas pela Administração no prazo previamente
estabelecido.
Assim, verificamos que o Sistema de Registro de Preços diferencia-se das
licitações tradicionais principalmente pela peculiaridade que o distingue, qual seja, a
não obrigatoriedade da contratação pela Administração, posto que se destina a registrar
preços, por um determinado lapso de tempo, para aquisições eventuais e futuras.
3.1 A utilização da Ata de Registro de Preços
por órgãos não participantes da licitação
O Sistema de Registro de Preços será precedido de licitação na modalidade
“Concorrência” ou “Pregão”, porém será concretizado através da assinatura da Ata
de Registro de Preços que é o documento vinculativo, de caráter obrigacional, com
2 MEIRELLES, Helly Lopes. Licitação e contrato administrativo. São Paulo: RT, 1991. p.62.
272
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
característica de compromisso para futura contratação, no qual estarão registrados os
valores registrados, os fornecedores, os órgãos participantes, as condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação e nas propostas
apresentadas.
Vale ressaltar que todo o processo licitatório será conduzido pelo chamado
Órgão Gerenciador, que conduzirá o processo administrativo cumprindo todas as
etapas previstas na legislação correspondente, assim como o faria em uma licitação
convencional. O Decreto Federal nº 3.931/01 estabeleceu a seguinte definição:
Art. 1º (...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:
(...)
III – Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços
e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;
Além do órgão gerenciador, poderão ser convidados outros órgãos a participar
do certame licitatório para Registro de Preços e que serão denominados órgãos
participantes. Os órgãos participantes integrarão o procedimento licitatório desde o seu
início, devendo manifestar o interesse, perante o órgão gerenciador, em participar do
certame através da remessa da estimativa de consumo, da expectativa do cronograma
de consumo e das especificações do objeto.
Tal previsão do Decreto Federal nº 3.931/01 é muito bem sucedida, haja vista
proporcionar flagrante racionalidade na execução de um certame licitatório composto por
diversos órgãos em conjunto, ensejando economia de recursos materiais e humanos pelo
esforço único desenvolvido em prol de todos, proporcionando a centralização de um processo
licitatório para atendimento das necessidades comuns de vários órgãos independentes.
Até este ponto andou bem o Decreto Federal nº 3.931/01. No entanto, a inovação
se deu com a instituição da possibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços
por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório que deu origem à Ata de Registro de Preços, os chamados “caronas”, conforme
previsão contida no art. 8º e seus parágrafos, abaixo transcritos. Tais dispositivos representam
inúmeras consequências para a Administração Pública e para as empresas. Veja-se:
Art. 8º A Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utlizada
por qualquer órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
273
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores
e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
O instituto ainda veio a provocar uma verdadeira celeuma pela ausência de limites
às aquisições realizadas por órgãos não participantes (caronas), de modo que o Governo
Federal editou o Decreto nº 4.342, em 23 de agosto de 2002, acrescentado ao art. 8º do
Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 200, o parágrafo abaixo:
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
Continua Jorge Ulisses Jacoby3 Fernandes sobre o tema:
Por intermédio do Decreto nº. 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterada
a regulamentação do Sistema de Registro de Preços e instituída no país a
possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por
outros órgãos e entidades. Esse procedimento vulgarizou-se sob a denominação
de carona que traduz em linguagem coloquial a ideia de aproveitar o percurso
que alguém está desenvolvendo para concluir o próprio trajeto, sem custos.
Desta forma, a utilização da Ata de Registro de Preços foi estendida a qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório.
Exemplificando, uma empresa “A” participa de um certame licitatório para registro
de preços de resma de papel A4 na quantidade de 1.000(mil) resmas, assinando a
Ata de Registro de Preços perante determinada Secretaria de Educação. Em seguida,
a Secretaria de Fazenda manifesta interesse em aderir à Ata de Registro de Preços,
realizando, então, como “carona”, a contratação do fornecimento de 1.000(mil) resmas
de papel A4 também da empresa “A”. Após isso, o IBAMA também manifesta interesse
em aderir à citada Ata de Registro de Preços, vindo a contratar, novamente como
“carona”, o fornecimento de mais 1.000(mil) resmas de papel A4 da mesma empresa
3 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Carona em sistema de registro de preços: uma opção inteligente para
redução de custos e controle. Disponível na Internet: http://www.jacoby.pro.br/utilpub/CAC58T8N.doc. Acesso
em: 17 dez. 2008.
274
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
“A” e assim sucessivamente, outros órgãos aderem à utilização da Ata de Registro de
Preços firmada pela Secretaria de Educação, utilizando-se da prerrogativa de “caronas”,
de forma que rapidamente a empresa “A” multiplicou consideravelmente suas vendas
para outros órgãos e entidades, sem que para isso necessitasse novamente sujeitar-se
a novos procedimentos licitatórios.
Tal quadro motiva uma análise um pouco mais detalhada acerca da situação
estabelecida pelas adesões às Atas de Registro de Preços, por órgãos e entidades que
não participaram do certame licitatório que ensejou o registro dos preços, o que será
feito a seguir a luz dos princípios que norteiam a Administração Pública e as licitações
públicas.
4 A Licitação Pública
A fim de que se possa dar continuidade à análise da utilização da Ata de Registro
de Preços por órgãos não participantes da licitação que deu origem aos preços
registrados, faz-se necessário esclarecer que o processo licitatório é um procedimento
administrativo, composto por uma série de atos previstos na Lei Geral de Licitações,
que tem como principal e único objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a
contratação pretendida pela Administração Pública, guardadas as condições isonômicas
entre todos os participantes, condições estas que estarão previamente estabelecidas no
instrumento convocatório (Edital).
A definição de Bandeira de Mello4 é a seguinte
Licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental,
pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras e serviços, outorgar
concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público,
segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na
apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente
em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados.
Observa-se que o entendimento da doutrina é no sentido de a licitação ser um
procedimento administrativo cujo objetivo é buscar a proposta mais vantajosa, na
iniciativa privada, para celebração do contrato de interesse da Administração Pública,
respeitando a isonomia entre quaisquer interessados.
Fixado o conceito e o objetivo do procedimento licitatório, passa-se à análise da
utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não participaram do
certame licitatório que originou os preços registrados em consonância com os princípios
que regem a Administração Pública e as licitações públicas.
4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002. p.468.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
275
4.1 O princípio da legalidade
A supremacia da lei, como manifestação da vontade popular, reveste a sociedade
de garantias, de certezas e da delimitação de direitos e deveres. No tocante ao Direito
Administrativo, o princípio da legalidade ganha especial destaque por submeter a
Administração Pública à vontade da lei, limitando poderes e estabelecendo condutas
dos gestores públicos. A Administração, portanto, no desempenho de suas atividades
tem a obrigação de observar, e cumprir, todas as normas do ordenamento jurídico que
o próprio Estado editou, nas palavras de Caio Tácito5
Ao contrário da pessoa de direito privado, que, como regra, tem a liberdade de
fazer aquilo que a lei não proíbe, o administrador público somente pode fazer
aquilo que a lei autoriza expressa ou implicitamente.
Trazendo à tona o entendimento defendido por Joel de Menezes Niebuhr,6 a
possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos não participantes
do processo licitatório instituiu a figura do “carona” em licitações públicas para o
Sistema de Registro de Preços. Ocorre que tal instituto foi criação do Decreto Federal nº
3.931/01, haja vista a figura do “carona” não encontrar qualquer menção na legislação,
ou seja, a lei não faz referência ao carona.
Com isso, sustenta o doutrinador que o Presidente da República, ao criar o
“carona”, agiu excedendo suas competências constitucionais, posto que o Decreto
Federal nº 3.931/01, como regulamento administrativo que é, objetiva tão somente a
dizer como a lei deve ser cumprida pela Administração Pública, não se presta, portanto,
a criar direitos e obrigações, nem tampouco novos instrumentos jurídicos que não
possuem amparo legal.
Assim como o Decreto Federal nº 3.931/01 deveria assegurar a fiel execução da
lei, e acabou por criar um instituto novo, qual seja, o “carona”, verifica-se a afronta
ao princípio da legalidade pelo fato de o Decreto haver extrapolado a competência
constitucional, inovando a ordem jurídica. A competência para criação do “carona” é
do Poder Legislativo, posto que no Estado Democrático de Direito se deve governar
por lei e não por decreto.
4.2 Os princípios da impessoalidade e da moralidade
Os princípios da impessoalidade e da moralidade encontram-se intrinsecamente
ligados. O princípio da impessoalidade afasta da Administração Pública a vontade
5 TÁCITO, Caio. O princípio da legalidade: ponto e contraponto. Revista de Direito Administrativo. V.206. Rio de
Janeiro: Renovar. 1996. p.2.
6 NIEBUHR, Joel de Menezes. “Carona” em Ata de Registro de Preços: atentado veemente aos princípios de direito
administrativo. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC. Ano XIII. Nº 143. Curitiba: Zênite. 2006. p.13.
276
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
pessoal dos gestores públicos, bem como a gestão da res publica em interesse pessoal.
Os administradores devem pautar suas atitudes sob o manto da imparcialidade, da
impessoalidade, não sendo relevantes, portanto, na gestão pública, as preferências
pessoais, as opiniões pessoais nem tampouco as vontades pessoais daqueles que
administram. Já o princípio da moralidade exige da Administração comportamento
consoante com a moral, com os bons costumes, com a justiça, com a equidade, com a
honestidade, com a idoneidade, ou seja, com as regras da boa administração, buscando
o melhor e o mais útil ao interesse público.
Nota-se a estreita ligação entre a impessoalidade e a moralidade, de forma que a
crítica feita por Joel de Menezes Niebuhr,7 ao “carona” em Atas de Registro de Preços,
reside no fato de a adesão de órgãos não participantes à determinada Ata de Registro de
Preços expor de maneira excessiva e desnecessária os dois princípios, ou seja, enseja
na Administração todo o tipo de lobby, tráfico de influência e favorecimento pessoal.
Ora, em um país como o Brasil, em que prevalece a cultura do “jeitinho”,8
somando-se ao fato da má remuneração dos servidores públicos e tantos outros
elementos complexos que envolvem a Administração Pública, pode-se pensar que a
empresa “A” poderá oferecer algum tipo de vantagem aos administradores públicos de
outros órgãos em troca da adesão a Ata de Registro de Preços que favorece a empresa
“A”, multiplicando ilimitadamente as contratações, posto que cada órgão que aderir
à Ata de Registro de Preços poderá contratar 100% (cem por cento) dos quantitativos
registrados, conforme Parágrafo 3º do Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/01.
Diante de tais observações, não se pode duvidar que a utilização da Ata de Registro
de Preços, por quaisquer órgãos ou entidades da Administração que não participaram da
licitação que deu origem aos preços registrados, coloca em risco despropositado os princípios
da impessoalidade e da moralidade administrativa, de modo que fechar os olhos para a
realidade brasileira significa tolerar e incentivar a má gestão de recursos públicos.
4.3 O princípio da publicidade
O tema da transparência das contas públicas tão em voga no Brasil, traduz-se em
um espelho do princípio da publicidade. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro9
Diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para conhecimento de
todos os interessados, como também aos atos da Administração praticados nas
várias fases do procedimento, que podem e devem ser abertas aos interessados,
para assegurar a todos a possibilidade de fiscalizar sua legalidade.
7 NIEBUHR, Joel de Menezes. “Carona” em Ata de Registro de Preços: atentado veemente aos princípios de direito
administrativo. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC. Ano XIII. Nº 143. Curitiba: Zênite. 2006. p.13.
8 KELLEMEN, Peter. Brasil para principiantes, venturas e desventuras de um brasileiro naturalizado. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira. 1964. p.9.
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
277
A mácula ao princípio da publicidade ocasionada pela utilização da Ata de Registro
de Preços por quaisquer órgãos ou entidades que não participaram da licitação consiste
no fato de o quantitativo a ser contratado não estar expressamente definido no objeto
da licitação, definido no Edital.
Neste caso, há uma licitação sem a delimitação do quantitativo do objeto a
ser contratado, que deve ser considerada nula, posto que dificulta a apresentação de
propostas pelos licitantes, comprometendo o julgamento objetivo e a execução do
contrato que dela será resultado.
Por exemplo, a licitação destina-se a registrar preços para o fornecimento de 1.000
(mil) resmas de papel A4. A empresa “A” vence a licitação e assina a Ata de Registro de
Preços. Já a empresa “B” toma conhecimento da licitação, porém resolve não participar
em face de o quantitativo de resmas de papel A4 ser de apenas 1.000(mil), quando para
a empresa “B” seria viável registrar preços para o fornecimento acima de 5.000(cinco
mil) resmas de papel A4. A empresa “C” participa do certame e perde a licitação em
face de somente poder oferecer um melhor preço se a quantidade registrada fosse acima
de 3.000(três mil) resmas de papel A4. Ocorre que, posteriormente, 05(cinco) órgãos da
Administração resolvem aderir à Ata de Registro de Preços detida pela empresa “A”.
Logo, o quantitativo contratado é acrescido de 5.000(cinco mil) resmas de papel A4,
beneficiando a empresa “A” em detrimento das empresas “B” e “C”.
Nesta situação, verifica-se que a clareza do Edital é fundamental para que não
haja restrição ao caráter competitivo da licitação. A definição dos quantitativos a serem
contratados é um dos aspectos mais relevantes para a apresentação das propostas pelos
licitantes, por influir diretamente nos custos das empresas, ensejando inclusive que
empresas deixem de participar da licitação por não haver interesse numa contratação
de valores pouco expressivos.
Da mesma forma, o licitante que participa do certame tem o direito de conhecer o
quantitativo a ser registrado e possivelmente contratado. A ausência de tal informação
configura crucial desrespeito ao princípio constitucional da publicidade.
Nas palavras de José Cretella Júnior10
Com efeito, a mais ampla publicidade é pressuposto indispensável a um instituto
que se destina a colocar diante do público as condições preliminares para a
concretização de contratos de que participa a Administração.
4.4 O princípio da eficiência
Acrescida pela reforma administrativa realizada através da Emenda Constitucional
nº 19/98, a eficiência somou-se aos demais princípios já consagrados no caput do art. 37
10 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
278
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 com o intuito de modernizar
a Administração Pública.
Desse modo, a Administração, objetivando atingir a eficiência, deverá agir de
maneira ágil, precisa, perfeita visando sempre maximizar os resultados positivos e a
satisfação das necessidades da população. Condena-se portanto a morosidade, a inércia,
o descaso, a negligência e a omissão.
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro11
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a
Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores
resultados na prestação do serviço público.
Neste ponto observa-se uma dicotomia interessante. A utilização do Sistema
de Registro de Preços visando à aquisição de bens ou a contratação de serviços para
o atendimento a mais de um órgão ou entidade, representa notória consagração da
eficiência administrativa. Afinal, o órgão gerenciador coordena, juntamente com os
órgãos participantes, a realização de uma única licitação que irá suprir a demanda de
contratação de todos, unem-se esforços para o alcance do objetivo comum, destacando
o planejamento e a organização da Administração.
Por outro lado, a simples adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos que não
participaram da licitação, os chamados “caronas”, prestigia a inércia e o comodismo
administrativo, haja vista que os órgãos poderão esconder a ausência de planejamento
nas contratações buscando sempre a adesão às Atas de Registro de Preços de outros
órgãos que implantaram o Sistema de Registro de Preços.
Vale ressaltar o antagonismo da utilização do Sistema de Registro de Preços. De
um lado, os órgãos unem esforços e realizam uma licitação conjunta de interesse de
todos, enaltecendo a eficiência administrativa, de outro, os órgãos permanecem inertes
aguardando a realização do certame, sem sequer precisarem levantar suas necessidades
de contratação, agindo como verdadeiros “parasitas” daqueles que após longa jornada
conseguem celebrar a assinatura da Ata de Registro de Preços.
Em face dos argumentos apresentados, é inconteste o flagrante desrespeito à
eficiência administrativa, almejada pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, por órgãos e entidades que não participam das licitações para Registro de
Preços e passam a aderir às Atas de Registro de Preços de outros órgãos.
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
279
4.5 O princípio da isonomia entre os licitantes
A isonomia entre os licitantes diz respeito à oportunidade de todos os interessados
em contratar com a Administração Pública poderem competir em condições iguais,
isonômicas. Todos devem receber da Administração Pública igual tratamento. Nas
licitações públicas as regras do certame devem ser previamente definidas no Edital e
serão impostas a todos os concorrentes em igualdade de condições.
A adesão à Ata de Registro de Preços, realizada por órgãos não participantes da
licitação, acaba por quebrar a isonomia que foi imposta aos concorrentes no certame,
haja vista que o acréscimo no quantitativo a ser contratado era desconhecido na licitação
em que todos participaram em igualdade de condições.
O desconhecimento de condição relevante no certame licitatório, qual seja, o
quantitativo a ser contratado, acaba por frustrar todo o procedimento ao conceder
vantagem à empresa que assina a Ata de Registro de Preços em detrimento dos demais
licitantes.
Conclui Joel de Menezes Niebuhr12
A figura do carona é ilegítima, porquanto por meio dela procede-se à contratação
direta, sem licitação, fora das hipóteses legais e sem qualquer justificativa,
vulnerando o princípio da isonomia, que é o fundamento da exigência
constitucional que faz obrigatória a licitação pública.
4.6 O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
O instrumento convocatório, também conhecido como Edital, é o documento no
qual a Administração Pública fixará as normas e condições a serem observadas por
todos os interessados para participação na licitação, daí o porquê de o Edital ser taxado
como Lei Interna da Licitação.13
Tanto a Administração Pública licitante, como os interessados na licitação, estarão
submetidos à rigorosa observância das normas e condições estabelecidas no Edital,
conforme previsão do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, reafirmado pelo art. 41 do
mesmo diploma legal, verbis:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.
12 NIEBUHR, Joel de Menezes. “Carona” em Ata de Registro de Preços: atentado veemente aos princípios de
direito administrativo. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC. Ano XIII. Nº 143. Curitiba: Zênite. 2006.
13 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002. p.400.
280
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Assim, a adesão de órgãos não participantes à Ata de Registro de Preços é
condição não prevista no Edital. Ainda que haja a previsão do Art. 8º do Decreto
Federal nº 3.931/01, não é possível para os proponentes saber quantos órgãos irão
efetuar a adesão a posteriori, e com isso, também não é possível conhecer o quantitativo
que será efetivamente contratado, prejudicando a elaboração das propostas pelos
concorrentes.
Adilson Abreu Dallari14 esclarece
O edital há de ser completo, de molde a fornecer uma antivisão de tudo que possa
vir a ocorrer no decurso das fases subsequentes da licitação. Nenhum dos licitantes
pode vir a ser surpreendido com coisas, exigências, transigências, critérios ou
atitudes da Administração que, caso conhecidas anteriormente, poderiam afetar
a formulação de suas propostas.
Deve-se frisar que o Edital não só estabelece os quantitativos do objeto a ser
registrado o preço, mas também uma série de outros componentes que influenciam
diretamente na elaboração da proposta, tais como: frete, prazo de entrega, condições
de pagamento, dentre outras.
Observa-se que o “carona” enseja contratação não prevista inicialmente no Edital
ferindo a competitividade do processo licitatório, bem como estabelecendo privilégios
para a empresa detentora da Ata de Registro de Preços. Tal situação contraria de forma
veemente mais um dos princípios das licitações públicas.
4.7 O princípio da proposta mais vantajosa
Conforme visto anteriormente, a obtenção da proposta mais vantajosa para a
contratação a ser realizada pela Administração Pública constitui o principal objetivo
de toda e qualquer licitação pública.
A discussão da “vantajosidade” na utilização da Ata de Registro de Preços por
órgãos não participantes da licitação alcançou o Tribunal de Contas da União. No
Acórdão 434/2005 – Plenário,15 o ministro-relator, Augusto Sherman Cavalcanti, em
seu voto, apresentou a seguinte preocupação com o assunto
Não se tem como garantir que o preço vencedor seja o mais vantajoso, ou seja,
compatível com a faixa etária dos beneficiários do órgão que venha a aproveitar-se
da licitação já realizada (...). Assim, o preço ofertado para o Ministério da Cultura
dificilmente será o adequado para qualquer outro órgão da Administração, tendo
14 DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1997. p.32.
15 Tribunal de Contas da União. Processo TC – 004-709-2005-3. Relator: Augusto Sherman Cavalcanti, Brasília,
20 de abril de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, 29 de abril de 2005.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
281
em vista as diferenças nos diversos componentes do custo dos serviços, entre os
quais destaco a abrangência territorial ou área geográfica, a rede credenciada e
o grupo de beneficiários.
O caso concreto referia-se à utilização do Sistema de Registro de Preços para
contratação de operadora de planos de saúde pelo Ministério da Cultura. A Corte de
Contas considerou ser possível a contratação pelo Sistema de Registro de Preços, porém
o Edital deveria vedar a possibilidade da utilização da Ata de Registro de Preços por
órgãos que não participaram do certame. No caso em tela, a recomendação foi pela
anulação do procedimento licitatório, conforme voto do ministro-relator proferido no
Acórdão 668/200516
A anulação do certame em análise tem o potencial de impedir futuras contratações
baseadas na Ata de Registro de Preços pelos demais órgãos e entidades da
Administração sem que haja certeza quanto à razoabilidade dos preços em cada
situação específica.
Os ensinamentos do Ministro Sherman, do Tribunal de Contas da União, apesar da
peculiaridade da contratação analisada (contratação de operadora de planos de saúde),
implicam no despertar para a questão, haja vista que as necessidades de contratações
dos órgãos são diversas, assim como todas as demais condições envolvidas na licitação,
tais como: frete, condições de pagamento, quantitativos a serem contratados, qualidade
da contratação, etc.
Diante disso, estender a utilização de Atas de Registro de Preços para órgãos não
participantes “é fator de risco para a Administração” por não significar a contratação
mais vantajosa a satisfazer o interesse público.
5 A Adequada utilização do Sistema
de Registro de Preços
O Sistema de Registro de Preços vem a ser um instrumento de considerável avanço
na gestão de recurso públicos, as vantagens obtidas são inúmeras, porém, não se pode
admitir a distorção do instituto de forma a romper com os princípios constitucionais da
Administração Pública nem tampouco os princípios gerais das licitações públicas.
O Sistema de Registro de Preços não deve ser transformado num estímulo à
formação de monopólios por empresas detentoras de Atas de Registro de Preços. Tais
empresas se especializam em potencializar contratações e multiplicar lucros às custas
16 Tribunal de Contas da União. Processo TC – 004-709-2005-3. Relator: Augusto Sherman Cavalcanti, Brasília,
25 de maio de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, 03 de junho de 2005.
282
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
de lobby perante órgãos e entidades da Administração Pública para adesão à Atas de
Registro de Preços, resultando em desrespeito à supremacia do interesse público.
Deve-se ressaltar, no entanto, que o Sistema de Registro de Preços pode e deve
continuar a ser utilizado pelos gestores públicos como ferramenta de gestão. Para
tanto, basta a limitação da utilização da Ata de Registro de Preços apenas pelos órgãos
que efetivamente participaram desde o início da licitação coordenada pelo órgão
gerenciador.
Aliás, essa é a previsão do próprio Decreto Federal nº 3.931/01, em seu art. 2º,
Inc. III, verbis:
Art. 2º. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
(...)
III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;
A realização de uma única licitação composta por necessidades de órgãos diversos,
através do SRP, preserva e mantém a aplicação de todos os princípios da Administração
Pública, bem como reforça os princípios das licitações públicas. Dando especial destaque
a obtenção da eficiência administrativa por intermédio da racionalização dos processos
administrativos de contratações.
O entendimento da Corte de Contas deve ser acatado pelos gestores públicos
para correta aplicação das normais gerais de licitação.17 Nesse sentido, bem atuou o
ministro Augusto Sherman Cavalcanti ao demonstrar a relevância das consequências
advindas da utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos não participantes da
licitação que deu origem aos preços registrados.
Destaca-se que o descompasso existe apenas na utilização das Atas de Registro
de Preços por órgãos não participantes, de modo que para os órgãos participantes
verificam-se claramente as vantagens a serem alcançadas com a utilização do Sistema
de Registro de Preços, de forma que sua aplicação na Administração Pública deve
ser amplamente divulgada e incentivada não só na esfera federal, como também nas
esferas estadual e municipal.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância do estudo das licitações públicas no Brasil decorre principalmente
da necessidade do Estado em recorrer à iniciativa privada para realizar as mais diversas
17 Súmula 222 do Tribunal de Contas da União: “As decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação
de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos
administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
283
contratações, em decorrência disso, vultosos recursos financeiros são gastos e o
procedimento administrativo para realização de tais despesas é o processo licitatório,
conforme regra estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
O presente estudo destacou que a licitação pública tem como objetivo principal
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, guardando igualdade
de condições entre todos aqueles interessados em contratar com o Poder Público.
Tal objetivo não pode ser afastado pelo gestor público, sob pena de contrariedade às
disposições constitucionais e consequente não realização do interesse público.
A discussão principal acerca da utilização do Sistema de Registro de Preços foi
focada na celeuma provocada pela utilização de Atas de Registro de Preços por órgãos
não participantes da licitação, a qual deu origem aos preços registrados. O problema
originado pelos “órgãos caronas” consiste no desrespeito aos princípios gerais da
Administração Pública e das licitações públicas.
Ficou demonstrado que o Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/01, ao instituir a
figura do “carona”, contrariou princípios que fundamentam o ordenamento jurídico
vigente no país, sobretudo àqueles que alicerçam a Administração Pública, quais sejam:
a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.
Conforme o estudo que ora se finda, a frequente adesão de órgãos à Atas de
Registro de Preços acaba por multiplicar as quantidades contratadas, proporcionando
fantástico ganho de escala às empresas detentoras de preços registrados sem que tais
quantitativos estivessem claramente definidos no Edital do certame licitatório que deu
origem ao registro de preços.
Por outro lado, a Administração Pública não realiza certames licitatórios, não
oferecendo oportunidade a potenciais interessados em celebrar os contratos, bem
como dá ensejo que uma licitação para contratação de um quantitativo previamente
estabelecido se torne uma contratação muito superior.
Tal ofensa aos princípios jurídicos poderá ser contornada de maneira simples,
através da correta utilização do Sistema de Registro de Preços pela Administração
Pública. Para tanto, faz-se necessário à vedação da utilização de Atas de Registro de
Preços por órgãos que não participaram da licitação, ou seja, defende-se a utilização
das Atas de Registro de Preços apenas pelos órgãos participantes a fim de consagrar a
dupla finalidade do processo licitatório, qual seja, a seleção da proposta mais vantajosa
para o Poder Público e o oferecimento de igual oportunidade a todos os interessados
em celebrar o contrato.
Somente dessa forma estará consagrada a transparência de um certame licitatório,
no qual todos os licitantes conhecem a magnitude da potencial contratação, bem como
com quais órgãos tais contratos poderão ser firmados. A clareza de tais disposições no
Edital certamente ensejará uma competição mais isonômica e justa, proporcionando a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, alcançando por fim
o principal objetivo de todo processo licitatório.
284
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Geisa Maria Teixeira de. Licitações e Contratos Públicos: teoria e prática.
Fortaleza: Premius, 2001.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2002.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos,
2002.
BOSELLI, Paulo. Simplificando as licitações. São Paulo: Edicta, 2001.
DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1997.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005.
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Carona em sistema de registro de preços: uma
opção inteligente para redução de custos e controle. Disponível na Internet: http://www.
jacoby.pro.br/utilpub/CAC58T8N.doc. Acesso em: 17 dez. 2008.
______. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte:
Fórum, 2006.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002.
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.
São Paulo: Dialética, 2002.
KELLEMEN, Peter. Brasil para principiantes, venturas e desventuras de um brasileiro
naturalizado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.
MEIRELLES, Helly Lopes. Licitação e contrato administrativo. São Paulo: RT, 1991.
______. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001.
______. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2003.
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos. Belo Horizonte: Del
Rey, 2002.
NIEBUHR, Joel de Menezes. “Carona” em Ata de Registro de Preços: atentado veemente
aos princípios de direito administrativo. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC.
Ano XIII. Nº 143. Curitiba: Zênite, 2006.
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da
administração pública. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,
2002.
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. São Paulo: Malheiros,
2000.
TÁCITO, Caio. O princípio da legalidade: ponto e contraponto. Revista de Direito
Administrativo. v.206. Rio de Janeiro: Renovar. 1996.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
285
O monumento bárbaro: desconcertando o
sistema penal entre violência, crime e logos
Alexandre Costi Pandolfo
Resumo
O artigo apresenta uma desconstrução do poder punitivo afiliando o seu discurso com o
esclarecimento – mito do pensamento ocidental. Aproximando Walter Benjamin, Giorgio Agamben e
Robert Musil, é possível concluir que direito, estado e história, assim como o próprio sistema penal,
são monumentos bárbaros na medida mesma da sua civilidade. O texto pretende, assim, questionar
o fundamento do poder punitivo a partir da racionalização que encobre toda a sua barbaridade – a
violência intrínseca ao próprio logos.
Palavras-chave: Sistema Penal. Monumento. Barbárie. Violência. Logos.
The Barbarian Monument: disconcerting the penal system between
violence, crime and logos
ABSTRACT
The paper presents a deconstruction of punitive power affiliating its speech with the
Illuminism – the myth of Western thought. Approaching Walter Benjamin, Giorgio Agamben and
Robert Musil, is possible to conclude that the law, the state and history, as well as the criminal justice
system, are barbaric monuments in the same measure as its civility. The text aims to question the
punitive power’s basis since the rationalization that covers all its barbarity – the violence inherent
to the own logos.
Keywords: Penal-Sistem. Monument. Barbarism. Violence. Logos.
1 Sistema penal: deslegitimação
da razão penal
Desde o imperativo interpolitransdisciplinar1 é possível dizer que diante de
um leve toque com as ciências sociais o saber-poder jurídico-penal está, como nas
palavras de Eugenio Raúl Zaffaroni, deslegitimado. Assim, na construção deste autor
“só se pode evitar o autismo e o preconceito indo ao encontro das hipóteses de trabalho
interdisciplinar, o que não implica que o respectivo saber perca seu horizonte nem sua
função; apenas, torna-se interdisciplinar a construção de seu sistema de compreensão”.2
A importância das ciências sociais não se qualifica meramente em uma pretensa posição
Alexandre Costi Pandolfo é Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (FADIR/PUCRS), vinculado à linha de pesquisa em Criminologia e Controle Social. Bolsista CAPES.
Professor. E-mail: [email protected]
1 MORIN, Edgar. A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Trad. Eloá Jacobina. RJ:
Bertrand Brasil, 2000, p.111.
2 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito Penal Brasileiro. RJ: Revan. 2ª ed. 2003, p.271.
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.286-294
jul./dez. 2009
de auxiliaridade deste saber. Todo o delírio de grandeza do saber jurídico penal em
sua arrogância retórica “sempre consumiu, após evidentes processos de apropriação,
os discursos alienígenas, impondo-lhes a etiqueta da auxiliaridade. Sempre imputou
aos saberes que ousaram adentrar no seu objeto de estudo (crime) rótulo de ‘saberes
subordinados’”.3 Desse panorama decorre o evidente narcisismo infantil do direito
penal que, não tomando em consideração os dados sociais das ciências sociais, acaba
por inventar4 um saber no qual o dado social só interessa ao jurista à medida que o
legislador o tenha previamente incorporado.5
De uma maneira geral,
las ciencias sociales nos están mostrando que el discurso jurídico-penal
se elabora sobre ilusiones y alucinaciones, que estas ciencias desmientem
rotundamente. Esto significa que las discusiones jurídico-penales se deserollan
sobre la base de argumentos que en el plano de la realidad social son falsos.6
Isso quer dizer que a realidade social, não obstante a verdade apresentar-se sempre
problemática,7 demonstra que o poder punitivo opera de modo exatamente inverso
ao descrito pelo discurso penal tradicional. A lesão que essa constatação provoca no
narcisismo teórico do direito penal faz com que o discurso jurídico-penal tenha de
“inventar” uma realidade condizente com o saber-poder que exerce. Assim é que a partir
de metáforas8 justifica-se o exercício de poder dos sistemas penais. Ora, pelo menos
desde a reformulação moderna do século dezoito “o discurso jurídico-penal sempre
se baseou em ficções e metáforas, ou seja, em elementos inventados ou trazidos de
fora, sem nunca operar com dados concretos da realidade social”.9 O velho fantasma
do bellum omnium contra omnes – “que el proprio Hobbes como no sabia el modo de
eludir su falta de realidad histórica nos lo atribuía a los americanos” – é um importante
exemplo do “panorama de viejas ficciones y metáforas, con las que siempre se trato
de justificar el ejercicio de poder del sistema penal”.10 Nesse sentido, as ciências
sociais (mormente a sociologia e a antropologia) provocam uma deslegitimação do
3 CARVALHO, Salo de. A Ferida Narcísica do Direito Penal (primeiras observações sobre as (dis)funções do
controle penal na sociedade contemporânea). In GAUER, Ruth (org) A Qualidade do Tempo: Para Além das
Aparências Históricas. RJ: Lumen Juris, 2004. p.181.
4 Invenção é sempre uma relação de poder, desde a leitura foucaultiana de Nietzsche apresentada no livro “A
verdade e as formas jurídicas”.
5 Cf. ZAFFARONI; BATISTA. Ob. cit. p.66.
6 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal. Caracas: Monte Ávila Latinoamericana
Editores, 1993. p.91.
7 O próprio Zaffaroni também aponta esta questão. Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em Busca das Penas Perdidas:
a perda da legitimidade do sistema penal. Trad. Vânia Pedrosa e Almir Conceição. RJ: Revan. 1991, p.163.
8 Perceba que como assevera Zaffaroni “uma coisa é afirmar que é muito melhor expressar o saber por metáforas,
por nunca podermos alcançar a realidade, em razão da enorme inter-relação de ‘tudo’ (perspectiva holística) – com
o que o saber se faz muito mais prudente e menos autoritário – e outra coisa muito diferente é usar a metáfora,
combinada com ficções (invenções), para extrair consequências assertivas e definitivas sobre uma realidade à
qual não se presta a menor atenção”. ZAFFARONI. Em Busca das Penas Perdidas. p.48.
9 Idem. Ibidem. p.48.
10 ZAFFARONI. Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal. p.17.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
287
discurso jurídico-penal do qual não mais poderá se recuperar, a não ser apelando a
estes “delírios sociais”.
Por esses trilhos é que o jurista argentino Engenio Raúl Zaffaroni elaborou teoricamente
o Realismo Marginal – uma construção científica transdisciplinar que se caracteriza pela
“búsqueda de una dogmática jurídico-penal liberal (de garantias) realista, no distanciada
das ciencias sociales, no legitimante del poder primitivo que no ejercemos los juristas
y adaptada al momento actual de nuestra región latinoamericana”.11 Essa construção
dogmática não é o que permite ‘tirar o véu’ da “atuação dos nossos sistemas penais [que]
caracteriza[m] um genocídio em andamento”,12 senão que é construída a partir da ‘retirada
deste véu’. Em outras palavras, o realismo jurídico-penal marginal propõe
la renovación de la dogmática penal desde la deslegitimación del sistema penal,
orientada instrumentalmente hacia la limitación y reducción de su âmbito y
violencia, en camino a una utopia abolicionista del sistema penal. Su resultado
más cercano es una renovación más limitativa del derecho penal de garantias, con
base realista y sin apelar a la ficción del contrato ni a sus reformulaciones.13
Zaffaroni parte da constatação do assustador nível de violência da operatividade
das agências do sistema penal, o que, em suas palavras, configura uma deslegitimação
pelos próprios fatos, tendo em vista que
el número de muertes que causan sus agencias en forma directa, sumando a
las omisiones que encubre con su aparente capacidad de solución de conflictos
y que ocultan fenómenos que superan en mucho las muertes que directamente
provocan, además de los deterioros físicos y psíquicos de muchísimas personas
– no solo criminalizadas, sino también entre los operadores de sus propias
agencias – arroja un saldo letal incalificable.14
O Realismo Marginal, então, é solidificado faticamente a partir desta crença/
constatação/alucinação empírica que designa os procedimentos pelos quais os povos
“atrasados” são enxertados compulsivamente em sistemas tecnologicamente mais
evoluídos. Ou seja, significa, também, constatar que a região latino-americana e seu
controle social são produtos de uma transculturação protagonizada pelas revoluções
mercantil e industrial. Desse modo quando questionado acerca da relação entre América
Latina e marginalização, Zaffaroni firmemente responde que “si alguna definición tiene
América Latina ella coincide con la de marginalización. Somos el resultado de un gran
proceso de marginalización planetaria llevado a cabo por el avance histórico de la
11
12
13
14
Idem. Ibidem. p.9.
ZAFFARONI. Em Busca das Penas Perdidas. p.123.
ZAFFARONI. Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal. p.15.
Idem. Ibidem. p.19. Cf. ZAFFARONI. Em Busca das Penas Perdidas. pp.124/125.
288
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
sociedad industrial”.15 O Realismo Marginal é outra perspectiva teórica elaborada a
partir de outro ponto do poder,16 que enxerga o horizonte de projeção da realidade penal
vinculado a uma realidade social, somente relegada com vistas a justificar/legitimar o
que é irracionalizável/ilegitimável, isto é, a violência do sistema penal.
2 Violência: Direito, Estado
e História como Monumentos
Ora, isso significa que, para além das possíveis e eventuais construções dogmáticas
decorrentes do pensamento marginal, há uma radicalização crítica que ataca os próprios
fundamentos da edificação do pensamento ocidental. Tal como aponta José Saramago
ao afirmar “dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos”,17
é possível dizer que há algo que tem fundamentado essa condição de pensamento que é
de difícil tato, de difícil audição, percepção, mas que, talvez, seja uma cegueira – uma
cegueira branca, clara, resplandecente e esclarecedora como o logos. Algo que não se
consubstancia como civilizado em oposição ao que bárbaro representa, mas que dá
origem à própria possibilidade de crer que aquele importa numa evolução em relação
a este; em outros termos, “ao tachar de complicação obscura e, de preferência, de
alienígena o pensamento que se aplica negativamente aos fatos, bem como às formas
de pensar dominantes, e ao colocar assim um tabu sobre ele, esse conceito mantém
o espírito sob o domínio da mais profunda cegueira”.18 É nesse sentido que Walter
Benjamin radicaliza, na sétima Tese Sobre o Conceito de História, a violência do logos
ao afirmar que “nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um
monumento da barbárie”.19 Não parece à toa, então, que Giorgio Agamben baseie-se
nessas Teses para, indo à raiz da sua questão, assinalar “o significado imediatamente
biopolítico do estado de exceção como estrutura original em que o direito inclui em
si o vivente por meio de sua própria suspensão”20 – ou seja, o estado de exceção,
que não é uma prerrogativa da modernidade ou do estado moderno, visto que está
presente propriamente na lógica jurídica, no fundamento mesmo desse pensamento
como marca característica da alucinação racional do direito, é a representação fática
da violência do logos e da qual o logos é capaz. Isso pode significar, no mínimo, que
qualquer pretensão de evolução social e jurídica como desenvolvimento racional não
pode fugir à metafísica genocida que representa pensamento ocidental moderno e as
suas consequências hodiernas, visto que a ideia mesma de evolução não pode furtar-se
à monumental alucinação de que o antes é sempre pior do que o depois.
15 ELBERT, Carlos (Dir.); TESSIO, Griselda; BERROS, Noemi (coords). Encuentro con las Penas Perdidas. Santa
Fe: ed. de la Universidad Nacional Del Litoral, 1993. p.72.
16 ZAFFARONI. Em Busca das Penas Perdidas. p.174.
17 SARAMAGO, José. Ensaio Sobre a Cegueira. SP: Companhia das Letras, 1995, p.262.
18 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Trad.: Guido
de Almeida. RJ: Jorge Zahar Ed., 1985, p.13.
19 BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito de História. Em BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas volume
1 – Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad.: Sérgio Rouanet. 7ª Ed.,
SP: Brasiliense, 1994, p.225.
20 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Trad.: Iraci Poleti. SP: Boitempo, 2004, p.14.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
289
Parece que Agamben toca incisivamente nesse ponto
não se trata de remeter o estado de exceção, a seus limites temporal e especialmente
definidos para reafirmar o primado de uma norma e de direitos que, em última
instância, têm nele o próprio fundamento. O retorno do estado de exceção efetivo
em que vivemos ao estado de direito não é possível, pois o que está em questão
agora são os próprios conceitos de ‘estado’ e de ‘direito’.21
Esses dois grandes monumentos “direito” e “estado”, assim como a própria
“história”, erguidos como celebração vitoriosa, tal como a irônica expressão machadiana
em Quincas Borba “ao vencedor, as batatas!”, respeitam à catastrófica constatação
benjaminiana, segundo a qual, “todos os que até hoje venceram participaram do cortejo
triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados
no chão”.22 Paradoxalmente, “o ofício de grande parte dos monumentos comuns é, sem
dúvida, o de invocar uma lembrança ou chamar a atenção, imprimindo aos sentimentos
um rumo piedoso, na crença de que eles são de alguma forma necessários; e é nesse
seu ofício principal que os monumentos vivem fracassando”.23 É inevitável que se
apresentem solidificados, fortes, corretos, na mesma medida em que não escapam à sua
própria falácia: “afugentam precisamente aquilo que deveriam atrair. Impossível dizer,
isto sim, que nos passam despercebidos, que nos escapam aos nossos sentidos: é uma
qualidade totalmente positiva, que tende para o ato de violência!”24 Enquanto marca
do progresso é sempre impossível dizer que os monumentos passam desapercebidos,
da mesma forma que seria kafkianamente risível esquecer que “o precedente, nesse
caso, já é agressivo”25 – que eles representam, de qualquer maneira, a empatia com
o vencedor,26 que o movimento de contar e articular a história significa não mais que
a tentativa de apropriar-se de uma imagem que “relampeja”, para manter a metáfora
benjaminiana, cuja cadeia de acontecimentos não é outra coisa que uma “catástrofe
única”. Metáfora também utilizada por Machado de Assis, em Memórias Póstumas de
Brás Cubas, quando narra o delírio que permitia a Brás Cubas contemplar “a história
do homem e da Terra” e que, dada a intensidade, “para descrevê-la seria preciso fixar o
relâmpago”, visto que “a rapidez da marcha era tal, que escapava a toda compreensão”.27
Diante desse delírio da origem como falar em estágios de desenvolvimento subjetivo,
individual ou estatal? Como propor uma moral do discurso que não seja filha da sua
21 AGAMBEN. Estado de Exceção. p.131.
22 BENJAMIN. Teses Sobre o Conceito de História. p.225.
23 MUSIL, Robert. Monumentos. Em MUSIL, R. O Melro e outros escritos de obra póstuma publicada em vida.
Trad.: Nicolino de Simone Neto. SP: Nova Alexandria, 1996, p.49.
24 MUSIL. Monumentos. p.49.
25 MUSIL. Monumentos. p.50.
26 BENJAMIN. Teses Sobre o Conceito de História. p.225.
27 ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. POA: L&PM, 1997, pp.28 e 29. Cito: “A história do
homem e da Terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque
a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto o que eu ali via era a condensação vida de todos os
tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar um relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e, não obstante,
porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim” (p.28).
290
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
mãe, a própria violência? Será que não soa nem um pouco alucinatório esse pensamento
dialético que fundamenta todo o estagio, o Estado e o Direito? Será que não parece
ser apenas um eterno passatempo para que as vozes emudecidas continuem caladas
pelo venerado logos? O que significa dividir a história da humanidade em estágios
evolutivos senão edificar propriamente monumentos maiusculamente Históricos?
Como ainda dizer que isso não tem relação com as atrocidades cometidas pela negação
das possibilidades outras que o pensamento? Chega a ser risível chamar tudo isso de
pensamento. No mínimo, tão risível quanto cogitar que a história seja mesmo a História
contada e esfacelada.
Na quinta Tese Benjamin escreve que “a verdadeira imagem do passado perpassa,
veloz. O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no
momento em que é reconhecido. (...) Pois irrecuperável é cada imagem do presente
que se dirige ao presente, sem que esse presente se sinta visado por ela”.28 Musil, no
seu conto sobre os Monumentos, parece dialogar com Benjamin: “se as pessoas não
tivessem o espírito cego para os monumentos e fossem capazes de perceber o que ocorre
ali no alto, haveriam de sentir, ao passar por eles, o mesmo pavor que sentem ao passar
pelos muros de um manicômio”.29 Ora, parece que há uma inversão, consubstanciada,
aqui, nas palavras de Benjamin – expressadas na segunda Tese: “não existem, nas vozes
que escutamos, ecos das vozes que emudeceram?”30 Seria preciso ainda perguntar,
trabalhando com Agamben, se a violência existe para além do desejo do direito de
dominá-la? A exceção não seria, então, como regra e violência puras, filha do próprio
logos – esclarecidamente violento? Os monumentos civilizatórios, o direito, o estado, a
história, não são já, eles mesmos, fetiches violentos cuja construção emudece vozes que
outrora ressoaram? Não são como aqueles monumentos nos quais o general ou o príncipe
apesar de montado sobre o cavalo e com a espada desembainhada já não provocam
tremor à sua visão,31 quando justamente ainda poderiam e deveriam provocá-lo?
3 Logos: O Monumento Bárbaro
Entre bárbaros e civilizados, os monumentos pretendem sempre assinalar
a reconciliação, o momento em que o tempo é paralisado para que no lugar
da multiplicidade se edifique o ponto estático da unidade – o marco desde o
qual a história é contada como história dos vencedores – da lógica vencedora e
autoveneradora. Se é possível dizer que a violência assume propriamente “a posição
de uma categoria compreensivo-interpretativa da realidade”32 é porque toda a forma
de pensamento ocidental está ancorada na pretensão de dominar a natureza e negar
a diferença – e o esclarecimento é a própria representação desse mito, ou antes, o
28 BENJAMIN. Teses Sobre o Conceito de História. p.224.
29 MUSIL. Monumentos. p.51.
30 BENJAMIN. Teses Sobre o Conceito de História. p.223.
31 Alusão expressa ao conto Monumentos, de Musil.
32 SOUZA, Ricardo Timm de. Três Teses Sobre a Violência – Violência e Alteridade no Contexto Contemporâneo:
algumas considerações filosóficas. Em SOUZA, R. T. Em Torno à Diferença: aventuras da alteridade na
complexidade da cultura contemporânea. RJ: Lumen Juris, 2007, p.32.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
291
esclarecimento é o próprio mito. Nas palavras de Adorno e Horkheimer, “o sistema
visado pelo esclarecimento é a forma de conhecimento que lida melhor com os fatos
e mais eficazmente apoia o sujeito na dominação da natureza. Seu princípio é o da
autoconservação”,33 para o qual é necessário que se aniquile quaisquer possibilidades
críticas, sugando-as por uma espécie de máquina letal kafkiana34 da dialética, de forma
que “a maior das violências consiste em velar os vínculos profundos que qualquer ato
violento tem com qualquer outro ato violento”.35 Ora, só uma pretensão logicamente
narcísica pode pretender se reconciliar com a natureza. Nem a civilização, tampouco
a barbárie podem indicá-la, pois fundadas naquilo que é justamente um dos contrários
do que se lhe apresenta, isto é, a multiplicidade. Quero dizer, a negação do múltiplo em
nome do colossal movimento de agregação é a forma alucinatória de funcionamento do
esclarecimento – que opera inconscientemente pela necessidade de negar realmente as
diferenças: “‘esquematismo do entendimento puro’. Assim se chama o funcionamento
inconsciente do mecanismo intelectual que já estrutura a percepção em correspondência
com o entendimento”.36 A reconstrução da lógica pelo próprio logos seria algo muito
diferente dessa correspondência, de que falam Adorno e Horkheimer? O pensamento
vergonhoso de si mesmo continua acontecendo como se a sua autojubilação bastasse
para reconstruir ele mesmo – o pensamento. Será que é à toa o questionamento sobre
quem vendou a justiça?37 Aliás, por que será que em algum momento alguém vendou
a justiça? Usando Saramago mais uma vez: porque será que os santos estão com uma
venda nos olhos? Porque será que a venda é branca? Ora, quem é o louco38 que vendou
a justiça? Será que ele mesmo não foi Justiçado após esse ato bárbaro? Que belo
monumento não representa a reconstrução da Justiça pelo pensamento genocida que
a todo o momento trabalha na exceção da justiça, para utilizar novamente Agamben.
Que belo monumento o Estado Democrático de Direito entoado como se modelo fosse
de bondade, beleza e justeza. Talvez seja realmente uma pena que os monumentos não
possuam suas formas próprias: caricaturas.
Como a caricatura circense do pensamento elaborada por Franz Kafka no conto
Na Galeria,39 escrito no início do século dezenove. Sugada pelo movimento agregador
dos círculos que a amazona deve fazer ao redor do picadeiro diante de um “público
infatigável” ela mesma se confunde com o circo que representa e do qual não pode
fugir tampouco extrapolar – porque, venerados, o circo e o seu diretor representam a
própria legitimação e daqueles que riem sem notar violência, assim com daquele que
“chora sem o saber” “em meio às fanfarras da orquestra sempre pronta a se ajustar às
situações” mais estranhas. O monumento do pensamento, como um circo, fecha-se em
33 ADORNO; HORKHEIMER. Dialética do Esclarecimento. p.72.
34 Alusão expressão à novela Na Colônia Penal, de Franz Kafka, e à máquina de tortura que ali é apresentada
narrativamente como um mecanismo já esfacelado de compreensão do mundo.
35 SOUZA. Três Teses Sobre a Violência. p.32.
36 ADORNO; HORKHEIMER. Dialética do Esclarecimento. p.72.
37 MESSUTI, Ana. Desconstruyendo la Imagen de la Justicia. In [VÁRIOS AUTORES]. Escritos em Homenagem
a Alberto Silva Franco. SP: RT, 2003.
38 MESSUTI. Op. Cit. p.111.
39 KAFKA, Franz. Na Galeria. Em KAFKA, F. Um Médico Rural: pequenas narrativas. Trad. Modesto Carone.
SP: Cia das Letras, 1999, pp.22 e23.
292
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
sua própria mania representacional de maneira a legitimar eternamente suas próprias
manifestações – por mais bizarras que sejam. O fetiche desse movimento já é ele
mesmo a expressão das fanfarronices que legitima: autolegitimação, autoveneração,
autojubilação. Circularidade do pensamento e da violência em que também se
consubstanciam monumentos tais como estado, direito e logos.
Então, “por que se erguem monumentos aos grandes homens, se as coisas são
como são?”,40 é o que pergunta Musil, ao final do seu conto. Os sacros representantes
do pensamento jurídico-penal, diriam, talvez, que apesar de tudo, são necessários, são
vitais, de suma importância para a deusa: Justiça. Assim como eram os soberanos para
seus súditos e assim como é a soberania para a ordem mundial, ou para a paz perpétua –
utilizando a metáfora kantiana. Já Agamben41 responderia, talvez, afirmando que, assim
como os monumentos jurídicos, trata-se apenas de uma máscara irresistível, uma fantasia
da real violência que, miticamente, se pretende exercer e controlar. Razão identificante
que é já o monumento do logos. Do qual, como boa filha da civilização moderna, para
usar a imagem de Adorno e Horkheimer, a racionalização criminológica, não pôde
furtar-se – paralisando, ao lado, na barra da saia, “pelo temor da verdade”.42 Por que
é mesmo que se erguem monumentos? Zaffaroni argumentaria, talvez, que a ficção da
realização da modernidade esquece o quadro real de genocídio que representa poder
punitivo (principalmente na realidade marginal da América Latina). “O poder punitivo
é – pelo menos hoje – um produto da razão instrumental que se difunde e se amplia”,43
em outras palavras, um monumento que se assemelha à guerra44 e que encobre, com
seu universal fulcro esclarecedor, a real violência do seu exercício iluminado.
Referências
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos
filosóficos. Trad.: Guido de Almeida. RJ: Jorge Zahar Ed., 1985.
AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Trad.: Iraci Poleti. SP: Boitempo, 2004.
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. POA: L&PM, 1997.
BECKER, Howard. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. 3ª ed. Trad. Marco Estevão
e Renato Aguiar. SP: Editora Hucitec, 1997.
BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito de História. Em BENJAMIN, Walter.
Obras Escolhidas volume 1 – Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura
e história da cultura. Trad.: Sérgio Rouanet. 7ª Ed., SP: Brasiliense, 1994.
CARVALHO, Salo de. A Ferida Narcísica do Direito Penal (primeiras observações sobre
as (dis)funções do controle penal na sociedade contemporânea). In GAUER, Ruth (org.).
A Qualidade do Tempo: Para Além das Aparências Históricas. RJ: Lumen Juris, 2004.
40 MUSIL. Monumentos. p.51.
41 AGAMBEN. Estado de Exceção. Conferir cap.6.
42 ADORNO; HORKHEIMER. Dialética do Esclarecimento. p.13.
43 ZAFFARONI; BATTISTA. Direito Penal Brasileiro. p.644.
44 Interessante atentar à construção que Zaffaroni faz desde a leitura do jurista brasileiro Tobias Barreto acerca
da aproximação entre poder punitivo e guerra.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
293
ELBERT, Carlos (Dir.); TESSIO, Griselda; BERROS, Noemi (coords). Encuentro con
las Penas Perdidas. Santa Fe: ed. de la Universidad Nacional Del Litoral, 1993.
KAFKA, Franz. Na Galeria. In: KAFKA, F. Um Médico Rural: pequenas narrativas.
Trad. Modesto Carone. SP: Cia das Letras, 1999.
MESSUTI, Ana. Desconstryuendo la Imagen de la Justicia. In SUANNES, A. et al.
Escritos em Homenagem a Alberto Silva Franco. SP: RT, 2003.
MORIN, Edgar. A Cabeça Bem-Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Trad.
Eloá Jacobina. RJ: Bertrand Brasil, 2000.
______. Introdução ao Pensamento Complexo. Trad. Eliane Lisboa, Porto Alegre: Sulina,
2005.
MUSIL, Robert. Monumentos. In: MUSIL, R. O Melro e outros escritos de obra póstuma
publicada em vida. Trad.: Nicolino de Simone Neto. SP: Nova Alexandria, 1996, p.49.
PORTUGAL. Carta da Transdisciplinaridade. Adotada no I Congresso Mundial da
Transdisciplinaridade. Convento de Arrábida, Portugal, 2 a 6 de novembro de 1994.
SARAMAGO, José. Ensaio sobre a Cegueira. SP: Companhia das Letras, 1995.
SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda além do Medo: filosofia e antropologia do preconceito.
POA: Dacasa, 2002.
SOUZA, Ricardo Timm de. Três Teses Sobre a Violência – Violência e Alteridade no
Contexto Contemporâneo: algumas considerações filosóficas. In: SOUZA, R. T. Em
Torno à Diferença: aventuras da alteridade na complexidade da cultura contemporânea.
RJ: Lumen Juris, 2007.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em Busca das Penas Perdidas: a perda da legitimidade do
sistema penal. Trad. Vânia Pedrosa e Almir Conceição. RJ: Revan, 1991.
______. Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal. Caracas: Monte Ávila
Latinoamericana Editores, 1993.
­­­ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito Penal Brasileiro. RJ: Revan. 2.ed. 2003.
294
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Discurso, poder e ética na decisão penal1
Gabriel Antinolfi Divan
Resumo
O presente artigo aborda a necessidade constitucional de controle das manifestações
jurisdicionais decisórias na esfera penal, no que diz respeito ao linguajar por elas adotado. Há
uma inegável confluência de fatores (sobretudo simbólicos) que fazem com que uma decisão
penal possua um caráter constitutivo, influente, perturbador e mesmo criador no que diz para com
a subjetividade do réu jurisdicionado. Assim, o trato ético deve prevalecer no discurso adotado,
inclusive contando com previsão legal a ser criada nesse sentido, para que não seja infligida ao
acusado uma pena que ultrapasse os ditames legais, através de uma manifestação judicial a-técnica,
vulgarmente passional e exageradamente estigmatizante.
Palavras-chave: Decisão penal. Discurso judicial. Ética. Reforma processual.
Discourse, power and ethics on criminal judgments
Abstract
The current paper approaches the constitutional necessity of control the language used in
judicial resolutions on criminal sphere. There are a lot of grounds, mostly symbolic, which give a
constitutive, an influential, a disturbing and even a creation character to criminal judgments – when
we are thinking about defendant subjectivity. Considering that, this paper defends a legal foresight’s
reaction to guarantee an ethical treatment in this judicial discourse. This idea intents to avoid a
punishment based on a non-technical, passionate and stigmatizing judicial resolution.
Keywords: Criminal sentencing. Judgment discourse. Ethics. Criminal procedures
reform.
Um homem dos vinhedos falou, em agonia, ao ouvido de Marcela. Antes de
morrer, revelou-lhe seu segredo:
- A uva — sussurrou — é feita de vinho
Marcela Pérez-Silva me contou isso, e eu pensei: se a uva é feita de vinho, talvez
nós sejamos as palavras que contam o que somos.
(Eduardo Galeano, A uva e o vinho2)
Gabriel Antinolfi Divan é professor de Processo Penal e Criminologia da Universidade de Passo Fundo – RS.
Mestre em Ciências Criminais e Especialista em Ciências Penais pela PUCRS. Advogado.
E-mail: [email protected]
1 O presente artigo é uma atualização (e ampliação) do paper “Decisão Penal, discurso e ética: sobre poderes e
responsabilidades”, publicado originalmente em Justiça do Direito (Universidade de Passo Fundo), v.21, p.122-138,
2009, e é fruto de pesquisas e mesas de discussão promovidas pelo Instituto de Criminologia e Alteridade – ICA
(http://www.criminologiaealteridade.com) e de intenso debate com os membros do Grupo de Estudos e Pesquisas
Criminais – GEPEC (http://www.portalgepec.org.br) do Estado de Goiás.
2 In: O Livro dos Abraços. Trad. Eric Nepumoceno. Porto Alegre: L&PM Editores, 2002, 9.ed., p.16.
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.295-310
jul./dez. 2009
1 A decisão judicial (penal, sobretudo)
como lugar da tensão
O exercício da jurisdição penal se apresenta sempre imantado de um caráter
procedimental particularmente tenso e de um envolvimento subjetivo incomparável
dentre o âmbito das práticas judiciárias.
Aqui falamos tanto do desespero – presumível – que pode acometer o acusado
submetido ao jugo estatal, quanto daquele, traiçoeiro, que pode capturar o próprio
julgador.3 É o que pode vir a fazer com que o rigor técnico e a (suposta) vocação para a
proporcionalidade decisória se transformem (mais do que em outras áreas e momentos
de exercício de jurisdição), sub-repticiamente, em mero apelo caótico do cidadão comum
que ali veste a toga, e que lhe fala ao ouvido (sob as vestes inconscientes, ideológicas,
passionais ou sob o baixo espectro de um senso comum que, inesperadamente, ganha
eco no momento da decisão).4
Do mesmo modo, ao estudarmos de maneira mais aprofundada a manifestação
jurisdicional decisória no âmbito penal, não é preciso muito para perceber que o objeto
em questão (o conteúdo decisório), e suas consequências puramente técnico-processuais
(dispostas sistematicamente em nosso corpo legislativo), convive lado a lado com
elementos agregados plenamente alheios à lógica jurídica, que vão sempre acoplados
a qualquer prática estatal em que estejam em jogo ordem, controle, restrição (em vários
níveis) e, principalmente, necessidade de sujeição a um comando.
A princípio, é impossível conceber a existência de um mecanismo essencialmente
dogmático que cuide de prever, conter ou disciplinar, à totalidade, os dramas inerentes
ao exercício da manifestação jurisdicional por excelência, além da carga de desgaste e
potencial sofrimento latente que se choca com todos envolvidos, mesmo que receptores
mediatos da declaração prolatada. Sumamente quanto ao efeito primordial de uma
decisão condenatória, que conduz o receptor, este imediato (réu), à capitulação de
seus direitos e/ou à perda temporária do maior deles: a liberdade. Com ela, embora
sem previsão expressa legal (e quem opera nos meios forenses e conhece a realidade
prisional hodierna sabe muito bem), resta, na prática, igualmente confiscada uma série
extensa de direitos e bens juridicamente – em tese – tutelados pelo Estado, que vão
desde a honra em um sentido amplo, até as efetivas possibilidades de reinserção social
e mesmo a integridade sexual do apenado, em muitos casos.
Concebemos, pois, a manifestação jurisdicional decisória, em matéria penal
como um terreno inóspito, dados, entre outras coisas, a) a insegurança generalizada
3 Como em outra oportunidade pudemos estudar: DIVAN, Gabriel Antinolfi. Decisão Judicial nos Crimes Sexuais.
O julgador e o réu interior. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, especialmente o Capítulo III.
4 “A análise do problema do senso comum, da experiência e da ciência no raciocínio do juiz pode partir de uma
proposição ao mesmo tempo surpreendente e banal, a saber, a de eu em grande parte o raciocínio do juiz não
é regido por normas nem determinado por critérios ou fatores de caráter jurídico”. TARUFFO, Michele. Senso
comum, Experiência e Ciência no raciocínio do juiz. Trad. Cândido Rangel Dinamarco. Curitiba: IBEJ, 2001, p.7.
296
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
intrínseca à mesma (que assola quaisquer potenciais envolvidos com o caso penal em
debate, sobretudo, e de maneira visceral, o próprio julgador); e b) a suposição (para
nós, evidência) de que ela representa muito mais do que um mero comando que põe fim
a um conflito jurisdicionalizado e penalmente relevante, carregando, sempre, consigo,
uma carga elementar de efeitos não-legalmente prescritos, tão nefastos quanto o mais
insalubre dos cárceres.
2 Duas realidades
A existência de uma eficácia corpórea e bastante táctil dos preceitos e
determinações da decisão penal (seus efeitos na esfera eminentemente jurídica e
administrativa de fatores envolvidos: possibilidade de exercício punitivo-tutelar, pelo
Estado, ou determinações sobre o status libertatis de um modo geral, do acusado,
fundamentalmente), caminha junto a um feixe de poderio puramente imagético e sua
força simbólica adjacente (principalmente representada pelo sentido prescritivo de
personalidade e de modus vivendi adequados que as normas penais adquirem quando
prolatadas pelo julgador).
Geralmente, as abordagens do tema aqui sugerido são carentes de algum –
real – efeito prático, uma vez que terminam ou perdidas entre elucubrações que se
caracterizam ou por estarem localizadas exclusivamente no campo da crítica e do
pleito eterno de opções de lege ferenda, ou por um falso pragmatismo, que não passa
de uma análise pobre e epidermicamente dogmática do problema, contribuindo para
o nocivo apartheid entre um pensamento doutrinário de cunho crítico e a praxe do
cotidiano dos tribunais.
O que propomos, nesse instante, é um exercício reflexivo sobre a faceta mundana
da manifestação jurisdicional decisória: sem dividir os efeitos eminentemente
jurídicos (pertencentes à esfera sistemática da ordem jurídica) de uma decisão penal,
daqueles identificados pelo estudo crítico como resíduo simbólico meta-jurídico
(geralmente estigmatizantes) da mesma, pensamos que o núcleo da questão, se não
habita inteiramente, em muito pertence ao discurso que corporifica a manifestação do
Magistrado, sendo, daí, a fonte de onde pode brotar um princípio de amortização para
o quadro.
Afinal, se é fato (lamentável) que a consciência diuturna de um senso comum
teórico dos juristas5 é deficitária quanto à necessidade de um policiamento, tal um despir
constante da veste teatral-mitológica da prática judiciária (para enxergar os conflitos
de carne e osso que ali estão submetidos e, fundamentalmente, as figuras humanas por
traz dos atores de falas demarcadas, em todas suas dimensões),6 também é fato que a
5 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito II. A epistemologia jurídica da Modernidade. Porto Alegre:
Sérgio Fabris, 1995/Reimpressão 2002, pp. 98-99.
6 “Come ogni rito, il processo appartiene a una sfera artificiale, separata dal flusso microstorico quotidiano (Max
Weber discrive queste discontinuitá com l’aggetivo ‘ausseralltäglich’), anzi la genera; gli spettatori se ne accorgono:
avengono cosi fuori dal solito mondo. Ma è illusione scenica: parti, giudice, testimoni, sono persone di carne ed
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
297
própria existência da função jurisdicional, por si, retroalimenta de maneira inescapável
a força do símbolo.
Críticos militantes e combativos de algumas chagas evidentes da dinâmica
punitiva estatal, ou não, não podemos deixar de admitir o fato de que as normas penais
existem, de que sua aplicação realmente ocorre (ainda que na base de incidência
sobre micropartículas sociais – desprezada, para o contexto exclusivo desse artigo,
uma explicação mais detalhada acerca dos fenômenos de seletividade, denunciados
especialmente pela crítica criminológica).7
Não podemos, também, deixar de admitir que o processo, de forma particularizada,
é real e tem alguma eficácia (não se discutindo, nessa sintaxe ventilada, se o termo
eficácia vai conjecturado dentro dos propósitos constitucionais que lhe dão guarida ou
não). E mais: que sua voz gutural ecoa em uma decisão que, escorada na carga cogente
dos mandamentos estatais do Estado, se faz escutar por um ato que muda o mundo no
instante em que diz o direito.
Se algo precisa ser modificado, a realidade que a nós é oferecida no cotidiano
é o mais evidente ponto de partida, e meio onde podemos fazer contato e operar,
faticamente.
Acompanhamos, na esteira de Duclerc, o pensamento de que a mera desconstrução
da lógica da prestação jurisdicional-penal estatal, através da denúncia de suas misérias,
contorna de modo fictício o problema: (paulatinamente) subvertido, ou não, pela crítica
científica, pela superveniência de novas lógicas legislativas e pelo próprio tempo (que a
tudo corrói), o modelo penal de resolução de conflitos delitivos do qual dispomos segue
vigente, e é preciso não apenas ideias sobre como virá-lo do avesso, mas, principalmente,
estratégias de convivência com o mesmo.8
3 Poder e discurso
Nossa proposta pensa um modelo de reforma emergencial de alguns pontos
nevrálgicos na estrutura processual penal a partir de uma revigoração da esfera de
atuação daquele que, dentre todos os operadores jurídicos, é, ao nosso ver, o personagem
que repousa sobre o elo mais crítico de toda a cadeia: o julgador. Mais (ainda): o seu
discurso.
ossa, legate al tessuto profano locale, carichi delle rispettive storie private; le toghe (equivalenti a maschere) non
aboliscono lo spazio-tempo profani”. CORDERO, Franco. Procedura Penale. Milano: Giufré, 2000, 5.ed., p.152.
7 Na literatura criminológica sul-americana, especialmente, ninguém discorre com mais autoridade sobre a
temática do que ZAFFARONI, Eugenio Raul, para onde remetemos o leitor. In: Criminología. Aproximación desde
un margen. Bogotá: Editorial Temis, 2003, Tercera reimpressión e, de forma mais incisiva, Em busca das penas
perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Trad. Vania Romano Pedrosa e Amir Lopes da Conceição.
Rio de Janeiro: Revan, 1991
8 “De pouco serve, todavia, simplesmente desconstruir a teoria da jurisdição denunciando fragilidades (...) pelo
menos até que se modifique a atual configuração das relações de hegemonia nas sociedades ocidentais capitalistas
e possa surgir, assim, algum modelo realmente democrático de solução de conflitos penais”. DUCLERC, Elmir.
Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.194.
298
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Afinal, como frisa, pragmaticamente, a incontornável obra carneluttiana:
O juízo do juiz, não o das partes, facit ius, o que quer dizer, vincula, ou seja,
determina através do mecanismo de direito, a conduta alheia. Depois que o
acusador conclui que o imputado é culpado e o defensor que ele é inocente, o
mundo segue como antes; mas quando, pelo contrário, uma ou outra coisa é o
juiz quem diz, o mundo muda, porque, entre outras coisas, o imputado, se era
livre, é capturado, ou vice-versa, se estava detido é posto em liberdade.9
Tomamos como ponto de partida a hipótese de que há um princípio de mescla
(quase) inevitável ocorrida no terreno do imaginário de quem exerce a função
jurisdicional. Ela atenta para uma – assustadora, na mesma medida em que natural
– confusão entre a esfera de atuação eminentemente jurídica e um catalisador típico
do exercício de um local de fala poderoso e, como tal, repleto de armadilhas. Uma
verdadeira possessão pelo exercício funcional não raro distorce a concepção que o
próprio julgador tem de seu papel, e mesmo a consciência (leve) quanto à distorção,
por vezes vai suplantada por uma acomodação conformada.10
A suposição acima lançada ganha contornos explosivos quando, ainda em sede de
hipótese, vai unida à aliança incorruptível representada pelo binômio saber-poder. Tal
como fora investigado por Foucault, o binômio e seus meandros discursivos em torno
da(s) verdade(s) possui um fecundo lastro de implicação no estudo jurídico, na medida em
que é molde no qual muito perfeitamente se encaixa a prática jurisdicional decisória.
Afinal, desde a capitulação fática típica operada em contornos rebuscados pela
atividade das polícias repressiva e judiciária, passando pelo corpo da denúncia (ou da
manifestação acusatória legada pelo ofendido), até o dispositivo decisório exarado
por Magistrado, o âmbito processual-penal do Estado lida com classificações. Isto é:
com definições que bailam entre a disposição fria da terminologia legal e os elementos
escolhidos para representar um dado caso, fazendo com que haja adequação entre
discurso-opção (enquadramento legal ou não) e conduta do acusado.
Não se pode ignorar solenemente a tese de que quando se trata de interpretação
textual (e de possível aferição para classificar uma conduta como incursa em ou, em
outro, ou em nenhum tipo legal) nunca há (pura) definição em primeira mão, mas
sempre redefinição dos caracteres.
9 CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre o Processo Penal. Volume 4. Trad. Francisco José Galvão Bruno.
Campinas: Bookseller, 2004, p.66.
10 “Na relação com a comunidade, o juiz representa, no inconsciente das pessoas, a figura do pai. Evidente
que o juiz, enquanto regra, aceita/assume esta figura. Ele é aquele que pune, repreende, autoriza o casamento,
determina a separação conjugal, distribui os bens. A comunidade, quando não consegue resolver seus problemas,
busca socorro na figura do pai/julgador. A relação ‘familiar’ é tão forte que há até controle da sexualidade do juiz
pela própria sociedade, além, é óbvio, de controles menores: na maneira de vestir, de se portar, em relação aos
seus amigos. É algo forte, presente, marcante”. CARVALHO, Amilton Bueno de. “O Juiz e a Jurisprudência: um
desabafo crítico”. In: Garantias Constitucionais e Processo Penal. BONATO, Gilson (Org.). Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002, p.9.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
299
A escolha de um ou outro viés classificatório, de uma ou outra ênfase, de um
grupo de características dadas ou outro, pode alterar toda a definição de um termo que
ao cabo daquele caso será decantada e, assim, implica em um leque de opções que, no
contexto jurídico-penal, escancara perigosamente as portas para uma espécie aberta
de conceito e para uma fuga frente à taxatividade equivocadamente presumida dos
termos legais.11
Não se pode olvidar da responsabilidade tremenda que repousa sobre o prolator
da decisão jurídico-penal, por, entre outras tantas coisas, o escândalo semântico
costumeiramente imperceptível onde por vezes penetra a falha não-identificável e
mais difícil de ser combatida: um argumento decisório que não é nem de mérito nem
da superfície dos conceitos postos à mesa, mas, sim, das profundezas da classificação
que implica nas (re)definições colocadas.
Nada mais pertinente, no momento, que a opinião de Taruffo, para quem
O verdadeiro problema, portanto, não é o de demonstrar ou negar que o juiz
vá além do direito. Que isso acontece é óbvio e, além do mais, o direito não
pode ser concebido como algo autônomo e destacado da realidade social
e da cultura em cujo seio o juiz atua. Na realidade, o verdadeiro problema
consiste em compreender o que acontece quando o raciocínio do juiz vai
além dos confins daquilo que convencionalmente se entende por direito e em
individualizar as garantias de racionalidade e razoabilidade, de confiabilidade, de
aceitabilidade e de controlabilidade dos numerosos aspectos da decisão judiciária
que verdadeiramente não são nem direta nem indiretamente controlados ou
determinados pelo direito.12
Afinal, se, nos dizeres de Foucault,
As práticas discursivas não são puramente modos de fabricação de discursos.
Ganham corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em esquemas de
comportamento, em tipos de transmissão e de difusão, em formas pedagógicas,
que ao mesmo tempo as impõem e as mantêm13
11 “Mas o caráter impreciso das expressões legais nem sempre é manifesto. Muitas vezes seus destinatários
não percebem as mudanças de sentido propostas pelo emissor. Deste modo, os defeitos endêmicos das palavras
da lei cumprem importante função retórica em relação às práticas tribunalícias. Constituem algumas linhas
argumentativas utilizadas pelos juízes para alterar os critérios decisórios predominantes, sob a aparência de
estarem aplicando conteúdos fixados pelo legislador (...) Generalizando, é possível afirmar ao se estabelecer que
A, e não B é característica definitória de um termo contido na norma, está-se alterando as consequências jurídicas
da mesma. Noutra perspectiva constata-se que nas definições jurídicas toda característica definitória é também
uma característica decisória, isto é, forma parte da decisão”. WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito I.
Interpretação da Lei. Temas para uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. pp.38-39.
12 TARUFFO, op. cit., p.8.
13 FOUCAULT, Michel. “A vontade de saber”. In: Resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982). Trad.
Andrea Daher. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p.12.
300
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
maior ainda o cuidado fiscalizador que temos de ter em relação ao discurso
exercido em meio à atividade jurisdicional decisória. A palavra do julgador não
precisa fazer esforço algum para se manter por si só, uma vez que o exercício da
jurisdicionalidade é conditio sine qua non constitucional no Estado de Direito sob a
égide do qual vivemos. E, se sua função precípua é justamente se impor (eis que age
substitutivamente sobre a vontade dos jurisdicionados), a inevitabilidade de seu poder
deve ser filtrada de forma razoável, justa, democrática, tributária da principiologia que
serve de pilar à vida social (sobretudo quanto ao respeito inegociável à dignidade da
pessoa humana) e, principalmente, ética.
4 Poder e responsabilidade
Há que se controlar o bom uso da espada que divide o mundo em antes e
depois, empunhada por esse julgador mitologicamente apreendido, que Carnelutti,
no entanto, tratou de demonstrar que é bem real. Como frisou o maestro italiano, a
opinião do julgador não só faz aderir como gera o direito e, assim, dá maior vazão
ao que FOUCAULT aqui também citado diria sobre a produção da realidade por uma
discursividade que jamais é meramente descritiva.
Seria alienado (e tolo), de modo alarmista, dizer que (toda) a violência que toma
cor em meio ao texto de uma decisão judicial é inteiramente produzida no ventre de
seu próprio discurso e que a mesma, quando vem à luz, nunca é reflexo da realidade já
posta. A decisão não pinta os fatos, integralmente, mas, sim, os colore. Os fatos postos à
pauta da decisão judicial (ou aqueles que longinquamente inspiraram os fatos postos...),
em regra, ocorreram, e são portadores de algumas peculiaridades que o discurso não
vai criar, simplesmente, nem vai vergar ou alterar.
Seria, porém, exageradamente otimista qualquer diagnóstico que não considere
digna de valor a propositura de que o discurso jurídico-penal manifestado na decisão
judicial, em alguns casos, implementa, suplementa e complementa a realidade dada, e
constitui sobre o sujeito-acusado uma nova realidade que vai operar posteriormente à
chancela do trânsito em julgado do decisum.
A sabedoria da corrente sociológica do interacionismo simbólico14 e os estudos
foucaultianos sobre constituição de uma própria essência do sujeito a partir dos
aparelhos e mecanismos de poder sobre ele atuantes, nascentes nas quais toda a vertente
crítica da Criminologia pós-Anos 60 bebeu, teve como principal mérito justamente esse:
o de demonstrar que a questão do Direito Penal (do Processo Penal, em última análise)
deve necessariamente levar em consideração a quota de realidade que é produzida em
meio ao discurso oficial e a ela deve exclusivamente ser creditada.
O discurso, principalmente o discurso jurisdicional-decisório, pois, é dispositivo
14 “Teóricos como Goffman estavam profundamente atentos ao modo como o ‘eu’ é apresentado em diferentes
situações sociais e como os conflitos entre estes diferentes papéis sociais são negociados. Em um nível mais
macrossociológico, Parsons estudou o ‘ajuste’ ou complementaridade entre o ‘eu’ e o sistema social”. HALL,
Stuart. A Identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de
Janeiro: DP&A, 2001, p.35.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
301
que possui eficácia nas relações de poder verificadas, e “em sua relação com a verdade,
modifica-a e a produz, podendo, ao mesmo tempo, ocultá-la”.15
O momento relacional em que se verifica o poder oriundo do discurso, e sua
atuação, tem o condão de, em determinados níveis e em determinados casos, constituir
um grau tão espesso de realidade que torna pouco importante a “realidade” primeira
dos fatos anterior ao seu agir. Exemplo mais típico, o poder discursivo que emerge com
a decisão judicial: dentro do universo que gravita na órbita do Estado Democrático de
Direito, a decisão judicial penal muda, de fato, a realidade jurídica do indivíduo, e com
ela, geralmente, de forma drástica, a situação de seus direitos, pouco importando, ao
final, se a nova realidade constituída tem legitimidade de ser, ou não (ao final da ciranda
processual, quantos culpados não se livram soltos e, mais grave, quantos inocentes não
amargam punição injusta nos nossos cárceres?).
Na verdade, os fatos objetivos, não são um reles mito bobo fruto de uma
imaginação inteiramente falsaria. Admitir isso como premissa é ser engolfado por
engodos metodológicos new age sem caráter nenhum de confiabilidade. Porém, o
pior dos cegos é o que não quer enxergar e de nada adianta trabalharmos única e
exclusivamente com elementos exclusivos de apreensão fática, como se eles fossem
(sempre) pétreos e como se a verdade fosse um mero dado à disposição.
Como já sabemos, há muito, a verdade real é epistemologicamente inapreensível
em sua totalidade e qualquer tentativa humana (re)cognitiva de qualquer coisa vem
sempre em golfadas mnemônicas batizadas com um (ou vários) quês de tempero
emotivo, imaginativo, afetivo e ideológico, ainda que imperceptível (que o diga Damásio
e seu famoso trabalho).16
Por isso, somos obrigados a aceitar, entre outras coisas, que a verdade (ou uma
verdade) nunca vai nos aparecer nua e integral. Devemos partir para o raciocínio e
a ponderação sobre os elementos que vão sempre atuar para delineá-la ou mesmo
distorcê-la completamente, em alguns casos patológicos. Assumimos, pois, que não
existe verdade (pelo menos não verdade com força de implemento) fora do podersaber-discurso que a constitui e lhe apara arestas. Não existe verdade enquanto valor
maior ou místico. A verdade é construída e não atingida. É (por vezes) imposta, e não
descoberta ou revelada. O discurso técnico-científico (jurídico, principalmente) – e seus
limites e possibilidades – é peça de altíssima tensão, na medida em que é, não raro, o
artesão modelador da própria (ou de alguma) verdade
15 TESHAINER, Marcus. Psicanálise e Biopolítica. Contribuição para a ética e a política em Michel Foucault.
Porto Alegre: Zouk, 2006, p.47.
16 “Os níveis mais baixos do edifício neurológico da razão são os mesmos que regulam o processamento das
emoções e dos sentimentos e ainda as funções do corpo necessárias para a sobrevivência do organismo. Por
sua vez, esses níveis mais baixos mantêm relações diretas e mútuas com praticamente todos os órgãos do corpo,
colocando-o assim diretamente na cadeia de operações que dá origem aos desempenhos de mais alto nível da
razão, da tomada de decisão e, por extensão, do comportamento social e da capacidade criadora. Todos esses
aspectos, emoção, sentimento, e regulação biológica, desempenham um papel na razão humana. As ordens
de nível inferior do nosso organismo fazem parte do mesmo circuito que assegura o nível superior da razão”.
DAMÁSIO, António R. O Erro de Descartes. Emoção, razão e o cérebro humano. Trad. Dora Vicente e Georgina
Segurado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.13.
302
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder
(não é – não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer a história
e as funções – a recompensa dos espíritos livres, o filho das longas solidões,
o privilégio daqueles que souberam se libertar). A verdade é deste mundo;
ela é produzida nele, graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos
regulamentados de poder. Cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua
‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz
funcionar como verdadeiros.17
Por isso, nossa preocupação no mister reside, basicamente, em exemplos de
manifestações judiciais (manifestações jurisdicionais decisórias, em todas instâncias)
que parecem não atentar para o índice de construção da realidade da discursividade
que uma manifestação como a decisão penal possui.
Nossa preocupação é, mais especificamente, com a, por vezes, irrestrita ausência
de maiores filtros éticos verificada em certos textos decisórios na seara criminal, onde
comumente se identifica um (ao nosso ver) preocupante fenômeno de transmutação do
julgador: de agente estribado no ofício constitucional de prover o Estado da chancela
jurisdicional e de ser garante da aplicação da Lei Maior em todas suas dimensões,18 passa
a ser o justiceiro,19 um vingativo imponderado, representante de anseios “midiáticos” e
pautado por uma agenda de suprir o gosto de sangue que o amedrontado corpo social
por vezes deixa à mostra.
Isso constitui tudo o que não se espera, em se tratando de um operador jurídico
estatal, supostamente empenhado em ser fiador de uma prestação jurisdicional que
sirva para gerir os conflitos sociais de forma racional e organizada, sistemática
e justa, na promoção irrefreável do bem comum (caracteres-padrão de um
conceito doutrinário de Jurisdição que, de fato, no Brasil, tem soado “como
pilhéria”).20
Nos dizeres de Lopes Jr., esse modelo falho de julgador acima descrito
representa para o due process, e para tudo o que esse princípio ostenta em termos
democráticos, um perigo tão assombroso quanto o das ditas atrocidades cometidas
pelos réus submetidos ao seu julgamento: esse Magistrado é aquele que incorpora o
discurso de fiscal sanitarista da sociedade, sem freios ou limitações, e, municiado
pela violência autorizada que seu lugar de fala ostenta, crê em si mesmo enquanto
17 FOUCAULT, Michel. “Verdade e Poder”. In: Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro:
Graal, 2004. 20.ed., p.12.
18 Sobre a função de defesa ostensiva dos preceitos constitucionais, exercida pelo Magistrado inclusive por um
juízo de controle difuso descriminalizador, manifestado na própria decisão, indispensável conferir CARVALHO,
Salo de. “A sentença criminal como instrumento de descriminalização (o comprometimento ético do operador
do direito na efetivação da Constituição)”. In: Revista da Ajuris. Ano XXXIII – n.102. Porto Alegre: AJURIS, jun.
2006, pp.327-348.
19 MORAIS DA ROSA, Alexandre. “O Processo (Penal) como Procedimento em Contraditório: Diálogo com Elio
Fazzalari”. In: Novos Estudos Jurídicos. V.11, n.2. Itajaí: Univali Editora, 2006, p.223.
20 DUCLERC, op. cit., p.193.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
303
uma espécie de salvador da pátria, solapando a necessidade de um devido processo
e todas as exigências a ele atinentes e acreditando piamente que à sua discursividade
não se pode opor barreiras.21
5 A efetivação da responsabilidade (propostas)
De nada servem ao Estado Democrático (Constitucional) de Direito decisões
em matéria penal que fujam ao tecnicismo necessário e à ponderação (proporcional)
recomendável e passem a tecer elucubrações fantásticas que demonstram que a visão
que o Magistrado, por vezes, tem, de si mesmo e de sua função, é absolutamente
perturbada (e perturbadora).
Desde decisões que tecem profundas considerações moralistas inteiramente
descabidas frente à questão posta, invertendo diametralmente o enfrentamento
necessário da questão, passando a “punir” a vítima de abuso sexual dado seu
“desavergonhamento”, como se a suposta promiscuidade fosse autorização tácita
para a pessoa sofrer quaisquer tipo de violência erótica sem poder reclamar (como no
memorável Acórdão do “bacanal”),22 passando por julgados que fixam e confirmam
estereótipos baixos (aceitando passivamente probabilidades – mesmo as altas – como
se fossem regras gerais vinculantes,23 e como se jamais pudesse haver dignidade em
“meios sociais pouco saudáveis”, configurando-se, a exceção à regra, tal uma surpresa
digna de figurar em um zoológico), vemos uma série de inobservâncias de alguns
cuidados no trato das palavras que consideramos importantes demais para passarem
sem o devido prestígio.
Sem falar nas típicas decisões judiciais que espelham e deixam emergir um
não só um apaixonado sentimento de vingança como um perigoso e desaconselhado
exercício de futurologia (a mescla perfeita), para não simplesmente condenar, como
21 “Esse juiz representa uma das maiores ameaças ao processo penal e à própria administração da justiça,
pois é presa fácil dos juízos apriorísticos de inverossimilitude das teses defensivas; é adepto da banalização das
prisões cautelares; da eficiência antigarantista do processo penal; dos poderes investigatórios/instrutórios do
juiz; do atropelo de direitos e garantias fundamentais (especialmente daquela ‘tal’ presunção de inocência); da
relativização das nulidades pro societate; é adorador do rótulo ‘crime hediondo’, pois a partir dele pode tomar as
mais duras decisões sem qualquer esforço discursivo (ou mesmo fundamentação) ; introjeta com facilidade os
discursos de ‘combate ao crime’; como (paleo)positivista, acredita no dogma da completude do sistema jurídico, não
sentindo o menor constrangimento em dizer que algo ‘é injusto, mas é a lei, e, como tal, não lhe cabe questionar’;
sente-se à vontade no manejo dos conceitos vagos, imprecisos e indeterminados (do estilo ‘prisão para garantia
da ordem pública’, ‘homem médio’, ‘crimes de perigo abstrato’, etc.), pois lhe permitem ampla manipulação, etc.”.
LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade Constitucional). Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 81-82.
22 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Acórdão em Apelação Criminal, N° 25220-2/213
(200400100163). Relator Des. Paulo Teles. Goiânia, 29 de Junho de 2004.
23 “(...) A presunção de violência, como é aceita hoje, não é tida como absoluta, pois cede diante de prova de
que a vítima, no caso concreto, e não em considerações genéricas, levava vida dissoluta, desregrada, era ela
corrompida e afeita aos prazeres do sexo, ou seja, já experiente. Mas não é esta a realidade dos autos. Nada
foi provado neste sentido em desfavor da menor Diane. É bem verdade que, o conjunto probante revela que a
menina Diane estava inserida num meio social pouco saudável para fins de formação de sua personalidade, já
que sua mãe, Leila, trabalhava como prostituta em casa noturna (...)”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul. Acórdão em Apelação Criminal, N° 70009840273. Relatora Desa. Lúcia de Fátima Cerveira.
Porto Alegre, 29 nov. 2006.
304
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
também divagar sobre possíveis sequelas irreparáveis que por ventura marcarão a fogo
a esfera sentimental da vítima.24
Quando um Magistrado afirma categoricamente que é “certo” que o crime
provocará traumatismo eterno e incurável à alma da vítima e que o acusado é um
“monstro”, deveria ter a exata noção de que, mais do que artifício retórico condoreiro,
seu discurso adorna a realidade, quando não chega às raias de produzir realidade.
No momento em que decide um caso penal, um Magistrado responde ao réu
jurisdicionalizado, à vítima do crime e a todo corpo social, de certa forma, e é para
isso (e não por outro motivo) que a Publicidade dos atos jurisdicionais vai erigida
enquanto norma constitucional basilar (Constituição Federal, Artigo 93, IX). A
decisão judicial é uma resposta: não qualquer resposta, mas a resposta oficial e
necessariamente qualificada que o Estado fornece ao caso jurisdicionalizado pelo
processo, optando por uma solução (jurídica) em detrimento de outras possíveis na
gestão do conflito posto.25
Assim, tendo-se o discurso tipicamente enquanto auxiliar na produção da
realidade, não se pode excluir uma certa parcela de responsabilidade do julgador se
a profecia se confirmar: ao se reportar à sociedade (e aos envolvidos, em especial), o
discurso oficial, para ficar com o exemplo já ilustrado, termina, em certa escala, por
estabelecer que a vítima deverá ficar traumatizada de forma jamais superável e que o
condenado é uma espécie de demônio contemporâneo e assim deve ser visto por todos,
sumamente por si mesmo, quando se confrontar com o espelho.
Goffman já nos ensinou que a subjetividade do sujeito se constitui, em grande
parte, somando ao que ele genuinamente é, ou pensa ser, aquilo que a esfera de
relação social com os outros o faz crer que é e/ou o estimula a ser.26 Nenhum outro, no
contexto presente, é mais poderoso na impostura de subjetividades do que o Estado
enquanto decisor criminal, pela figura do Magistrado. Falando mais uma vez em
termos criminológicos, sabemos, assim, que há um enorme contingente de pessoas cuja
origem criminosa já se perdeu entre o ser (ou ter sido) criminoso, efetivamente, e o
ser etiquetado como tal pelo sistema.27 É por essa razão que um dos pilares da função
jurisdicional-constitucional deve ser o trato ético na condução da própria jurisdição.
Estamos cientes de que a lógica jurídica não pode abarcar um tamanho grau de
variáveis a ponto de se desestruturar enquanto meio organizado de controle e mecanismo
binário escolhido para a gestão dos conflitos penais. Algo sempre ficará para trás, e a
24 “...Certo é que o evento monstruoso, brutal e desumano reservará, indefinidamente, péssimas, incômodas
e traumáticas lembranças àquela então menor de 14 anos...”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Acórdão em Apelação Criminal, N° 1.0024.01.604182-4/001(1) Relator Des. Armando Freire. Belo
Horizonte, 31 e mar. 2005.
25 “Neste quadro, a decisão é um procedimento cujo momento culminante é um ato de resposta. Com ela, podemos
pretender uma satisfação imediata para o conflito, no sentido de que propostas incompatíveis são acomodadas ou
superadas”. FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 1980, 2.ed., p.89.
26 GOFFMAN. Erving. A representação do Eu na Vida Cotidiana. Trad. Maria Célia Santos Raposo. Petrópolis:
Vozes, 1999, 8.ed., especialmente p. 230 e seguintes.
27 ZAFFARONI, Em busca das penas perdidas..., pp.123-147.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
305
opção por tutelar os conflitos exclusivamente com base em um número específico de
regramentos e ditames procedimentais-legais (a organização jurídica cogente típica)
jamais se vai deixar penetrar, em nossa opinião, por uma avalanche filosófica de
possibilidades de escuta, eis que a própria existência da ordem jurídica prevê que, em
um dado momento, uma versão mais verdadeira prevaleça e a partir dela, e tão somente,
se pensem os efeitos e consequências aceitáveis dentro do sistema. A inteligibilidade do
sistema jurisdicional é outra e não há lugar dentro dela, por hora, para uma apreensão
ética integral das dimensões da alteridade.28
Isso, contudo, não significa que não seja imperativa nossa necessidade de
trabalhar (ou tentar trabalhar) a ética nos limites esgarçados de sua possibilidade de
implementação dentro do processo e de considerar que a tarefa da decisão judicial
(máxime na esfera penal) precisa ser encarada como um momento de relação humana
que implica em um ato de responsabilidade radical da pessoa do julgador para com
o a pessoa do julgado.29
Assim, os requisitos de uma decisão penal precisam ser imantados por essa
consciência: uma decisão justa, não excessivamente benevolente, nem despudoradamente
draconiana, começa pelo tratamento devido a ser dado aos a ela submetidos: pessoas.
Pessoas humanas. No afã de não precisar de rédeas na manifestação vingativa, a
condição de pessoa parece sempre ser a primeira a cair, e o acusado vai (re)classificado e
(re)etiquetado como qualquer outra coisa, diversa da categoria dos homens normalmente
assentidos como tais.30
A jurisprudência de nossas Cortes Superiores já vem há muito registrando um
número elogiável de decisões que pugnam pela nulidade processual reconhecida no
simples excesso de linguagem, em certos momentos de manifestação do Julgador
(sentença de pronúncia, por exemplo) onde a verborragia se mostra descabida:
evidenciadas as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF – HC 68606/DF, Min.
Celso de Mello; HC 72113/RJ, Min. Francisco Rezek e HC 79489/PE, Min. Nelson
Jobim, bem como recentes entendimentos do STJ no mister – HC 78104/RJ, Min.
Arnaldo Esteves Lima; HC 49187/RJ, Min. Laurita Vaz.
Temos, do mesmo modo, disponíveis no repertório do ordenamento, mecanismos
legais específicos para coibir a “inversão tumultuária” de atos processuais, proveniente
28 “O pré-requisito para qualquer ética verdadeira – não credora da chancela ontológica-neutralizante para
existir e que não necessita, assim, hipotecar suas consequências mais radicais – constitui-se, dessa forma,
no estabelecimento prévio de uma base ética de inteligibilidade da realidade, como já sugerido. A ética como
filosofia primeira significa: todo o contato com a realidade, toda interpretação desta realidade e todas as possíveis
interpretações desta realidade se dão eticamente, onde o contato e a ação éticos substituem o conhecimento
classificador tradicional e podem vir a fundamentar um conhecimento sobre bases absolutamente novas, com
outro sentido”. TIMM DE SOUZA, Ricardo. Totalidade & Desagregação. Sobre as fronteiras do pensamento e
suas alternativas. Porto Alegre: Edipucrs, 1996, pp.123-124.
29 TIMM DE SOUZA, Ricardo. Uma introdução à ética contemporânea. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2004,
p.103.
30 FIGUEIREDO, Débora de Carvalho. “Vítimas e vilãs, ‘monstros’ e ‘desesperados’. Como o discurso judicial
representa os participantes de um crime de estupro”. In: Linguagem em (Dis)curso. V.3, n.1. Tubarão: Unisul,
2002, p.146.
306
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
de “erros ou abusos” praticados pelo julgador,31 bem como um extenso rol de
proibições32 e restrições33 ao exercício do ofício jurisdicional, para tentar afastar a
possibilidade de um julgamento maculado pela parcialidade.
Nada mais justo que se pense de forma idêntica, para a questão do discurso
proferido na motivação sentencial, e assim seja vedado (ou processualmente punível,
com a nulificação) qualquer resquício identificável de argumentação excessiva,
manifestamente a-técnica que sirva para exercer a jurisdição de modo desumano e
não-ético.
Não custa lembrar que preceito fundamental do ordenamento pátrio (Constituição
Federal, Artigo 5°, inc. XLVII, alínea ‘e’) impõe à nossa prática jurisdicional a inexistência
de penas cruéis. Em um Estado Democrático de Direito deveria ser pauta constante a
vedação de uma decisão processual penal se constituir, além de um meio de infligir penas
legalmente cominadas, em um palco para humilhações, considerações particulares por
parte do Magistrado ou mesmo alvo de descarregos psicológicos ofensivos manifestados
pelo linguajar. Certamente a pena cruel de aplicação proibida pela Lei Maior se constrói
(pelo menos em nossa visão) desde uma decisão oficial que promove ofensas injuriosas
ao jurisdicionado, representando uma inacreditável baixeza do Estado ao nível do bate
boca privado, algo que a própria existência de jurisdição trata de solapar.
Sem falar que a ofensa, no caso, vem com a grife e a definitividade da chancela
judiciária. Confortável local de fala, o do Magistrado ausente de possibilidade de
responsabilização: pode injuriar e difamar ao seu bel prazer por vias transversas (ou,
por vezes, diretas), extrapolando toda e qualquer competência legitimada para regular,
judicialmente, os conflitos penais que lhe são postos.
Propõe-se, para, quem sabe, o novo Código de Processo Penal brasileiro vindouro
(a substituir o arcaico e potencialmente inquisitório aparato da década de 40 que hoje
exerce a função), o tornar passível de anulação a decisão que angariar adjetivação
impertinente e destoante do texto dos tipos legalmente previstos aplicados à espécie,
como presunção de parcialidade não-processual. Ou mesmo que haja a inclusão de uma
hipótese de vedação ao uso desmedido do linguajar ao longo do texto decisional e seus
adjacentes (sobre os elementos da decisão condenatória). Ou mesmo, ainda, talvez,
a categorização do caso como hipótese configuradora da Suspeição, tornando o fato
como fértil para o ensejo do pleito do afastamento do Magistrado para o proferir da
decisão válida para a demanda.34
31 Veja-se a medida de Correição Parcial, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, regulada pelos dispositivos do
Art. 195 e parágrafos, do Código de Organização Judiciária do Estado, Lei n° 7.356 de 1° de Fevereiro de 1980.
32 As hipóteses em que o Magistrado incorre em Impedimento processual para operar no julgamento do caso são
coroadas constitucionalmente pelos incisos do parágrafo único do Art. 95 da Carta Magna, sendo que já vinham
perfeitamente delineadas pelo texto do nosso Código de Processo Civil, nos incisos do Art. 134 e no Código de
Processo Penal, nos incisos do Art. 252.
33 Definidas, igualmente, pelo Código de Processo Civil (incisos do Art. 135), com similar menção nos Arts. 254 a
256 do Código de Processo Penal – estabelecida, para o Processo Penal em seu respectivo diploma, a possibilidade
de configurar motivo para arguição de Suspeição pela via processual da Oposição de Exceção – Art. 96 a 107.
34 Ansiosos, também esperamos uma atuação rigorosa das Corregedorias e sua tão necessária atividade de
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
307
Não vemos qualquer dificuldade em lançar mão de ideia como a apresentada,
mesmo cientes das imensas dificuldades práticas e da acalorada discussão processual
e tribunalícia que se iniciaria a partir dela, e mesmo da disparidade jurisprudencial
que poderia estar fundada. Melhor alguma forma positivada de controle (ainda que
de taxatividade admitidamente não-solidificada), do que uma derrocada na esfera dos
argumentos, onde sempre há quem diga (e pense) que o Direito é, exclusivamente, o
que está na lei, e que o Magistrado só faz adequá-la à realidade.
6 Considerações finais
Aos que necessitam de doses contumazes de pragmatismo, necessário o lembrete
de que, em termos de manifestação jurisdicional penal, conceituar o réu nos moldes
de um “inimigo” serve apenas para trazer à baila a indesejável ideia bélica similar
às doutrinas espúrias de “Segurança Nacional” vigorantes em tempos ditatoriais,
definitivamente incondizentes com a atual situação (ao menos em tese) democrática
do nosso país e, consequentemente, do nosso Processo Penal.35
Muito mais por essa figura tão emblemática e essencial como a do Magistrado,
o uso prudente da palavra deve estar sempre atrelado ao cuidado quanto ao manejo
desmedido de sua capacidade imanente de modificar o mundo e amplificar simbologias.
Tarefa nada simples. Constante impulso energético que por nem todos consegue ser
devidamente contido. Reação trivial: o dar de ombros e a esquiva quanto à obrigação
de impor uma (mínima) contenção a esse impulso.
A negação de toda a dificuldade que reina sobre o Magistrado e sua nobilíssima
função no momento de mover sua espada (aquela, que re-desenha a vida) e a imensa
responsabilidade incutida nesse ato, é a própria fuga do peso de uma necessidade de (mínimo)
controle passional, de uma apuração ética rigorosa e de um olhar calculado (como convém a
um bom julgador). É o que faz da decisão penal desvairada um terreno fértil para a assunção
onírica de que não se está simplesmente julgando, mas expurgando bestas-feras, exorcizando
diabos perdidos no mundo, eliminando impurezas e combatendo monstros.36
fiscalização nesse sentido: recomendações e advertências constantes deveriam fazer parte da rotina do julgador
que afasta de lado a técnica e a culta ponderação nos seus julgados exarados para se entregar ao desvario da
cólera e do abandono antiético no texto da decisão, humilhando, simplesmente, os desafortunados submetidos
ao seu julgamento, inclusive como forma de promoção pessoal e cessão indevida aos anseios de “clamores
populares” que nada devem interferir no exercício jurisdicional (Cientes estamos, no entanto, de que, nem esse,
nem qualquer outro aspecto, deva nem possa se configurar em escopo para que a atividade do Corregedor se
transforme em uma verdadeira autorização inquisitória para perseguir e coibir sem limites, munida da mesma
impertinência ora combatida).
35 BIZZOTTO, Alexandre. “O Mal-Estar do juiz criminal e a ética da alteridade”. In: Revista da Ajuris. Ano XXXIV,
n.108. Porto Alegre: AJURIS, dez. 2007, p.15. Sobre o tema – Direito Penal do Inimigo – e as implicações filosóficas
e (bio)políticas de sua base epistemológica, indispensável Cf.: PINTO NETO, Moysés da Fontoura. “A Farmácia
dos Direitos Humanos: algumas observações sobre a prisão de Guantánamo”. In: Panóptica. Ed. 13/2008 (Revista
Eletrônica: http://www.panoptica.org – acesso em jan. 2009).
36 “É muito fácil etiquetar: bandido, monstro, ladrão, estelionatário, vagabundo. Tais não passam de adjetivos de
impacto. Essas pessoas não são mais do que eu. O outro sou eu. O encarcerado se traduz na negação de meu
lado humano destrutivo”. BIZZOTTO, op. cit., p.17.
308
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Fica, por tudo, a lição fundamental de Nietzsche: “Quem combate monstruosidades
deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar longamente para um
abismo, o abismo também olha para dentro de você”.37
Todo o cuidado é pouco.
REFERÊNCIAS
BIZZOTTO, Alexandre. “O Mal-Estar do juiz criminal e a ética da alteridade”. In: Revista
da Ajuris. Ano XXXIV, n.108. Porto Alegre: AJURIS, dez. 2007.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Acórdão em Apelação Criminal,
N° 1.0024.01.604182-4/001(1) Relator Des. Armando Freire. Belo Horizonte, 31 e mar.
2005.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Acórdão em Apelação Criminal, N°
25220-2/213 (200400100163). Relator Des. Paulo Teles. Goiânia, 29 jun. 2004.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão em Apelação
Criminal, N° 70009840273. Relatora Desa. Lúcia de Fátima Cerveira. Porto Alegre, 29
nov. 2006.
CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre o Processo Penal. Volume 4. Trad. Francisco
José Galvão Bruno. Campinas: Bookseller, 2004.
CARVALHO, Amilton Bueno de. “O Juiz e a Jurisprudência: um desabafo crítico”. In:
Garantias Constitucionais e Processo Penal. BONATO, Gilson (Org.). Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2002.
CARVALHO, Salo de. “A sentença criminal como instrumento de descriminalização
(o comprometimento ético do operador do direito na efetivação da Constituição)”. In:
Revista da Ajuris. Ano XXXIII – n.102. Porto Alegre: AJURIS, jun. 2006.
CORDERO, Franco. Procedura Penale. Milano: Giufré, 2000, 5.ed.
DAMÁSIO, António R. O Erro de Descartes. Emoção, razão e o cérebro humano. Trad.
Dora Vicente e Georgina Segurado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
DIVAN, Gabriel Antinolfi. Decisão Judicial nos Crimes Sexuais. O julgador e o réu
interior. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
DUCLERC, Elmir. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 1980.
FIGUEIREDO, Débora de Carvalho. “Vítimas e vilãs, ‘monstros’ e ‘desesperados’. Como
o discurso judicial representa os participantes de um crime de estupro”. In: Linguagem
em (Dis)curso. Vol 3, n.1. Tubarão: Unisul, 2002.
FOUCAULT, Michel. “A vontade de saber”. In: Resumo dos Cursos do Collège de France
(1970-1982). Trad. Andrea Daher. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
______. “Verdade e Poder”. In: Microfísica do Poder. 20.ed. Trad. Roberto Machado.
Rio de Janeiro: Graal, 2004.
GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços. 9.ed. Trad. Eric Nepumoceno. Porto Alegre:
L&PM Editores, 2002.
37
NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p.70.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
309
GOFFMAN. Erving. A representação do Eu na vida cotidiana. 8.ed. Trad. Maria Célia
Santos Raposo. Petrópolis: Vozes, 1999.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva
e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da
Instrumentalidade Constitucional). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
MORAIS DA ROSA, Alexandre. “O Processo (Penal) como Procedimento em
Contraditório: Diálogo com Elio Fazzalari”. In: Novos Estudos Jurídicos. V.11, n.2.
Itajaí: Univali, 2006.
NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal. São Paulo: Companhia das Letras,
2005.
PINTO NETO, Moysés da Fontoura. “A Farmácia dos Direitos Humanos: algumas
observações sobre a prisão de Guantánamo”. In: Panóptica. Ed. 13/2008 (Revista
Eletrônica: http://www.panoptica.org – acesso em jan. 2009).
TARUFFO, Michele. Senso comum, experiência e ciência no raciocínio do juiz. Trad.
Cândido Rangel Dinamarco. Curitiba: IBEJ, 2001.
TESHAINER, Marcus. Psicanálise e Biopolítica. Contribuição para a ética e a política
em Michel Foucault. Porto Alegre: Zouk, 2006.
TIMM DE SOUZA, Ricardo. Totalidade & Desagregação. Sobre as fronteiras do
pensamento e suas alternativas. Porto Alegre: Edipucrs, 1996.
______. Uma introdução à ética contemporânea. São Leopoldo: Nova Harmonia,
2004.
WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito I. Interpretação da Lei. Temas para
uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994.
______. Introdução Geral ao Direito II. A epistemologia jurídica da Modernidade. Porto
Alegre: Sérgio Fabris, 1995/Reimpressão 2002.
ZAFFARONI, Eugenio Raul. Criminología. Aproximación desde un margen. Bogotá:
Editorial Temis, 2003. Tercera reimpressión.
______. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Trad.
Vania Romano Pedrosa e Amir Lopes da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991.
310
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
O ensino do Direito Penal: da legitimação da
violência à luta pela vida
Marília Denardin Budó
Resumo
Diante da deslegitimação teórica e fática do sistema penal, o objetivo do texto é o de abordar
o descompasso dessa constatação com o ensino do Direito Penal no Brasil. Para tanto, a primeira
parte buscará apresentar o marco teórico do qual se parte, o da Criminologia crítica, especificamente
no que tange aos argumentos que levam à deslegitimação do sistema penal. No segundo ponto,
é traçada brevemente a história do ensino jurídico no Brasil, salientando-se as suas principais
características, em especial o papel das universidades, segundo a forma de ensino atual, como
fábricas ideológicas, que não questionam o real exercício de poder e violência dos sistemas penais,
auxiliando em sua (re)legitimação. O artigo é encerrado com a constatação de que se na América
Latina os sistemas penais são marcados pela morte, tratar o Direito Penal de uma maneira crítica
significa de certa forma evitá-la, poupando vidas.
Palavras-chave: Ensino. Direito Penal. Sistema penal. Criminologia crítica. Violência.
Teaching criminal law: From legitimation of violence to life defense
Abstract
Considering the factual and theoretical non-legitimation of the criminal system, this paper
aims to approach the unsteadiness of this evidence with the criminal law teaching in Brazil. Thus,
firstly this work will present the theoretical background from where it descends, the Critical
Criminology, specifically related to the arguments which lead to the relegitimation of the criminal
system. Secondly, the history of the legal teaching in Brazil is outlined briefly, emphasizing its
main characteristics, specially the role of the universities regarding the current teaching methods
like ideological factories, which do not question the real exercise of power and violence of the
criminal systems, supporting its (re)legitimation. This paper concludes by discussing the evidence
that if in Latin America the criminal systems are determined by death, approaching the criminal
law critically means in a certain way avoiding it, saving lives.
Keywords: Teaching. Criminal law. Criminal system. Critical criminology. Violence.
1 Introdução
Discutir o ensino do Direito no Brasil significa trazer à tona as funções que ele
cumpre. Sabe-se que historicamente a formação de juristas se deu de maneira a constituir
uma elite encarregada de construir a ordem nacional.
Marília Denardin Budó é Mestre em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Bacharel em Direito
e em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Especialista em Pensamento Político
Brasileiro pela UFSM. Professora do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), em Santa Maria-RS.
E-mail: [email protected]
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.311-330
jul./dez. 2009
Para trazer tal discussão ao campo do Direito Penal é necessário perceber que a
função do seu ensino da maneira como é realizada na maior parte das faculdades de
direito é a de legitimar um sistema penal já deslegitimado teórica e empiricamente. Ou
seja, manter o exercício de poder do sistema a despeito de seu excesso de violência e
déficit de proteção ao ser humano.1
O objetivo do texto é o de abordar a questão do ensino do Direito Penal no Brasil.
Para tanto, a primeira parte buscará apresentar o marco teórico do qual se parte, o
da criminologia crítica, especificamente no que tange aos argumentos que levam à
deslegitimação do sistema penal. No segundo ponto, será traçada brevemente a história
do ensino jurídico no Brasil, salientando-se as suas principais características. O terceiro
ponto tratará do papel das universidades, segundo a forma de ensino atual como fábricas
ideológicas, que levam à legitimação do sistema penal. O texto é finalizado com a
relação entre o ensino jurídico crítico e a preservação da vida.
2 A deslegitimação do sistema penal
e o papel relegitimador das universidades
O Direito Penal liberal tem como origem o surgimento do Estado Moderno. Os
primeiros pensadores desse marco tinham suas ideias arraigadas ao contratualismo,
formando a Escola Clássica. Enquanto a unidade metodológica desses teóricos
implicava a utilização do método racional-dedutivo, em voga na época, a sua unidade
ideológica tratou principalmente do problema dos limites do poder de punir do Estado
em contraponto à liberdade dos indivíduos.2 Isso porque a tradição pré-moderna trazia
um sistema inquisitório de processo, onde as mais simples garantias de defesa do acusado
eram inexistentes, o que tornava a acusação completamente obscura ao indivíduo, e
atentava contra a certeza do Direito e a segurança jurídica.3
Em função de mudanças nos contextos político, econômico e social, o século
XIX já trouxe teorias sobre o crime bastante diversas. Foi o auge da Escola Positiva,
cujo paradigma de ciência já não era mais o racionalismo e sim o evolucionismo, sendo
o método característico do período, o empírico-experimental. Ao invés de justificar
a liberdade do indivíduo a partir de uma ordem natural universal, e então limitar o
poder de punir do Estado, a Escola Positiva deslocou o foco de atenção para o homem
criminoso, buscando nele as causas do crime. Assim, de limite ao poder de punir do
Estado, o indivíduo criminoso, visto como um “anormal”, biológica, antropológica e
sociologicamente determinado a cometer crimes, passa a ser o objeto de intervenção
do Estado na busca pelo seu tratamento e reinserção no polo “normal” da sociedade.4
1 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência do
controle penal. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
2 ibid. p.47.
3 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
4 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Ed. Revan/ICC,
2002.
312
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Tendo esses pressupostos sido relegados com o surgimento e consolidação da
Escola Técnico-Jurídica, a criminologia passou a ser tratada como ciência auxiliar,
sendo a dogmática penal erigida a ciência do direito por excelência. A dogmática
jurídico-penal foi o paradigma científico que emergiu na modernidade com uma
função essencialmente prática de racionalizar a aplicação judicial do Direito Penal.5
Criminologia e dogmática, ao mesmo tempo em que mantiveram a sua autonomia em
relação à metodologia, formaram uma unidade funcional na luta contra o crime.6
Assim, as funções racionalizadora e garantidora da dogmática penal, declaradas no
meio jurídico, se viabilizariam através da previsibilidade e uniformização das decisões
judiciais, além de uma aplicação igualitária do Direito Penal, garantindo segurança
jurídica.7 A dogmática jurídica, em sua autoimagem seria uma
[...] ciência do dever-ser que tem por objeto o Direito Penal positivo vigente em
dado tempo e espaço e por tarefa metódica (técnico-jurídica, lógico-abstrata) a
“construção” de um “sistema” de conceitos elaborados a partir da “interpretação”
do material normativo, [...] tendo por finalidade ser útil à vida, isto é, à aplicação
do Direito.8
Apesar de, em grande parte, os postulados da Escola Positiva terem sido deixados
de lado com o surgimento da Escola tecnicista, a qual buscava a exclusão de todo e
qualquer elemento jusnaturalista, biológico, sociológico, ou psicológico do Direito
Penal, pode-se dizer que Escola Clássica e Escola Positiva acabaram complementandose nas legislações do século XX. A dogmática penal, nesse sentido, veio a assumir um
caráter bifronte: ao mesmo em que traz em si a ideologia liberal de proteção ao indivíduo,
traz a ideologia da defesa social, que tem no indivíduo o objeto do tratamento para
reinserção na sociedade. Essa ideologia é identificada por Baratta, como presente no
senso comum jurídico, mas também do lado de fora da academia, relacionando alguns
princípios que a constituem.9
Muito embora o Direito Penal tenha se fechado no estudo das normas penais,
dentro de uma perspectiva de dominação da dogmática, vista como ciência do direito por
excelência, a sociologia seguiu os estudos relativos ao crime e à sociedade na Europa e
nos Estados Unidos. Assim, as novas teorias sociológicas relacionadas ao crime vieram
possibilitar a crítica à ideologia penal dominante, expondo a deslegitimação do sistema
penal, com a consequência de se buscar alternativas político-criminais.
5 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. op. cit.
6 ANDRADE, Vera Regina Pereira de Andrade. op. cit. p.99.
7 Ibid. p.27.
8 Ibid. p.117
9 A ideologia da defesa social é especificada por Baratta, como sendo a ideologia que une tanto Escola Clássica
como Escola Positiva, sendo constituída por alguns princípios: princípio da legitimidade, princípio do bem e do
mal, princípio do interesse social e do delito natural, princípio da igualdade, princípio da culpabilidade, princípio
da finalidade ou da prevenção. BARATTA, Alessandro. op. cit. p.42.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
313
Destaca-se, dentre estes estudos sociológicos, a teoria do etiquetamento, ou
labelling approach, uma vez que faz a ruptura epistemológica em criminologia, ao
retirar o foco das causas do crime no criminoso para visualizá-lo no fenômeno da
criminalização. A teoria do etiquetamento chega à percepção do desvio como sendo uma
construção social, a partir de interações ocorridas na sociedade, fazendo com que em
alguns momentos se definam situações e pessoas como desviantes. Essa teoria também
é conhecida por criminologia da reação social, por identificar na reação da sociedade
ao desvio um fundamental elemento para que o comportamento seja assim rotulado.
Considerado o fundador da teoria do etiquetamento, Becker é a maior referência
no estudo da reação social e dos efeitos da estigmatização do etiquetamento na
formação do status social de desviante. Central nessa teoria é a ideia de que “(...) os
grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui o desvio, e
por aplicar ditas regras a certas pessoas em particular e qualificá-las como outsiders”.10
Dessa maneira, o processo de criminalização se inicia com a definição do que é a
conduta desviada, através do processo legislativo. Mas anteriormente a isso ocorre o
processo de definição, no senso comum, do que é o comportamento “normal”, sendo
que “a normalidade é representada por um comportamento predeterminado pelas
próprias estruturas, segundo certos modelos de comportamento, e correspondente
ao papel e à posição de quem atua”.11 Ao atribuir a etiqueta de desviante a algumas
pessoas, em função do descumprimento a tais normas, realiza-se a criminalização
secundária. “O desviante é uma pessoa a quem se pode aplicar com êxito aquela
etiqueta; o comportamento desviante é o comportamento assim etiquetado pelas
pessoas”.12
A importância da reação social na definição de um fato como criminoso é
demonstrada por Lemert através do quociente de tolerância, através do qual é possível
manipular o desvio e a reação social através de uma fração matemática, medida com
uma quantidade de condutas desaprovadas em uma localidade no numerador e no
denominador o grau de tolerância para o comportamento em questão.13 Assim, se
em duas cidades diferentes, mas de tamanho comparável, uma tem um alto índice de
ocorrência de determinado comportamento desviante, e outra tem um baixo índice,
caso na primeira a tolerância seja maior e na segunda menor, ou seja, na segunda
haja maior reação social, o resultado será o mesmo. Isso demonstra que, para que um
comportamento seja desviante ou criminoso, não basta que esteja assim definido em
lei, mas que haja uma reação social frente à sua prática.
É também consequência dessa teoria a percepção de que, dentro de um quadro
geral de delitos ocorridos diariamente, apenas a alguns a sociedade e o sistema penal
reagem, demonstrando a existência de uma seletividade. Essa seletividade é encontrada
10 BECKER, Howard. Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York: The Free Press, 1996. p.9.
Tradução livre. Grifos no original.
11 BARATTA, Alessandro. op. cit. p.95.
12 BECKER, Howard. op. cit. p.9. Tradução livre.
13 LEMERT, Edwin M. Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior. New York:
McGraw-Hill Book Company, 1951. p.57.
314
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
tanto na definição do ato desviante, quanto na atribuição do rótulo de desviante a
alguém.
A seletividade deve ser percebida também a partir da existência de muitos fatos
definidos como crimes que ocorrem diariamente, mas de que sequer se tem notícia, ao
que autores posteriores denominaram “cifra negra da criminalidade”. A consequência
dessa percepção é de que, como nota Zaffaroni, se o sistema penal processasse e punisse
todos os fatos tipificados como crimes, toda a população já teria sido criminalizada
várias vezes
Diante da absurda suposição – não desejada por ninguém – de criminalizar
reiteradamente toda a população, torna-se óbvio que o sistema penal está
estruturalmente montado para que a legalidade processual não opere e, sim,
para que exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva dirigida,
naturalmente, aos setores vulneráveis.14
Essa questão traz à tona a operacionalização dos estereótipos, tanto de autores
como de vítimas, que estão ligados ao senso comum, criados através da interação social.
São eles “sistemas de representações que orientam a vida quotidiana”,15 e se constituem
em mecanismos de seleção na medida em que permitem a definição da desconformidade
como desvio, sendo ligada a um certo número de sinais exteriores
a cor da pele, a origem étnica, o corte de cabelo ou de barba, o estilo do vestuário,
os locais frequentados e as horas de frequência; bem como a toda uma série de
atitudes simbólicas ‘próprias’ de um delinquente, de um louco, de um drogado
ou de um ébrio, de um homossexual, de uma prostituta.16
Tendo em vista que os estereótipos constituem um mecanismo de seleção,
explica-se porque os mesmos tipos se encontrem na prisão. “O estereótipo alimentase das características gerais dos setores majoritários mais despossuídos e, embora a
seleção seja preparada desde cedo na vida do sujeito, é ela mais ou menos arbitrária”.17
Isso demonstra que os estereótipos se constituem não somente em um mecanismo de
seleção, mas de reprodução, tendo em vista que possuem “um efeito de feedback sobre
14 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal. Rio
de Janeiro: Revan, 1991. p.125. Em consequência disso, passa-se a perceber que as estatísticas criminais não
dizem respeito à criminalidade, e sim à criminalização, tendo em vista que elas são feitas com base apenas nos
casos que são registrados. “O que as estatísticas refletem são as contingências organizativas que condicionam a
aplicação de determinadas leis a determinada conduta por meio da interpretação, decisões e atuações do pessoal
encarregado de aplicar a lei”. KITSUSE; CICOUREL apud CID MOLINÉ, José; LARRAURI PIJOAN, Elena. Teorías
criminológicas. Explicación y prevención de la delincuencia. Barcelona: Bosch, 2001. p.210.
15 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O homem delinquente e a sociedade
criminógena. Coimbra: Coimbra, 1997. p.389.
16 ibid.
17 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p.134.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
315
a realidade, racionalizando e potenciando as ‘razões’ que geram os estereótipos e as
diferenças e oportunidades que eles exprimem”.18
Em função da insuficiente relação da operacionalidade dos sistemas penais na
construção social da criminalidade com a estrutura econômica, social e política, a
Criminologia crítica surge, na década de setenta para somar aos resultados da teoria do
etiquetamento uma abordagem marxista, gerando uma teoria materialista do desvio.
Dos resultados das pesquisas em Criminologia crítica destaca-se a demonstração
de que o princípio da seletividade, identificado pela teoria do etiquetamento, está
orientado conforme a desigualdade social, sendo que as classes inferiores são as
efetivamente perseguidas. Assim, “[...] o sistema punitivo se apresenta como um
subsistema funcional da produção material e ideológica (legitimação) do sistema social
global, isto é, das relações de poder e de propriedade existentes”.19
A relação entre prisão e capitalismo, gerada pela crítica historiográfica também
auxiliaram, no que concerne ao chamado “impulso desestruturador”20, na deslegitimação
teórica dos sistemas penais. Os primeiros teóricos a adentrarem nesse tema foram
Rusche e Kirchheimer, ao buscarem compreender a modificação dos sistemas penais
ao longo da história. Concluem que “a transformação em sistemas penais não pode ser
explicada somente pelas mudanças das demandas das lutas contra o crime, embora esta
luta faça parte do jogo. Todo sistema de produção tende a descobrir formas punitivas
que correspondem às suas relações de produção”. 21
Também através da leitura de Foucault se permite observar que, ao contrário da
ideia difundida de que a prisão não cumpre com seus objetivos declarados, ela cumpre
com objetivos reais
Não há então natureza criminosa, mas jogos de força que, segundo a classe a
que pertencem os indivíduos, os conduzirão ao poder ou à prisão: pobres, os
magistrados de hoje sem dúvida povoariam os campos de trabalhos forçados;
e os forçados, se fossem bem nascidos, tomariam assento nos tribunais e aí
distribuiriam justiça.22
18 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. op. cit. p.389.
19 BARATTA, Alessandro. Principios del derecho penal mínimo. In: ELBERT, Carlos Alberto; BELLOQUI, Laura
(orgs.). Criminología y sistema penal: Compilación in memorian. p.299-333. Buenos Aires: Julio César Faira,
2004. p.301.
20 COHEN, Stanley. Visiones del control social: Delitos, castigos y clasificaciones. Barcelona: PPU, 1988.
21 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Revan/ ICC,
2004. p.20. Para exemplificar, os autores referem que: “É evidente que a escravidão como forma de punição é
impossível sem uma economia escravista, que a prisão com trabalho forçado é impossível sem a manufatura
ou a indústria, que fianças para todas as classes da sociedade são impossíveis sem uma economia monetária.
De outro lado, o desaparecimento de um dado sistema de produção faz com que a pena correspondente fique
inaplicável”. Ibid. p.20-21.
22 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: História da violência nas prisões. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 1984. p.254.
316
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
A delinquência seria, segundo o autor, fabricada para propiciar a vigilância da
sociedade, e, ao mesmo tempo, possibilitar a imunidade das ilegalidades dos grupos
dominantes. Nisso residiria o sucesso real da prisão, a despeito de seu fracasso declarado,
ao produzir uma “ilegalidade fechada, separada e útil”.23 A prisão contribui, assim, no
sentido de que “desenha, isola e sublinha uma forma de ilegalidade que permite deixar
na sombra as que se quer ou se deve tolerar. Essa é a delinquência propriamente dita
(...); ela é antes um efeito da penalidade (e da penalidade de detenção) que permite
diferenciar, arrumar e controlar as ilegalidades”.24
A tese da seletividade é, portanto, essencial para a compreensão da tática de
neutralização dos pobres contida nas ideologias que buscam inflar a repressão penal
através da propagação do medo. A criminalização secundária, ou seja, aquela que decorre
da atuação das agências executivas e judiciária do sistema penal (polícia, justiça), é ainda
mais seletiva. Mesmo quando previstos na lei crimes típicos das classes dominantes,
dificilmente pessoas que dela fazem parte são criminalizadas
A imunidade dos crimes mais graves é cada vez mais elevada à medida em
que cresce a violência estrutural e a prepotência das minorias privilegiadas que
pretendem satisfazer as suas necessidades em detrimento das necessidades dos
demais e reprimir com violência física as exigências de progresso e justiça, assim
como as pessoas, os grupos sociais e movimentos que são seus intérpretes.25
A constatação da seletividade do sistema penal traz diversas consequências. A
principal delas é o descrédito para com o princípio de igualdade perante a lei. Conforme
conclui Andrade, ao invés de assegurar a igualdade e a generalização no exercício
da função punitiva, a dogmática penal trouxe para o sistema penal a reprodução da
seletividade e da desigualdade percebida na sociedade.26
Isto leva à conclusão de que a definição de alguém como criminoso depende menos
da prática de um ato tipificado na lei penal do que de seu status social. A ideia de que o
sistema penal deveria significar segurança jurídica, tanto no sentido de que o indivíduo
deve ser protegido do poder de punir do Estado, como em relação ao atributo do Estado
moderno de monopólio da coerção física, de forma a evitar a luta de todos contra todos,
fica completamente distorcida diante dessa realidade. Isso porque, ao realizar tal seleção
entre as pessoas criminalizáveis, mostra-se um excesso de arbítrio, afora o fato de que
as garantias penais são diariamente violadas pelas agências do sistema penal.
23 Ibid. p.244.
24 Ibid. p.243-244.
25 BARATTA, Alessandro. Direitos Humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos de
Ciências Penais. Porto Alegre, vol. 6, n. 2, p.44-61, abril/maio/junho. p.52.
26 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. op. cit. p.311.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
317
Entretanto, quando se percebe que o sistema penal não cumpre com as suas funções
prometidas, questiona-se então qual seria a sua função atual. Ocorre que, na atualidade,
o sistema penal cumpre uma função simbólica. O objetivo do uso simbólico do Direito
Penal seria produzir uma dupla legitimação, segundo Santos
a) legitimação do poder político, facilmente conversível em votos – o que explica,
por exemplo, o açodado apoio de partidos populares a legislações repressivas
no Brasil; b) legitimação do direito penal, cada vez mais um programa desigual
e seletivo de controle social das periferias urbanas e da força de trabalho
marginalizada do mercado, com as vantagens da redução ou, mesmo, da exclusão
das garantias constitucionais como a liberdade, a igualdade, a presunção de
inocência etc. cuja supressão ameaça converter o Estado Democrático de direito
em Estado policial.27
A constatação teórica de que o sistema penal age de forma a reprimir seletivamente
parcelas da população, é somada à constatação empírica, proposta por Zaffaroni, da
deslegitimação do sistema penal. Após discorrer sobre as várias teorias, de autores
europeus e norte americanos, o autor conclui que na região latino americana as
consequências dessa deslegitimação são muito mais dramáticas. Afora o fato de que a
história do continente tem como principais características o genocídio e o etnocídio,
decorrentes das duas revoluções tecnológicas ocorridas na Europa, o período atual marca
a passagem para a revolução tecnocientífica, no contexto da globalização neoliberal que
tem consequências imprevisíveis.28 Todo o sistema penal latino americano é marcado
pela morte. Desde as comuns execuções sumárias,29 por agentes da lei ou por grupos de
extermínio, até a situação dramática das prisões, o problema do aumento da repressão
penal não é o da neutralização de parcelas cada vez maiores da população, em especial
da mais fraca, mas sim, a do extermínio, do genocídio. Ao contrário dos Estados Unidos
ou mesmo da Europa que têm uma economia que permite a utilização das prisões como
fonte de economia terciária, a economia dos países latino americanos não comportam
tal situação. Assim, os excluídos do mundo do trabalho e vítimas do desmantelamento
do Estado sobram, e, por isso, entram para o rol dos executáveis.
Assim, para o autor, a deslegitimação do sistema penal se dá, antes de tudo,
pelos próprios fatos, sendo o principal deles, a morte. Buscando manter o sistema
penal legitimado, apesar de sua evidente deslegitimação, atuam diversas instituições.
Dentre elas, as instituições de ensino do Direito. As universidades são chamadas por
Zaffaroni de “fábricas ideológicas”, na medida em que mantêm o discurso dogmático,
asséptico em relação à vida real e à sociedade, buscando não ver o que ocorre por trás
dos códigos empoeirados.
27 SANTOS, Juarez Cirino dos. Política criminal: realidades e ilusões do discurso penal. Discursos Sediciosos:
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 7, n.12, p.53-57, julho-dezembro 2002. p.56.
28 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit.
29 A respeito do tema, cf LIMA JR., Jayme Benvenuto (org.). Execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais.
Uma aproximação da realidade brasileira. Recife, 2001.
318
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
O dogmatismo30 e o conservadorismo são características apontadas de forma
unânime pelos autores que escrevem sobre o ensino do Direito. Diante disso, buscarse-á destacar algumas características do ensino jurídico no Brasil antes de expor
possibilidades ao mesmo, como forma de confrontar o individualismo exacerbado com
o papel social do jurista de forma a evitar a morte.
3 O ensino jurídico no Brasil:
dogmatismo e conservadorismo
Apesar de a primeira matriz teórica a partir da qual se desenvolveram os primeiros
cursos de Direito no Brasil ter sido jusnaturalista, logo no final do século XIX passou
a imperar o paradigma positivista. Essa perspectiva se caracteriza, no direito, pela
escolha da lei, do ordenamento jurídico positivo como objeto, e uma ruptura com o
senso comum, tanto no sentido de ruptura com o direito consuetudinário, quanto com
a eliminação dos juízes leigos e sua substituição por juízes letrados.31
Assim, o gênero literário correspondente a essa fase do ensino jurídico é o manual,
ou compêndio, tendo ao seu lado os comentários de leis.32
O ensino do direito no Brasil absorveu o caráter conservador da Universidade
de Coimbra, que durante o período imperial nomeava os seus diretores e
determinava o seu currículo e método didático, com suas aulas-conferência,
ensino dogmático acrítico, mentalidade ortodoxa do corpo docente e discente, a
serviço da manutenção da ordem estabelecida e transplantada da ex-metrópole,
oportunizando aos profissionais por ele formados o prestígio local.33
As origens do ensino do Direito no Brasil dizem muito sobre o seu contexto atual.
Como forma de possibilitar a formação de uma burocracia do novo Estado nacional, que
teve sua independência proclamada em 1822, e sua primeira Constituição outorgada em
1824, foram criados os primeiros cursos de Direito no Brasil, em São Paulo e Olinda,
em 1827.34 Burocracia é a palavra que resume o papel desses bacharéis, devendo
construir a nova ordem nacional sem modificar o estado das coisas. “Os bacharéis
serão o tipo-ideal do burocrata nascido em sociedade escravista e clientelista: subindo
30 “Dogmatismo quer dizer, pois, uma atitude de acatamento e submetimento do jurista ao estabelecido como
Direito Positivo que, independentemente do seu conteúdo material (mutável), desempenha sempre a função de
dogma”. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Dogmática jurídica: Escorço de sua configuração e identidade. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p.74.
31 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: Lições introdutórias. São Paulo: Max Limonad, 2000.
p.223-224.
32 Ibid. p.225.
33 COLAÇO, Thais Luzia. O ensino do direito no Brasil e a elite nacional. Congresso de História das Universidades
da Europa e da América. Cartagena, Colômbia, nov. 2004.
34 Sobre os debates que antecederam a criação desses cursos, inclusive no que concerne à formação curricular
dos mesmos, cf. BASTOS, Aurélio Wander. O ensino jurídico no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
319
na carreira por indicação, por favor, por aliança política com os donos do poder local,
provincial ou nacional”.35
Durante o período imperial, é a educação superior que distingue a elite política
brasileira. Na época, “havia um verdadeiro abismo entre essa elite e o grosso da
população em termos educacionais”.36 Os cursos de Direito criados após a Independência
foram dedicados explicitamente, segundo Carvalho, à formação da elite política
brasileira.37 Segundo o autor, a unidade ideológica da elite política imperial, de formação
jurídica, possibilitou a construção da ordem nacional.38
A metodologia do ensino jurídico no Brasil era reflexo da adoção de um
paradigma, o positivista, que tinha como pressuposto o destaque à figura do
legislador e a inquestionabilidade das normas criadas, em tese, segundo a vontade
geral.39
No final do século XIX o excesso de bacharéis “gerou o fenômeno repetidas vezes
mencionado na época da busca desesperada do emprego público por esses letrados sem
ocupação, o que iria reforçar também o caráter clientelístico da burocracia imperial”.40
A proclamação da República não trouxe grandes modificações à estrutura social e
institucional brasileira. A separação entre Igreja e Estado talvez seja a mudança mais
aparente, inclusive no currículo dos Cursos de Direito.
Com a República, o curso começou realmente a destinar-se à formação de
bacharéis-advogados, mas continuava com sua marca indelével: um curso
que forma advogados, mas também destinado a formar a elite institucional e
política brasileira, e a nossa elite do pensamento humanístico. Estes foram, por
conseguinte, os compromissos do Curso de Direito, formar advogados e formar
a elite administrativa brasileira, dentro do pensamento humanístico.41
A partir de 1930, com a modernização e início do processo de industrialização, o
campo de trabalho dos bacharéis assume novas características, além de se ampliar para
outras áreas onde ainda não havia profissionais especializados, como administradores,
35 LOPES, José Reinaldo de Lima. op. cit. p.226.
36 CARVALHO, José Murilo de Carvalho. A construção da ordem: A elite política imperial. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003. p.79.
37 Uma abordagem aprofundada sobre a elite política imperial cf. CARVALHO, José Murilo de. op. cit. p.74.
Sobre o papel dos bacharéis cf. também ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: O bacharelismo na política
brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
38 “O Brasil dispunha, ao tornar-se independente, de uma elite ideologicamente homogênea devido a sua formação
jurídica em Portugal, a seu treinamento no funcionalismo público e ao isolamento ideológico em relação a doutrinas
revolucionárias. Essa elite se reproduziu em condições muito semelhantes após a Independência, ao concentrar a
formação de seus futuros membros em duas escolas de direito, ao fazê-los passar ela magistratura, ao circulá-los
por vários cargos políticos e por várias províncias”. CARVALHO, José Murilo de Carvalho. op. cit. p.39.
39 LOPES, José Reinaldo de Lima. op. cit. p.227.
40 CARVALHO, José Murilo de Carvalho. op. cit. p.87.
41 BASTOS, Aurélio Wander. O ensino jurídico no Brasil e as suas personalidades históricas – uma recuperação
de seu passado para reconhecer seu futuro. In: Ensino jurídico OAB: 170 anos de cursos jurídicos no Brasil. p.3555. Brasília: OAB, Conselho Federal, 1997. p.37.
320
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
economistas, etc.42 Nessa década proliferam-se as faculdades de direito, aumentando o
acesso à classe média.43 Segundo Arruda Jr., a partir de 1950 passa-se a falar em uma
crise da formação jurídica, já que os campos de trabalho criados aos bacharéis após 1930
passaram a ser tomados pelos novos profissionais especializados. Restaram, assim, aos
bacharéis, cargos burocráticos menores no Estado ou em empresas privadas.
Quanto ao ensino do Direito, propriamente, houve algumas mudanças, tendo
ocorrido reformas curriculares em 1962, 1972, 1994 e, atualmente, em 2004.44 Apesar
de as diretrizes curriculares em vigor serem flexíveis e expressarem a preocupação com
a formação dos estudantes de direito também nas relações com outras áreas das ciências
humanas, além da relação com a prática, efetivamente não traz mudanças estruturais
no perfil do formando em direito. “O ensino dogmático ainda é a base da educação
jurídica, entendida como atividade que pretende estudar o direito positivo vigente sem
construir sobre o mesmo qualquer juízo de valor, a partir de uma aceitação acrítica que
tenta explicar a coerência do ordenamento”.45
Apesar de já superadas no ramo da pedagogia, as pedagogias diretivas46 são as
mais comumente utilizadas nas salas de aula das faculdades de Direito. Perceber o aluno
como tabula rasa é o único pressuposto do qual pode partir um professor que passa os
períodos de aula expondo o que está na lei e tecendo seus comentários, sem o estímulo
à participação dos alunos, bem como à crítica do atual estado das coisas. É também a
chamada “educação bancária”, aquela onde “o educador aparece como seu indiscutível
agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educandos dos
conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação”.47
O perfil de egresso que se deseja deve estar estritamente relacionado à forma
como os professores tratarão os alunos anteriormente em sala de aula. O mais comum
de se ver são conformistas, conservadores, exegetas, donos da verdade, buscando seu
sucesso profissional individual. Isso é reflexo da adoção de uma pedagogia que parte
desses pressupostos. “Os cursos de Direito continuam a formar agentes do sistema,
reprodutores da ideologia da classe dominante, profissionais conservadores e ortodoxos,
distantes da realidade da vida, sem nenhum compromisso social”.48
42 ARRUDA JR., Edmundo Lima de. Bacharéis em Direito e crise de Mercado de Trabalho: Algumas Reflexões.
Sequência: Estudos jurídicos e políticos, Florianópolis, n. 6, dez. 1981. p.29-40.
43 COLAÇO, Thais Luzia. op. cit. sp.
44 Para uma análise das modificações curriculares dessas reformas, cf. COLAÇO, Thais Luzia. op. cit.
45 Ibid. sp.
46 O diretivismo, segundo Becker, parte do pressuposto epistemológico empirista, ou seja, que o aluno nasce uma
tabula rasa a ser preenchida a partir da transferência do conhecimento do professor para o aluno. “O professor
acredita no mito da transferência de do conhecimento:o que ele sabe, não importa o nível de abstração ou de
formalização, pode ser transferido ou transmitido para o aluno. Tudo o que o aluno tem a fazer é submeter-se à
fala do professor; ficar em silêncio, prestar atenção, ficar quieto e repetir tantas vezes quantas forem necessárias,
escrevendo, lendo, etc, até aderir em sua mente, o que o professor deu”. BECKER, Fernando. Modelos pedagógicos
e modelos epistemológicos. Educação e realidade, Porto Alegre, UFRGS, v. 19, n. 1, jan./jun. 1993. p.90.
47 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 43 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p.65.
48 COLAÇO, Thais Luzia. op. cit. sp.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
321
Ocorre que buscar a formação de bacharéis com outro perfil exige aulas diferentes.
E isso não significa a mera adoção de técnicas de aula diferentes, para substituir a aulaconferência, mas pressupõe uma epistemologia diferente e, além disso, um conteúdo
abordado de maneira diversa.
O ensino das disciplinas jurídicas no Brasil está, basicamente, dominado por duas
tendências: de um lado o ensino excessivamente dogmático, desvinculado das
outras dimensões do conhecimento que fazem referência ao homem e à sociedade,
do outro, o ensino teórico do Direito, que está cada vez mais desvinculado da
realidade social.49
O Direito Penal se insere nesse contexto como uma disciplina extremamente
dogmática. Em geral, as aulas de Direito Penal se resumem à leitura e explicação dos
artigos do Código Penal, frequentemente com a adoção de um manual por parte do
professor. Diante disso, é comum verificar a utilização de exemplos com os famosos
Caio, Tício e Mévio, em que nenhum tipo de crítica é realizado. Assim, “[a] leitura e o
ensino dos códigos, de modo acrítico e reflexivo, completamente desvinculada de suas
condicionantes sociais e econômicas, acaba mesmo por reproduzir, no plano jurídico,
uma certa lógica de controle e dominação social [...]”.50
Situando os problemas atuais do ensino jurídico no Brasil, Bastos menciona a
existência de uma crise da didática. Isso porque “[c]om as salas de aula superlotadas,
o professor sucumbe e se sobrepõe à transmissão do saber comparado à leitura dos
códigos, muitas vezes desvinculados dos problemas da vida e do cotidiano”.51
Quando se estuda um tipo penal apenas como está exposto na lei, sem qualquer
menção à política criminal que baseou a sua introdução no ordenamento, bem como aos
possíveis fatos sociais que geraram a demanda pela tipificação, ou pela determinação
da pena, dificilmente se compreende a função que o próprio Direito Penal e, de forma
mais ampla, o sistema penal cumpre na sociedade.
Ocorre que o Direito Penal não dialogou com as diversas teorias que
ancoraram a revolução de paradigma trazida em outros campos do saber, como
na sociologia. O surgimento da teoria do etiquetamento e da criminologia crítica,
por exemplo, se deram à margem do Direito Penal. Então, ao mesmo tempo em
que existem estudos demonstrando a deslegitimação do sistema penal e o papel
legitimador do extermínio contido no ensino da dogmática penal dentro de suas
funções declaradas, o ensino se mantém da mesma maneira. Da mesma forma, os
currículos não permitem uma visão crítica do Direito Penal, posto que a disciplina
de criminologia está contida em poucos deles como disciplina obrigatória e,
49 BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico: tópicos para estudo e análise. Sequência: Estudos jurídicos e
políticos, Florianópolis, v. 4, dez. 1981, p.59-72. p.61.
50 MACHADO, Antônio Alberto. Ensino jurídico e mudança social. Franca: UNESP/FHDSS, 2005. p.146.
51 BASTOS, Aurélio Wander. O ensino jurídico no Brasil... op. cit. p.362.
322
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
quando está prevista, frequentemente apresenta um programa ligado ao paradigma
etiológico, em especial o positivista.52
Outras disciplinas que permitiriam essas críticas e um outro olhar sobre o Direito
Penal, como a sociologia jurídica, a filosofia jurídica, a história do direito e mesmo
a ciência política, são pouco valorizadas por alunos e professores.53 Assim, de forma
recorrente se vê a passagem por essas disciplinas como um fardo que os alunos são
obrigados a carregar por um ou dois semestres de curso e do qual, assim que se libertam,
dificilmente conseguem reconhecer a utilidade, bem como fazer as ligações com as
demais disciplinas do curso. Nesse sentido, há ainda o problema de que “[...] a inclusão
de disciplinas propedêuticas nos currículos frequentemente induz, por sua manipulação
equivocada, a reedição de uma injustificável dicotomia entre teoria e prática”.54
É nesse sentido que deve ser salientada a inutilidade da simples modificação da
estrutura curricular dos cursos de direito quando os professores e alunos mantêm a mesma
visão compartimentada. Além disso, uma disciplina não é, por si própria, crítica e portadora
de um germe de transformação pronto a ser desenvolvido ao simples contato.
Assim, deve-se convir que
O Direito ‘admite várias abordagens e o erro está em imaginar que o discurso,
feito sobre uma delas, abrange o fenômeno em sua totalidade. (...) Assim, de
nada serve acrescentar o estudo da Sociologia Jurídica, da Antropologia Jurídica
ou da Economia ao currículo, se as disciplinas ‘dogmáticas’ permanecem
dogmáticas.55
A mesma observação deve ser feita em relação à modificação das técnicas de
ensino, passando-se da aula apenas expositiva à aula dialogada ou através de seminários,
que de nada adianta se o conteúdo continua sendo orientado de forma dogmática. Dessa
maneira, os conteúdos também devem ser trabalhados de maneira crítica. Ocorre também
que os alunos em geral estão preocupados em seguir uma carreira jurídica em função
dos ganhos e da estabilidade que proporcionam, sem qualquer menção ao sentido social
que possa ter a sua atuação
52 Escrevendo no final da década de setenta, sendo, porém, uma realidade atual, Del Olmo observa que, na
América Latina, a docência da criminologia em geral é ministrada por professores formados em direito, mas em
alguns casos médicos também a lecionam. Quanto ao conteúdo, aduz que “[...] na grande maioria são cursos de
criminologia clínica que continuam difundindo hoje o objeto da criminologia como ‘tratamento dos delinquentes’
e, portanto, sua atenção está dirigida ao indivíduo delinquente”. DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua
criminologia. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2004. p.275. É interessante de notar ainda a observação da autora a
respeito das obras utilizadas no ensino da criminologia, na sua maioria com a utilização de manuais estrangeiros
com perfil biologicista. Ibid. p.279-280.
53 Sobre os desafios do ensino interdisciplinar, cf. ALVES, Elizete Lanzoni. A docência e a interdisciplinariedade:
um desafio pedagógico. In: COLAÇO, Thais Luzia. (Org.) Aprendendo a ensinar direito o Direito. Florianópolis:
OAB/SC, 2006. p.118-144.
54 VENTURA, Deisy. Ensinar direito. Barueri: Manole, 2004. p.10.
55 LYRA FILHO, Roberto apud RODRIGUES, Horácio Wanderley. O ensino jurídico de graduação no Brasil
contemporâneo: Análise e perspectivas a partir da proposta alternativa de Roberto Lyra Filho. 193 f. Dissertação
(Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1987. p.117.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
323
Se o ensino jurídico está pautado pelo paradigma epistemológico normativopositivista e a prática pedagógica vazada no método lógico-formal, ambos
proporcionando ao jurista um conhecimento meramente descritivo da ordem
jurídica e uma desumanizada aplicação tecno-burocrática do direito, tais atitudes
teóricas só poderiam resultar mesmo numa completa despolitização do saber
jurídico e no esvaziamento do seu sentido ético.56
No que tange ao Direito Penal, despolitizá-lo e desprovê-lo do conteúdo ético
significa ocultar o fato de que o sistema penal é uma forma de exercício de poder
extremamente violenta, e deslegitimada, que se mantém principalmente pela reprodução
por parte de seus operadores.
As universidades têm, portanto, um papel fundamental na reprodução e legitimação
do sistema penal. Nesse sentido, de forma a diminuir a violência e a dor causadas por
um sistema penal que tem como sua operacionalidade real o genocídio em marcha,
estaria implicada uma mudança na formação de seus operadores. O sistema penal é,
como observa Zaffaroni, uma máquina de violação de direitos humanos que não atinge
apenas a sua clientela, os criminalizados, mas também os seus operadores.57 Por isso,
há a necessidade de uma resposta marginal a esta realidade.58
Nesse raciocínio, Zaffaroni nota que as várias pessoas implicadas no sistema
penal passam por treinamentos que levam à sua deterioração. Além da criminalização,59
da prisionização60 e da policização,61 destaca-se a burocratização como o processo de
56 MACHADO, Antônio Alberto. op. cit. p.144-145.
57 Para isso, demonstra a sua operacionalidade real, o genocídio em ato, o seu poder configurador, a importância
dos aparelhos de propaganda como fábricas da realidade, as fábricas ideológicas, que seriam as universidades, a
criminalização a partir da seletividade em função da estigmatização, as cadeias como máquinas de deteriorar, as
agências executivas como máquinas de policiar, as agências judiciais como máquinas de burocratizar, concluindo
com a deterioração e antagonismos como produtos da operacionalidade dos sistemas penais, e a destruição dos
vínculos comunitários.
58 Com a designação “marginal” para a região latino americana, Zaffaroni quer significar a) “nossa localização
na periferia do poder planetário, em cujo vértice encontram-se os chamados “países centrais”; b) demonstrar
“a necessidade de se adotar a perspectiva de nossos fatos de poder na relação de dependência com o poder
central, sem pretender identificar esses fatos com os processos originários desse poder”; c) assinalar “a grande
maioria da população latino-americana, marginalizada do poder, mas objeto da violência do sistema penal”.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p.164-165. E o faz no sentido de que “nada pode ser compreendido sobre
nossa região marginal se não a assumirmos e, por conseguinte, se não assumirmos nossa marginalização da
história etnocentrista da civilização industrial”. ibid. p.169.
59 O processo de criminalização se orienta pelo condicionamento, a estigmatização e a morte, segundo Zaffaroni.
“Nossos sistemas penais reproduzem sua clientela por um processo de seleção e condicionamento criminalizante
que se orienta por estereótipos proporcionados pelos meios de comunicação de massa”. Ibid. p.133. Assim, não se
pode falar em criminoso, e sim, em criminalizado para designar aquele que foi selecionado pelo sistema penal.
60 A prisionização seria um fenômeno resultante da deterioração ocorrida no indivíduo em função de sua inserção
na instituição total chamada prisão. Sua principal característica é a regressão, o preso é privado de tudo o que um
adulto pode fazer normalmente. Também a perda da privacidade, da autoestima, do seu espaço, além de outras
características como a “superpopulação. alimentação paupérrima, falta de higiene e assistência sanitária, etc.”.
Ibid. p.125-126. Nesse sentido, a prisão é uma máquina de deterioração, ao provocar o desenrolar do processo
de prisionização.
61 “O pessoal policizado, além de ser selecionado na mesma faixa etária masculina dos criminalizados, de
acordo também com um estereótipo – é introduzido em uma prática corrupta, em razão do poder incontrolado a
agência da qual passa a fazer parte e é treinado em um discurso externo moralizante e com uma prática interna
corrupta”. Ibid. p.138. Grifos no original.
324
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
deterioração pelo qual passam os futuros operadores das agências judiciais do sistema
penal. A burocratização como forma de deterioração da pessoa que opera no órgão
judicial do sistema penal se inicia, por vezes, dentro da própria universidade. Seu
processo de treinamento “realiza-se mediante uma paciente internalização de sinais
de falso poder: solenidades, tratamentos monárquicos, placas especiais ou automóveis
com insígnias, saudações militarizadas do pessoal de tropa de outras agências,
etc”.62 Esses sinais de poder iniciam na própria forma como se relacionam alunos e
professores. De uma maneira geral, “pode-se dizer que, em muitos casos, a postura do
docente da área jurídica é um poço de narcisismo, egocentrismo e autossuficiência.
Essa situação gera uma relação autoritária e vertical – um verdadeiro monólogo – que
logo é assimilada também pelo corpo discente”.63 Tal postura pode ser identificada nos
diversos operadores jurídicos, o que parece lógico, tendo em vista que todos passaram
pela mesma formação.
Após o processo de treinamento burocratizante, o indivíduo já deve responder
às exigências do papel que lhe for atribuído, segundo as características de “assepsia
ideológica, certa neutralidade valorativa, sobriedade em tudo, suficiência e segurança de
resposta e, em geral, um certo modelo de ‘executivo sênior’ com discurso moralizante
e paternalista ou uma imagem de que, na devida idade, responderá a este modelo”.64
O processo de formação do jurista torna-se, em verdade, uma deformação.
Conclui-se, assim, que perante os diversos sujeitos implicados na operacionalidade
do sistema penal, é ele “um complexo aparelho de deterioração regressiva humana
que condiciona falsas identidades e papéis negativos”.65 Ao reproduzir os papéis, a
academia se torna também uma agência do sistema penal, e, da mesma forma, pratica
reiteradamente a violação de direitos humanos daqueles que por ela passam.
4 O papel do ensino crítico do Direito Penal
e o imperativo ético de evitar a morte
As alternativas ao ensino do Direito Penal dogmático passam pela compreensão
de que o próprio sistema penal que o discurso dogmático legitima já não pode ser
considerado de acordo com suas promessas. Sabe-se que o mesmo exerce função
oposta à declarada, posto que, ao invés de garantia ao indivíduo e racionalização das
penas, legitima a arbitrariedade seletiva inerente à operacionalidade do sistema penal.
Dessa maneira, ensinar um Direito Penal crítico, ciente das funções reais cumpridas,
torna-se uma forma de diminuição da violência, seja em relação aos operadores, que
sofrem uma deterioração de sua personalidade, seja das mortes que caracterizam a sua
operacionalidade.
Nesse sentido, Batista traz, em uma das obras que buscam propor um estudo do
62 Ibid. p.133.
63 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e direito alternativo. São Paulo: Acadêmica, 1993. p.79.
64 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. p.141.
65 Ibid. p.143.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
325
Direito Penal de maneira crítica, a percepção de que, apesar de o Direito Penal ter como
missão a proteção dos bens jurídicos, é necessário que se saiba que,
numa sociedade dividida em classes, o direito penal estará protegendo relações
sociais (ou “interesses”, ou “estados sociais”, ou “valores”) escolhidos pela classe
dominante, ainda que aparentem certa universalidade, e contribuindo para a reprodução
dessas relações. Efeitos sociais não declarados da pena também configuram, nessas
sociedades, uma espécie de “missão secreta” do direito penal. 66
A crítica aos paradigmas atuais deve ser conciliada à reconstrução de novas formas
de se fazer o direito, de maneira que se possa avançar. Cumpre verificar, de acordo
com a evolução dos direitos humanos no mundo, que a vida em geral, e a dignidade
da pessoa humana em especial, são os maiores valores, e devem ser preservadas dos
efeitos destrutivos do sistema penal. Tal visão está juridicamente ancorada ainda na
Constituição Federal de 1988, a qual expõe como um dos fundamentos da República
a dignidade da pessoa humana (art. 1°, III), além de prever vários direitos e garantias
individuais para preservá-la.67 Além disso, prevê direitos sociais, econômicos e culturais
para sua efetivação.
Através dessa percepção, ao invés de auxiliar a reprodução do positivismo, do
formalismo e do conservadorismo, como tem ocorrido desde a sua fundação no Brasil,
o ensino jurídico deve buscar a construção de uma sociedade mais justa e democrática,
mais fraterna e solidária
Sua função deve ser formar agentes sociais críticos, competentes e comprometidos
com as mudanças emergentes, com o novo. Profissionais do Direito que possuam
uma qualificação técnica de alto nível acompanhada de uma consciência de seu
papel social, da importância estratégica que possuem todas as atividades jurídicas
no mundo contemporâneo e, portanto, da responsabilidade que lhes compete
nessa caminhada. Em resumo: que os cursos jurídicos sejam instrumentos de
construção da verdadeira cidadania.68
A resposta a ser dada por parte dos operadores do direito às consequências do
exercício do Direito Penal deslegitimado está fundamentada também, para Zaffaroni,
66 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 1990. p.116. É necessário observar
que existem já manuais de direito penal no Brasil que possibilitam uma perspectiva mais crítica sobre a dogmática.
Alguns exemplos são: SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Curitiba: Lúmen Júris, 2006;
ZAFFARONI; Eugenio Raúl ; BATISTA, Nilo ; et. al. Direito penal brasileiro. v. I. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003;
ZAFFARONI; Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 6 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006.
67 BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Constituição Federal,
Código Penal, Código de Processo Penal. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
68 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e direito alternativo... op. cit. p.109.
326
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
em um imperativo ético. Tal imperativo ético se constituiria no fato de que a posição
daqueles que hoje operam as agências o sistema penal seria um milagre, no sentido
etimológico do termo, uma maravilha resultante de o indivíduo ter passado por todos
os riscos que prendem a muitos no caminho, podendo chegar, enfim, a um elevado
grau de saber, com as consequências que isso gera. Pondo a nu “o desprezo pela vida
humana praticado no exercício de poder no qual o juiz ou catedrático erige-se como
operador, cria um imperativo de consciência iniludível, um compromisso com todos
aqueles que não puderam ser beneficiados pelo milagre”.69
Assim, a resposta marginal deve se dar com perspectivas otimistas em relação
às possibilidades de redução da violência, com a priorização da pessoa como base, e
o desvalor da destruição da vida humana.70 “Esta fundamentação encontra, hoje, uma
“reafirmação positivada nos instrumentos internacionais dos direitos humanos, como
anseio da comunidade internacional”.71
A partir disso, parece ser necessário se colocar em colaboração criminologia crítica
e Direito Penal, que também será crítico, de forma a vincular ao discurso jurídico penal
o ideal de proteção dos direitos humanos. Como nota Aniyar de Castro, “o ‘garantismo’,
ou respeito, vigilância e garantia dos direitos humanos, se converteria assim na zona de
intersecção de ambos os círculos, e no objetivo de alto nível na escala de prioridades
de ambas as disciplinas”.72
Dessa forma, o papel da universidade seria justamente o de criação de um discurso
jurídico-penal aberto e garantidor. “Em primeiro lugar, é necessário introduzir um
discurso diferente e não violento nas fábricas reprodutoras da ideologia do sistema
penal, ou seja, nas universidades e centros de terceiro grau”.73
Sabendo-se que o direito em geral e o Direito Penal, de maneira específica, dentro
de uma perspectiva sociológica conflitual, são mecanismos de opressão, no sentido
de que são impostos pelos grupos dominantes e destinados a manter os opressores e
oprimidos nos mesmos lugares em que se encontram, um Direito Penal crítico deve
justamente pôr no centro da reflexão a própria lógica de dominação e de opressão. Caso
contrário, os novos profissionais do direito serão mais braços opressores e não haverá
a diminuição a violência.
Assim, a libertação deve ser o objetivo daqueles que lutam por um Direito
Penal crítico, pela destituição de poder do sistema penal, de maneira que a violência
e as mortes que o caracterizam possam deixar de existir. A partir daí, acreditando na
possibilidade de mudança da realidade, em função de um estudo aprofundado dos
efeitos da operacionalidade do sistema penal, parte-se da consciência ingênua que
caracteriza a assepsia do dogmatismo para uma consciência crítica, que “busca se
69
70
71
72
73
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p.154. Grifos no original.
Ibid. p.171.
Ibid. Grifos no original.
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da libertação. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2005. p.125.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. p.175.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
327
livrar de preconceitos”; “repele posições quietistas”; “é indagadora, investiga, força,
choca”.74
5 Conclusão
A realidade dos sistemas penais latino americanos tem como principal característica
a violência e a morte. Diante dos argumentos dos criminólogos críticos que estabelecem
a deslegitimação do sistema penal e, consequentemente, do discurso jurídico-penal,
deve-se questionar porque o Direito Penal ainda é ensinado de maneira dogmática. E
qual função é cumprida pela universidade nesse contexto.
Percebe-se então, que tal função é a de relegitimar continuamente o sistema
penal, gerando bacharéis alheios à realidade, preocupados apenas com a codificação,
com a manualística.
Para fazer frente à violência profunda que assola toda a região marginal latino
americana, é necessário partir para a mudança das várias instituições que a perpetuam.
Por isso, modificar o ensino do Direito Penal, para gerar bacharéis diferentes,
críticos, serve para modificar a base operacional do sistema penal. Dessa maneira
pode-se agir de maneira a diminuir a dor, a violência e a morte que caracterizam essa
operacionalidade.
A construção de um discurso jurídico-penal condizente com o objetivo principal
de salvar vidas humanas passa necessariamente pela universidade. “Reduzir os níveis
de violência significa salvar vidas, e isso, no atual contexto genocida, é revolucionário,
é parte de uma revolução pela vida, indispensável à nossa subsistência”.75
Perceber o problema da segurança pública como destacada das questões sociais,
das mudanças no sistema econômico e da ascensão do neoliberalismo é esquecer da
realidade por trás dos códigos e legitimar a violência e a morte. Evitar a morte é o
resultado, portanto, de se formar operadores do direito críticos e cientes da necessidade
de mudança e de abandono da repressão penal.
Referências
ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo na política brasileira. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
ALVES, Elizete Lanzoni. A docência e a interdisciplinaridade: um desafio pedagógico.
In: COLAÇO, Thais Luzia. (Org.) Aprendendo a ensinar direito o Direito. Florianópolis:
OAB/SC, 2006.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da
74 FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 10 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
75 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit. 218.
328
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
violência à violência do controle penal. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2003.
______. Dogmática jurídica: escorço de sua configuração e identidade. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 1996.
ANIYAR DE CASTRO, Lola. Criminologia da libertação. Rio de Janeiro: Revan/ICC,
2005.
ARRUDA JR., Edmundo Lima de. Bacharéis em Direito e crise de Mercado de Trabalho:
algumas reflexões. Sequência: estudos jurídicos e políticos, Florianópolis, n.6, dez.
1981.
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. 3.ed. Rio de
Janeiro: Revan/ICC, 2002.
______. Direitos Humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos
de Ciências Penais. Porto Alegre, v.6, n.2, p.44-61, abr./maio/jun.
______. Principios del derecho penal mínimo. In: ELBERT, Carlos Alberto; BELLOQUI,
Laura (orgs.). Criminología y sistema penal: Compilación in memorian. p.299-333.
Buenos Aires: Julio César Faira, 2004.
BASTOS, Aurélio Wander. Ensino jurídico: tópicos para estudo e análise. Sequência:
estudos jurídicos e políticos, Florianópolis, v.4, dez. 1981, p.59-72.
______. O ensino jurídico no Brasil e as suas personalidades históricas – uma recuperação
de seu passado para reconhecer seu futuro. In: Ensino jurídico OAB: 170 anos de cursos
jurídicos no Brasil. p.35-55. Brasília: OAB, Conselho Federal, 1997.
______. O ensino jurídico no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 1990.
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
BECKER, Fernando. Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos. Educação e
realidade, Porto Alegre, UFRGS, v.19, n.1, jan./jun. 1993.
BECKER, Howard. Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York: The
Free Press, 1996.
BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001.
Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal. 5.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2005.
CARVALHO, José Murilo de Carvalho. A construção da ordem: a elite política imperial.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
COHEN, Stanley. Visiones del control social: delitos, castigos y clasificaciones. Barcelona:
PPU, 1988.
COLAÇO, Thais Luzia. O ensino do direito no Brasil e a elite nacional. Congresso de
História das Universidades da Europa e da América. Cartagena, Colômbia, nov. 2004.
DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. Rio de Janeiro: Revan/ICC,
2004.
DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O homem
delinquente e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra, 1997.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 3.ed. Petrópolis:
Vozes, 1984.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 10.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
329
______. Pedagogia do oprimido. 43.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
CID MOLINÉ, José; LARRAURI PIJOAN, Elena. Teorías criminológicas. Explicación
y prevención de la delincuencia. Barcelona: Bosch, 2001.
LEMERT, Edwin M. Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic
behavior. New York: McGraw-Hill Book Company, 1951.
LIMA JR., Jayme Benvenuto (org.). Execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais.
Uma aproximação da realidade brasileira. Recife, 2001.
LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. São Paulo:
Max Limonad, 2000.
MACHADO, Antônio Alberto. Ensino jurídico e mudança social. Franca: UNESP/
FHDSS, 2005.
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico e direito alternativo. São Paulo:
Acadêmica, 1993.
______. O ensino jurídico de graduação no Brasil contemporâneo: análise e perspectivas
a partir da proposta alternativa de Roberto Lyra Filho. 193 f. Dissertação (Mestrado em
Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1987.
RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2.ed. Rio de
Janeiro: Revan/ ICC, 2004.
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Curitiba: Lumen Juris, 2006.
______. Política criminal: realidades e ilusões do discurso penal. Discursos Sediciosos:
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 7, n.12, p.53-57, julho-dezembro 2002.
VENTURA, Deisy. Ensinar direito. Barueri: Manole, 2004.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do
sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991.
ZAFFARONI; Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo, et al. Direito penal brasileiro, vol. I. 2.ed.
Rio de Janeiro: Revan, 2003.
ZAFFARONI; Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal
brasileiro. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
330
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Giorgio Agamben e o garantismo:
razões de um desencontro
Moysés da Fontoura Pinto Neto
RESUMO
No presente artigo traço uma crítica às apropriações do pensamento do filósofo Giorgio
Agamben por grande parte dos juristas, nas quais sua crítica ao estado de exceção é vinculada a
uma reafirmação do garantismo, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Sustento, em sentido
contrário, que as instituições liberais, para Agamben, são apenas formas de encobrimento da matriz
oculta (arcanum imperii) do Poder Soberano – o poder de vida e morte sobre o “homo sacer”
– estrutura que a secularização não eliminou. Por isso, na pouco conhecida parte propositiva do
pensamento de Agamben, a ênfase é para uma “política que vem”, na qual conceitos hoje centrais
como soberania, direitos humanos e contrato social perdem seu papel.
Palavras-chave: Agamben. Garantismo. Soberania. Exceção. Direito. Profanação.
Agamben and guarantism: Reasons of a misencounter
ABSTRACT
In this paper I’m tracing a critic of the philosopher Giorgio Agamben’s thinking appropriations
by the majority of jurists, in what they relate his critique of the state of exception to a reaffirmation
of “guarantism”, Rule of Law and human rights. I affirm, in an opposite way, that the liberal
institutions, for Agamben, are just forms of hiding the occult matrix (arcanum imperii) of Sovereign
Power – the power of life and death on the “homo sacer” – structure which the secularization didn’t
eliminate. Because of this, in the not-well-known propositional part of the Agamben’s thinking,
the emphasis is to an “incoming politics”, in what today’s central concepts like sovereign, human
rights and social contract lose their relevance.
Keywords: Agamben. Guarantism. Sovereign. Exception. Right. Profanation.
1 AGAMBEN: “CRÍTICO DO ESTADO DE EXCEÇÃO”?
A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos
é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que
corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é
originar um verdadeiro estado de exceção; com isso, nossa posição ficará mais
forte na luta contra o fascismo.
(Walter Benjamin, Oitava Tese sobre a História)
Moysés da Fontoura Pinto Neto é professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade Luterana do Brasil.
Doutorando em Filosofia (PUCRS). Mestre e especialista em Ciências Criminais pela PUCRS. Conselheiro e
pesquisador do ICA (Instituto de Criminologia e Alteridade). E-mail: [email protected]
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.331-343
jul./dez. 2009
Não pode haver frustração maior ao estudioso do pensamento de Michel Foucault
do que saber que, no campo jurídico, o francês que redefiniu a filosofia política moderna
e elaborou um pensamento microfísico do poder – estendido em redes de saber/poder
com seus respectivos “regimes de verdade” – é reduzido a um “crítico da pena de prisão”.
Certamente o Direito não é a única área que não levou ao extremo o pensamento de
Foucault – ou simplesmente não o entendeu –, mas reduzir o complexo e poderoso
pensamento do autor a “Vigiar a Punir” é uma falta tão grande quanto reduzir esse livro
– teorizador do poder exercido na sua nervura concreta, do seu caráter positivo e das
estruturas disciplinares da sociedade moderna – a uma “crítica da pena de prisão”.
Ao que parece, o pensamento filosófico de Giorgio Agamben, que rapidamente vai
entrando no campo jurídico e se tornando a nova “moda”, segue o mesmo caminho. É
verdade que a prosa de Agamben não é exatamente generosa com o leitor, ao aproximarse facilmente da poesia (no seu estilo bastante direto e às vezes crítico). No entanto, a
recepção desse pensador que questionou as bases da filosofia política contemporânea,
colocando em xeque conceitos centrais como “soberania” e “direitos humanos” não
deve reduzi-lo apenas a um “crítico do estado de exceção”.
A riqueza das proposições que Agamben põe – na linhagem que remete à crítica
devastadora da Modernidade efetuada pela Escola de Frankfurt, especialmente na
figura de Walter Benjamin, complementada com a reflexão sobre a “biopolítica”
iniciada por Michel Foucault – não pode ser reduzida à defesa do “Estado de Direito”
e das garantias individuais, ou da extensão dos direitos humanos à “vida nua”. Esse
trabalho foi feito – e muito bem – pelo também italiano Luigi Ferrajoli, por exemplo,
que rechaça com propriedade todas as intervenções do “Estado Policial” e reitera a
crença nos valores liberais, ainda que agora com maior feição social-democrata (na
defesa da implementação dos direitos sociais), dando origem ao que hoje se chama de
“garantismo”. O problema de Giorgio Agamben é definitivamente outro.1
O presente artigo tem a finalidade de familiarizar o leitor com alguns conceitos
desse filósofo que – contra todas as suposições – mantém um caráter relativamente
“sistemático” no seu pensamento, estruturando conceitos como “meios puros”,
“infância”, “brinquedo”, “vida nua”, “estado de exceção”, “profanação” e “política
que vem” ao longo da sua extensa bibliografia. Assim, o leitor jurista que se aproxima
do autor a partir de “Estado de Exceção”, sua penúltima obra, pode perder parte
fundamental da discussão posta em jogo.
2 A SALA DE ESPELHOS FILOSÓFICA
Os textos de Giorgio Agamben têm uma estrutura verdadeiramente especular: ou
seja, entrar em um ensaio de Agamben significa mergulhar em conceitos pressupostos
que remetem a outros trabalhos do autor. É como se estivéssemos ingressando em uma
1 Isso não significa não serem possíveis tais conjugações; apenas se está sinalando que, do ponto de vista das
teses de Agamben, o recurso ao garantismo não tem consistência e é preciso pensar saídas muito mais radicais
para as aporias que propõe.
332
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
sala de espelhos, na qual a história da filosofia (e a admiração de Agamben pela filosofia
clássica parece evidente) vai sendo projetada mediante uma série de referências que
são tecidas conjuntamente ao longo da sua prosa. Nesse sentido, é possível identificar
influências que vão de Aristóteles (conceitos de “potência” e “gesto”), Platão (as
“ideias”), Spinoza (ética e felicidade, imanência absoluta), Hegel (“negatividade”)
até mais recentes como Heidegger, Hannah Arendt, Michel Foucault, Gilles Deleuze e
principalmente Walter Benjamin. Além desses, é constante a interlocução com Antonio
Negri, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, Hans Jonas, Georges Bataille, Jean-Luc
Nancy e Karl Otto-Apel – muitas vezes em sentido crítico –, e linguistas como Sausurre,
Benveniste e Jakobson.
Poderíamos dizer que a filosofia de Agamben é continuação das obras de Michel
Foucault na filosofia política e tentativa de resposta aos dilemas apontados por Hannah
Arendt como limites da política ocidental, em especial o problema dos campos de
concentração. Mas o autor recupera, ao mesmo tempo, categorias do pensamento
de Walter Benjamin que confrontam a tradição a partir de conceitos teológicos
(messianismo, tempo que resta, redenção) e profanação dos resíduos “sagrados” que
persistem mesmo nos “laicos” Estados de Direito ocidentais.
Esse pequeno mapa da “sala de espelhos” que é a filosofia de Agamben2 já
mostra sua descontinuidade com propostas que se limitariam a afirmar os direitos
humanos e a democracia liberal em contraponto ao uso cada vez mais constante da
figura genérica do “estado de exceção”. Não se trata, em absoluto, disso. Embora os
Estados contemporâneos cada vez mais recorram a técnicas de Estado de Emergência
– configurando a situação em que “a exceção vira regra”, podemos dizer que, para
Agamben, essa banalização da estratégia do estado de exceção é apenas sintoma, não
o mal em si a ser atacado, que é mais profundo.
3 FILOSOFIA POLÍTICA E FACTICIDADE
A questão tradicional da filosofia política poderia ser esquematicamente formulada
nesses termos: como pode o discurso da verdade, ou simplesmente a filosofia
entendida como discurso da verdade por excelência, fixar os limites de direito do
poder? Eu preferiria colocar uma outra, mais elementar e muito mais concreta em
relação a esta pergunta tradicional, nobre e filosófica: de que regras de direito as
relações de poder lançam mão para produzir discursos de verdade?
(Michel Foucault, em “Soberania e Disciplina”)
A ideia de contrato social, que subjaz à maior parte das teorias constitucionalistas
e de filosofia política em geral, é inegavelmente herança metafísica herdada dos/pelos
2 Uma exata delimitação do campo intelectual em que se insere Giorgio Agamben é realizada pelo próprio autor
no texto “A Imanência Absoluta” (2005a, p.481-522).
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
333
teóricos liberais do século XVIII. Apoiar a política sobre a ideia de contrato social
significa, em outros termos, basear-se em um fundamento pressuposto, porém jamais
ocorrido na sua facticidade.3 Todo o discurso dos direitos humanos (ou fundamentais) e
da supremacia constitucional depende dessa premissa do contrato social articulador dos
direitos e deveres do cidadão (um sujeito abstrato, igual e livre) no Estado de Direito.
Sem esse suporte metafísico, o discurso torna-se puramente dogmático.
É justamente sob esse prisma que devemos perceber o tecido sobre o qual se
constrói a filosofia de Giorgio Agamben. Aqui, sem dúvida alguma, há uma inequívoca
remissão a Martin Heidegger, cuja crítica à “onto-teologia” é feita justamente apoiada
na facticidade. A tentativa do pensamento “onto-teológico” de escapar à finitude,
entendendo a realidade em caráter absoluto, seria justamente a maior fraqueza da
tradição, que deixou de perceber a finitude no seu caráter positivo. Partindo-se da
facticidade, percebe-se que “a essência da presença [Dasein] está em sua existência”
e que o que, “onticamente, é conhecido e constitui o mais próximo é, ontologicamente,
o mais distante, o desconhecido, e o que constantemente se desconsidera em seu
significado ontológico” (HEIDEGGER, 2006, p.87). Ou seja: a onto-teologia salta por
cima desses pressupostos em direção à metafísica tradicional. A facticidade será o único
ponto de partida legítimo de uma filosofia que destrói a tradição (BORNHEIM, 1972,
p.139; STEIN, 2004, p.113-121; LEVINAS, 2005, p.22; VATTIMO, 1996, p.72-4;
CAPUTO, 1993, p.65-93; AGAMBEN, 2005a, p.390 e 2002a, p.157). Trata-se então
de uma espécie de “encurtamento” do campo de indagação filosófico, desconectando-a
da teologia e da necessidade de encontrar um ponto de vista fora da condição de serno-mundo.
Porém, se o território típico de Heidegger é a ontologia, será Michel Foucault o
pensador que irá se apropriar do pensamento da facticidade para entender as relações
de poder.4 Foucault irá pensar a política para aquém da ideia de sujeito normativo,
típica da Modernidade e ainda presente mesmo naqueles pensadores que reivindicam se
integrar à era “pós-metafísica” (por exemplo, Habermas). Para isso, terá de se deslocar
da metafísica do contrato social e seu conceito de “homem” para as relações concretas
de poder que se dão a partir dos aparatos disciplinares e das estratégias de saber/poder.
3 A concepção de “metafísica” aqui adotada é a heideggeriana, que remete à “onto-teologia”. Deixa-se de lado
por hora a questão do construcionismo de John Rawls, que pretende uma concepção política, não-metafísica, do
contrato social (OLIVEIRA, 1999, p.56). É interessante observar que todas as descrições constitucionalistas põem
o contrato social como premissa, ainda que por vezes “a construir”. Quer dizer: mesmo aqueles que admitem a
Constituição como processo em construção têm como premissa a ideia de que está constituída a “sociedade” ou
mesmo, em versões ainda mais duvidosas, a “comunidade” – como se um documento normativo fosse capaz de
transformar uma estrutura social profundamente enraizada na faticidade do seu acontecimento em algo distinto,
como verdadeira fictio juris. (Sobre o tema, ver o paralelo exato que Agamben traça entre o Direito e seu “fora”
e, simultaneamente, a onto-teologia (o logos) e sua relação com o ser – AGAMBEN, 2004, p.92-3). Ver também
Agamben (2002a, p.98).
4 Assim, embora Foucault afirme, em sua última entrevista, que foi Nietzsche que preponderou na sua trajetória, é
certo que também afirma ter sido sua leitura de Heidegger que determinou sua formação. Ver: Oliveira (1999, p.152);
Duarte (2006). Iríamos mais longe para afirmar que é simplesmente impossível compreender o pensamento de
Foucault sem o prévio solo formado por Heidegger, sob pena de se cair em um esteticismo apolítico ou relativismo
insípido. É bom se anotar, no entanto, que o Nietzsche da Genealogia da Moral, não por acaso uma das obras
centrais para Foucault, está muito próximo da facticidade e das relações efetivas de poder (OLIVEIRA, 2004, p.151).
E que, de certa forma, Nietzsche foi o primeiro a “encurtar” o horizonte filosófico ao propor a “morte de Deus”.
334
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Das grandes discussões sobre os fundamentos do contrato, gerações de direitos e
garantias do cidadão, Foucault irá se deslocar até as extremidades do controle social, do
poder exercido de forma quase invisível, “pequena” ou “insignificante”, nos sistemas
prêmio/castigo das instituições típicas da Modernidade – fábrica, manicômio, prisão,
etc. Da discussão sobre a atuação dos principais agentes do Estado (o soberano, o juiz,
o legislador), desloca-se para os “especialistas” que submetem indivíduos de forma
dispersa, sem precisar da exibição expressionista típica dos monarcas absolutos.
Assim, aquilo que o discurso moderno caracteriza como uma “racionalização”
do poder – inspirada nas “luzes” – é, para Foucault, apenas uma mudança na estratégia
de controle, que, em vez de se exercer de forma repressiva e expressiva (ex., suplício),
passa a se efetivar de forma positiva, “econômica” e dispersa, especialmente por
meio da estratégia disciplinar (ex. prisão) (1999, p.108).5 Essa dispersão coloca ainda
em xeque a suposta centralização do poder, típica premissa pressuposta no discurso
jurídico-liberal a partir da figura do Estado. Para Michel Foucault, ao contrário, e nesse
ponto lembrando bastante Norbert Elias, o poder é sobretudo uma relação, e por isso
está disperso ao longo de todas as relações sociais, inclusive as de conhecimento (que
se pretendem neutras).
O gesto de Foucault permite romper com o obstáculo jurídico que impunha a
concepção – abstrata e metafísica – do sujeito normativo como primeira figura da
filosofia política.6 Removendo esse obstáculo, Foucault permite-nos vislumbrar o
poder incidindo no próprio corpo dos sujeitos, abrindo a reflexão para além de critérios
metafísico-normativos. Como diz o próprio Agamben sobre Foucault,
uma das orientações mais constantes do trabalho de Foucault é o decidido
abandono da abordagem tradicional do problema do poder, baseada em modelos
jurídico-institucionais (a definição da soberania, a teoria do Estado), na direção
de uma análise sem preconceito dos modos concretos com que o poder penetra
no próprio corpo de seus sujeitos e em suas formas de vida. (2002a, p.13)
5 “Em outras palavras, Foucault compreendeu que a partir do momento em que a vida passou a se constituir
no elemento político por excelência, o qual tem de ser administrado, calculado, gerido, regrado e normalizado, o
que se observa não é um decréscimo da violência, muito pelo contrário, pois tal cuidado da vida traz consigo, de
maneira necessária, a exigência contínua e crescente da morte em massa, visto que é apenas no contraponto
da violência depuradora que se podem garantir mais e melhores meios de sobrevivência a uma dada população.
Não há, portanto, contradição entre biopolítica e tanatopolítica, isto é, entre o poder de gerência e incremento
da vida e o poder de matar aos milhões para garantir as melhores condições vitais possíveis. A descoberta da
importância política do racismo como forma privilegiada de atuação estatal, fartamente empregada ao longo do
surto imperialista europeu do século XIX, e radicalizada cotidianamente ao longo do século XX, tendo no nazismo
e no stalinismo seu ápice, tem de ser compreendida segundo os termos daquela mutação operada na própria
natureza do exercício do poder soberano. Para Foucault, num contexto histórico biopolítico não há Estado que
não se valha de formas amplas e variadas de racismo como justificativa para exercer seu direito de matar em
nome da preservação, da intensificação e da purificação da vida” (DUARTE, 2006).
6 E, poderíamos afirmar, as teorias jurídicas em geral. Não é coincidência que a maioria dos manuais jurídicos
comece por uma história abstrata do Direito, não obstante o contra-senso que fica evidente no próprio conceito de
“história abstrata”. Ou, por exemplo, que os livros de Direito Constitucional estejam todos amparados na ideia de
Constituição enquanto um “pacto social” – a par do fato de que a maioria delas não foi feita sob esses auspícios.
Daí que as descrições remetam às abstrações dos jusnaturalistas do século XVIII – baseadas no “indivíduo livre
e racional”.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
335
Dessa forma, a política – até então reflexão baseada em uma teoria aprisionada
pelo jurídico – é pensada enquanto “biopolítica”, na medida em que os saberes modernos
colocam o corpo como objeto central do poder mediante uma estratégia disciplinar
levada a cabo por especialistas de diversas ordens (psiquiatras, psicólogos, juristas,
criminólogos, policiais, etc.) (FOUCAULT, 2007, p.146-158; 2006, p.179-191).
Agamben define seu próprio trabalho – especificamente na obra ainda inacabada
Homo Sacer – como uma continuação da investigação foucaultiana,7 interrompida
pela morte deste. Seu foco é a interface entre a biopolítica trazida à luz e os modelos
jurídico-institucionais. Como se dão essas conexões?
4 A GENEALOGIA DO “HOMO SACER”
Somente em um horizonte biopolítico, de fato, será possível decidir se as categorias
sobre cujas oposições fundou-se a política moderna (direita/esquerda; privado/
público; absolutismo/democracia etc.), e que foram progressivamente esfumando
a ponto de entrarem hoje numa verdadeira e própria zona de indiscernibilidade,
deverão ser definitivamente abandonadas ou poderão eventualmente reencontrar
o significado que naquele próprio horizonte haviam perdido.
(Giorgio Agamben, em “Homo Sacer”)
É mais uma vez Walter Benjamin que inspira Agamben nas suas reflexões
presentes no primeiro volume de Homo Sacer – O Poder Soberano e a Vida Nua. O
trabalho explicitador das afirmações elípticas de Benjamin – em expressões como “vida
nua”, “o estado de emergência é a regra”, “linguagem pura”, etc. – revela a profunda
admiração de Agamben pelo filósofo que se suicida pouco antes da II Guerra Mundial,
após descobrir que ele – judeu – seria capturado pelas tropas alemãs. Benjamin certa
vez coloca sob suspeição o dogma da sacralidade da vida e afirma ser necessária uma
detida investigação sobre ele (AGAMBEN, 2002a, p.74). É essa a tarefa que Agamben
realiza.
Efetuando uma genealogia que remete ao termo homo sacer, figura do direito
romano que, a um só tempo, poderia ser morta por qualquer um, mas jamais sacrificada
aos deuses, ele identifica aqui uma figura-limite que marca o poder soberano. O homo
sacer fica submetido à morte por qualquer um sem que sua eliminação consista em um
sacrifício ou um homicídio. Essa dúplice exclusão (do mundo profano do homicídio
e do mundo sagrado do sacrifício) marca uma estrutura de violência que é o verso do
corpo soberano. Kantorowicz estudara, em Os Dois Corpos do Rei, essa figura análoga
ao homo sacer, pois sobrevive mesmo após a “morte”, incompatível com o mundo
7 Não se pode desprezar jamais, no entanto, a herança de Walter Benjamin que Agamben sempre faz questão
de referir e que pode ser equacionada, em termos metodológicos, a partir do materialismo histórico (destituído de
todo seu caráter economicista). Ver Agamben (1993, p.109-123).
336
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
humano que é. O excedente de poder do soberano é precisamente aquilo que pode
ser definido como “a capacidade de constituir a si e aos outros como vida matável e
insacrificável”8 (AGAMBEN, 2002a, p.107-8; FOUCAULT, 2007, p.147).
A figura da vida sacra ou nua, remetida genealogicamente para o direito romano
no homo sacer, esteve desde sempre presente e permanece na política ocidental.
Agamben está de acordo com Carl Schmitt em considerar as categorias jurídico-políticas
como secularizações de conceitos teológicos, mantendo as estruturas intactas, ainda
que alterados os atores (AGAMBEN, 2002b, p.68-70; 2005b, p.110). Como consta
na epígrafe logo acima, é somente sob o pano de fundo biopolítico que as questões
da Modernidade podem ser equacionadas e resolvidas. Como antecipa o filósofo já
no prólogo de Homo Sacer, “a implicação da vida nua na esfera política constitui o
núcleo originário – ainda que encoberto – do poder soberano. Pode-se dizer, aliás, que
a produção de um corpo biopolítico seja a contribuição original do poder soberano.
A biopolítica é, nesse sentido, pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana”
(AGAMBEN, 2002a, p.15). Por isso, na era biopolítica contemporânea o judeu no
campo de concentração desempenha o mesmo papel do homo sacer do direito romano,
sendo matável por qualquer um sem que, com isso, exista homicídio.
O que pode parecer acidente para Agamben é um destino9 natural da política
ocidental, que apenas torna visível a estrutura que corre subterrânea no “rio da
biopolítica”. Apenas a persistência da figura do homo sacer é capaz de explicar a
capacidade de fácil permuta entre os regimes totalitários e as democracias liberais, sem
que a maioria dos conceitos e instituições sofra mudanças drásticas. Nesse sentido, é
preciso entender que certos eventos (tal como a Shoah) não devem ser compreendidos
como desvios do projeto moderno, mas como o trazer à visibilidade o que por vezes
está oculto, e apesar disso é o fundamento do poder soberano.
O homo sacer está, portanto, aquém de qualquer direito a que faça jus o “cidadão”,
lacuna que Hannah Arendt já havia identificado nas suas análises dos regimes totalitários.
Essa ambiguidade, extremada no próprio título da “Declaração dos direitos do homem
e do cidadão”, revela que é a cobertura soberana que garante os “direitos humanos”,
pretensamente universais, mas sempre produtores de um resíduo sem cobertura,
denominado vida nua. Sua relação com o Estado é de abandono, ou seja, uma espécie
de exclusão inclusiva, como na exceção, em que a figura é incluída apenas para ser
excluída, ficando capturada fora (ex-capere) (AGAMBEN, 2002a, p.28)10.
8 Vale referir mais um trecho de Homo Sacer: “o espaço político da soberania ter-se-ia constituído, portanto,
através de uma dúplice exceção, como uma excrescência do profano no religioso e do religioso no profano, que
configura uma zona de indiferença entre sacrifício e homicídio. Soberana é a esfera na qual se pode matar sem
cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi captura
nesta esfera” (AGAMBEN, 2002a, p.91).
9 Para uma explicitação do que é destino, ver Agamben (2006, p.122).
10 Perceba-se que a tese de Agamben abre novo campo para observação da relação da vida nua com o Estado que,
ao contrário do que se convencionalmente coloca, não é de exclusão, mas de captura fora, ou seja, uma exclusão
inclusiva, na qual a relação se mantém em forma de bando. A ideia de “excluído” (típica das ciências humanas e
da filosofia da libertação), por isso, deveria ganhar mais rigor técnico e ser substituída pela de abandonado, ou
capturado fora, na medida em que a relação com o soberano permanece ainda que o indivíduo esteja fora da lei.
Perceba-se que essa é a única explicação razoável para o fato de que é precisamente a vida nua (os habitantes
dos morros cariocas, p.ex.) que sente a força do Estado na sua nervura mais intensa (da tortura ao extermínio),
apesar de estar do lado de fora dela (em relação, p.ex., aos “direitos sociais”).
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
337
Por sua vez, o estado de exceção, na outra ponta da estrutura que cria o homo
sacer, é o poder de o soberano suspender as regras jurídicas sem revogá-las, criando
uma figura híbrida que permanece na fronteira entre jurídico e político. O estado
de exceção consiste na norma que é aplicada na sua desaplicação. Seu signo não é
o excesso de poderes, mas precisamente o vazio que é preenchido por uma decisão
soberana. A estrutura, antes de manifestar uma “confusão de poderes”, é, antes, uma
substituição da lei por decisões com força de lei, ou melhor, força de lei11. A lei, nesse
caso, não é substituída por outra que proibiria ou permitiria determinadas condutas,
mas apenas suspensa, criando um vazio onde se infiltraria o estado de exceção. E o
campo é precisamente o lugar onde esse “vazio jurídico” se espacializa, atuando o poder
soberano diretamente sobre os corpos, sem qualquer mediação da norma.
O correspondente topológico dessa estrutura, segundo o próprio Agamben, é o
direito de resistência (2004, p.23). Assim como o estado de exceção, a resistência é
inapreensível pelo Direito, à medida que mesmo a sua previsão não é capaz de elidir o
surgimento de novas formas de descumprimento legal. Da mesma maneira, o estado de
exceção não pode ser reduzido às figuras do estado de sítio ou do estado de necessidade.
Mais uma vez a relação de captura fora se processa: nos dois fenômenos, o Direito
só pode manter relação mediante uma inclusão para excluir. Sua estrutura permanece
inacessível ao Direito, à medida que está na sua base, como potência invisível sempre
à disposição do soberano. Que as grandes potências mundiais utilizem essa estratégia
explicitamente e à exaustão, não custa reafirmar, é apenas sintoma do enfraquecimento
dos mitos filosófico-metafísicos que sustentam a democracia liberal.12
5 A PROFANAÇÃO
’Humanidade’ é o nome respeitoso dado a essa economia e a seus cálculos
minuciosos.
(Michel Foucault, em “Vigiar e Punir”)
Mostrar o direito em sua não-relação com a vida e a vida em sua não-relação
com o direito significa abrir entre eles um espaço para a ação humana que, há
algum tempo, reivindicava para si o nome de ‘política’.
(Giorgio Agamben, em “Estado de Exceção”)
11 Riscada.
12 Que recentemente uma sólida democracia liberal tenha recorrido aos campos para combater “inimigos” é
sintoma de que Agamben, em 1995, não exagerava. Sobre o tema, conferir Pinto Neto (2008). Por outro lado,
impossível não pensar, por exemplo, nas constantes execuções em caráter de extermínio promovidas pelas
polícias brasileiras, figurando uma espécie de estado de exceção permanente no qual estão jogados os habitantes
desses locais análogos aos campos. Os juristas brasileiros, no entanto, negam-se a explicitar positivamente essa
estrutura, preferindo apenas sinalizar um “déficit de Constituição”.
338
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Podemos dizer, assim, que Giorgio Agamben defende uma ampliação dos direitos
humanos para atingir também ao homo sacer (nos nossos dias: miseráveis, imigrantes ilegais,
“combatentes-inimigos”, etc.), que está aquém do Direito? É justamente essa interpretação
que, modo geral, tem prevalecido entre os juristas. No entanto, podemos dizer com certeza
que não é a solução proposta pelo autor. Primeiro, pela razão óbvia que o próprio Agamben
é oriundo do Direito, sendo evidente que alguém com sua erudição não desconhece essas
soluções constitucionalistas.13 Mas esse não é o motivo mais importante.
Em contraponto à política ocidental, enredada eternamente nos mesmos dilemas por
não perceber a radicalidade das questões que se põem, Agamben vislumbra uma “política que
vem”. Essa política não trabalhará mais com os conceitos jurídico-políticos típicos da nossa
sociedade (como soberania, direitos humanos, nacionalidade, cidadania). Para o autor, todos
esses conceitos estão cingidos à lógica teológica e metafísica que não evitou os desastres da
II Guerra Mundial e nem evita a repetição constante de Auschwitz, que continua ocorrendo
enquanto “jogamos futebol” (AGAMBEN, 2002b, p.26).14 A metafísica do contrato social
sempre pressupõe o sujeito normativo (o “cidadão”), fazendo permanentemente o jogo da
captura fora em relação à vida nua. A humanidade do vivente fica dependendo de uma
“máquina antropológica” (AGAMBEN, 2002c, p.69-76; 2005a, p.416-8).
Mas por que não encampar simplesmente a ideia de “progresso” ou “civilização”
e admitir – como faz, por exemplo, Habermas – a Modernidade como “tarefa ainda a
cumprir”? Porque, para Agamben, a estrutura do estado de exceção sempre permaneceu
oculta e subterrânea – sobre ela repousando o sistema político, mesmo na Modernidade
(2002a, p.17). A forma como a teoria do contrato social lidou com essa parcela de poder
é precisamente na figura hobbesiana do “estado de natureza”. “O estado de natureza”,
diz ele, “é, na verdade, estado de exceção, em que a cidade se apresenta por um instante
(que é, ao mesmo tempo, intervalo cronológico e átimo intemporal) tanquam dissoluta. A
fundação não é, portanto, um evento que se cumpre de uma vez por todas in illo tempore,
mas é continuamente operante no estado civil na forma da decisão soberana” (2002a,
p.115). Não é necessário muito esforço para perceber que o poder soberano, mesmo
nesses tempos de “fim da história”, reivindica seguidamente a utilização do estado de
exceção contra seus homines sacri (sejam eles terroristas presos em Guantánamo, párias
sociais exterminados pela polícia brasileira ou imigrantes presos na zona de exceção de
um aeroporto francês). Quer dizer: a estrutura da exceção não é corrigível pelo Direito ou
pela Constituição, mas pressuposta por ambos e necessária, enquanto essência do poder
soberano que lhes dá força. Esse é ponto em que precisamente as leituras jurídicas de
Agamben mostram-se extremamente inapropriadas: o estado de exceção não é o contrário
do Estado de Direito; antes, é o que o sustenta. As relações entre estado de exceção e
Estado de Direito não são de antítese. A exceção é aquilo que possibilita a visibilidade do
Estado de Direito, por vezes se tornando explícita em situações em que é ameaçada.
13 O que, por óbvio, abrange o garantismo. E se o garantismo trabalha para relegitimar o sistema punitivo, ainda
que admitindo deficiências e ilegitimidades inarredáveis, parece óbvio que essa não é a intenção de Agamben,
que ataca todo quadro jurídico-constitucional contemporâneo (e quiçá o sistema penal, seu ponto mais deficitário
e doentio).
14 Sob esse pressuposto, Agamben recusa qualquer caráter “místico” ao extermínio dos judeus nos campos de
concentração: “Why confer on extermination the prestige of the mystical?” (AGAMBEN, 2002b, p.32).
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
339
Ao reduzir Agamben a um crítico das técnicas de emergência adotadas por vários
Estados contemporâneos, os juristas desperdiçam a nova leitura das relações entre
direito e política proposta pelo filósofo italiano (e tributária de Michel Foucault), na
qual o estado de exceção aparece como matriz oculta em toda teorização do “Estado
de Direito”, produzindo seus efeitos sobre aqueles que estão “capturados fora” do
ordenamento jurídico. Em um gesto heideggeriano, Agamben possibilita aos juristas
explicar positivamente a completa anomia em determinadas situações – apesar da
Constituição15 –, sem que se reduzam ao típico gesto metafísico da exclusão de tudo
que não é logos (“lá apenas ‘falta Constituição’”16).
É aqui precisamente que entram particularidades pouco conhecidas das teses de
Agamben. O ensaio “Elogio da Profanação”, por exemplo, elucida algumas delas. O
filósofo italiano afirma que os juristas romanos sabiam o que significa propriamente
“profanar”: quer dizer “restituir ao uso” o que estava separado aos deuses na esfera do
sacro. Contestando a etimologia que ficou célebre em Durkheim e até hoje permanece,
por exemplo, em Michel Maffesoli, o autor afirma que religio não vem de religare, mas
de relegere, ou seja, colocar em uma esfera separada. Profanar tecnicamente significa
devolver ao uso comum o que foi separado na esfera sagrada (sem ignorar que um
dia aquilo pertenceu ao sacro, mas provocando novo uso) (AGAMBEN, 2007a, p.65617).
Se Agamben se dedica a analisar o potencial da profanação em relação ao que
Benjamin chamara de a “religião capitalista”, crê-se que é também possível transplantar
o gesto para a esfera dos modelos jurídico-institucionais. Aquilo que outrora foi sagrado
deve ser profanado. A secularização apenas troca as peças, sem mexer nas respectivas
posições. É a profanação que permite um novo uso, desfazendo o jogo teológicopolítico que até hoje ilumina o poder soberano e seu verso, o homo sacer. Somente nos
desfazendo do sagrado – num esforço (que pode parecer paradoxal a muitos) moderno18
– é que seremos capazes de desativar a máquina que repete Auschwitz a todos os
momentos. Tudo oposto ao discurso constitucionalista que “sacraliza” a Constituição,
tornando-a indisponível aos viventes.19
15 Perceba-se, nesse sentido, a inconsistência da teoria constitucionalista que, sem facticidade, sinala o déficit de
direitos de “segunda geração” ou “dimensão” na população marginalizada. Ora, não é apenas a falta de prestações
estatais que está em jogo. O Estado Liberal no Brasil sequer se implementou na integralidade. Habitantes de favelas,
morros e palafitas não veem respeitados sequer os direitos individuais, sendo alvo preferencial de intervenções
policiais sem qualquer limite. Não se trata, pois, apenas, de cidadãos que veem sonegadas prestações estatais,
mas estão em paridade na igualdade diante da lei; trata-se, antes, de uma estrutura hierárquica de sociedade em
que alguns estão simplesmente aquém da lei.
16 E imediatamente todos aqueles familiarizados com a desconstrução podem enxergar a possibilidade – ventilada
pelo próprio Derrida em “Força de Lei” – da imediata desconstrução da teoria moderna do Direito, que se estrutura
(a “vontade de sistema” é uma obsessão no mundo jurídico) justamente a partir da marginalização e exclusão
arbitrária de tudo aquilo sobre o qual não incide.
17 O exemplo usado por Agamben é a discordância dos franciscanos em relação à interpretação do Papa João
XXII sobre o consumo das coisas. Os franciscanos reivindicavam uma relação com a coisa não que apagasse
ou substituísse as normativas, mas que desativasse qualquer direito sobre o item, restringindo-o ao puro uso
(AGAMBEN, 2007, p.72).
18 Conferir, nesse aspecto, o brilhante artigo de Vladimir Safatle sobre Walter Benjamin, que posiciona Agamben
justamente nesse sentido (2008:32). Ver também Agamben (2006, p.125).
19 É a razão pela qual Catherine Mills define Agamben e Derrida como autores de um espaço “pós-jurídico”
(MILLS, 2008).
340
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
É nesse sentido que devem ser compreendidas afirmações como a que encerra
parte de “Estado de Exceção”, quando afirma que
um dia, a humanidade brincará com o direito, como as crianças brincam com
os objetos fora de uso, não para devolvê-los ao seu uso canônico e, sim, para
libertá-los definitivamente dele. O que se encontra depois do direito não é um
valor de uso mais próprio e original e que precederia o direito, mas um novo
uso, que só nasce depois dele (AGAMBEN, 2004, p.98).20
Os brinquedos, inicialmente objetos tão sérios que deviam ser depositados nos
túmulos para acompanhar os defuntos no outro mundo, permitem acessar uma terceira
área, que não está nem dentro nem fora do mundo, mas que precisamente abre o
dentro e o fora, compreendida no topos outopos em que se situa nossa experiência de
ser-no-mundo. Por essa razão, não são simples “objetos”; antes, nos permitem acessar
essa dimensão a que estão familiarizados “fetichistas e crianças, ‘selvagens’ e poetas”
(AGAMBEN, 2007b, p.98; 1993, p.71). É nessa região do brincar, mais originária que a
dimensão sujeito/objeto, que se permite criar um novo uso para o direito – desvinculado
da soberania.
O conceito de cidadão é deixado de lado em nome de uma política que seja capaz
de responder ao desafio da vida nua, hoje ameaçador de miseráveis, san papiers e outros
sem que a democracia liberal possa dar respostas consistentes. O vínculo com a cidade
deve ser perfurado e articulado topologicamente por uma “fita de Möbius”, na qual
exterior e interior de co-determinam. As cidades europeias, nesse caso, retomariam sua
vocação de se relacionar por recíproca extraterritorialidade. Seríamos todos “nós, os
refugiados” – “only in a world in which the spaces and states have been thus perforated
and topologically deformed and in which the citizen has been able to recognize the
refugee that he or she is – only in such a world is the political survival of humankind
today thinkable” (AGAMBEN, 2000, p.25-6).
A proposta de Agamben certamente se distancia a léguas do garantismo, que é mais
uma sistematização jurídico-analítica do programa da democracia liberal, formulado a
partir das gerações de direitos e suas garantias (não por acaso um dos seus principais
temas é o “princípio da secularização”). Enquanto os direitos humanos servem apenas
para sinalar a decadência da cultura jurídica que aprisionou o político na Modernidade
– da qual a área “humanitária” (separada da política) é a principal testemunha (como
advertia Hannah Arendt, os direitos do homem falham sempre exatamente onde são
20 Parcos comentários têm sido dedicados à parte final – e decisiva – da “luta de gigantes” entre Schmitt e Benjamin,
narrada no quarto capítulo de “Estado de Exceção”. Isso porque a conclusão é simplesmente incompreensível
sem uma visão conjunta da obra de Agamben (ou de Benjamin), uma vez que povoada por conceitos técnicos
que permeiam a obra do autor. Um desenvolvimento das ideias ali previstas está em Agamben (2005b, p.113137), nos comentários à expressão paulina “eis euaggelion theou”. Uma pista está na própria interpretação de
Diante da Lei (de Kafka) por Agamben, na qual a porta da lei ao final é fechada porque essa lei é consumada.
Ver também Souza (2006).
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
341
necessários) – a “política que vem” precisa de novas categorias para profanar os
símbolos sagrados da tradição e construir uma nova felicidade (AGAMBEN, 2007a,
p.67; 2002b, p.24; 2002a, p.140). Por trás desse projeto está a recuperação da “vida”
que foi apropriada pela “lei”, tornando-se dessa indiscernível, como na aldeia que fica
ao pé do Castelo de Kafka (2002a, p.61)21.
Nesse mundo futuro, anunciado pelo messianismo que se apropria do “tempo que
resta22” (cumprindo a tese sobre a história de Benjamin quando afirma que o estado
de exceção deve ser tornado real), a “máquina antropológica” é desativada e o homem
se comunica por gestos, que são chamados por Agamben de “meios puros”. Nestes, a
própria distinção entre o animal humano e o não-humano é desativada, configurando
uma linguagem pura, que apenas comunica a si mesma (2002c, p.164-8; 2005a,
p.40-1; 2006, p.126). Recuperar o sentido da ação política desconectada da violência
do Direito (que institui ou conserva) parece ser a tarefa fundamental proposta por esse
pensamento, cortando o nexo entre o Direito e a vida. Da discussão tradicional sobre
quais fins justificam a violência, sobram apenas os meios sem fins. A política que vem,
nesse sentido, é precisamente o terreno dos “meios puros” (2000, p.118).
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. Infancy and History. London/New York: Verso, 1993.
______. Means without end: Notes on politics. Minneapolis: Minnesota University
Press, 2000.
______. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2002a.
______. Remnants of Auschwitz: The witness and the archive. New York: Zone Books,
2002b.
______. Lo abierto: el hombre y el animal. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2002c.
______. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004.
______. La potencia del pensamiento. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005a.
______. The time that remains: A commentary on the Letter to the Romans. Stanford:
Stanford University Press, 2005b.
______. A linguagem e a morte: um seminário sobre o lugar na negatividade. Belo
Horizonte: UFMG, 2006.
21 Ver, nesse sentido, a semelhança da proposta de Souza (2004), embora lastreada em outra trilha filosófica.
Ver também Flickinger (2004).
22 A estrutura desse tempo messiânico está exposta no comentário à “Carta aos Romanos”, de Paulo, no qual
Agamben define a relação com a lei em sentido simetricamente oposto a Carl Schmitt (o pensador anti-messiânico
por excelência): enquanto a relação com o “fora” da lei inexiste no estado de exceção, à medida que as normas
são aplicáveis na sua inaplicação, formando um espaço vazio (kenomatico) que é preenchido pela decisão com
força de lei, no tempo messiânico a lei é “cumprida”, esgotada, chega-se à sua consumação a partir da justiça que
a realiza – um pleroma, ao invés do espaço vazio da exceção (ver AGAMBEN, 2005b, p.107). Diz ele que “the
messianic pleroma of the law is an Aufhebung of the state of exception, an absolutizing of katargesis” (108). Com
essa formulação, Agamben dá ênfase sobretudo à parte final da Oitava Tese de Benjamin, evidentemente deixada
de lado pelos seus comentaristas juristas, que posiciona a necessidade do “estado de exceção tornar-se real”.
342
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
______. Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Belo Horizonte: UFMG,
2007a.
______. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007b.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: obras escolhidas vol. 1. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
CAPUTO, John. Desmitificando Heidegger. Lisboa: Piaget, 1993.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1999.
______. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2006.
______. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2007.
FLICKINGER, Hans-George. A juridificação da liberdade: os direitos humanos no
processo de globalização. Veritas (54), 2004.
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 2006.
LEVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. 2.ed. Petrópolis: Vozes,
2005.
MILLS, Catherine. Playing with law: Derrida and Agamben on post-juridical space.
South Atlantic Quarterly 107:I, 2008.
OLIVEIRA, Nythamar Fernandes de. Tractatus ethico-politicus: genealogia do ethos
moderno. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
OLIVER, Kelly. Stopping the antropological machine: Agamben with Heidegger and
Merleau-Ponty. PhaenEX 2, n.2, 2007.
PINTO NETO, Moysés da F. A farmácia dos Direitos Humanos: algumas observações
sobre a prisão de Guantánamo. Panóptica (13), 2008.
SAFATLE, Vladimir. Atravessar a Modernidade dobrando os joelhos. In: Escola de
Frankfurt. São Paulo: Bregantini, 2008. (Dossiê CULT).
SOUZA, Ricardo Timm de. A racionalidade ética como fundamento de uma sociedade
variável: reflexos sobre suas condições de possibilidade desde a crítica filosófica do
fenômeno da ‘corrupção’. In: A Qualidade do Tempo: para além das aparências históricas.
Org. Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
______. Por uma estética antropológica desde a ética da alteridade: do ‘estado de exceção’
da violência sem memória ao ‘estado de exceção’ da excepcionalidade do concreto.
Veritas (51), 2006.
STEIN, Ernildo. Mundo vivido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
VATTIMO, Gianni. Introdução a Heidegger. Lisboa: Piaget, 1996.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
343
A carta, de Pero Vaz de Caminha1
Edição de base:
Carta a El Rei D. Manuel, Dominus: São Paulo, 1963.2
Senhor,
posto que o Capitão-mor desta Vossa frota, e assim os outros capitães escrevam
a Vossa Alteza a notícia do achamento desta Vossa terra nova, que se agora nesta
navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim
como eu melhor puder, ainda que – para o bem contar e falar – o saiba pior que todos
fazer!
Todavia tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo
creia que, para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi
e me pareceu.
Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei aqui conta a Vossa Alteza
– porque o não saberei fazer – e os pilotos devem ter este cuidado.
E portanto, Senhor, do que hei de falar começo:
E digo quê:
A partida de Belém foi – como Vossa Alteza sabe, segunda-feira 9 de março. E
sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto
da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de três
a quatro léguas. E domingo, 22 do dito mês, às dez horas mais ou menos, houvemos
vista das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero
Escolar, piloto.
Na noite seguinte à segunda-feira amanheceu, se perdeu da frota Vasco de Ataíde
com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para poder ser!
1 Conforme a Revista da Universidade de Coimbra, Vol. XI, Coimbra: Impprensa da Universidade, 1933, p.1000,
“A Carta de Pero Vaz de Caminha a D. Manuel – ‘narrativa incomparável da viagem de Pedro Álvares Cabral’,
como disse Capistrano de Abreu – foi publicada pela primeira vez na Corografia Brasílica do Padre Manuel Aires
de Casal, considerado o patriarca da geografia no Brasil”. Classificada como importante documento histórico e
geográfico, pouco valor jurídico lhe tem sido reconhecido. Não obstante, trata-se de um documento que reproduz,
com fidelidade, os primeiros atos jurídicos da civilização europeia nas terras brasileiras, a merecer atenção dos
estudiosos do Direito: a tomada e exercício de posse, com a simbólica fixação da cruz na terra para ser rezada
a primeira missa, as transações, mediante permuta, de produtos locais com quinquilharias trazidas do além mar,
o exercício de poder traduzido pelo confessado desiderato de impor costumes e religião e explorar a riqueza da
terra, entre outros, são fatores que justificam a sua reedição. (Nota da Editora)
2 NUPILL – Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Lingüística © LCC Publicações Eletrônicas.
www.culturabrasil.org/zip/carta.pdf
Direito e Democracia
Canoas
v.10
n.2
p.344-360
jul./dez. 2009
Fez o capitão suas diligências para o achar, em umas e outras partes. Mas... não
apareceu mais !
E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das
Oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando
da dita Ilha – segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas – os quais eram
muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, e assim
mesmo outras a que dão o nome de rabo-de-asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã,
topamos aves a que chamam furabuchos.
Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! A saber,
primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo; e de outras serras mais
baixas ao sul dele; e de terra chã, com grandes arvoredos; ao qual monte alto o capitão
pôs o nome de O Monte Pascoal e à terra A Terra de Vera Cruz!
Mandou lançar o prumo. Acharam vinte e cinco braças. E ao sol-posto umas
seis léguas da terra, lançamos ancoras, em dezenove braças – ancoragem limpa. Ali
ficamo-nos toda aquela noite. E quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em
direitura à terra, indo os navios pequenos diante – por dezessete, dezesseis, quinze,
catorze, doze, nove braças – até meia légua da terra, onde todos lançamos ancoras, em
frente da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às dez horas, pouco mais
ou menos.
E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, segundo
disseram os navios pequenos que chegaram primeiro.
Então lançamos fora os batéis e esquifes. E logo vieram todos os capitães das
naus a esta nau do Capitão-mor. E ali falaram.
E o Capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que
ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos dois e aos três, de maneira
que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam dezoito ou vinte.
Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas
mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes
fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala
nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessoulhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro
preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma
copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal
grande de continhas brancas, miúdas que querem parecer de aljôfar, as quais peças
creio que o Capitão manda a Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde
e não poder haver deles mais fala, por causa do mar.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
345
À noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus. E
especialmente a Capitaina. E sexta pela manhã, às oito horas, pouco mais ou menos,
por conselho dos pilotos, mandou o Capitão levantar ancoras e fazer vela. E fomos de
longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados na popa, em direção norte, para ver
se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nós ficássemos, para tomar água e
lenha. Não por nos já minguar, mas por nos prevenirmos aqui. E quando fizemos vela
estariam já na praia assentados perto do rio obra de sessenta ou setenta homens que
se haviam juntado ali aos poucos. Fomos ao longo, e mandou o Capitão aos navios
pequenos que fossem mais chegados à terra e, se achassem pouso seguro para as naus,
que amainassem.
E velejando nós pela costa, na distância de dez léguas do sítio onde tínhamos
levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito
bom e muito seguro, com uma mui larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram.
E as naus foram-se chegando, atrás deles. E um pouco antes de sol-pôsto amainaram
também, talvez a uma légua do recife, e ancoraram a onze braças.
E estando Afonso Lopez, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi, por
mandado do Capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meter-se logo no esquife
a sondar o porto dentro. E tomou dois daqueles homens da terra que estavam numa
almadia: mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco, e seis ou sete setas. E
na praia andavam muitos com seus arcos e setas; mas não os aproveitou. Logo, já de
noite, levou-os à Capitaina, onde foram recebidos com muito prazer e festa.
A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons
narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de
encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso
são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um
osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de
algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço;
e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E
trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar,
nem no comer e beber.
Os cabelos deles são corredios. E andavam tosquiados, de tosquia alta antes do
que sobre-pente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E um deles
trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte detrás, uma espécie de cabeleira, de
penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada,
que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena por pena, com
uma confeição branda como, de maneira tal que a cabeleira era mui redonda e mui
basta, e mui igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar.
346
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma
alcatifa por estrado; e bem vestido, com um colar de ouro, mui grande, ao pescoço. E
Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Corrêa, e nós outros
que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. Acenderam-se tochas.
E eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao Capitão; nem a
alguém. Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos com a
mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia
ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para
a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata!
Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo; tomaram-no logo
na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali.
Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele.
Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a
mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados.
Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos
passados. Não quiseram comer daquilo quase nada; e se provavam alguma coisa, logo
a lançavam fora.
Trouxeram-lhes vinho em uma taça; mal lhe puseram a boca; não gostaram dele
nada, nem quiseram mais.
Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada um o seu bochecho, mas
não beberam; apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora.
Viu um deles umas contas de rosário, brancas; fez sinal que lhas dessem, e folgou
muito com elas, e lançou-as ao pescoço; e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço,
e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do Capitão, como se
dariam ouro por aquilo.
Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos! Mas se ele queria dizer
que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, por que lho não
havíamos de dar! E depois tornou as contas a quem lhas dera. E então estiraram-se de
costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as
quais não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas.
O Capitão mandou pôr por baixo da cabeça de cada um seu coxim; e o da cabeleira
esforçava-se por não a estragar. E deitaram um manto por cima deles; e consentindo,
aconchegaram-se e adormeceram.
Sábado pela manhã mandou o Capitão fazer vela, fomos demandar a entrada, a
qual era mui larga e tinha seis a sete braças de fundo. E entraram todas as naus dentro,
e ancoraram em cinco ou seis braças – ancoradouro que é tão grande e tão formoso de
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
347
dentro, e tão seguro que podem ficar nele mais de duzentos navios e naus. E tanto que
as naus foram distribuídas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do Capitãomor. E daqui mandou o Capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em
terra e levassem aqueles dois homens, e os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais
mandou dar a cada um uma camisa nova e uma carapuça vermelha e um rosário de
contas brancas de osso, que foram levando nos braços, e um cascavel e uma campainha.
E mandou com eles, para lá ficar, um mancebo degredado, criado de dom João Telo,
de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a
mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia.
Ali acudiram logo perto de duzentos homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos.
Aqueles que nós levamos acenaram-lhes que se afastassem e depusessem os arcos. E
eles os depuseram.
Mas não se afastaram muito. E mal tinham pousado seus arcos quando saíram os
que nós levávamos, e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais; nem
esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais correria. E passaram um rio
que aí corre, de água doce, de muita água que lhes dava pela braga. E muitos outros
com eles. E foram assim correndo para além do rio entre umas moitas de palmeiras onde
estavam outros. E ali pararam. E naquilo tinha ido o degredado com um homem que,
logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram a nós. E com ele
vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças.
E então se começaram de chegar muitos; e entravam pela beira do mar para os
batéis, até que mais não podiam. E traziam cabaças d’água, e tomavam alguns barris que
nós levávamos e enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todo
chegassem a bordo do batel. Mas junto a ele, lançavam-nos da mão. E nós tomávamolos. E pediam que lhes dessem alguma coisa.
Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns dava um cascavel, e a
outros uma manilha, de maneira que com aquela encarna quase que nos queriam dar a
mão. Davam-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho,
e de qualquer coisa que a gente lhes queria dar.
Dali se partiram os outros, dois mancebos, que não os vimos mais.
Dos que ali andavam, muitos – quase a maior parte – traziam aqueles bicos de
osso nos beiços.
E alguns, que andavam sem eles, traziam os beiços furados e nos buracos traziam
uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. E alguns deles traziam três
daqueles bicos, a saber um no meio, e os dois nos cabos.
E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber metade deles da sua própria
cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada; e outros quartejados d’escaques.
348
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas e gentis, com cabelos
muito pretos e compridos pelas costas; e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão
limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam.
Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles
ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamos-lhes que se fossem. E
assim o fizeram e passaram-se para além do rio. E saíram três ou quatro homens nossos
dos batéis, e encheram não sei quantos barris d’água que nós levávamos. E tornamonos às naus. E quando assim vínhamos, acenaram-nos que voltássemos. Voltamos,
e eles mandaram o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles, o qual levava
uma bacia pequena e duas ou três carapuças vermelhas para lá as dar ao senhor, se o
lá houvesse. Não trataram de lhe tirar coisa alguma, antes mandaram-no com tudo.
Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, que lhe desse aquilo. E ele tornou
e deu aquilo, em vista de nós, a aquele que o da primeira agasalhara. E então veio-se,
e nós levamo-lo.
Esse que o agasalhou era já de idade, e andava por galanteria, cheio de penas,
pegadas pelo corpo, que parecia seteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças
de penas amarelas; e outros, de vermelhas; e outros de verdes. E uma daquelas moças
era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura e certo era tão bem feita e tão redonda,
e sua vergonha tão graciosa que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições
envergonhara, por não terem as suas como ela.
Nenhum deles era fanado, mas todos assim como nós.
E com isto nos tornamos, e eles foram-se.
À tarde saiu o Capitão-mor em seu batel com todos nós outros capitães das naus
em seus batéis a folgar pela baía, perto da praia. Mas ninguém saiu em terra, por o
Capitão o não querer, apesar de ninguém estar nela. Apenas saiu – ele com todos nós
– em um ilhéu grande que está na baía, o qual, aquando baixamar, fica mui vazio. Com
tudo está de todas as partes cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser
de barco ou a nado. Ali folgou ele, e todos nós, bem uma hora e meia. E pescaram lá,
andando alguns marinheiros com um chinchorro; e mataram peixe miúdo, não muito.
E depois volvemo-nos às naus, já bem noite.
Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão ir ouvir missa e
sermão naquele ilhéu. E mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e
fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu, e dentro
levantar um altar mui bem arranjado. E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual
disse o padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos
outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer,
foi ouvida por todos com muito prazer e devoção.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
349
Ali estava com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual
esteve sempre bem alta, da parte do Evangelho.
Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta; e nós todos
lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação, da história
evangélica; e no fim tratou da nossa vida, e do achamento desta terra, referindo-se à
Cruz, sob cuja obediência viemos, que veio muito a propósito, e fez muita devoção.
Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente,
pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando. E
olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos
a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a
saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias – duas ou três que
lá tinham – as quais não são feitas como as que eu vi; apenas são três traves, atadas
juntas. E ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando quase
nada da terra, só até onde podiam tomar pé.
Acabada a pregação encaminhou-se o Capitão, com todos nós, para os batéis,
com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos indo todos em direção à terra para
passarmos ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira, por ordem do Capitão,
Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma almadia que lhes o mar levara,
para o entregar a eles. E nós todos trás dele, a distância de um tiro de pedra.
Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água,
metendo-se nela até onde mais podiam.
Acenaram-lhes que pousassem os arcos e muitos deles os iam logo pôr em terra;
e outros não os punham.
Andava lá um que falava muito aos outros, que se afastassem. Mas não já que a
mim me parecesse que lhe tinham respeito ou medo. Este que os assim andava afastando
trazia seu arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas e pelos
quadris, coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua
própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água lha não comia nem desfazia. Antes,
quando saía da água, era mais vermelho. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu
Dias e andava no meio deles, sem implicarem nada com ele, e muito menos ainda
pensavam em fazer-lhe mal.
Apenas lhe davam cabaças d’água; e acenavam aos do esquife que saíssem em
terra. Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao Capitão. E viemo-nos às naus, a comer,
tangendo trombetas e gaitas, sem os mais constranger. E eles tornaram-se a sentar na
praia, e assim por então ficaram.
Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e sermão, espraia muito a água e descobre
muita areia e muito cascalho. Enquanto lá estávamos foram alguns buscar marisco e não
350
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
no acharam. Mas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um
muito grande e muito grosso; que em nenhum tempo o vi tamanho. Também acharam
cascas de berbigões e de amêijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E
depois de termos comido vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do
Capitão-mor, com os quais ele se aportou; e eu na companhia. E perguntou a todos se
nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos
mantimentos, para a melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos
saber, por irmos na nossa viagem.
E entre muitas falas que sobre o caso se fizeram foi dito, por todos ou a maior
parte, que seria muito bem. E nisto concordaram. E logo que a resolução foi tomada,
perguntou mais, se seria bem tomar aqui por força um par destes homens para os mandar
a Vossa Alteza, deixando aqui em lugar deles outros dois destes degredados.
E concordaram em que não era necessário tomar por força homens, porque
costume era dos que assim à força levavam para alguma parte dizerem que há de tudo
quanto lhes perguntam; e que melhor e muito melhor informação da terra dariam dois
homens desses degredados que aqui deixássemos do que eles dariam se os levassem
por ser gente que ninguém entende.
Nem eles cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor
estoutros o não digam quando cá Vossa Alteza mandar.
E que portanto não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer
escândalo; mas sim, para os de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui
os dois degredados quando daqui partíssemos.
E assim ficou determinado por parecer melhor a todos.
Acabado isto, disse o Capitão que fôssemos nos batéis em terra. E ver-se-ia bem,
quejando era o rio. Mas também para folgarmos.
Fomos todos nos batéis em terra, armados; e a bandeira conosco. Eles andavam
ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos; e, antes que chegássemos, pelo ensino
que dantes tinham, puseram todos os arcos, e acenaram que saíssemos. Mas, tanto
que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual
não é mais ancho que um jogo de mancal. E tanto que desembarcamos, alguns dos
nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles. E alguns aguardavam; e outros
se afastavam. Com tudo, a coisa era de maneira que todos andavam misturados. Eles
davam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho, e por qualquer
coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andaram assim misturados
com eles, que eles se esquivavam, e afastavam-se; e iam alguns para cima, onde outros
estavam. E então o Capitão fez que o tomassem ao colo dois homens e passou o rio,
e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que aquela do costume.
Mas logo que o Capitão chamou todos para trás, alguns se chegaram a ele, não por o
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
351
reconhecerem por Senhor, mas porque a gente, nossa, já passava para aquém do rio.
Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas, daquelas já ditas, e resgatavam-nas
por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos levavam dali para as naus muitos
arcos, e setas e contas.
dele.
E então tornou-se o Capitão para aquém do rio. E logo acudiram muitos à beira
Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos
corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre
eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas
andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela
tintura preta; e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as
curvas assim tintas, e também os colos dos pés; e suas vergonhas tão nuas, e com tanta
inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma.
Também andava lá outra mulher, nova, com um menino ou menina, atado com
um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam senão as perninhas. Mas nas pernas
da mãe, e no resto, não havia pano algum.
Em seguida o Capitão foi subindo ao longo do rio, que corre rente à praia. E ali
esperou por um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Falou, enquanto o Capitão
estava com ele, na presença de todos nós; mas ninguém o entendia, nem ele a nós,
por mais coisas que a gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque desejávamos
saber se o havia na terra.
Trazia este velho o beiço tão furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo
polegar. E trazia metido no buraco uma pedra verde, de nenhum valor, que fechava por
fora aquele buraco. E o Capitão lha fez tirar. E ele não sei que diabo falava e ia com ela
para a boca do Capitão para lha meter. Estivemos rindo um pouco e dizendo chalaças
sobre isso. E então enfadou-se o Capitão, e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela
pedra um sombreiro velho; não por ela valer alguma coisa, mas para amostra. E depois
houve-a o Capitão, creio, para mandar com as outras coisas a Vossa Alteza.
Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo
dele há muitas palmeiras, não muito altas; e muito bons palmitos. Colhemos e comemos
muitos deles.
Depois tornou-se o Capitão para baixo para a boca do rio, onde tínhamos
desembarcado.
E além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante os outros,
sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então para a outra banda
do rio Diogo Dias, que fora almoxarife de Sacavém, o qual é homem gracioso e de
prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se a dançar com eles,
tomando-os pelas mãos; e eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao som
352
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
da gaita. Depois de dançarem fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão, e salto
real, de que se eles espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo os
segurou e afagou muito, tomavam logo uma esquiveza como de animais montezes, e
foram-se para cima.
E então passou o rio o Capitão com todos nós, e fomos pela praia, de longo, ao
passo que os batéis iam rentes à terra. E chegamos a uma grande lagoa de água doce
que está perto da praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a
água por muitos lugares.
E depois de passarmos o rio, foram uns sete ou oito deles meter-se entre os
marinheiros que se recolhiam aos batéis. E levaram dali um tubarão que Bartolomeu
Dias matou. E levavam-lho; e lançou-o na praia.
Bastará que até aqui, como quer que se lhes em alguma parte amansassem, logo
de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevadouro. Ninguém não lhes
ousa falar de rijo para não se esquivarem mais. E tudo se passa como eles querem –
para os bem amansarmos!
Ao velho com quem o Capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça vermelha.
E com toda a conversa que com ele houve, e com a carapuça que lhe deu tanto que
se despediu e começou a passar o rio, foi-se logo recatando. E não quis mais tornar
do rio para aquém. Os outros dois o Capitão teve nas naus, aos quais deu o que já
ficou dito, nunca mais aqui apareceram – fatos de que deduzo que é gente bestial e
de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso andam bem curados,
e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves, ou alimárias
montezinhas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que às mansas, porque
os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais! E
isto me faz presumir que não tem casas nem moradias em que se recolham; e o ar em
que se criam os faz tais. Nós pelo menos não vimos até agora nenhumas casas, nem
coisa que se pareça com elas.
Mandou o Capitão aquele degredado, Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez
com eles. E foi; e andou lá um bom pedaço, mas a tarde regressou, que o fizeram eles
vir: e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas; e não lhe tomaram nada
do seu. Antes, disse ele, que lhe tomara um deles umas continhas amarelas que levava
e fugia com elas, e ele se queixou e os outros foram logo após ele, e lhas tomaram e
tornaram-lhas a dar; e então mandaram-no vir. Disse que não vira lá entre eles senão
umas choupaninhas de rama verde e de feteiras muito grandes, como as de Entre Douro
e Minho. E assim nos tornamos às naus, já quase noite, a dormir.
Segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram
então muitos; mas não tantos como as outras vezes. E traziam já muito poucos arcos.
E estiveram um pouco afastados de nós; mas depois pouco a pouco misturaram-se
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
353
conosco; e abraçavam-nos e folgavam; mas alguns deles se esquivavam logo. Ali davam
alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha e por qualquer coisa.
E de tal maneira se passou a coisa que bem vinte ou trinta pessoas das nossas se foram
com eles para onde outros muitos deles estavam com moças e mulheres. E trouxeram
de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, uns verdes, outros amarelos, dos quais
creio que o Capitão há de mandar uma amostra a Vossa Alteza.
E segundo diziam esses que lá tinham ido, brincaram com eles. Neste dia os
vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados:
uns andavam quartejados daquelas tinturas, outros de metades, outros de tanta feição
como em pano de ras, e todos com os beiços furados, muitos com os ossos neles, e
bastantes sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes, de árvores, que na cor queriam
parecer de castanheiras, embora fossem muito mais pequenos. E estavam cheios de
uns grãos vermelhos, pequeninos que, esmagando-se entre os dedos, se desfaziam na
tinta muito vermelha de que andavam tingidos. E quanto mais se molhavam, tanto
mais vermelhos ficavam.
Todos andam rapados até por cima das orelhas; assim mesmo de sobrancelhas
e pestanas.
Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma
fita preta da largura de dois dedos.
E o Capitão mandou aquele degredado Afonso Ribeiro e a outros dois degredados
que fossem meter-se entre eles; e assim mesmo a Diogo Dias, por ser homem alegre,
com que eles folgavam. E aos degredados ordenou que ficassem lá esta noite.
Foram-se lá todos; e andaram entre eles. E segundo depois diziam, foram bem
uma légua e meia a uma povoação, em que haveria nove ou dez casas, as quais diziam
que eram tão compridas, cada uma, como esta nau Capitaina. E eram de madeira, e das
ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoável altura; e todas de um só espaço, sem
repartição alguma, tinham de dentro muitos esteios; e de esteio a esteio uma rede atada
com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam. E de baixo, para se aquentarem,
faziam seus fogos. E tinha cada casa duas portas pequenas, uma numa extremidade,
e outra na oposta.
E diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas, e que assim
os encontraram; e que lhes deram de comer dos alimentos que tinham, a saber muito
inhame, e outras sementes que na terra dá, que eles comem. E como se fazia tarde
fizeram-nos logo todos tornar; e não quiseram que lá ficasse nenhum. E ainda, segundo
diziam, queriam vir com eles.
Resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor, que levavam,
papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e dois verdes pequeninos, e carapuças
de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, espécie de tecido assaz belo,
354
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
segundo Vossa Alteza todas estas coisas verá, porque o Capitão vo-las há de mandar,
segundo ele disse. E com isto vieram; e nós tornamo-nos às naus.
Terça-feira, depois de comer, fomos em terra, fazer lenha, e para lavar roupa.
Estavam na praia, quando chegamos, uns sessenta ou setenta, sem arcos e sem nada.
Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. E depois acudiram
muitos, que seriam bem duzentos, todos sem arcos. E misturaram-se todos tanto conosco
que uns nos ajudavam a acarretar lenha e metê-las nos batéis. E lutavam com os nossos,
e tomavam com prazer. E enquanto fazíamos a lenha, construíam dois carpinteiros uma
grande cruz de um pau que se ontem para isso cortara. Muitos deles vinham ali estar
com os carpinteiros. E creio que o faziam mais para verem a ferramenta de ferro com
que a faziam do que para verem a cruz, porque eles não tem coisa que de ferro seja, e
cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre
duas talas, mui bem atadas e por tal maneira que andam fortes, porque lhas viram lá.
Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos
de fazer.
E o Capitão mandou a dois degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia
e que de modo algum viessem a dormir às naus, ainda que os mandassem embora. E
assim se foram.
Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios
essas árvores; verdes uns, e pardos, outros, grandes e pequenos, de sorte que me parece
que haverá muitos nesta terra. Todavia os que vi não seriam mais que nove ou dez,
quando muito. Outras aves não vimos então, a não ser algumas pombas-seixeiras, e
pareceram-me maiores bastante do que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas,
mas eu não as vi. Todavia segundo os arvoredos são mui muitos e grandes, e de infinitas
espécies, não duvido que por esse sertão haja muitas aves!
E cerca da noite nós volvemos para as naus com nossa lenha.
Eu creio, Senhor, que não dei ainda conta aqui a Vossa Alteza do feitio de seus
arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, e as setas compridas; e os ferros delas
são canas aparadas, conforme Vossa Alteza verá alguns que creio que o Capitão a Ela
há de enviar.
Quarta-feira não fomos em terra, porque o Capitão andou todo o dia no navio
dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que cada um podia levar. Eles
acudiram à praia, muitos, segundo das naus vimos. Seriam perto de trezentos, segundo
Sancho de Tovar que para lá foi. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais
o Capitão ontem ordenara que de toda maneira lá dormissem, tinham voltado já de
noite, por eles não quererem que lá ficassem. E traziam papagaios verdes; e outras
aves pretas, quase como pegas, com a diferença de terem o bico branco e rabos curtos.
E quando Sancho de Tovar recolheu à nau, queriam vir com ele, alguns; mas ele não
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
355
admitiu senão dois mancebos, bem dispostos e homens de prol. Mandou pensar e curálos mui bem essa noite. E comeram toda a ração que lhes deram, e mandou dar-lhes
cama de lençóis, segundo ele disse. E dormiram e folgaram aquela noite. E não houve
mais este dia que para escrever seja.
Quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em
terra por mais lenha e água. E em querendo o Capitão sair desta nau, chegou Sancho
de Tovar com seus dois hóspedes. E por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas,
e veio-lhe comida. E comeu. Os hóspedes, sentaram-no cada um em sua cadeira. E de
tudo quanto lhes deram, comeram mui bem, especialmente lacão cozido frio, e arroz.
Não lhes deram vinho por Sancho de Tovar dizer que o não bebiam bem.
Acabado o comer, metemo-nos todos no batel, e eles conosco. Deu um grumete
a um deles uma armadura grande de porco montês, bem revolta. E logo que a tomou
meteu-a no beiço; e porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pouca de cera
vermelha. E ele ajeitou-lhe seu adereço da parte de trás de sorte que segurasse, e meteu-a
no beiço, assim revolta para cima; e ia tão contente com ela, como se tivesse uma grande
jóia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela. E não tornou a aparecer lá.
Andariam na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e de aí a pouco começaram
a vir. E parece-me que viriam este dia a praia quatrocentos ou quatrocentos e cinqüenta.
Alguns deles traziam arcos e setas; e deram tudo em troca de carapuças e por qualquer
coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam
vinho, ao passo que outros o não podiam beber. Mas quer-me parecer que, se os
acostumarem, o hão de beber de boa vontade! Andavam todos tão bem dispostos e
tão bem feitos e galantes com suas pinturas que agradavam. Acarretavam dessa lenha
quanta podiam, com mil boas vontades, e levavam-na aos batéis. E estavam já mais
mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles.
Foi o Capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até um ribeiro
grande, e de muita água, que ao nosso parecer é o mesmo que vem ter à praia, em
que nós tomamos água. Ali descansamos um pedaço, bebendo e folgando, ao longo
dele, entre esse arvoredo que é tanto e tamanho e tão basto e de tanta qualidade de
folhagem que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras, de que colhemos muitos
e bons palmitos.
Ao sairmos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos em direitura à cruz que
estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira,
e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento
que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a esses dez ou doze que lá estavam, acenaramlhes que fizessem o mesmo; e logo foram todos beijá-la.
Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a
nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo
356
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
as aparências. E portanto se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua
fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se
farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga,
porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente
neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons
corpos e bons rostos, como a homens bons. E o Ele nos para aqui trazer creio que não
foi sem causa. E portanto Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica,
deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim!
Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha,
ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem
senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as
árvores de si deitam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios que o não somos
nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos.
Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao
som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Se
lhes a gente acenava, se queriam vir às naus, aprontavam-se logo para isso, de modo
tal, que se os convidáramos a todos, todos vieram. Porém não levamos esta noite às
naus senão quatro ou cinco; a saber, o Capitão-mor, dois; e Simão de Miranda, um que
já trazia por pagem; e Aires Gomes a outro, pagem também. Os que o Capitão trazia,
era um deles um dos seus hóspedes que lhe haviam trazido a primeira vez quando aqui
chegamos – o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa, e com ele um seu irmão; e
foram esta noite mui bem agasalhados tanto de comida como de cama, de colchões e
lençóis, para os mais amansar.
E hoje que é sexta-feira, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em terra com
nossa bandeira; e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul onde nos pareceu que
seria melhor arvorar a cruz, para melhor ser vista. E ali marcou o Capitão o sítio onde
haviam de fazer a cova para a fincar. E enquanto a iam abrindo, ele com todos nós
outros fomos pela cruz, rio abaixo onde ela estava. E com os religiosos e sacerdotes que
cantavam, à frente, fomos trazendo-a dali, a modo de procissão. Eram já aí quantidade
deles, uns setenta ou oitenta; e quando nos assim viram chegar, alguns se foram meter
debaixo dela, ajudar-nos. Passamos o rio, ao longo da praia; e fomos colocá-la onde
havia de ficar, que será obra de dois tiros de besta do rio. Andando-se ali nisto, viriam
bem cento cinqüenta, ou mais. Plantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza,
que primeiro lhe haviam pregado, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre frei
Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco, a ela,
perto de cinqüenta ou sessenta deles, assentados todos de joelho assim como nós. E
quando se veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas,
eles se levantaram conosco, e alçaram as mãos, estando assim até se chegar ao fim; e
então tornaram-se a assentar, como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
357
de joelhos, eles se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e em
tal maneira sossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção.
Estiveram assim conosco até acabada a comunhão; e depois da comunhão,
comungaram esses religiosos e sacerdotes; e o Capitão com alguns de nós outros. E
alguns deles, por o Sol ser grande, levantaram-se enquanto estávamos comungando, e
outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de cinqüenta ou cinqüenta e cinco anos,
se conservou ali com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estávamos, juntava
aqueles que ali tinham ficado, e ainda chamava outros. E andando assim entre eles,
falando-lhes, acenou com o dedo para o altar, e depois mostrou com o dedo para o céu,
como se lhes dissesse alguma coisa de bem; e nós assim o tomamos!
Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima, e ficou na alva; e assim se
subiu, junto ao altar, em uma cadeira; e ali nos pregou o Evangelho e dos Apóstolos cujo
é o dia, tratando no fim da pregação desse vosso prosseguimento tão santo e virtuoso,
que nos causou mais devoção.
Esses que estiveram sempre à pregação estavam assim como nós olhando para ele.
E aquele que digo, chamava alguns, que viessem ali. Alguns vinham e outros iam-se;
e acabada a pregação, trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos,
que lhe ficaram ainda da outra vinda. E houveram por bem que lançassem a cada um
sua ao pescoço. Por essa causa se assentou o padre frei Henrique ao pé da cruz; e ali
lançava a sua a todos – um a um – ao pescoço, atada em um fio, fazendo-lha primeiro
beijar e levantar as mãos. Vinham a isso muitos; e lançavam-nas todas, que seriam
obra de quarenta ou cinqüenta. E isto acabado – era já bem uma hora depois do meio
dia – viemos às naus a comer, onde o Capitão trouxe consigo aquele mesmo que fez
aos outros aquele gesto para o altar e para o céu, (e um seu irmão com ele). A aquele
fez muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca; e ao outro uma camisa destoutras.
E segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente, não lhes falece outra coisa
para ser toda cristã, do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos
viam fazer como nós mesmos; por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem
adoração têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais
devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por
isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar; porque já então terão
mais conhecimentos de nossa fé, pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os
quais hoje também comungaram.
358
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
Entre todos estes que hoje vieram não veio mais que uma mulher, moça, a qual
esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse; e puseram-lho em
volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir.
Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior – com
respeito ao pudor.
Ora veja Vossa Alteza quem em tal inocência vive se se convertera, ou não, se
lhe ensinarem o que pertence à sua salvação.
Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz. E despedimo-nos e fomos
comer.
Creio, Senhor, que, com estes dois degredados que aqui ficam, ficarão mais dois
grumetes, que esta noite se saíram em terra, desta nau, no esquife, fugidos, os quais não
vieram mais. E cremos que ficarão aqui porque de manhã, prazendo a Deus fazemos
nossa partida daqui.
Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até
à outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será
tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas de costa. Traz ao longo do
mar em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas, e outras brancas; e a terra
de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia...
muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande; porque
a estender olhos, não podíamos ver senão terra e arvoredos – terra que nos parecia
muito extensa.
Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou
ferro; nem lha vimos. Contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados
como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo d’agora assim os achávamos
como os de lá. Águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a
aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem!
Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta
gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que
não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa navegação de
Calicute bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa
Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé!
E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta Vossa terra vi. E se
a um pouco alonguei, Ela me perdoe.
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009
359
Porque o desejo que tinha de Vos tudo dizer, mo fez pôr assim pelo miúdo.
E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra qualquer
coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a
Ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de
Osório, meu genro – o que d’Ela receberei em muita mercê.
Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia
de maio de 1500.
Pero Vaz de Caminha.
360
Direito e Democracia, v.10, n.2, jul./dez. 2009