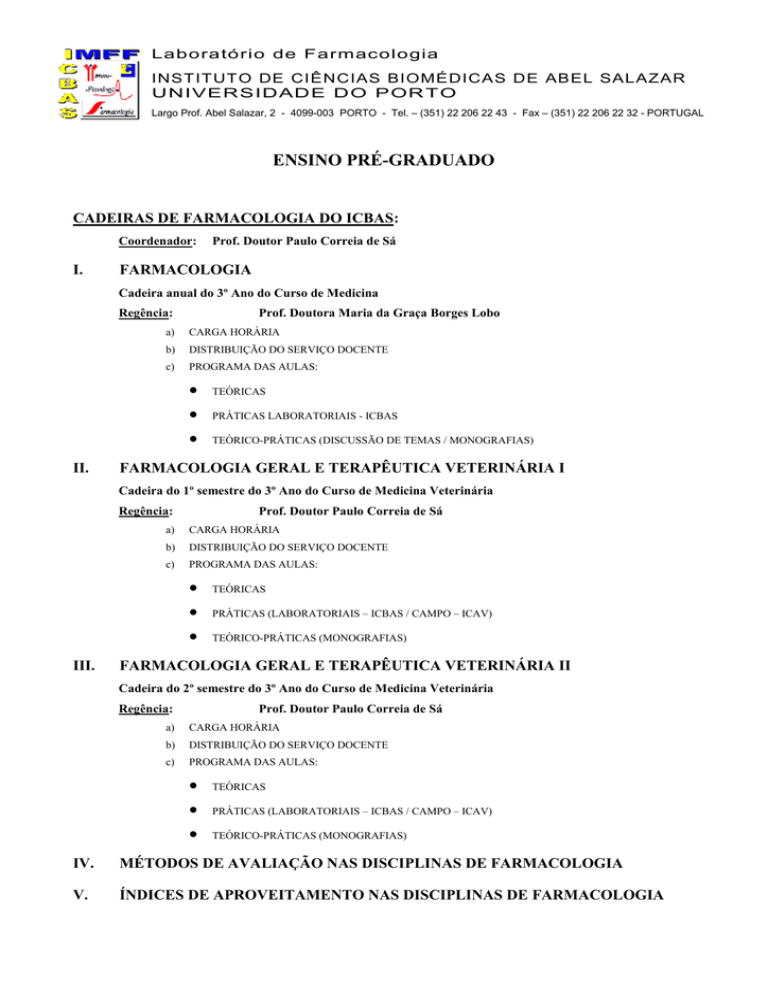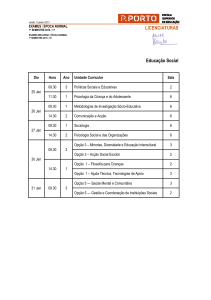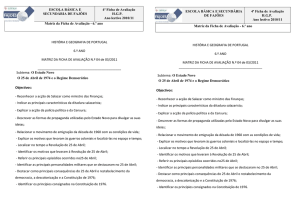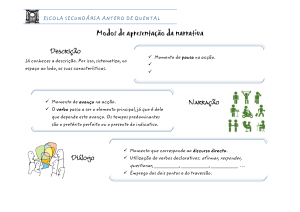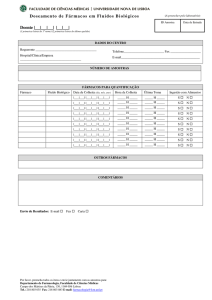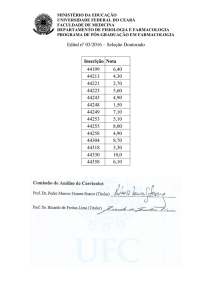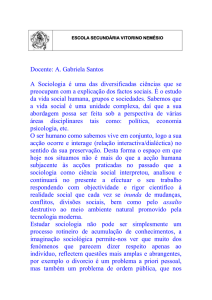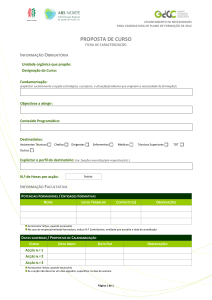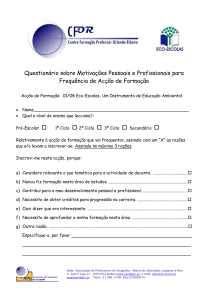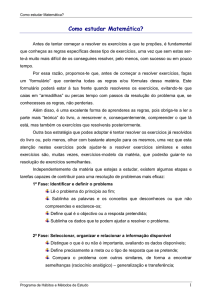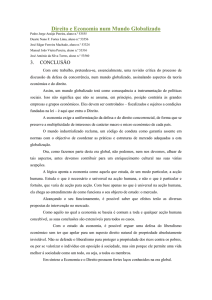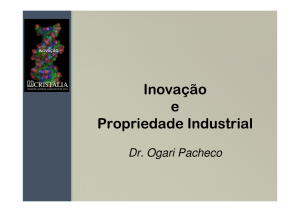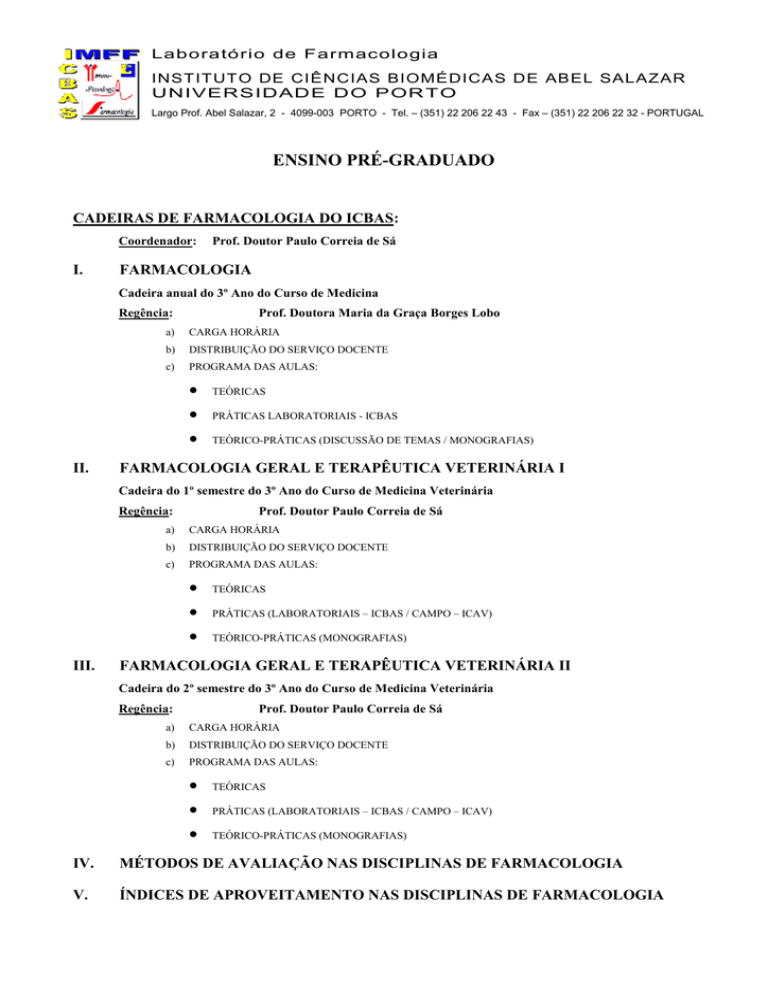
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
ENSINO PRÉ-GRADUADO
CADEIRAS DE FARMACOLOGIA DO ICBAS:
Coordenador:
I.
Prof. Doutor Paulo Correia de Sá
FARMACOLOGIA
Cadeira anual do 3º Ano do Curso de Medicina
Regência:
Prof. Doutora Maria da Graça Borges Lobo
a)
CARGA HORÁRIA
b)
DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE
c)
PROGRAMA DAS AULAS:
II.
TEÓRICAS
PRÁTICAS LABORATORIAIS - ICBAS
TEÓRICO-PRÁTICAS (DISCUSSÃO DE TEMAS / MONOGRAFIAS)
FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA I
Cadeira do 1º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária
Regência:
Prof. Doutor Paulo Correia de Sá
a)
CARGA HORÁRIA
b)
DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE
c)
PROGRAMA DAS AULAS:
III.
TEÓRICAS
PRÁTICAS (LABORATORIAIS – ICBAS / CAMPO – ICAV)
TEÓRICO-PRÁTICAS (MONOGRAFIAS)
FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA II
Cadeira do 2º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária
Regência:
Prof. Doutor Paulo Correia de Sá
a)
CARGA HORÁRIA
b)
DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE
c)
PROGRAMA DAS AULAS:
TEÓRICAS
PRÁTICAS (LABORATORIAIS – ICBAS / CAMPO – ICAV)
TEÓRICO-PRÁTICAS (MONOGRAFIAS)
IV.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA
V.
ÍNDICES DE APROVEITAMENTO NAS DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
I – FARMACOLOGIA
Ano lectivo de 2002/03
Cadeira anual do 3º Ano do Curso de Medicina
Regência:
Prof. Doutora Maria da Graça Borges Lobo
Carga horária:
Aulas Teóricas
Horas /
aula
2
Nº aulas
/ semana
1
Horas /
semana
2
Total
Aulas Práticas
Horas /
ano
60
Horas
/aula
2
Nº aulas
/ semana
5
Distribuição do serviço docente na disciplina:
Nome do Docente
Teóricas
(horas/ano)
Graça Lobo
24
Paulo Correia de Sá
32
Margarida Araújo
4
Horas /
semana
10
Horas /
ano
300
Práticas
(horas/ano)
100
84
116
Horas /
ano
360
Total
(horas/ano)
124
116
120
Programa das Aulas Teóricas:
1. Lição de abertura
O que é a farmacologia? Breve história da Farmacologia. Farmacologia em Portugal.
Sociedade Portuguesa de Farmacologia. As principais revistas internacionais de Farmacologia e sua
importância relativa. Principais livros de texto e sua análise crítica.
Objectivos gerais da disciplina de Farmacologia e sua articulação com outras cadeiras do
curso. Organização geral da disciplina. Programa das aulas teóricas, práticas e teórico-práticas.
Métodos de ensino/aprendizagem e de avaliação.
2.
Introdução à farmacologia
Conceitos de fármaco e de medicamento. Origem dos fármacos, sua natureza, aplicabilidade
e lugar no tratamento das doenças e na sociedade. Fases da “vida” de um fármaco: farmacêutica,
farmacocinética e farmacodinâmica. Distinção entre agentes farmacodinâmicos e agentes
quimioterapêuticos. Medicamentos e sua relação com outros xenobióticos. Níveis de organização
biológica com interesse em farmacologia: organismo, célula e molécula.
3.
Metodologia da investigação farmacológica
Desenho experimental, aplicação estatística, protocolos e relatórios de investigação.
Aplicação de técnicas de biologia molecular: biotecnologia, clonagem de receptores, proteínas
recombinantes usadas na terapêutica, manipulação genética de animais, mutantes e sua utilização.
Experimentação em animais.
4.
Ensaio Clínico. Precurso de um medicamento
Evolução dos fármacos até ao uso clínico. Testes de perfil farmacológico, segurança,
qualidade e eficácia. Estudos pré-clínicos, clínicos (fases I-III) e farmacovigilância. Requisitos dos
ensaios clínicos. Tipos de ensaio clínico: piloto, controlado, aberto, sequencial, paralelo, cruzado,
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
simples, ignorado, duplamente ignorado. Aprovação medicamentosa e suas regras. Fármacos
"órfãos".
5.
Transporte de fármacos através das membranas biológicas
Prínicpios da farmacocinética. Absorção e transporte de fármacos através da membrana
citoplasmática. Tipos de transporte: difusão, difusão facilitada, transporte activo. Canais e
transportadores. Endocitose e exocitose. Factores que afectam o transporte: coeficiente de partilha
óleo/água; grau de ionização; peso molecular e estrutura tridimensional da molécula. Barreiras para
fármacos: hematoencefálica, placentária, olho e rim. Transporte através da parede dos capilares.
Transporte através de epitélios.
6.
Vias de administração de fármacos e sua relação com a absorção
Vias de administração de fármacos: digestiva (sublingual, oral, rectal), parentérica
(subcutânea, intramuscular, intravenosa), intratecal, tópica ou de superfície (pelas mucosas, pela
pele), inalatória (pelos pulmões) e intra-articular. Absorção sub-lingual para evitar o fenómeno de
1ª passagem hepático. Absorção ao nível do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso;
influência do pH; exemplos de transportes aos vários níveis. Efeitos da secreção e da motilidade
gástrica sobre os fármacos. Vantagens e inconvenientes da via oral. Absorção rectal; vantagens e
inconvenientes da administração rectal. Vantagens e inconvenientes das diferentes formas de
administração parentérica. Absorção através das mucosas usadas para a administração tópica
(mucosas vaginal, nasal, ocular). Absorção através da pele e processos que a facilitam. Absorção
pelos pulmões e factores que a influenciam. Vantagens e inconvenientes da administração por
inalação. Tempo de latência da acção dos fármacos em função da via de administração. Formas
farmacêuticas e papel do excipiente.
7.
Distribuição dos fármacos no organismo
Principais compartimentos: sangue, intersticial e intracelular. Factores que influenciam a
distribuição de fármacos: características fisico-químicas do fármaco, débito cardíaco, fluxo
sanguíneo local, repartição de água pelo organismo. Volume aparente de distribuição. Os
“depósitos” de fármacos no organismo: ligação às proteínas plasmáticas e sua influência na
distribuição dos fármacos, fixação em determinados territórios (tecido adiposo e ósseo).
8.
Biotransformação e excreção
Metabolismo dos fármacos: mecanismos gerais e especiais. Susceptibilidade individual,
factores genéticos, influência da dieta e do ambiente, alterações com o sexo, com a idade e com a
patologia subjacente. Biotransformação não sintética (reacções de fase I): oxidações, reduções,
hidrólise. Biotransformação sintética (reacções de fase II): conjugações com o ácido glicurónico e
com amino-ácidos; sulfatação; metilação; acetilação. Sistema microssomal hepático (e.g. citocromo
P450 e suas isoformas). Indutores e inibidores enzimáticos. Activação e inactivação de compostos.
Vias de excreção dos fármacos: renal (filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular), fecal,
salivar, sudorípara. Ciclo entero-hepático.
9.
Cinéticas de absorção e eliminação
Modelos matemáticos. Processos de ordem zero e de 1ª ordem. Constante de absorção e
semivida de absorção. Constante de eliminação e semivida de eliminação. Noção de modelo de
farmacocinético. Modelo aberto uni-compartimental. Sistemas multicompartimentais.
Administração múltipla de fármacos: conceito de estado estacionário. Previsão das concentrações
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
plasmáticas. Conceito de acumulação e de flutuação de dose. Dose de carga. Esquemas posológicos
e seu estabelecimento. Cálculo da dose e do intervalo de administração. Uso dos níveis plasmáticos
no ajustamento da posologia.
10. Factores que condicionam a duração e a intensidade dos efeitos dos fármacos
Factores farmacocinéticos: dose e frequência de administração; velocidade de
biotransformação; velocidade de excreção. Importância da fixação às proteínas plasmáticas.
Factores patológicos: diarreia; obstipação; insuficiência hepática; insuficiência renal. Factores
farmacodinâmicos: habituação, hipersensibilização. Importância dos processos homeostáticos.
Factores genéticos e farmacogenética. Variação individual e seus factores: idade, sexo, ambiente.
11. Mecanismos moleculares da acção dos fármacos
Colaboração do Prof. Doutor Rodrigo Cunha (Faculdade de Medicina de Coimbra)
Tipos de interacção fármaco-membrana. Conceito de receptor em farmacologia: o
responsável pela selectividade da acção dos fármacos. Importância da estrutura conformacional do
receptor. Especificidade da ligação fármaco-receptor. Tipos de ligações que se estabelecem entre o
fármaco e o receptor. Consequências da activação dos receptores (sinalização): alteração da
permeabilidade iónica da membrana; receptores catalíticos; interacção com proteínas G. Modulação
da actividade da adenilciclase e da guanilciclase. Ciclo do fosfatidilinositol. Mecanismos da
activação das cinases das proteínas. Proteínas reguladas por fosforilação. Papel sinalizador do cálcio
intracelular. Receptores intracelulares e expressão génica. Métodos de caracterização e identificação
dos receptores: biofísicos, bioquímicos, morfológicos e farmacológicos. Nomenclatura dos
receptores (IUPHAR). Outros locais de acção dos fármacos (bombas iónicas, enzimas, organelos,
transportadores).
12. Cinética da ligação fármaco-receptor
Conceitos de agonista e de antagonista. Afinidade e actividade intrínseca. Agonistas parciais
e agonistas totais. Reserva de receptores. Dose eficaz 50% (ED50) e pD2. Relação entre ED50 e a
afinidade do agonista. Curvas dose-efeito: representação linear, semi-logarítmica e de LineweaverBurk. Antagonismo competitivo. Representação de Schild para a determinação do pA2 dos
antagonistas. Relação entre pA2 e afinidade do antagonista. Antagonismo não-competitivo.
Alteração das curvas dose-efeito pelos antagonistas competitivos e não competitivos. Modelos de
interacção fármaco-receptor: teoria da ocupação, teoria cinética, modelos de dois estadios.
Alosterismo. Taquifilaxia ou dessensibilização. Mecanismos moleculares envolvidos na
dessensibilização.
13. Transmissão sináptica
Conceitos de neurotransmissor, de cotransmissor e de neuromodulador. Métodos de
identificação e quantificação dos neurotransmissores. Critérios para uma substância ser considerada
um neurotransmissor ou um neuromodulador. Sintese de neurotransmissores: transporte axonial;
captação de metabolitos; enzimas envolvidas. Armazenamento e libertação de neurotransmissores.
Acção pós-sináptica dos neurotransmissores: despolarização (excitação); hiperpolarização
(inibição). Envolvimento de segundos mensageiros específicos (e.g. AMP cíclico, fosfatos de
inositol, cálcio, etc.). Processos de inactivação dos neurotransmissores: degradação enzimática,
recaptação e difusão. Sinapse e locais susceptíveis à acção de fármacos. Neuromodulação sináptica:
automodulação e heteromodulação. Neuromodulação trans-sináptica. Modulação não sináptica.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
14. Neurotransmissores e neuromoduladores
Neurotransmissores / neuromoduladores e sua distribuição no sistema nervoso central –
Ésteres: acetilcolina; Aminas: noradrenalina, dopamina, serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT),
histamina; Amino-ácidos: ácido gama-aminobutírico (GABA), glutamato, aspartato, glicina;
Péptidos: péptidos opioides, substância P, colecistocinina, péptido intestinal vasoactivo, entre
outros; Purinas: ATP, ADP, adenosina, UTP; Imidazolinas. Vias de síntese, armazenamento,
libertação e inactivação de cada um dos neurotransmissores mencionados. Caracterização dos
receptores (pré- e/ou pós-sinápticos) envolvidos nas respostas biológicas dos neurotransmissores,
seus agonistas e antagonistas. Métodos de identificação dos neuropeptídeos. Coexistência de
neuropeptídeos na mesma terminação nervosa. Conceitos APUD (Amine Percursor Uptake and
Descarboxilation) e de paraneurónio.
15. Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos
Neurobiologia da ansiedade. Neuroquímica do ciclo sono-vigília. Mecanismo de acção das
benzodiazepinas e dos barbitúricos sobre os receptores GABAA. Antagonista das benzodiazepinas
(flumazenil). Farmacocinética e biotransformação dos diversos tipos de benzodiazepinas e
barbitúricos; relevância na sua aplicação terapêutica (efeito hipnótico, sedativo ou ansiolítico
preferencial) e toxicidade. Outras acções destes compostos: anestesia geral, efeito anticonvulsivante, relaxamento muscular, depressão do centro respiratório e cardiovascular. Tolerância
e dependência física e psíquica. Outros fármacos para o tratamento da ansiedade e dos distúrbios do
sono: azapironas (e.g. buspirona) e imidazopiridinas (e.g. zolpidem). Utilização histórica do hidrato
de cloral.
16. Anti-epilépticos
Epilepsia idiopática e epilepsia secundária. Fisiopatologia da epilepsia: neurotransmissores e
circuitos envolvidos. Métodos de estudo dos anti-epilépticos. Fármacos de acção anti-epiléptica:
depressores da excitabilidade neuronal por bloqueio dos canais de sódio (e.g. carbamazepina,
difenil-hidantoína, valproato de sódio, lamotrigina, topiramato); facilitadores da transmissão
gabérgica (e.g. benzodiazepinas e barbitúricos); fármacos que diminuem a recaptação e a
metabolização do GABA (e.g. vigabatrina, tiagabina); inibidores da transmissão glutamatérgica
(e.g. remacemida). Outros agentes com mecanismo de acção desconhecido (e.g. ACTH,
acetazolamida, gabapentina). Espectro de acção dos anti-eplipépticos. Tratamento do status
epilepticus. Farmacocinética, efeitos laterais e interacções medicamentosas dos principais antiepilépticos. Toxicidade, teratogenicidade e regras para a suspensão da administração.
17. Anestésicos gerais
Fases da anestesia (por éter). Propriedades de um anestésico geral “ideal”. Mecanismos de
acção dos anestésicos gerais. Características farmacocinéticas e particularidades dos anestésicos
gerais intravenosos (e.g. tiopental, propofol, etomidato, cetamina) e inalatórios (e.g. protóxido de
azoto, halotano, isoflurano, sevoflurano). Anestesia por inalação: influência da solubilidade do gás,
da concentração do anestésico no ar inspirado, da ventilação pulmonar, do fluxo sanguíneo
pulmonar e cerebral e do gradiente artério-venoso. Concentração alveolar mínima (MAC).
Repercussões da anestesia sobre o cérebro e sistemas cardiovascular, respiratório, renal e hepático.
Toxicidade aguda (hepato- e nefrotoxicidade, hipertermia maligna) e crónica (mutagenicidade,
carcinogenicidade, efeitos sobre a reprodução e hematotoxicidade). Opiódes intravenosos (e.g.
fentanil, remifentanil). Anestesia dissociativa (e.g. cetamina). Aspectos considerados na anestesia:
premedicação, indução, entubação, manutenção e recuperação.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
18. Anestésicos locais
Estrutura química (aminas e amidas). Mecanismos iónicos envolvidos na acção dos
anestésicos locais. Acções da tetrodotoxina e do tetraetilamónio. Influência do pH na potência dos
anestésicos locais. Sensibilidade diferencial dos diferentes tipos de fibras nervosas aos anestésicos
locais (diâmetro, frequência de disparo e posição no feixe). Acções farmacológicas noutras
estruturas não axoniais periféricas: sistema nervoso central e sistema cardiovascular. Tipos de
anestesia local e vias de administração: anestesia tópica, por infiltração, bloqueio troncular e
anestesia espinal. Selecção do anestésico local segundo a sua duração de acção e vias de
administração. Vantagens da associação de vasoconstrictores. Metabolismo dos anestésicos locais.
Efeitos adversos e toxicidade.
19. Farmacologia dos distúrbios do movimento e da espasticidade
Colaboração doDoutor Alexandre de Mendonça (Centro de Neurociências de Lisboa)
Principais formas de parkinsonismo: idiopático, iatrogénico, arteriosclerótico, tóxico e pósencefalítico. Envolvimento da dopamina e outros neurotransmissores na Doença de Parkinson.
Neuroinflamação como causadora da perda de neurónios dopaminérgicos. Fármacos antiparkinsónicos: percursores da dopamina (e.g. levodopa); inibidores da dopa-descarboxilase (e.g.
carbidopa e benserazida); inibidores selectivos da monoamina oxidase B (MAO-B) (e.g. selegilina)
e da catecol-o-metil transferase (COMT) (e.g. entacapone); facilitadores da libertação de dopamina
(e.g. amantadina); bloqueadores da captação e armazenamento da dopamina; agonistas dos
receptores dopaminérgicos (e.g. bromocriptina, pergolide, apomorfina, ropinirole); antagonistas dos
receptores muscarínicos (e.g. tri-hexifenidil, orfenadrina, prociclidina). Compostos que interferem
com a terapêutica do parkinsonismo. Efeitos laterais e toxicidade dos anti-parkinsonianos.
Aparecimento de discinésias tardias e flutuações on-off. Tratamento do tremor. Relaxantes
musculares de acção central usados no tratamento da espasticidade: derivados do propanodiol;
derivados do benzimidol; benzodiazepinas e outros agonistas GABAérgicos (e.g. baclofeno); toxina
botulínica. Farmacocinética e toxicidade destes compostos.
20. Psicodepressores e anti-psicóticos
Neurobiologia da esquizofrenia e da mania. Relação com a via dopaminérgica
mesocorticolímbica. Classificação dos fármacos anti-psicóticos: fenotiazinas (e.g. cloropromazina,
tioridazina, flufenazina), tioxantenos (e.g. flupentixol), butilpiperidinas (e.g. haloperidol, pimozide),
benzamidas substituídas (e.g. sulpiride), agentes atípicos (e.g. clozapina, risperidona). Acção antipsicótica devido ao bloqueio dos receptores dopaminérgicos (D2). Relação da estrutura química
com a potência e os efeitos adversos (centrais, periféricos e endócrinos). Sais de lítio e outros
estabilizadores do humor. Particularidades sobre a farmacocinética do lítio e sua utilização na
doença bipolar. Efeitos do lítio sobre os electrólitos e o transporte iónico, sobre a neurotransmissão
central (serotonina, noradrenalina, dopamina e acetilcolina) e sobre segundos mensageiros
(bloqueio do ciclo dos fosfatos de inositol, da activação da adenilciclase e da activação da proteína
cinase C). Outros agentes (e.g. ácido valpróico e carbamazepina).
21. Anti-depressivos e outros estimulantes centrais
Neurobiologia da depressão. Teoria das monoaminas e sua falência. Mecanismo de acção
dos anti-depressivos. Aumento dos níveis de monoaminas: anti-depressivos tricíclicos (e.g.
amitriptilina, imipramina, protriptilina, lofepramina) e compostos relacionados (e.g. maprotilina);
inibidores selectivos da recaptação de serotonina (e.g. fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram,
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
fluvoxamina); inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina (e.g. venlafaxina); inibidores
selectivos da recaptação de noradrenalina (e.g. maprotilina). Antagonistas dos receptores 2 e 5HT2 (e.g. mirtazepina) e antagonistas selectivos dos receptores 5-HT2 (e.g. trazodona, nefazodona).
Inibidores das monoamino oxidases: inibidores não selectivos irreversíveis (e.g. fenelzina,
tranilcipromina) e inibidores selectivos reversíveis da MAO-A (e.g. moclobemida).
Farmacocinética, efeitos adversos (sedação e acção anti-muscarínica) e interacções medicamentosas
e alimentares. Condicionalismos da escolha terapêutica. Efeito agudo e tratamento de manutenção.
Convulsivantes e analépticos. Classificação dos estimulantes quanto ao ponto de actuação: com
acção predominante sobre o córtex cerebral, sobre o tronco cerebral, sobre a medula espinal.
Xantinas: farmacocinética; efeitos no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, no aparelho
respiratório; mecanismo de acção.
22. Analgésicos de acção central
Vias nociceptivas. Sistema endógeno de controlo da dor: encefalinas e endorfinas.
Receptores para os opióides endógenos e sua função biológica: agonistas e antagonistas. Analgesia
pela morfina. Principais pontos de acção da morfina: nos núcleos nociceptivos primários, nos
mecanismos anti-nociceptivos descendentes, na amígdala. Farmacocinética da morfina. Acções da
morfina no comportamento, no sistema cardiovascular, no aparelho respiratório, no aparelho
digestivo e sistema endócrino. Outros analgésicos opióides e sua comparação com a morfina. Perfil
farmacológico dos analgésicos opióides: agonistas puros (e.g. morfina, heroína, meperidina,
codeína, dextropropoxifeno), agonistas-antagonistas mistos (e.g. pentazocina), agonistas parciais
(e.g. buprenorfina), outros agentes com propriedades adicionais (e.g. tramadol). Potência
analgésica, tolerância e dependência (física e psíquica). Sinais de toxicidade e antagonistas opióides
(naloxona e naltrexona). Neuroleptoanalgesia e suas vantagens. Adjuvantes dos analgésicos.
23. Abuso de drogas e álcool
Factores que afectam o consumo e a dependência de drogas: propriedades farmacológicas e
psicoactivas; distúrbios da personalidade e causas psiquiátricas; factores genéticos. Efeitos das
drogas e seus mecanismos de acção (e.g. opióides, canabinóides, etanol, cocaína e anfetaminas,
novas drogas). Neurobiologia do abuso de drogas. Circuito de gratificação (núcleo accumbens e
área tegmentar ventral). Papel das vias dopaminérgicas e dos péptidos opióides. Uso prolongado e
neuroadaptação: tolerância (metabólica, comportamental e funcional) e abstinência, mecanismos
moleculares de sensibilização e de recaída. Alcoolimo agudo e crónico. Dependência da nicotina.
Abuso de opióides. Estimulantes (e.g. cafeína, cocaína, anfetaminas, MDMA) e suas formas de
apresentação. Alucinogénios (e.g. LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina). Canabinoides (e.g.
marijuana e haxixe). Agentes inalatórios (e.g. solventes industriais, aerossóis, nitritos orgânicos).
24. Anti-inflamatórios não-esteroides, analgésicos não opióides e anti-gotosos
Mediadores e resposta inflamatória. Centro termoregulador e alterações de temperatura
corporal. Classificação dos anti-inflamatórios não-esteróides e seu mecanismo de acção (inibição da
ciclo-oxigenase – isoformas da COX 1, 2 e 3). Aspirina e outros salicilatos: inibição irreversível e
não selectiva da COX; comparação entre a potência anti-flogística, antipirética, analgésica e antiagregante plaquetar destes compostos; farmacocinética; efeitos adversos (gastro-intestinal, renal,
retenção salina e do sistema nervoso central); sobredosagem e toxicidade. Outros anti-inflamatórios
não esteróides de acordo com a selectividade para COX 2 vs COX 1: selectividade elevada (e.g.
celecoxib, rofecoxib), intermédia (e.g. nimesulide, meloxicam) e baixa (e.g. ibuprofeno, diclofenac,
piroxicam, indometacina). Analgésicos de acção central não opioides. Fármacos anti-reumáticos
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
(e.g. metotrexato e outros imunossupressores, anti-maláricos, sais de ouro, penicilamina,
glicocorticóides, bloqueadores do TNF-). Outros analgésicos (e.g. acetaminofeno ou paracetamol).
Alterações do metabolismo das purinas e precipitação de cristais de ácido úrico (nas articulações e
no rim). Tratamento agudo da gota (e.g. colchicina). Fármacos preventivos: uricosúricos (e.g.
probenecid e sulfimpirazona) e inibidores da xantina oxidase (e.g. alopurinol).
25. Transmissão colinérgica
Neurónios colinérgicos e sua localização no sistema nervoso periférico. Órgãos inervados
por fibras colinérgicas e acções da acetilcolina nesses órgãos. Métodos de estudo do sistema
colinérgico. Síntese, armazenamento, libertação e inactivação da acetilcolina. Fármacos com acção
pré-sináptica no sistema colinérgico: inibidores do transporte axonial, inibidores da síntese da
acetilcolina, inibidores da captação de colina, inibidores da libertação de acetilcolina. Uso clínico da
toxina botulínica como inibidor da libertação de acetilcolina. Tipos de receptores (muscarínicos e
nicotínicos) para a acetilcolina: critérios de classificação e sua distribuição nos diferentes órgãos.
Efeitos da activação dos receptores da acetilcolina no músculo esquelético (fibras rápidas e lentas),
gânglios autonómicos, medula espinal, medula supra-renal, coração, vasos e outros órgãos efectores
do parassimpático. Transmissão ganglionar. Receptores nicotínicos ganglionares: agonistas e
antagonistas competitivos. Consequências da ganglioplegia. Acções ganglionares da nicotina.
Receptores
muscarínicos:
agonistas
(parassimpaticomiméticos)
e
antagonistas
(parassimpaticolíticos). A atropina como parassimpaticolítico típico. Acções da atropina a nível dos
órgãos efectores do parassimpático. Comparação das acções da atropina com a de outros
parassimpaticolíticos. Usos terapêuticos dos parassimpaticolíticos e parassimpaticomiméticos.
26. Relaxantes musculares. Inibidores da acetilcolinesterase
Receptores nicotínicos no músculo esquelético: Antagonistas competitivos (e.g. vecurónio,
atracúrio, pancurónio, mivacúrio, cisatracúrio, rocurónio) e agentes despolarizantes (agonistas não
hidrolisáveis) (e.g. suxametónio). Interacções entre antagonistas competitivos e agentes
despolarizantes. Uso terapêutico destes fármacos atendendo à duração de efeito, local de
metabolização e efeitos adversos (bloqueio ganglionar, efeitos muscarínicos, libertação de
histamina). Susceptibilidade individual aos relaxantes musculares. Exemplo de um relaxante
muscular com acção directa na contracção muscular (e.g. dantroleno). Hidrólise da acetilcolina:
mecanismos moleculares. Inibidores da acetilcolinesterase: inibidores de acção rápida (e.g.
edrofónio), de acção intermédia (e.g. neostigmina e piridostigmina) e de acção prologada ou
irreversível (outros organofosforados e carbamatos); inibidores de acção central e/ou periférica.
Consequências funcionais da inibição da acetilcolinesterase; relação com a margem de segurança da
transmissão colinérgica. Interacções entre inibidores da acetilcolinesterase e antagonistas
competitivos dos receptores colinérgicos. Usos terapêuticos (diagnóstico e tratamento da miastenia
gravis, profilaxia da intoxicação por organofosforados, tratamento da doença de Alzheimer) e
efeitos laterais dos inibidores reversíveis da acetilcolinesterase. Inibidores irreversíveis da
acetilcolinesterase. Intoxicação acidental e reactivação da acetilcolinesterase.
27. Transmissão adrenérgica
Organização funcional da actividade autonómica. Síntese de catecolaminas e fármacos que a
afectam: inibidores da tirosina hidroxilase, agentes que conduzem à síntese de um falso
neurotransmissor. Armazenamento da noradrenalina: fármacos que bloqueiam o transporte activo
de catecolaminas do fluido extracelular para as terminações adrenérgicas; fármacos que bloqueiam
o transporte de catecolaminas para as vesículas sinápticas, conduzindo à inactivação pelas
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
monoamino oxidases. Fármacos que aumentam a libertação de catecolaminas. Fármacos que têm
um efeito bifásico na libertação de catecolaminas. Fármacos que interferem com o potencial de
acção das terminações catecolaminérgicas inibindo a libertação de catecolaminas. Simpaticectomia
química. Metabolismo das catecolaminas: enzimas envolvidos e sua localização celular; metabolitos
intermediários. Inibidores das monoamino oxidases e das catecol-o-metil transferases.
28. Agonistas e antagonistas dos receptores adrenérgicos
Acções biofísicas e bioquímicas da noradrenalina e da adrenalina: potenciais de junção e
mediação pelo AMP cíclico. Receptores adrenérgicos: critérios de classificação e sua localização
celular e no sistema nervoso simpático. Agonistas e antagonistas competitivos dos receptores 1,
2, ß1, ß2 e ß3; especificidade. Acções decorrentes da estimulação dos vários receptores
adrenérgicos. Uso terapêutico das aminas simpaticomiméticas. Bloqueadores adrenérgicos e
consequências do seu bloqueio. Bloqueadores adrenérgicos ß: selectividade da acção e potência
relativa. Acção anestésica local de alguns bloqueadores adrenérgicos ß. Farmacocinética dos
bloqueadores adrenérgicos ß. Consequência do bloqueio de receptores adrenérgicos ß. Uso
terapêutico e efeitos laterais destas substâncias.
29. Fármacos com acção sobre o músculo liso: Histamina, serotonina e péptidos vasoactivos
Histamina e o seu papel fisiológico. Libertação de histamina (mediado por estimulação
imune ou por agentes químicos ou físicos). Metabolismo da histamina. Receptores para a histamina:
critérios de classificação, agonistas e antagonistas. Consequências celulares da activação dos
receptores para a histamina. Efeitos da histamina no aparelho circulatório, na musculatura lisa
(gastro-intestinal, brônquica, genito-urinária, ocular, uterina), nas glândulas exócrinas, nas
terminações nervosas e nos axónios. Anti-histamínicos (H1 e H2) e seu mecanismo de acção.
Serotonina ou 5-hidroxitriptamina e seu mecanismo de acção sobre o sistema cardiovascular, tracto
gastro-intestinal e tecido nervoso. Metabolismo da serotonina. Subtipos de receptores para
serotonina e segundos mensageiros envolvidos. Uso dos agonistas da serotonina no controlo do
apetite (e.g. fenfluramina e dexfenfluramina) e da enxaqueca (e.g. triptanos). Comparação com os
alcalóides do ergot. Antagonistas da serotonina usados na hipertensão arterial (e.g. cetanserina e
ritanserina) e como anti-eméticos (e.g. ondansetron e granisetron). Péptidos vasoacivos.
Angiotensinas e sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acções biológicas da angiotensina II.
Inibição do sistema renina-angiotensina: inibidores da secreção de renina, inibidores da renina,
inibidores da enzima conversora da angiotensina, antagonistas dos receptores da angiotensina II.
Biosíntese e metabolismo das cininas no plasma e nos tecidos. Efeitos cardiovasculares, endócrinos
e nociceptivos das cininas e seu papel na inflamação. Farmacologia da vasopressina. Péptidos
natriuréticos e endotelinas. Péptido intestinal vasoactivo, substância P, neuropéptido Y,
neurotensina e péptido relacionado com o gene da calcitonina.
30. Fármacos com acção sobre o músculo liso: Eicosanóides, NO e purinas
Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e compostos relacionados: terminologia. Síntese
das prostaglandinas e tromboxanos (ciclo-oxigenase 1 e 2) e fármacos que a inibem. Receptores
para as prostaglandinas: critérios de classificação e antagonistas. Consequências metabólicas
resultantes da activação dos receptores das prostaglandinas. Efeitos das prostaglandinas na
agregação plaquetária e na inflamação. Efeitos das prostaglandinas no músculo liso, glândulas
endócrinas, rim, aparelho reprodutor e sistema nervoso. Produtos da via da lipoxigenase: Papel dos
leucotrienos. Antagonistas dos leucotrienos. Síntese e inactivação do NO. Isoformas da NO sintase
e sua distribuição tecidular. Efeitos do NO no sistema vascular, no aparelho respiratório, na
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
aterosclerose e inflamação, sobre as plaquetas e no sistema nervoso. Fármacos dadores de NO,
inibidores da NO sintase, inibidores da guanilciclase e sequestradores do NO. Adenosina e seu
papel homeostático. Receptores para a adenosina: critérios de classificação, agonistas e
antagonistas. Consequências celulares da activação dos receptores para a adenosina. Acções da
adenosina nos sistemas nervoso central e periférico, no sistema cardiovascular, no aparelho
respiratório, em tecidos não excitáveis. Adenosina e hipóxia. Síntese de adenosina: enzimas
envolvidos na degradação de ATP em adenosina no espaço pericelular. Substâncias que afectam a
síntese, libertação e inactivação (recaptação ou desaminação) de adenosina.
31. Hormonas da hipófise. Hormonas sexuais e sua farmacologia
Comparação entre hormonas e neurotransmissores. Pontos celulares de acção das hormonas:
membrana celular, enzimas, estruturas sub-celulares, ácidos nucléicos. Hipófise: factores
libertadores das hormonas hipofisárias. Hormonas segregadas pelo hipotálamo (GnRH e análogos),
adenohipófise (GH, ACTH, prolactina, gonadotrofinas) e neurohipófise (ADH, oxitocina). Acções
das hormonas hipofisárias. Tratamento da acromegalia (e.g. bromocriptina e análogos da
somatostatina). Hormonas gonadotróficas hipofisárias e placentares. Síntese e acções fisiológicas
das hormonas sexuais. Controlo da função ovárica. Estrogénios. Progestagénios. Contraceptivos
orais e contracepção de emergência. Progestagénios injectáveis e implantes sub-dérmicos. Indução
da ovulação (e.g. GnRH, citrato de clomifeno). Indução do parto (e.g. prostaglandinas, oxitocina) e
fármacos abortivos (e.g. mifepristona + misoprostol) Androgéneos (e.g. testoterona, danazol) e
esteróides anabolizantes (e.g. nandrolona, estanazol). Índice de actividade anabólica. Substâncias
dotadas de propriedades anti-androgénicas (e.g. acetato de ciproterona, flutamide) e inibidores da
5-reductase (e.g. finasteride) usados na hipertrofia e carcinoma da próstata. Farmacocinética,
efeitos secundários e contra-indicações das hormonas sexuais.
32. Hormonas da tiróide. Metabolismo do cálcio e controlo da massa óssea
Tiróide: síntese da tiroxina e da triiodotironina. Acções das hormonas da tiróide. Fármacos
anti-tiróideus: inibidores da síntese das hormonas (e.g. tionamidas – carbimazol e propiltiouracilo),
inibidores da captação de iodo (e.g. aniões monovalentes), destruição electiva dos folículos
tiroideus (e.g. iodo radioactivo), inibidores da conversão de T4 em T3 na periferia (e.g. meios de
contraste iodado). Tratamento da tempestade tiroideia (e.g. bloqueadores adrenérgicos). Regulação
da calcémia; acções da calcitonina e da paratormona. Perturbações do metabolismo do cálcio.
Tratamento da osteoporose: cálcio e vitamina D, terapêutica hormonal de substituição (estrogénos
ou estrogénos + progesterona), moduladores selectivos dos receptores dos estrogénios (e.g.
raloxifeno e tibolona), bifosfonatos (e.g. residronato, alendronato), calcitonina, paratormona e
outros agentes.
33. Corticosteróides
Hormonas segregadas pelo córtex supra-renal e sua relação com a hormona
adrenocorticotrófica. Corticosteróides: mineralocorticóides, glucocorticóides, estrogéneos,
androgéneos e progesterona. Síntese dos corticosteróides. Acção dos mineralocorticóides
(fludrocortisona) no balanço salino e hídrico. Acção dos glucocorticóides na gluconeogénese.
Acções fisiológicas (anti-inflamatório e imunossupressor), metabolismo e eliminação dos
corticosteróides. Corticosteróides sintéticos: uso clínico, acções tóxicas e efeitos laterais. Aspectos
gerais sobre a corticoterapia. Hiperadrenocorticismo iatrogénico.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
34. Farmacologia da diabetes
Equilíbrio glicémico. Acção da insulina na captação de glucose (receptores do tipo tirosina
cinase, transportadores de glicose e expressão génica). Mecanismo de produção de insulina. Causas
de insuficiência de insulina. Preparações de insulina e respectiva duração de acção: Insulina regular,
isófana, complexada com zinco e/ou com protamina; Análogos da insulina (lispro e glargina).
Formas de apresentação (“canetas” para aplicação subcutânea, bombas infusoras, administração por
via inalatória). Regimes terapêuticos com insulina. Agentes hipoglicemiantes não insulínicos
(antidiabéticos orais): estimuladores da libertação de insulina (e.g. sulfonilureias, miglitinidas);
inibidores da gluconeogénese hepática, da absorção intestinal de glicose e promotores da sua
utilização pelos tecidos periféricos (e.g. biguanidas); sensibilizadores dos tecidos periféricos à
insulina (e.g. tiazolidinedionas); inibidores da -glicosidase intestinal (e.g. acarbose). Glicagina e
somatostatina pancreática.
35. Cardiotónicos
Manutenção da função cardíaca. Fisiopatologia da insuficiência cardíaca – mecanismos
neuro-humorais. Agentes inotrópicos positivos: acção sobre a bomba Na+/K+-ATPase e devido ao
aumento dos níveis intracelulares de AMP cíclico. Digitálicos (e.g. digoxina e digitoxina);
Mecanismo de acção; efeitos sobre o inotropismo, cronotropismo, dromotropismo e automatismo
cardíaco; efeitos sobre o período refractário e sobre o electrocardiograma; efeitos vasculares,
diuréticos e no sistema nervoso central. Tempo de latência e duração de acção dos vários
digitálicos. Doses de digitalização (inicial e de manutenção). Toxicidade digitálica. Cardiotónicos
não-digitálicos: aminas simpaticomiméticas (e.g. isoprenalina, dobutamina, dopamina) e inibidores
das fosfodiesterases (e.g. milrinona, enoximona). Bases para o tratamento da insuficiência cardíaca
aguda e crónica. Outros fármacos sem acção inotrópica positiva: diuréticos, inibidores da enzima
conversora da angiotensina, -bloqueadores e outros vasodilatadores.
36. Anti-disrítmicos
Electrofisiologia e mecanismos de arritmogénese (fenómeno de re-entrada, automaticidade,
pós-despolarização). Classificação dos fármacos anti-disrítmicos (Vaughan-Williams) baseada nos
efeitos sobre o potencial de acção cardíaco: inibidores da condutância ao sódio durante o potencial
de acção (Classe Ia – disopiramida, procainamida, quinidina; Classe Ib – lidocaina, mexiletina,
fenitoína; Classe Ic – flecainida, propafenona); antagonistas dos receptores ß-adrenérgicos (Classe
II – propranolol, esmolol, sotalol); prolongadores do período refractário absoluto (Classe III –
amiodarona, bretílio, sotalol, ibutilide); inibidores da condutância ao cálcio (Classe IV – verapamil).
Outros agentes não classificados: digitálicos, adenosina e atropina. Comparação dos efeitos dos
anti-disrítmicos na velocidade máxima e na duração do potencial de acção cardíaco, no período
refractário efectivo, no automatismo cardíaco. Farmacocinética, interacções medicamentosas e
toxicidade dos anti-disrítmicos. Esquema sumário de abordagem das disritmias mais frequentes.
37. Anti-anginosos e outros vasodilatadores
Fisiopatologia da doença cardíaca isquémica (angina estável e instável, enfarte do
miocárdio). Efeitos dos neurotransmissores, hormonas e autacóides sobre os vasos coronários.
Vasodilatadores coronários (antianginosos) de acção rápida e de acção prolongada. Nitritos e
nitratos orgânicos (e.g. nitroglicerina, di- e mono-nitrato de isossorbido): efeitos sobre o aparelho
circulatório e músculo liso; vias de administração (sublingual, bucal, transdérmica e intravenosa),
tolerância e toxicidade. Bloqueadores -adrenérgicos (e.g. atenolol, propranolol, pindolol,
labetalol): redução da frequência cardíaca, da força de contracção e da tensão arterial;
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
farmacocinética e efeitos laterais. Antagonistas do cálcio (e.g. nifedipina, amlodipina, verapamil,
diltiazem): farmacocinética e efeitos laterais. Activadores dos canais de potássio sensíveis ao ATP
(e.g. nicorandil): hiperpolarização do músculo liso vascular e geração de NO. Inibidores da
captação de adenosina (e.g. dipiridamol): vasodilatadores com risco do fenómeno de “roubo”
coronário. Vasodilatadores cutâneos: derivados do ácido nicotínico e bloqueadores dos receptores
-adrenérgicos.
38. Anti-hipertensores
Reflexos circulatórios e regulação da tensão arterial (papel dos baroreceptores, do sistema
nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona e da actividade das células
endoteliais). Fisiopatologia da hipertensão arterial. Anti-hipertensores com acção
predominantemente arterial ou venosa. Anti-hipertensores com acção predominantemente central
(directa ou reflexa) ou periférica (ganglioplégicos, bloqueadores adrenérgicos, vasodilatadores
directos, diuréticos, modificadores do sistema renina-angiotensina, bloqueadores dos canais de
cálcio). Agentes que afectam o sistema nervoso simpático: bloquedores -adrenérgicos (e.g.
atenolol, propranolol, pindolol), bloquedores -adrenérgicos selectivos (e.g. prazosina, doxazosina)
e não-selectivos (e.g. fenoxibenzamina), inibidores selectivos dos receptores imidazolínicos (e.g.
moxonidina), agonistas 2 de acção central (e.g. metildopa, clonidina), bloqueadores dos neurónios
adrenérgicos (e.g. debrisoquina), bloqueadores ganglionares (e.g. trimetafano). Agentes que
afectam o sistema renina-angiotensina: inibidores da enzima de conversão da angiotensina (e.g.
captopril, enalapril, lisonopril, fosinopril), antagonistas da angiotensina (e.g. losartan, valsartan).
Diuréticos: tiazídicos, de ansa e poupadores de potássio. Vasodilatadores: antagonistas dos canais
de cálcio (e.g. amlodipina, nifedipina, verapamil, diltiazem), activadores dos canais de potássio (e.g.
minoxidil), agonistas dos receptores D1 da dopamina nas artérias (e.g. fenoldopam), hidralazina,
nitratos (e.g. nitroprussiato). Associações de fármacos anti-hipertensores. Tratamento crónico e das
emergências hipertensivas.
39. Broncodilatadores
Fisiopatologia da asma (brococonstrição aguda e inflamação crónica). Mediadores
envolvidos na génese da asma brônquica (broncoconstrição, edema da mucosa, inflamação,
secreção de muco e lesão epitelial): histamina, leucotrienos (C4, D4 e E4), protaglandina D2,
tromboxano A2, bradicinina, factor activador das plaquetas, factor quimiotático de eosinófilos e de
neutrófilos, NO. Métodos de administração dos broncodilatadores na árvore respiratória (inaladores
manuais pressurizados, espaçadores volumétricos, mecanismos activados pela respiração,
nebulizadores). Fármacos broncodilatadores: agonistas 2-adrenérgicos (e.g. salbutamol, salmeterol,
formoterol), metilxantinas (e.g. teofilina, aminofilina), antagonistas muscarínicos (e.g. brometo de
ipratrópio). Agentes anti-inflamatórios: corticosteróides (e.g. dipropionato de beclometasona,
budesonida, hidrocortisona, fluticasona, prednisolona), cromonas (e.g. cromoglicato e nedocromil
de sódio), inibidores da síntese dos leucotrienos (e.g. zileuton), antagonistas dos receptores dos
leucotrienos (e.g. montelucasto, zafirlucasto). Farmacocinética e efeitos laterais de cada um dos
compostos. Tratamento da crise aguda e prevenção das recorrências. Doença pulmonar obstrutiva
crónica.
40. Antitússicos e expectorantes. Estimulantes respiratórios
Tosse como mecanismo de defesa. Causas e reflexo da tosse. Principais grupos de
antitússicos. Antitússicos de acção central (narcóticos e não narcóticos), de acção periférica
(anestésicos locais e endanestésicos) e de acção local (demulcentes). Mecanismos de acção e
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
principais efeitos adversos dos anti-tússicos. Expectorantes com acção sobre as secreções
brônquicas: efeito directo e reflexo (e.g. iodetos, guaiacol). Mucolíticos reductores da viscosidade
das secreções (e.g. metilcisteina, carbocisteina). Estimulantes respiratórios ou analépticos (e.g.
doxapram, acetazolamida)
41. Modificadores da motilidade e secreção gástricas. Antiulcerosos
Mecanismos de controlo da secreção e motilidade gástricas. Acção das hormonas gastrointestinais. Bases fisiopatológicas da dispepsia e da doença ulcerosa péptica. Fármacos
ulcerogénicos. Fármacos utilizados no tratamento da úlcera péptica: agentes anti-secretórios (e.g.
inibidores da bomba de protões, antagonistas H2 da histamina, antagonistas muscarínicos), antiácidos e anti-álgicos, agentes citoprotectores (e.g. sucralfato, sais de bismuto, análogos das
prostaglandinas, carbenoxolona), agentes pró-cinéticos (e.g. metoclopramida, cisapride).
Especificidades e efeitos laterais destas substâncias. Papel do Helicobacter pylori na dispepsia e
úlcera péptica; Regimes de erradicação do H. pylori. Bases farmacológicas do tratamento do refluxo
gastro-esofágico.
42. Eméticos e anti-eméticos. Controlo do apetite e da obesidade
Neurobiologia das naúseas e do vómito. Vários tipos de vómito (e.g. pós-operatório, enjoo
de viagem, gravídico, vertiginoso). Eméticos com acção no sistema nervoso central (e.g.
apomorfina) e com acção reflexa (e.g. ipecas). Agentes anti-eméticos: anti-muscarínicos e antihistamínicos, antagonistas dos receptores D2 da dopamina, antagonistas dos receptores 5-HT3,
canabinóides, corticosteróides e benzodiazepinas. Neuroquímica e controlo do apetite: supressores e
estimulantes do apetite. Fármacos para controlar a obesidade: Inibidores da lipase pancreática (e.g.
orlistat), metilcelulose, agentes catecolamnérgicos (e.g. fentermina, fenilpropanolamina) e agonistas
dos receptores 3 (e.g. sibutramina), inibidores da recaptação da serotonina (e.g. fluoxetina).
43. Modificadores do trânsito intestinal e da secreção biliar
Controlo da motilidade intestinal. Laxantes e catárticos: laxantes de contacto, laxantes
amolecedores ou emolientes, laxantes salinos e/ou osmóticos, laxantes expansores do volume fecal.
Antidiarreicos: adsorventes hidrofílicos, adsorventes dos factores etiológicos, resinas de troca
iónica, modificadores da motilidade (e.g. opióides), moduladores do transporte electrolítico. Antiespasmódicos. Constituintes farmacologicamente activos normalmente presentes nos alimentos.
Fármacos utilizados no tratamento da doença inflamatória crónica do intestino (salicilatos e
imunossupressores). Substâncias hepatotóxicas. Coleréticos, colagogos e anti-litiásicos. Enzimas
pancreáticas e seus substitutos.
44. Diuréticos
Factores que determinam o volume e a composição da urina: filtração glomerular,
reabsorção e secreção tubulares. Mecanismo de acção dos vários diuréticos e local de acção a nível
do nefrónio: diuréticos osmóticos, inibidores da anidrase carbónica, diuréticos mercuriais,
diuréticos da ansa de Henle, tiazidas, antagonistas da aldosterona, poupadores de potássio. Acções
de cada grupo de diuréticos na reabsorção e/ou excreção de Na+, K+, Cl-, H+ e CO3-. Factores que
afectam o Na+ e K+ plasmático. Correcção do pH da urina e do plasma.
45. Farmacologia renal e urinária. Disfunção eréctil
Uricosúricos: mecanismos de acção e mecanismo bifásico na excreção de ácido úrico. Acção
dos uricosúricos na excreção da penicilina. Inibidores da síntese de ácido úrico na terapêutica da
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
gota; mecanismo de acção. Toxicidade renal de fármacos. Anti-litiásicos. Anti-sépticos urinários.
Fisiopatologia das alterações da micção (instabilidade do detrusor, bexiga hipotónica,
incompetência esfincteriana). Hipertrofia benigna da próstata (inibidores da 5-reductase e
bloqueadores 1-adrenérgicos). Fármacos e disfunção eréctil; Utilização de vasodilatadores (e.g.
papaverina, alprostadil, fentolamina, sildenafil).
46. Fármacos que interferem com a coagulação
Noções de hemostase e de trombose. Modificadores da hemostase: hemostáticos de uso
local e de uso sistémico (e.g. desmopressina). Anticoagulantes: Heparina e heparinas de baixo peso
molecular; Hirudina; Anti-coagulantes orais. Mecanismo de acção, indicações, efeitos laterais e
contra-indicações. Anticoagulantes para uso in vitro. Agentes fibrinolíticos e trombolíticos (e.g.
estreptocinase, urocinase, anistreplase, factor activador do plasminogénio tecidular recombinante –
rt-PA): mecanismo de acção, indicações, efeitos laterais e contra-indicações. Inibidores da
fibrinólise (e.g. ácido tranexâmico, aprotinina). Mecanismos de activação plaquetária.
Antiagregantes plaquetários: inibidores da ciclo-oxigenase (e.g. aspirina), inibidor das
fosfodiesterases e da recaptação de adenosina (e.g. dipiridamol), antagonista dos receptores P2 para
o ADP (e.g. clopidogrel, ticlopidina), antagonistas da glicoproteína IIb/IIIa (e.g. abciximab,
integrelina), epoprostenol (PGI2)
47. Agentes para o tratamento das anemias e factores de crescimento hematopoiético
Eritropoiese: Oxigenação tecidular, eritropoietina, ferro e hemoglobina, vitamina B12, ácido
fólico, factores de crescimento hematopoiéticos. Classificação e tratamento das anemias. Fármacos
usados nos diferentes tipos de anemia: Ferro, preparações vitamínicas e minerais, eritropoietina,
esteróides anabolizantes. Farmacocinética, distribuição, armazenamento e eleiminação do ferro.
Fármacos como causa de anemias.
48. Fármacos para o tratamento das dislipidémias
Colesterol e triglicerídeos. Metabolismo das lipoproteínas. Hiperlipidémias e ateroma.
Fármacos para o tratamento das dislipidémias: Inibidores da HMG-CoA reductase (e.g. estatinas),
resinas de troca iónica fixadoras dos ácidos biliares (e.g. colestiramina), fibratos (e.g. bezafibrato,
genfibrozil), drivados do ácido nicotínico (e.g. ácido nicotínico, acipimox), óleos de peixe (ácidos
gordos poli-insaturados de cadeia longa -3). Associações medicamentosas. Terapêutica preventiva
das doenças cardiovasculares e tratamento da hiperlipidémia.
49. Mecanismos de acção dos antibacterianos
Mecanismos de acção dos antibacterianos: inibição da síntese da parede celular, inibição da
síntese proteica a nível ribossomal, inibição do metabolismo do ácido fólico, inibição da replicação
do DNA. Selectividade dos antibacterianos para células não eucarióticas. Susceptibilidade do
agente infeccioso e mecanismos moleculares de resistência aos antibacterianos. Classificação dos
antibacterianos em relação ao mecanismo de acção e ao espectro de acção (espectro reduzido ou
amplo). Distinção entre agentes bacteriostáticos e bactericidas. Profilaxia antibiótica.
50. Principais grupos de antibacterianos
Principais grupos de antibacterianos. Agentes que afectam a síntese da parede celular:
Penicilinas (benzilpenicilinas e sucedâneos, aminopenicilinas, ureidopenicilinas, amidopenicilinas,
carboxipenicilinas), cefalosporinas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª gerações), monobactâmicos, carbapenemes, e
associações de penicilinas com inibidores das -lactamases. Outros agentes que afectam a parede
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
celular: Glicopéptidos e polimixinas. Agentes que afectam a replicação e a síntese do DNA
bacteriano: Quinolonas e metronidazol. Agentes que afectam a síntese proteica: Macrólidos,
aminoglicosídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, lincosamidas, ácido fusídico, estreptograminas,
oxazolidinonas. Agentes que afectam o metabolismo bacteriano: Sulfonamidas, trimetoprim.
Principais características de cada um dos antibacterianos: mecanismo de acção, espectro de acção,
selectividade e aparecimento de resistências, farmacocinética, efeitos laterais e toxicidade. Escolha
do antibacteriano em função do agente infeccioso, da farmacocinética (via de administração, local
da infecção, duração do tratamento) e da fisiopatologia do hospedeiro. Associações terapêuticas:
vantagens e desvantagens.
51. Antituberculosos e antilepróticos
Particularidades do bacilo da tuberculose (álcool-ácido resistência, crescimento lento,
aparecimento de resistências). Sub-populações de bacilos (intracavitários, intracelulares,
quiescentes). Mecanismo de acção, características farmacocinéticas e principais efeitos adversos
dos antituberculosos: Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol e estreptomicina. Agentes de
2ª linha usados na tuberculose multi-resistente: cicloserina, capreomicina, amicacina,
ciprofloxacina, etionamida, ácido p-aminosalicílico, rifabutina e rifapentina. Profilaxia
antituberculosa. Mecanismos de resistência aos antibacilares. Necessidade de terapêutica múltipla
por tempo prologado. Fármacos antilepróticos: dapsona e outras sulfonas, rifampicina e
clofazamina.
52. Antifúngicos
Características próprias dos fungos (crescimento lento, parede com ergosterol). Principais
antifúngicos: Polienos (e.g. anfotericina B, nistatina), antimetabolitos (e.g. 5-fluorouracilo,
flucitosina), compostos azólicos (imidazóis e triazóis) e terbinafina, griseofulvina, tolnaftato,
antisépticos fungicidas. Micoses cutâneo-mucosas e sistémicas.
53. Antivíricos
Características especiais dos vírus (DNA ou RNA, proteínas da cápside, enzimas próprias,
parasitismo intacelular obrigatório). Mecanismos naturais de resistência aos virus: imunidade
celular e humoral; papel do interferão. Fármacos antivíricos: Inibidores da adesão e penetração do
vírus na célula hospedeira (e.g. inibidores da neuraminidase), inibidores da síntese de ácidos
nucleicos (e.g. inibidores da DNA polimerase viral), inibidores da síntese das proteínas da cápside,
inibidores das proteases víricas. Sensibilidade e mecanismos de resistência aos anti-víricos. O caso
particular dos anti-retrovirais: Inibidores da transcriptase reversa (análogos e não análogos dos
nucleósidos) e inibidores da protease viral. Associação de anti-retrovirais e monitorização
terapêutica nos doentes infectados pelo HIV. Toxicidade e interacções medicamentosas dos
antivíricos. Imunização.
54. Anti-protozoários e anti-helmínticos
Características bioquímicas que distinguem os parasitas das células do hospedeiro (enzimas
encontradas apenas no parasita, enzimas indispensáveis à sobrevivência do parasita mas também
encontradas no hospedeiro, diferenças na sensibilidade aos fármacos anti-parasitários). Antiprotozoários - Acção dos anti-maláricos em função do ciclo de vida (e da espécie) do plasmódio.
Classificação dos anti-maláricos: derivados da quinoleína (e.g. quinina, cloroquina, mefloquina,
primaquina), inibidores da reductase do ácido fólico (e.g. pirimetamina, sulfadioxina, dapsona,
proguanil) e outros agentes (e.g. halofantrina, artemisinas e derivados). Tratamento curativo e
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
profilaxia da malária. Amebíase: amebicidas de contacto (e.g. furoato de diloxanida, iodoquinol e
paronomicina) e metronidazol. Outros agentes anti-protozoários para o tratamento da giardíase e
tricomoníase (e.g. nitroimidazóis), tripanossomíases (e.g. suramina, nifurtimox, eflornitina,
pentamidina), leishmaníase (e.g. antimoniais pentavalentes, pentamidina, anfotericina B) e
infecções por Pneumocytis carinii (e.g. TMP-SMX, pentamidina, atovaquona). Anti-helmínticos
com acção contra céstodes, contra nemátodes, contra tremátodes. Agentes mais utilizados:
Benzimidazóis (e.g. tiabendazol, mebendazol, albendazol), levamisol, pamoato de pirantel ou
oxantel, praziquantel, piperazina, niclosamida, dietilcarbamazina, lactonas macrocíclicas (e.g.
ivermectina), metrifonato. Toxicidade dos anti-parasitários.
55. Desinfectantes, anti-sépticos e agentes esterilizantes
Definição de desinfectantes, anti-sépticos e agentes esterilizantes. Classificação de acordo
com o mecanismo e espectro de acção (bactérias – Gram pos./neg., álcool-ácido resistentes,
esporos; vírus; outros microrganismos). Uso clínico, formas de aplicação e tempo de acção. Agentes
físicos: Calor, radiações, gases. Agentes químicos: Ácidos, bases, álcoois (e.g. isopropanol, etanol),
aldeídos (e.g. gluteraldeído, formaldeído), halogenados (e.g. iodo e iodóforos, hipocloreto de
sódio), agentes fenólicos, compostos de amónio quaternário (e.g. benzalcónio), peróxido de
hidrogénio, sais de metais pesados (e.g. timerosal, nitrato de prata). Agentes surfactantes:
Aniónicos, catiónicos (cloro-hexidina), não iónicos.
56. Quimioterapia do cancro.
Génese e cinética tumoral (tumores líquidos e sólidos). Genética tumoral e resposta
terapêutica. Inibidores da angiogénese tumoral. Diferentes fases do ciclo celular e sua sensibilidade
aos citostáticos. Sincronismo celular. Fármacos com acção citostática: Antimetabolitos (análogos da
bases e antogonistas do ácido fólico), agentes que interferem com a síntese dos ácidos nucleicos
(agentes alquilantes, compostos com platina, inibidores da polimerase de DNA, topoisomerase I e
II), fármacos que interferem com a síntese protéica por depleção de aminoácidos essenciais (Lasparaginase), agentes que interferem com a função microtubular (alcalóides da vinca, etoposido e
taxanos), antibióticos citotóxicos, agentes hormonais (esteroides e seus antagonistas, agonistas da
GnRH, inibidores da aromatase) e outros agentes (interferão, interleucinas, anticorpos
monoclonais). Farmacocinética, toxicidade e mecanismos de resistência aos agentes
quimioterápicos. Antídotos quimioprotectores. Tipos de terapêutica tumoral (curativa, paliativa,
adjuvante). Terapêutica combinada e ciclos terapêuticos.
57. Imunofarmacologia
Bases biológicas da resposta imune. Imunidade humoral e celular. Reacções de
hipersensibilidade, rejeição de transplantes e auto-imunidade. Imunossupressores: Inibidores da
calcineurina (e.g. ciclosporina, tacrolimus, sirolimus), anticorpos inibidores do receptor da IL-2
(e.g. basiliximab) e do TNF- (e.g. infliximab, etanercept), agentes anti-proliferativos (e.g.
micofenolato de mofetil, azatioprina, ciclofosfamida). Outros agentes supressores da resposta imune
(e.g. corticosteroides, metotrexato). Imunoestimulantes (derivados de produtos biológicos;
imunoestimulantes de síntese). Imunoglobulinas IV, imunoglobulinas hiperimunes, anticorpos
monoclonais de uso clínico. Reacções imunes a fármacos.
58. Interacção de fármacos
Reacções adversas e reacções indesejáveis. Cooperação na acção: potenciação, sinergismo,
somação, adição. Antagonismo na acção: químico, farmacológico, fisiológico. Interacções a nível
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
da fase farmacêutica, da fase farmacocinética, da fase farmacodinâmica. Exemplos de diferentes
interacções.
59. Noções de toxicologia e sobredosagem de fármacos. Abordagem do doente intoxicado
Distinção entre toxicidade aguda, sub-aguda e crónica. Dose letal 50% (LD50). Índice e
margem terapêutica. Causas de toxicidade: efeitos laterais dos fármacos, hiperdosagem,
hipersensibilidade. Toxicidade bioquímica (e.g. paracetamol, isonizida, ciclofosfamida, nitritos e
nitratos) e imunológica (e.g. penicilinas, digitoxina, hidralazina). Toxicologia dos vários sistemas
(cardiovascular, respiratório, renal, digestivo, sangue e medula óssea, sistema nervoso, fígado, pele,
olhos, aparelho reprodutor, osso, etc.). Teratogénese e carcinogénese. Normas gerais no tratamento
de intoxicações: redução da absorção e aumento da excreção. Antídotos (inibidores competitivos,
agentes quelantes, compostos que afectam o metabolismo, anticorpos) e medidas de suporte.
Agentes complexantes e seus usos.
60. Notas sobre terapêutica farmacológica e farmacologia de grupos individualizados
Tipos de terapêutica: Etiológica, sintomática, curativa, profilática. Esquemas terapêuticos,
extrapolação posológica e adesão terapêutica. Terapêutica individualizada - Farmacologia na
gravidez (influência sobre a grávida, sobre o feto e efeitos teratológicos) e amamentação;
Farmacologia pediátrica e gerontológica; Farmacologia nos insuficientes renais e hepáticos.
Terapêutica de grupo. Especificidades inter-espécies.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
Programa das Aulas Práticas Laboratoriais:
Laboratório de Farmacologia, ICBAS - UP
Absorção do ácido salicílico num meio ácido e básico pelo estômago de rato.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / M. Helena Costa e Silva
Biotransformação da zoxazolamina “in vitro”. Observação da acção hidroxilante dos
microssomas hepáticos de rato.
Apoio técnico:
Dra. Dra Alexandrina Timóteo / Suzete Liça
Excreção da aspirina por via renal.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / Suzete Liça
Acção dos anestésicos locais na hemólise hipotónica induzida em eritrócitos de rato.
Apoio técnico:
Prof. Doutora Graça Lobo / M. Helena Costa e Silva
Comparação da acção anestésica local da procaína com a da cocaína na córnea de cobaio. Acção
dos vasoconstritores na duração da anestesia local.
Apoio técnico:
Prof. Doutora Graça Lobo / M. Helena Costa e Silva
Acção da acetilcolina no íleo de cobaio. Curvas dose-efeito. Antagonismo pela atropina.
Apoio técnico:
Dra Alexandrina Timóteo / M. Helena Costa e Silva
Efeito de um “diurético da ansa” no coelho. Determinação das concentrações urinárias de Na+,
K+ e Cl-.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / M. Helena Costa e Silva
Efeito anticoagulante da heparina e da acção antagonista do sulfato de protamina em coelho
Apoio técnico:
Dra. Alexandrina Timóteo / Suzete Liça
Determinação do ácido -aminolevulínico na urina de indivíduos intoxicados pelo chumbo.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / Suzete Liça
Determinação da actividade das colinesterases plasmáticas em intoxicados por pesticidas
(organofosforados e carbamatos).
Apoio técnico:
Suzete Liça
Acção de fármacos nas aurículas isoladas de rato. Efeitos cronotrópico e inotrópico. Pacing
eléctrico.
Apoio técnico:
Dr. Miguel Faria (Departamento de Clínicas Veterinárias)
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
Programa das Aulas Teórico-Práticas:
Anfiteatros do ICBAS - UP
Discussão de monografias
1. Distúrbios do sono em idosos: abordagem farmacológica
2. Farmacoterapia das alterações do movimento
3. Farmacologia da enxaqueca e das cefaleias crónicas
4. Bloqueios nervosos: escolha racional do anestésico local
5. Terapia oral dupla e tripla da diabetes tipo II
6. Controlo farmacológico da massa óssea
7. Fármacos de 1ª linha no tratamento da HTA: Actualização dos conceitos
8. Novos conceito na terapêutica da trombose: Anti-coagulantes vs Fibrinolíticos
9. Novos anti-eméticos de acção central
10. Super bugs: Antibioterapia das resistências bacterianas hospitalares
11. Tratamento farmacológico da tuberculose em ambulatório
12. Fármacos anti-retrovirais
Discussão de temas da actualidade
1. Medicamentos genéricos: requisitos e vantagens
2. Medicina tradicional (plantas) vs Farmacoterapia
3. Alcoolismo crónico: abordagem farmacológica
4. Controlo do apetite
5. Uso clínico da toxina botulínica
6. Contracepção oral: pílulas trifásicas vs pílulas de baixa dosagem vs mini-pílulas
7. Inibidores dos leucotrienos e imunoterapia nos asmáticos
8. Aplicações clínicas dos inibidores da angiogénese
9. Promessas e frustrações dos antagonistas da endotelina
10. Farmacologia da erecção
11. Desinfecção das mãos: Como proceder?
12. Reacções cutâneas a fármacos
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
II - FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA I
Ano lectivo de 2002/03
Cadeira do 1º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária
Regência:
Prof. Doutor Paulo Correia de Sá
Carga horária:
Aulas Teóricas
Horas /
aula
2
Nº aulas
/ semana
1
Horas /
semana
2
Total
Aulas Práticas
Horas /
semestre
30
Horas
/aula
3
Nº aulas
/ semana
3
Distribuição do serviço docente na disciplina:
Nome do Docente
Teóricas
(horas/semest
re)
Paulo Correia de Sá
16
Graça Lobo
8
Margarida Araújo
6
Horas /
semana
9
Horas /
semestre
135
Práticas
(horas/
semestre)
36
36
63
Horas /
semestre
165
Total
(horas/
semestre)
52
44
69
Programa das Aulas Teóricas:
1. Lição de abertura
O que é a farmacologia. Breve história da farmacologia. Farmacologia em Portugal.
Sociedade Portuguesa de Farmacologia. Principais revistas internacionais de farmacologia e sua
importância relativa. Principais livros de texto e sua análise crítica.
Objectivos gerais da cadeira de farmacologia e sua articulação com outras cadeiras do curso.
Organização geral da cadeira. Programa das aulas teóricas e práticas. Métodos de ensino e de
avaliação.
2. Introdução à farmacologia
Conceitos de fármaco e de medicamento. Fases da “vida” de um fármaco: farmacêutica,
farmacocinética e farmacodinâmica. Distinção entre agentes farmacodinâmicos e agentes
quimioterapêuticos. Níveis de organização biológica com interesse em farmacologia: organismo,
célula e molécula. Metodologia da investigação farmacológica: Desenho experimental, aplicação
estatística, protocolos e relatórios de investigação.
3. Terapêutica farmacológica em veterinária
Tipos de terapêutica: Etiológica, sintomática, curativa, profilática. Esquemas terapêuticos,
extrapolação posológica e adesão terapêutica. Terapêutica individualizada: Farmacologia peri- e
neonatal, teratologia e gerontologia. Terapêutica de grupo. Especificidades inter-espécies. Estudos
pré-clínicos e clínicos.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
4. Transporte de fármacos através das membranas biológicas
Factores envolvidos na farmacocinética. Absorção e transporte de fármacos através da
membrana citoplasmática. Tipos de transporte: difusão, difusão facilitada, transporte activo. Canais
e transportadores. Endocitose. Factores que afectam o transporte: coeficiente de partilha óleo/água;
grau de ionização; peso molecular e forma tridimensional da molécula. Barreiras para fármacos:
hematoencefálica, placentária, rim. Transporte através da parede dos capilares. Transporte através
de epitélios.
5. Vias de administração de fármacos e sua relação com a absorção
Vias de administração de fármacos: digestiva (sublingual, oral, rectal), parentérica
(subcutânea, intramuscular, intravenosa), intratecal, tópica (pelas mucosas, pela pele), inalação
(pelos pulmões), intra-articular. Absorção sub-lingual. Absorção ao nível do estômago, do intestino
delgado, do intestino grosso; influência do pH; exemplos de transportes aos vários níveis. Efeitos da
secreção gástrica nos fármacos. Vantagens e inconvenientes da via oral. Absorção rectal; vantagens
e inconvenientes da administração rectal. Vantagens e inconvenientes das diferentes formas de
administração parentérica. Absorção através das mucosas usadas para a administração tópica
(mucosas vaginal, nasal, ocular). Absorção através da pele e processos que a facilitam. Absorção
pelos pulmóes e factores que a influenciam. Vantagens e inconvenientes da administração por
inalação. Tempo de latência da acção dos fármacos em função da via de administração. Formas
farmacêuticas e papel do excipiente.
6. Distribuição de fármacos no organismo
Compartimentos: sangue, intersticial, intracelular. Factores que influenciam a distribuição
de fármacos: características fisico-químicas do fármaco; débito cardíaco; fluxo sanguíneo local;
repartição de água pelo organismo. Volume aparente de distribuição. Os “depósitos” de fármacos:
ligação às proteínas plasmáticas; sua influência na distribuição dos fármacos.
7. Biotransformação e excreção
Metabolismo dos fármacos: mecanismos gerais e especiais. Biotransformação não sintética
(reacções de fase I): oxidações, reduções, hidrólise. Biotransformação sintética (reacções de fase
II): conjugações com o ácido araquidónico, com amino-ácidos, com o ião sulfato; metilação;
acetilação. Indutores enzimáticos. Vias de excreção dos fármacos: renal, gastro-intestinal, salivar,
sudorípara. Ciclo entero-hepático.
8. Cinéticas de absorção e eliminação
Processos de ordem zero e de 1ª ordem. Constante de absorção e semivida de absorção.
Constante de eliminação e semivida de eliminação. Noção de modelo de farmacocinético. Modelo
aberto de um compartimento. Sistemas multicompartimentais. Administração múltipla: conceito de
estado estacionário. Previsão das concentrações plasmáticas. Conceito de acumulação e de
flutuação. Esquemas posológicos e seu estabelecimento. Cálculo da dose e do intervalo de
administração. Uso dos níveis plasmáticos no ajustamento da posologia.
9. Factores que condicionam a duração e intensidade dos efeitos dos fármacos
Factores farmacocinéticos: dose e frequência de administração: velocidade de
biotransformação; velocidade de excreção. Importância da fixação às proteínas plasmáticas.
Factores patológicos: diarreia; obstipação; insuficiência hepática; insuficiência renal. Factores
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
farmacodinâmicos: habituação, hipersensibilização. Importãncia dos processos homeostáticos.
Factores genéticos. Variação individual e seus factores: idade, sexo, ambiente.
10. Mecanismos moleculares de acção dos fármacos
Tipos de interacção fármaco-membrana. Conceito de receptor em farmacologia.
Especificidade da ligação fármaco-receptor. Tipos de ligações que se estabelecem entre o fármaco e
o receptor. Consequências da activação dos receptores: alteração da permeabilidade iónica da
membrana; modulação da actividade da adenilciclase; ciclo do fosfatidilinositol. Mecanismos da
activação das cinases das proteínas. Métodos de caracterização e identificação dos receptores:
biofísicos, bioquímicos, morfológicos e farmacológicos.
11. Cinética da ligação fármaco-receptor
Conceitos de agonista e de antagonista, Afinidade e actividade intrínseca. Agonistas parciais
e agonistas totais. Dose eficaz 50% (ED50) e pD2. Relação entre ED50 e afinidade do agonista.
Curvas dose-efeito: representação linear, semi-logarítmica e de Lineweaver-Burk. Antagonismo
competitivo. Representação de Schild para a determinação do pA2 dos antagonistas. Relação entre
pA2 e afinidade do antagonista. Antagonismo não-competitivo. Alteração das curvas dose-efeito
pelos antagonistas competitivos e não competitivos. Modelos de interacção fármaco-receptor: teoria
da ocupação, teoria cinética, modelos de dois estadios. Alosterismo. Taquifilaxia ou
dessensibilização. Mecanismos moleculares envolvidos na dessensibilização.
12. Neurotransmissores
Conceitos de neurotransmissor, de cotransmissor e de neuromodulador. Métodos de
identificação e quantificação de neurotransmissores. Critérios para uma substância ser considerada
um neurotransmissor ou neuromodulador. Neurotransmissores aceites com base nos critérios:
acetilcolina, noradrenalina, dopamina; sua distribuição nos sistemas nervoso central e periférico.
Sintese de neurotransmissores: transporte axonial; captação de metabolitos; enzimas. Depósito e
libertação de neurotransmissores. Acção pós-sináptica dos neurotransmissores: despolarização
(excitação); hiperpolarização (inibição). Critérios em relação ao envolvimento do AMP cíclico.
Proteínas neuroniais reguladas por fosforilação. Processos de inactivação dos neurotransmissores:
degradação enzimática; recaptação. Sinapse colinérgica, noradrenérgica e dopaminérgica: locais
susceptíveis à acção de fármacos. Neuromodulação sináptica: automodulação e heteromodulação.
Neuromodulação trans-sináptica. Modulação não sináptica.
13. Neurotransmissores putativos
Distribuição dos neurotransmissores putativos no sistema nervoso central e periférico:
serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT), ácido gama-amino-butírico (GABA), aspartato,
glutamato, glicina, ATP, substância P e outros neuropeptídeos. Agonistas e antagonistas dos
neurotransmissores putativos. Acções dos neurotransmissores putativos. Inactivação dos
neurotransmissores putativos. Métodos de identificação dos neuropeptídeos. Coexistência de
neuropeptídeos na mesma terminação nervosa. Conceitos APUD (Amine Percursor Uptake and
Descarboxilation) e de paraneurónio.
14. Autacóides
Conceito de autacóides. Histamina e o seu papel fisiológico. Libertação de histamina.
Metabolismo da histamina. Receptores para a histamina: critérios de classificação, agonistas e
antagonistas. Consequências celulares da activação dos receptores para a histamina. Efeitos da
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
histamina no aparelho circulatório, na musculatura lisa, nas glândulas exócrinas, nas terminações
nervosas, nos axónios. Anti-histamínicos e seu mecanismo de acção. Adenosina e seu papel
homeostático. Receptores para a adenosina: critérios de classificação, agonistas e antagonistas.
Consequências celulares da activação dos receptores para a adenosina. Acções da adenosina nos
sistemas nervoso central e periférico, no sistema cardiovascular, no aparelho respiratório, em
tecidos não excitáveis. Adenosina e hipóxia. Síntese de adenosina: enzimas envolvidos na
degradação de ATP em adenosina no espaço pericelular. Substâncias que afectam a síntese,
libertação e recaptação de adenosina. Prostaglandinas: terminologia. Síntese de prostaglandinas
(ciclo-oxigenase 1 e 2) e fármacos que a inibem. Receptores para as prostaglandinas: critérios de
classificação e antagonistas. Consequências metabólicas resultantes da activação dos receptores das
prostaglandinas. Efeitos das prostaglandinas na agregação plaquetária. Efeitos das prostaglandinas
no músculo liso, glândulas endócrinas e sistema nervoso central. Tromboxanos. Angiotensinas e
sistema renina-angiotensina. Acções da angiotensina II. Análogos da angiotensina II. Antagonistas
da angiotensina II. Inibidores da síntese de angiotensina II. Cininas.
15. Estimulantes do sistema nervoso central
Antidepressores: estimulantes directos, inibidores das monoamino oxidases, derivados das
benzodiazepinas, derivados das xantinas. Convulsivantes e analépticos. Alucinogéneos.
Classificação dos estimulantes quanto ao ponto de actuação: com acção predominante sobre o
córtex cerebral, sobre o tronco cerebral, sobre a medula espinal. Xantinas: farmacocinética; efeitos
no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, no aparelho respiratório; mecanismo de acção.
Farmacodependência, toxicidade e contra-indicações dos estimulantes do sistema nervoso central.
16. Sedativos e hipnóticos
Barbitúricos: estrutura química. Barbitúricos como estabilizadores de membrana. Acções
farmacológicas dos barbitúricos. O fenobarbital como protótipo de barbitúrico. Farmacocinética e
toxicidade do fenobarbital. Comparação entre o fenobarbital e outros barbitúricos. Sedativos e
hipnóticos não barbitúricos. Mecanismo de acção das benzodiazepinas. Farmacocinética e
toxicidade das benzodiazepinas.
17. Anti-epilépticos
Epilepsia ideopática e epilepsia secundária. Métodos de estudo dos anti-epilépticos.
Fármacos de acção anti-epiléptica: depressores da excitabilidade neuronial; facilitadores da
transmissão gabérgica; fármacos que diminuem a metabolização do GABA. Mecanismos de acção,
farmacocinética e efeitos laterais.
18. Psicotrópicos. Relaxantes musculares de acção central
Psicotrópicos: psicoplégicos ou neurolépticos, psicoanalépticos, psicodislépticos.
Psicotrópicos com efeitos predominantes sobre a vigilidade, sobre o fundo endotímico vital, sobre a
corporalidade. Psicotrópicos usados no tratamento dos estados ansiosos e das psicoses.
Relaxantes musculares de acção central: derivados do propanodiol; derivados do
benzimidol; benzodiazepinas; derivados do GABA; outros. Farmacocinética e toxicidade destes
compostos.
19. Anestésicos gerais
Aspectos a considerar na anestesia: premedicação, indução, intubação, manutenção e
recuperação. Fases da anestesia. Propriedades de um anestésico geral “ideal”. Neuroleptoanalgesia.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
Anestesia dissociativa. Mecanismos de acção dos anestésicos gerais. Anestésicos gerais de inalação,
intravenosos e esteróides.
20. Anestésicos locais
Estrutura química. Mecanismos iónicos envolvidos na acção dos anestésicos locais. Acções
da tetrodotoxina e do tetraetilamónio. Influência do pH na potência dos anestésicos locais.
Sensibilidade diferencial dos diferentes tipos de fibras aos anestésicos locais. Acções
farmacológicas noutras estruturas que não axónios periféricos: sistema nervoso central e sistema
cardiovascular. Tipos de anestesia local e vias de administração: anestesias tópica, de infiltração,
troncolar e raquideana. Selecção do anestésico local segundo a sua duração de acção e vias de
administração. Vantagens do uso de vasoconstrictores. Metabolismo dos anestésicos locais.
21. Antipiréticos e analgésicos não opiáceos
Centros termoreguladores. Alterações de temperatura. Antipiréticos tipo aspirina:
mecanismo de acção; comparação entre a potência anti-flogística, antipirética e analgésica destes
compostos; farmacocinética e toxicidade. Derivados do ácido propiónico. Analgésicos de acção
central.
22. Analgésicos de acção central
Sistema endógeno de controlo da dor: encefalinas e endorfinas. Receptores para as
encefalinas: agonistas e antagonistas. Analgesia pela morfina. Principais pontos de acção da
morfina: nos núcleos nociceptivos primários, nos mecanismos anti-nociceptivos descendentes, na
amígdala. Farmacocinética da morfina. Acções da morfina no comportamento, no sistema
cardiovascular, no aparelho respiratório, no aparelho digestivo. Outros analgésicos não-opiáceos;
comparação com a morfina.
23. Sistema colinérgico
Neurónios colinérgicos e sua localização no sistema nervoso central e periférico. Orgãos
inervados por fibras colinérgicas e acções da acetilcolina nesses orgãos. Métodos de estudo do
sistema colinérgico. Síntese, armazenamento, libertação e inactivação da acetilcolina. Fármacos de
acção pré-sináptica no sistema colinérgico: inibidores do transporte axonial, inibidores da síntese da
acetilcolina, inibidores da captação de colina, mecanismos de acção.Tipos de receptores para a
acetilcolina: critérios de classificação e sua distribuição nos diferentes orgãos. Efeitos da activação
dos receptores da acetilcolina no músculo esquelético (fibras rápidas e lentas), gânglios, medula
espinal, medula supra-renal, coração, vasos e outros orgãos efectores do parassimpático;
mecanismos iónicos.
24. Relaxantes musculares, bloqueadores ganglionares e anti-colinesterásicos
Receptores nicotínicos do músculo esquelético: Antagonistas competitivos e agentes
despolarizantes (agonistas não hidrolisáveis). Interacções entre antagonistas competitivos e agentes
despolarizantes. Uso terapêutico destes fármacos. Exemplo de relaxante muscular com acção
directa na contracção muscular (dantroleno). Transmissão ganglionar. Receptores nicotínicos
ganglionares: agonistas e antagonistas competitivos. Consequências da ganglioplegia. Acções
ganglionares da nicotina. Receptores muscarínicos: agonistas (parassimpaticomiméticos) e
antagonistas (parassimpaticolíticos). A atropina como parassimpaticolítico típico. Acções da
atropina a nível dos orgão efectores do parassimpático. Comparação das acções da atropina com a
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
de
outros
parassimpaticolíticos.
Usos
terapêuticos
dos
parassimpaticolíticos
e
parassimpaticomiméticos. Hidrólise da acetilcolina: mecanismos moleculares. Inibidores da
acetilcolinesterase: inibidores de acção rápida (edrofónio) e de acção prolongada; inibidores de
acção central e/ou periférica. Consequências funcionais da inibição da acetilcolinesterase; relação
com a margem de segurança da transmissão colinérgica. Interacções entre inibidores da
acetilcolinesterase e antagonistas competitivos dos receptores colinérgicos. Usos terapêuticos e
efeitos laterais dos inibidores reversíveis da acetilcolinesterase. nibidores irreversíveis da
acetilcolinesterase: mecanismo de acção. Intoxicação acidental e reactivação da acetilcolinesterase.
25. Sistema adrenérgico
Síntese de catecolaminas e fármacos que a afectam: inibidores da tirosina hidroxilase,
agentes que conduzem à síntese de um falso neurotransmissor. Armazenamento da noradrenalina:
fármacos que bloqueiam o transporte activo de catecolaminas do fluido extracelular para as
terminações adrenérgicas; fármacos que bloqueiam o transporte de catecolaminas para as vesículas
sinápticas, conduzindo à inactivação pelas monoamino oxídases. Fármacos que aumentam a
libertação de catecolaminas. Fármacos que têm um efeito bifásico na libertação de catecolaminas.
Fármacos que interferem com o potencial de acção das terminações catecolaminérgicas inibindo a
libertação de catecolaminas. Simpaticectomia química. Metabolismo das catecolaminas: enzimas
envolvidos e sua localização celular; metabolitos intermediários. Inibidores das monoamino
oxidases e das catecolortometil transferases.
26. Agonistas e antagonistas dos receptores adrenérgicos
Acções biofísicas e bioquímicas da noradrenalina e da adrenalina: potenciais de junção e
mediação pelo AMP cíclico. Receptores adrenérgicos: critérios de classificação e sua localização
celular e no sistema nervoso simpático. Agonistas e antagonistas competitivos dos receptores 1,
1, ß1 e ß2; especificidade. Acções decorrentes da estimulação dos vários receptores adrenérgicos.
Uso terapêutico da aminas simpaticomiméticas. Bloqueadores adrenérgicos e consequências do
bloqueio de receptores adrenérgicos . Bloqueadores adrenérgicos ß: selectividade da acção e
potência relativa. Acção anestésica local de alguns bloqueadores adrenérgicos ß. Fármacocinéticas
dos bloqueadores adrenérgicos ß. Consequência do bloqueio de receptores adrenérgicos ß. Uso
terapêutico e efeitos laterais destas substâncias.
27. Hormonas I
Hipófise, tiróide e paratireóide - Comparação entre hormonas e neurotransmissores. Pontos
celulares de acção das hormonas: membrana celular, enzimas, estruturas sub-celulares, ácidos
nucléicos. Hipófise: factores libertadores das hormonas hipofisárias. Hormonas segregadas pela
adenohipófise e pela neurohipófise. Acções das hormonas hipofisárias. Tireóide: síntese da tiroxina
e da triiodotironina. Acções das hormonas tireóides. Fármacos anti-tireóides: inibidores da síntese
das hormonas, inibidores da captação de iodo. Paratireóide: regulação da calcémia e acção da
calcitonina. Perturbações do metabolismo do cálcio.
Pâncreas endócrino - Equilíbrio glicémico. Acção da insulina na captação de glucose.
Mecanismo de produção de insulina. Causas de insuficiência de insulina. Preparações de insulina e
respectiva duração de acção. Agentes hipoglicemizantes não insulínicos (antidiabéticos orais):
estimuladores da libertação de e inibidores da degradação de insulina. Glicagina e somatostatina
pancreática.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
28. Hormonas II
Córtex supra-renal - Hormonas segregadas pelo córtex supra-renal e sua relação com a
hormona adrenocorticotrófica. Corticosteróides: mineralocorticóides, glucocorticóides, estrogéneos,
androgéneos e progesterona. Síntese dos corticosteróides. Acção dos mineralocorticóides no
balanço salino e hídrico. Acção dos glucocorticóides na gluconeogénese. Acções fisiológicas,
metabolismo e eliminação dos corticosteróides. Corticosteróides sintéticos: uso, acções tóxicas e
efeitos laterais.
Hormonas sexuais - Hormonas gonadotróficas hipofisárias e placentares. Síntese e acções
fisiológicas das hormonas sexuais. Controlo da função ovárica. Estrogéneos. Progestagéneos.
Reguladores do ciclo estral e anovulatórios. Androgéneos. Anabolizantes. Índice de actividade
anabólica. Substâncias dotadas de propriedades anti-androgénicas. Usos, efeitos secundários e
contra-indicações das hormonas sexuais.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
Programa das Aulas Práticas Laboratoriais:
Laboratório de Farmacologia, ICBAS - UP
Absorção do ácido salicílico num meio ácido e básico pelo estômago de rato.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / M. Helena Costa e Silva
Biotransformação da zoxazolamina “in vitro”. Observação da acção hidroxilante dos
microssomas hepáticos de rato.
Apoio técnico:
Dra. Dra Alexandrina Timóteo / Suzete Liça
Excreção da aspirina por via renal.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / M. Helena Costa e Silva
Comparação da acção anestésica local da procaína com a da cocaína na córnea de cobaio.
Acção dos vasoconstritores na duração da anestesia local.
Apoio técnico:
Prof. Doutora Graça Lobo / M. Helena Costa e Silva
Acção dos anestésicos locais na hemólise hipotónica induzida em eritrócitos de rato.
Apoio técnico:
Prof. Doutora Graça Lobo / M. Helena Costa e Silva
Acção da acetilcolina no íleo de cobaio. Curvas dose-efeito. Antagonismo pela atropina.
Apoio técnico:
Dra Alexandrina Timóteo / M. Helena Costa e Silva
Programa das Aulas Práticas de Campo:
Campus Agrário de Vairão, ICAV - UP
Introdução às vias de administração de medicamentos nas diferentes espécies; Material
necessário para a execução das diferentes vias. Farmacografia.
Grandes ruminantes: Execução prática das vias – oral (sólida e líquida), entubação gástrica,
subcutânea, intradérmica, intramuscular e endovenosa
Pequenos ruminantes: Execução prática das vias – oral (sólida e líquida), entubação gástrica,
subcutânea, intradérmica, intramuscular e endovenosa
Equinos: Execução prática das vias – oral líquida, entubação nasogástrica, subcutânea,
intradérmica, intramuscular e endovenosa
Canídeos: Execução prática das vias – oral (sólida e líquida), entubação gástrica, subcutânea,
intradérmica, intramuscular e endovenosa
Programa das Aulas Teórico-Práticas (Discussão de Monografias):
Anfiteatros do ICBAS - UP
Psicofármacos em aves exóticas
Tratamento medicamentoso das cólicas em equinos
Fármacos de 1ª linha na epilepsia canina
Distúrbios tiroideus em pequenos animais: abordagem farmacológica
Novos conceitos no tratamento da diabetes
Tratamento da dor oncológica em animais de companhia
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
III - FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA II
Ano lectivo de 2002/03
Cadeira do 2º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária
Regência:
Prof. Doutor Paulo Correia de Sá
Carga horária:
Aulas Teóricas
Horas /
aula
2
Nº aulas
/ semana
1
Horas /
semana
2
Total
Aulas Práticas
Horas /
semestre
30
Horas
/aula
3
Nº aulas
/ semana
3
Distribuição do serviço docente na disciplina:
Nome do Docente
Teóricas
(horas/semest
re)
Paulo Correia de Sá
16
Graça Lobo
8
Margarida Araújo
6
Horas /
semana
9
Horas /
semestre
135
Práticas
(horas/
semestre)
36
36
63
Horas /
semestre
165
Total
(horas/
semestre)
52
44
69
Programa das Aulas Teóricas:
1. Lição de abertura
Introdução à Farmacologia dos Sistemas, Farmacologia Clínica, Quimioterapia e
Farmacotoxicologia.
Objectivos gerais da cadeira de farmacologia e sua articulação com outras cadeiras do curso.
Organização geral da cadeira. Programa das aulas teóricas e práticas. Métodos de ensino e de
avaliação.
2. Ensaio Clínico
Evolução dos fármacos até ao uso clínico. Testes de perfil farmacológico e de segurança.
Requisitos dos ensaios clínicos. Tipos de ensaio clínico: piloto, controlado, aberto, sequencial,
paralelo, cruzado, simples, ignorado, duplamente ignorado. Aprovação medicamentosa e suas
regras. Fármacos "orfãos".
3. Cardiotónicos
Mecanismos de acção dos cardiotónicos, bomba de Na+. Efeitos dos cardiotónicos no
inotropismo, no cronotropismo, no dromotropismo e no automatismo cardíaco, no período
refractário, no electrocardiograma. Efeitos vasculares, diuréticos e no sistema nervoso central.
Tempo de latência e duração de acção dos vários cardiotónicos. Doses de digitalização (inicial e de
manutenção). Cardiotónicos não-digitálicos. Tratamento da insuficiência cardíaca aguda e crónica.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
4. Anti-disrítmicos
Fármacos anti-disrítmicos: inibidores da condutância ao sódio durante o potencial de acção;
estimulantes da condutância ao potássio; antagonistas dos receptores adrenérgicos ß; supressores
dos focos ectópicos; inibidores da condutância ao cálcio; estimulantes do tonus vagal. Comparação
dos efeitos dos anti-disrítmicos na velocidade máxima e na duração do potencial de acção cardíaco,
no período refractário efectivo, no automatismo cardíaco. Farmacocinética e toxicidade dos antidisrítmicos. Esquema sumário de abordagem das disritmias mais frequentes.
5. Vasodilatadores
Vasodilatadores de acção rápida e de acção prolongada. Nitritos e nitratos orgânicos: efeitos
sobre o aparelho circulatório e músculo liso; vias de administração e toxicidade. Inibidores da
captação de adenosina. Bloqueadores dos receptores adrenérgicos ß. Efeitos dos
neurotransmissores, hormonas e autacóides sobre a vasculatura. Vasodilatadores cutâneos:
derivados do ácido nicotínico e bloqueadores dos receptores adrenérgicos .
6. Reguladores da tensão arterial e Antagonistas do cálcio
Regulação do sistema cardiovascular, factores de hipertensão e fármacos reguladores da
tensão arterial. Anti-hipertensores com acção predominantemente arterial. Anti-hipertensores com
acção predominantemente central (directa ou reflexa) e com acção predominantemente periférica
(ganglioplégicos, bloqueadores adrenérgicos, vasodilatadores directos, diuréticos, modificadores do
sistema renina-angiotensina). Possíveis combinações de fármacos anti-hipertensores. Antagonistas
do cálcio: mecanismo de acção e efeitos cardiovasculares; indicações terapêuticas e efeitos laterais.
7. Broncodilatadores
Métodos de estudo dos broncodilatadores. Interacções entre mecanismos colinérgicos e
adrenérgicos no controlo do tonus das vias respiratórias. Aminas simpaticomiméticas
broncodilatadoras; critérios de eleição. Antagonistas da inervação brônquica (antimuscarínicos).
Inibidores ou antagonistas de substâncias endógenas broncoconstritoras: antagonistas dos
receptores H1 da histamina, inibidores da libertação de histamina, inibidores dos leucotrienos,
xantinas, corticosteróides. Mecanismos de acção dos broncodilatadores.
8. Antitússicos e expectorantes
Métodos de estudo dos antitússicos. Principais grupos de antitússicos. Antitússicos de acção
no sistema nervoso central (narcóticos e não narcóticos) e de acção periférica. Anestésicos locais,
endanestésicos e demulcentes; mecanismos de acção. Expectorantes de acção a nível da secreção
brônquica: acções reflexa e directa. Mucolíticos.
9. Modificadores da secreção e motilidade gástricas
Mecanismos de controlo. Acções das hormonas gastro-intestinais. Fármacos ulcerogénicos.
Fármacos utilizados no tratamento da úlcera péptica: anti-ácidos, agentes anti-pepsina,
anticolinérgicos, anti-histamínicos, prostaglandinas, antagonistas da dopamina, inibidores da bomba
de protões. Especificidade e efeitos laterais destas substâncias.
10. Eméticos e anti-eméticos
Farmacologia do vómito: eméticos de acção no sistema nervoso central (apomorfina) e de
acção reflexa (ipecas). Anti-eméticos de acção periférica (demulcentes e protectores, benzocaina) e
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
central (metoclopramida e domperidona, anti-histamínicos, anti-muscrínicos, derivados das
fenotiazinas e butirofenonas).
11. Modificadores do trânsito intestinal e da secreção biliar
Controlo da motilidade intestinal. Laxantes e catárticos: laxantes de contacto, laxantes
amolecedores ou emolientes, laxantes salinos e/ou osmóticos, laxantes expansores do volume fecal.
Antidiarreicos: absorventes hidrofílicos, absorventes dos factores etiológicos, resinas de troca
iónica, modificadores da motilidade, moduladores do transporte electrolítico. Constituintes
farmacologicamente activos normalmente presentes nos alimentos. Substâncias hepatotóxicas.
Coleréticos e colagogos.
12. Diuréticos
Factores que determinam o volume e a composição da urina: filtração glomerular,
reabsorção tubular e excreção. Mecanismo de acção dos vários diuréticos e local de acção a nível do
nefrónio: diuréticos osmóticos, inibidores da anidrase carbónica, diuréticos mercuriais, diuréticos da
ansa de Henle, tiazidas, antagonistas da aldosterona, poupadores de potássio. Acções de cada grupo
de diuréticos na reabsorção e/ou excreção de Na+, K+, Cl-, H+ e CO3-. Factores que afectam o Na+ e
K+ plasmático. Correccção do pH da urina e do plasma.
13. Farmacologia renal e urinária
Uricosúricos: mecanismos de acção e mecanismo bifásico na excreção de ácido úrico. Acção dos
uricosúricos na excreção de penicilina. Anti-litiásicos. Farmacologia da micção. Toxicidade renal
de fármacos. Anti-sépticos urinários.
14. Fármacos que interferem com a coagulação
Noções de hemostase e de trombose. Modificadores da hemostase: hemostáticos de uso
local e de uso sistémico. Anticoagulantes: mecanismo de acção, indicações, efeitos laterais e contraindicações. Anticoagulantes para uso in vitro. Trombolíticos: mecanismo de acção, indicações,
efeitos laterais e contra-indicações. Inibidores da fibrinólise. Mecanismos de activação plaquetária.
Antiagregantes plaquetários.
15. Anti-anémicos e eritropoietina
Eritropoiese: Oxigenação tecidular, eritropoietina, ferro e hemoglobina, vitamina B12, ácido
fólico, co-factores eritropoiéticos. Classificação e tratamento das anemias. Fármacosos nos
diferentes tipos de anemia: Ferro, esteroides anabolizantes, preparações hematínicas vitamínicas e
minerais.
16. Antibacterianos I
Mecanismos de acção dos antibacterianos: inibição da síntese da parede celular, inibição da
síntese proteica a nível ribossomal, inibição da síntese de ácido fólico, inibição da replicação do
DNA. Selectividade dos antibacterianos para células não eucarióticas. Susceptibilidade e resistência
aos antibacterianos. Classificação dos antibacterianos em relação com o mecanismo de acção,
estrutura química e espectro de acção. Distinção entre bacteriostáticos e bactericidas.
17. Antibacterianos II
Escolha do antibacteriano em função do agente infeccioso, da farmacocinética e da
fisiopatologia do hospedeiro. Principais grupos de antibacterianos: Penicilinas, cefalosporinas,
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
aminoglicosídeos, tetraciclinas, macrólidos, sulfonamidas, quinolonas, glicopéptidos, cloranfenicol,
lincosamidas, spectinomicina, virginiamicina, carbadox, nitrofuranos. Característica, espectro,
mecanismo de acção, selectividade, farmacocinética, efeitos laterais e toxicidade. Terapêutica
combinada: vantagens e desvantagens. Profilaxia antibiótica.
18. Antifúngicos
Características próprias dos fungos. Principais antifúngicos: Polienos (anfotericina B e
nistatina), Antimetabolitos (5-fluorouracilo e flucitosina), compostos imidazólicos, griseofulvina,
tolnaftato, antisépticos fungicidas. Micoses cutâneo-mucosas e sistémicas.
19. Antivíricos
Características especiais dos virus. Mecanismos naturais de resistência aos virus: imunidade
celular e humoral, interferão. Fármacos antivíricos: Inibidores da adesão e penetração de virus na
célula hospedeira, inibidores da síntese de ácidos nucleicos, inibidores da síntese das proteínas da
cápside, inibidores das proteases virais. Mecanismos de resistência aos anti-víricos. Toxicidade dos
antivíricos. Imunização.
20. Imunofarmacologia. Citostáticos
Interferão e interleucinas. Imunossupressores (glucocorticóides, citotóxicos, inibidores
específicos das células T). Imunoestimulantes (derivados de produtos biológicos;
imunoestimulantes de síntese). Anticorpos de uso clínico.
Génese e cinética tumoral (tumores líquidos e sólidos). Genética tumoral e resposta
terapêutica. Citostáticos: diferentes fase do ciclo celular e sua sensibilidade aos citostáticos.
Sincronismo celular. Fármacos de acção citostática: inibidores da síntese de nucleótidos
(antimetabolitos e inibidores da redutase do ácido fólico), inibidores da síntese de DNA (inibidores
da polimerase de DNA), fármacos que interferem com a replicação e transcrição (agentes
alquilantes, antibióticos do grupo da actinomicina), fármacos que interferem com a síntese protéica
por deplecção de aminoácidos essenciais (L-asparaginase), inibidores do fuso acromático
(alcalóides da vinca), agentes hormonais. Farmacocinética, toxicidade e mecanismos de resistência.
Tipos de terapêutica tumoral (curativa, paliativa, adjuvante). Terapêutica combinada e ciclos
terapêuticos
21. Anti-helmínticos
Fármacos com actividade contra nemátodos: Compostos heterocíclicos simples,
benzimidazois, imidazotiazois, tetrahidropirimidinas e piperazinas, macrólidos, organofosforados,
ivermectina, outros compostos anti-nemátodos. Mecanismo de acção, vias de metabolização e
excreção, espectro de acção, intervalos de segurança. Resistências aos anti-helmínticos. Usos e
formas de administração nas diferentes espécies. Eliminação de filárias adultas e microfilárias.
Prevenção da dirofilariose.
Fármacos anti-céstodos: Compostos orgânicos naturais e sintéticos, compostos inorgânicos.
Fármacos anti-tremátodos: Actividade fasciolicida.
22. Anti-coccidiais e anti-protozoários
Mecanismos de controlo e programas eficazes. Selecção dos fármacos e desenvolvimento de
resistências. Intervalos de segurança. Associações terapêuticas. Hidroxiquinolonas e naftoquinonas,
robenidina, amprolium, nitrobenzamidas, nitrofuranos, nicarbazina, roxarsone, halofuginona,
lasalocido, maduramicina, monensina. Coccidiose aviária. Produtos anticoccidiais para uso em
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
frangos, perus, bovinos, ovinos, caprinos, suínos, canídeos e coelhos. Outros anti-protozoários:
metronidazol, quinacrina, arsenicais, nitroimidazois. Fármacos para o tratamento da babesiose e
anaplasmose.
23. Controlo de ectoparasitas
Ectoparasiticidas: Classificação (organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides,
avermectinas, diamidas), mecanismo de acção, vias de eliminação, intervalos de segurança, usos e
formas de aplicação nas diferentes espécies (bovinos de corte e leiteiros, suínos, equídeos, ovinos e
caprinos, aves domésticas, cães e gatos). Toxicidade dos pesticidas. Desenvolvimento de
resistências. Potencial de resíduo dos pesticidas.
24. Anti-sépticos e desinfectantes
Considerações sobre a sua importância em veterinária. Classificação, mecanismos e espectro
de acção, usos e formas de aplicação, tempo de acção. Agentes físicos: Calor, radiações, gases.
Agentes químicos: Ácidos, bases, álcool, aldeídos, halogenados, iodoforos, sais de metais pesados.
Agentes surfactantes: Aniónicos, catiónicos, não iónicos.
25. Fármacos de uso dermatológico
Classificação, mecanismos de acção, usos e forma de aplicação. Emolientes, protectores
adsorventes, anti-seborreicos, queratolíticos, caústicos, irritantes, enzimas, anti-pruriginosos.
26. Estimulantes do crescimento
Classificação, definição, mecanismo de acção, usos e vias de administração. Intervalos de
segurança. Vantagens e desvantagens. Anabolizantes, probióticos e promotores de crescimento.
27. Interacção de fármacos
Reacções adversas e reacções desejáveis. Cooperação na acção: potenciação, sinergismo,
somação, adição. Antagonismo na acção: químico, farmacológico, fisiológico. Interacções a nível
da fase farmacêutica, da fase farmacocinética, da fase farmacodinâmica. Exemplos de diferentes
interacções.
28. Noções de farmacotoxicologia
Distinção entre toxicidade aguda, sub-aguda e crónica. Dose letal 50% (LD50). Índice e
margem terapêutica. Causas de toxicidade: efeitos laterais dos fármacos, hiperdosagem,
hipersensibilidade. Toxicologia dos vários sistemas (cardiovascular, respiratório, renal, digestivo,
sangue e medula óssea, sistema nervoso, fígado, pele, olhos, aparelho reproductor, osso, etc.).
Teratogénese e carcinogénese. Normas gerais no tratamento de intoxicações: redução da absorção e
aumento da excreção. Antídotos e medidas de suporte. Agentes complexantes e seus usos.
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
Programa das Aulas Práticas Laboratoriais:
Laboratório de Farmacologia, ICBAS - UP
Efeito de um “diurético da ansa” no coelho. Determinação das concentrações urinárias de Na+,
K+ e Cl-.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / M. Helena Costa e Silva
Efeito anticoagulante da heparina e da acção antagonista do sulfato de protamina em coelho
Apoio técnico:
Dra. Alexandrina Timóteo / Suzete Liça
Determinação do ácido -aminolevulínico na urina de indivíduos intoxicados pelo chumbo.
Apoio técnico:
Dra. Teresa Magalhães Cardoso / Suzete Liça
Determinação da actividade das colinesterases plasmáticas em intoxicados por pesticidas
(organofosforados e carbamatos).
Apoio técnico:
Suzete Liça
Acção de fármacos nas aurículas isoladas de rato. Efeitos cronotrópico e inotrópico. Pacing
eléctrico.
Apoio técnico:
Dr. Miguel Faria (Departamento de Clínicas Veterinárias)
Programa das Aulas Práticas de Campo:
Campus Agrário de Vairão, ICAV - UP
Introdução à farmacografia: Execução prática da prescrição de medicamentos
Vias de administração de fármacos nas diferentes espécies animais: Referências anatómicas
para selecção das vias IV, IM, SC, IP e IU; Cuidados na utilização de cada via (técnica assépcia,
selecção de materiais); Atenção especial nos bovinos, equinos e ovinos
Selecção da via de administração de fármacos de acordo com: Espécie, caso clínico, tratamento
a aplicar, material e equipamento disponível.
Execução prática de tratamentos e demonstração das principais falhas terapêuticas
Simulação de casos clínicos com finalidade de integração de conhecimentos teórico-práticos
Programa das Aulas Teórico-Práticas (Discussão de Monografias):
Anfiteatros do ICBAS - UP
Fibrossarcoma em pequenos animais
Tratamento das micoses sistémicas
Farmacoterapia da úlcera péptica
Tratamento médico do glaucoma
Doença pulmonar crónica obstrutiva em equinos
Colite ulcerosa histiocitária
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
IV. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA
Avaliação Prática (frequência obrigatória):
6 valores
- Monografias / Temas
4 valores
Dissertação sobre temas teórico-práticos relevantes
Trabalho de pesquisa em grupo (2-3 alunos)
Exposição (~20 min) e discussão (~10 min) oral
- Relatórios experimentais / Informação do assistente
2 valores
Introdução ao trabalho prático (grupo sorteado)
Relatório prático realizado no fim de cada aula prática
Avaliação oral contínua pelo assistente
- VET - Prova de procedimentos práticos e farmacografia (admissão a exame)
Avaliação Teórica:
14 valores
- Teste escrito final
50 perguntas de escolha múltipla + 10 perguntas de resposta curta
Condições de admissão:
2/3 presenças nas aulas práticas
3.0/6.0 valores no curso prático
VET – aprovação nos procedimentos práticos e farmacografia
- Prova Oral
Condições de dispensa:
7.5/14.0 valores no teste escrito final
Condições de admissão:
6.0/14.0 valores no teste escrito final
Avaliação por Frequências (facultativa para a Medicina):
- 1ª Frequência
Condições de admissão:
2/3 presenças nas aulas práticas (1º semestre)
3.0/6.0 valores no curso prático (1º semestre)
- 2ª Frequência
Condições de admissão:
2/3 presenças nas aulas práticas (2º semestre)
3.0/6.0 valores no curso prático (2º semestre)
6.5/14.0 valores na 1ª frequência
- Dispensa do exame final
Condições de dispensa:
6.5/14.0 valores na 2ª frequência
7.5/14.0 valores de média nas duas frequências
14 valores
Laboratório de Farmacologia
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR
UNIVERSIDADE DO POR T O
Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL
V. ÍNDICES DE APROVEITAMENTO (2002-03)
FARMACOLOGIA
Cadeira anual do 3º Ano do Curso de Medicina
Regência:
Prof. Doutora Maria da Graça Borges Lobo
Número de alunos = 124 alunos
Frequências
Exame Final:
Normal
Recurso
Concl. Básico
Estud. Trab.
GLOBAL
Presenças
112 (90%)
Faltas
12 (10%)
Aprovações
70 (63%)
Reprovações
MédiaSD
13.660.08
Min.-Máx.
13-16
31 (61%)
18 (55%)
0 (0%)
1 (33%)
20 (39%)
15 (45%)
2 (100%)
2 (66%)
15 (12%)
20 (65%)
9 (50%)
11 (35%)
9 (50%)
13.100.20
13.000.35
11-15
11-14
1 (100%)
100 (81%)
0 (0%)
9 (7%)
13
13.480.08
13
11-16
FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA I
Cadeira do 1º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária
Regência:
Prof. Doutor Paulo Correia de Sá
Número de alunos = 60 alunos
Exame Final:
Normal
Recurso
Est. Trabalh.
Dir. Associat.
GLOBAL
Presenças
Faltas
Aprovações
Reprovações
MédiaSD
Min.-Máx.
45 (75%)
13 (41%)
15 (25%)
19 (59%)
29 (64%)
8 (62%)
16 (36%)
5 (38%)
13.170.24
13.630.39
11-17
12-16
18 (30%)
37 (62%)
5 (8%)
13.270.21
11-17
FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA II
Cadeira do 2º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária
Regência:
Prof. Doutor Paulo Correia de Sá
Número de alunos = 53 alunos
Exame Final:
Normal
Recurso
Est. Trabalh.
Dir. Associat.
GLOBAL
Presenças
Faltas
Aprovações
Reprovações
MédiaSD
Min.-Máx.
45 (85%)
9 (39%)
0 (0%)
8 (15%)
14 (61%)
1 (100%)
30 (67%)
4 (44%)
15 (33%)
5 (56%)
13.360.19
12.000.35
12-16
11-13
14 (26%)
34 (64%)
5 (9%)
13.200.18
11-16