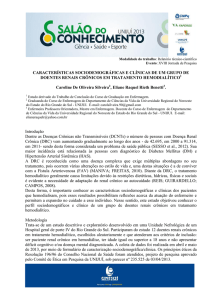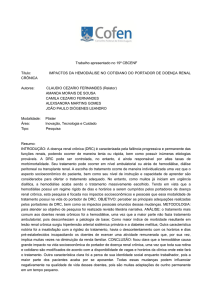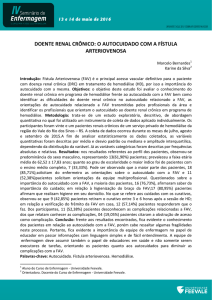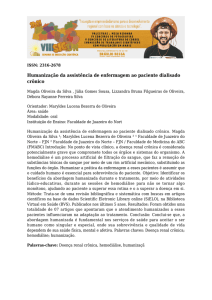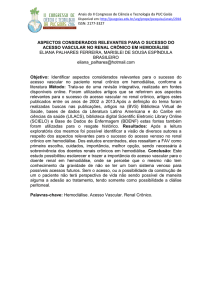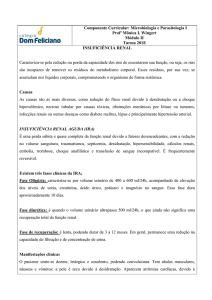Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia
AUTOIMAGEM E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM
FÍSTULA ARTERIOVENOSA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
Autora: Fabrícia Silvino Machado
Orientadora: Profª. Dra. Lucy Gomes Vianna
Brasília - DF
2014
FABRÍCIA SILVINO MACHADO
AUTOIMAGEM E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM FÍSTULA
ARTERIOVENOSA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Gerontologia da
Universidade Católica de Brasília, como
requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Gerontologia.
Orientadora: Profª. Dra. Lucy Gomes Vianna
Brasília - DF
2014
M149a
7,5cm
Machado, Fabrícia Silvino.
Autoimagem e qualidade de vida de idosos com fístula arteriovenosa
submetidos à hemodiálise. / Fabrícia Silvino Machado – 2014.
105 f.; il.: 30 cm
Dissertação (Mestrado) – Universidade Católica de Brasília, 2014.
Orientação: Profa. Dra. Lucy Gomes Vianna
1. Gerontologia. 2. Idosos. 3. Hemodiálise. 4. Autopercepção. 5. Fístula
arteriovenosa. I. Vianna, Lucy Gomes, orient. II. Título.
CDU 613.98
Ficha elaborada pela Biblioteca Pós-Graduação da UCB
Dissertação de autoria de Fabrícia Silvino Machado, intitulada ―AUTOIMAGEM E
QUALIDADE
DE
VIDA
DE
IDOSOS
COM
FÍSTULA
ARTERIOVENOSA
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE‖, apresentada como requisito para obtenção do título de
mestre no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da Universidade
Católica de Brasília em 1º de dezembro 2014, apresentada e aprovada pela banca examinadora
abaixo assinada:
____________________________________________________________
Prof.ª Dra. Lucy Gomes Vianna
Orientadora
____________________________________________________________
Prof.ª Dra. Gislane Ferreira de Melo
Examinadora Interna
____________________________________________________________
Prof.ª Dra. Tânia Torres Rosa
Examinadora Externa
Dedico este trabalho a minha família que ao
meu lado sempre esteve em especial ao meu
querido e amado pai, Antonio Silvino (in
memoriam), que se aqui estivesse, estaria ao
meu lado apoiando a concretização deste
sonho.
AGRADECIMENTO
A Deus, em primeiro lugar, que me ajudou em todos os momentos e a quem devo toda
honra, glória e gratidão pela minha garra, força, determinação e saúde, pois sem esses
elementos, jamais seria possível a concretização deste sonho.
Ao meu amado esposo, Marcos Aurelio, pelo amor e carinho que me ofereceu nos
momentos mais difíceis, bem como pelo incentivo e dedicação.
Aos meus filhos, Pablo Vinícius e Victor Hugo, pelo amor, paciência e apoio nos
momentos de ausência.
A minha amada mãe, Maria Terezinha, pela sabedoria, ajuda e paciência.
Aos meus irmãos, Francisco Silvino e Elaine Cristina, pelo suporte e dedicação.
A minha orientadora e amiga, Profª. Dra. Lucy Gomes Vianna, pelo trabalho conjunto
construído.
A professora e amiga, Dra. Gislane Ferreira de Melo, pela contribuição e
compreensão.
A professora Dra Tânia Torres Rosa pela disponibilidade e atenção em participar da
minha banca examinadora, assim como a contribuição para o enriquecimento do meu
trabalho.
Aos amigos, pacientes, colaboradores e diretores da Clínica de Doenças Renais de
Taguatinga, em especial, Dra Maria da Penha Almeida Batista pelo apoio.
A todos os colegas de trabalho, em especial, MSc Silmara de Almeida e Dra. Siomara
Bambirra, pelo incentivo.
Aos colegas do mestrado pelo amparo e motivação.
Aos professores do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da
Universidade Católica de Brasília pelo suporte e incentivo na construção deste sonho.
A todos os amigos e amigas que sempre torceram por mim e acreditaram na minha
capacidade.
“Admiro a juventude, não querer envelhecer.
velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer
morrer. Só vive quem é velho. Bom é ser velho e
viver.”
Oliveira de Panelas (poeta popular brasileiro)
SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 8
2.
REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................................... 11
2.1. ENVELHECIMENTO POPULACIONAL .............................................................................. 11
2.2. DOENÇA RENAL CRÔNICA .............................................................................................. 13
2.2.1. Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) ............................................................ 17
2.2.2. Terapia Renal Substitutiva: Hemodiálise .......................................................... 18
2.2.3. Acesso vascular para hemodiálise: Fístula arteriovenosa (FAV) ........................ 20
2.3. QUALIDADE DE VIDA ...................................................................................................... 23
2.3.1. Qualidade de vida em idosos ........................................................................... 23
2.3.3. Qualidade de vida em idosos submetidos à hemodiálise .................................. 24
2.4. AUTOIMAGEM ............................................................................................................... 29
2.4.1. Autoimagem em idosos ................................................................................... 29
2.4.2. Autoimagem em idosos com DRCT e FAV em hemodiálise ............................... 30
3.
OBJETIVOS................................................................................................................ 33
3.1. OBJETIVO GERAL ............................................................................................................ 33
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 33
4.
MÉTODO .................................................................................................................. 34
4.1. TIPO DE ESTUDO ............................................................................................................ 34
4.2. LOCAL DO ESTUDO ......................................................................................................... 34
4.3. POPULAÇÃO ESTUDADA ................................................................................................ 34
4.3.1. Critérios de inclusão ........................................................................................ 35
4.3.2. Critérios de exclusão ....................................................................................... 35
4.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS ........................................................................ 35
4.5. RISCOS E BENEFÍCIOS ..................................................................................................... 38
4.6. LIMITAÇÃO DA PESQUISA .............................................................................................. 39
4.7. ASPECTOS ÉTICOS .......................................................................................................... 39
4.8. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS ...................................................................... 39
4.9. ANÁLISE DE DADOS ........................................................................................................ 40
5. MANUSCRITO 1: AUTOIMAGEM DE IDOSOS COM FÍSTULA ARTERIOVENOSA
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE ......................................................................................... 41
6. MANUSCRITO 2: QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM FÍSTULA ARTERIOVENOSA
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE ......................................................................................... 60
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 76
APÊNDICE A AUTORIZAÇÃO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE TAGUATINGA ............... 82
APÊNDICE B TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ..................................... 83
APÊNDICE C QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO .......................................................... 84
APÊNDICE D QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AUTOIMAGEM ...................................... 85
ANEXO A QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA KDQOL-SFTM .............. 87
ANEXO B COMPROVANTE DE ENVIO DO MANUSCRITO 1 PARA REVISTA TEXTO CONTEXTO
ENFERMAGEM............................................................................................................... 102
ANEXO C COMPROVANTE DE ENVIO DO MANUSCRITO 2 PARA REVISTA LATINOAMERICANA ENFERMAGEM .......................................................................................... 103
ANEXO D PARECER CEP .................................................................................................. 104
8
1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional, que era restrito aos países desenvolvidos, está
ocorrendo nos países em desenvolvimento de modo rápido. Sendo o envelhecimento um
processo gradual, o sistema biológico está exposto continuamente a riscos de acometimento
por doenças crônicas. Cabe salientar que a predominância destas doenças nos idosos pode
induzir alterações funcionais com maior intensidade (PILGER et al., 2010).
Com o número crescente de idosos é fundamental postergar ao máximo o início dessas
doenças, buscar a compreensão da morbidade e levá-la para o mais próximo possível do limite
biológico da vida. Segundo Veras (2006) é cada vez mais necessário criar protocolos
específicos para esse grupo etário, uma vez que os modelos de prevenção para estes são
distintos dos preconizados para grupos populacionais mais jovens.
Entretanto, quando a doença crônica está instalada se fazem necessárias intervenções
que minimizem os danos produzidos nos indivíduos deste grupo etário. Como reflexo da
ampliação da longevidade, observa-se um aumento do número de pacientes com Doença
Renal Crônica Terminal (DRCT) nas unidades de diálise. Este aumento é devido,
principalmente, ao número de pacientes com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus,
que são as principais causas de DRCT (KUSUMOTO et al., 2008).
De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) (SBN, 2013), o número de
pacientes sob terapia de diálise no período de 2012 a 2013 aumentou de 97.586 para 100.397
casos. Os dados revelam que de 2006 a 2013 tivemos um aumento estimado de 34.161
pacientes novos em diálise, na população de idosos esse número se manteve estável de 2011 a
2013 com uma média de 31,6% na população acima de 65 anos. Desses, como causa da
doença renal primária, 33,8% tinham hipertensão arterial sistêmica e 28,5% diabetes mellitus.
A DRCT é conceitualmente descrita como uma perda lenta, progressiva, e irreversível
da função renal, sendo multicausal, tratável de várias maneiras, controlável, mas sem cura. É
necessária a substituição da função renal por uma modalidade terapêutica quando o paciente
atinge o estágio terminal, utilizando-se: hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) ou
transplante renal (TX), a critério médico e de acordo com as condições do idoso (BARROS et
al., 2006).
9
A DRCT é considerada doença de elevada mortalidade e morbidade, tendo aumentado
sua incidência e prevalência no Brasil. Em todo mundo, a doença vem-se tornando uma
epidemia e um problema de Saúde Pública, não somente devido à elevada morbimortalidade,
mas por diminuir a qualidade de vida (QV) dos pacientes acometidos (SILVA et al., 2011).
Os avanços tecnológicos nos tratamentos dialíticos têm contribuído para aumentar a
sobrevida dos pacientes portadores de DRCT. Entretanto, o nível de QV desses pacientes é
prejudicado, quando comparamos com o da população geral, uma vez que o diagnóstico da
patologia crônica exerce impacto no cotidiano desses indivíduos, devido a mudanças, como:
transformações das relações sociais, tratamento seguido e possíveis alterações na aparência
pessoal, entre outros (TAKEMOTO et al., 2011).
Ainda, de acordo com estes autores, a hemodiálise interfere não só nos aspectos físico,
psicológico e social, como repercute também na vida familiar, alterando sua dinâmica com a
introdução de novas rotinas, como: realização das sessões de hemodiálises, utilização de
medicamentos, deslocamento para a unidade de diálise e alimentação com restrições, entre
outras. Então, é fundamental a adaptação familiar ao tratamento hemodialítico, exigindo
compromisso e dedicação dos seus membros, que tendem a aumentar com a evolução da
doença. Pois, tanto os pacientes quanto seus familiares podem desencadear processos de
ansiedade, sobrecarga e estresse, alterando sua QV.
Dessa maneira, se faz necessário que o cuidado dos idosos acometidos seja feito de
forma integral, e não fragmentada, pois devido à sua fragilidade orgânica, eles apresentam
diversas particularidades. Então, é imprescindível um preparo por parte das pessoas
envolvidas no processo de cuidado dos idosos com DRCT, para a promoção de sua QV,
torna-se uma questão fundamental. Profissionais treinados para lidar com essa população
poderão auxiliar positivamente nos impactos caracterizados pela terapia prolongada proposta
no tratamento de hemodiálise. Alguns pontos se destacam na avaliação da QV dos idosos
submetidos à hemodiálise: presença de doença crônica, influência negativa do tratamento
prolongado e doloroso e aspectos relacionados ao domínio físico prejudicado, entre outros
(SOUZA; CINTRA; GALLANI, 2005).
Dessarte, é de suma importância a ampliação de fatores que otimizem a QV desses
idosos. Vale salientar que é essencial aos profissionais de saúde e familiares envolvidos neste
processo contribuir para readequar as ações terapêuticas, a partir da compreensão da vida
habitual do idoso com DRCT, promovendo ações que contribuam com seu bem-estar geral,
10
pois inúmeros fatores físicos, psicológicos e socioculturais acarretam uma QV baixa no idoso
submetido à hemodiálise, com variações de acordo com o domínio analisado. As limitações
desses pacientes, principalmente de ordem física, tendem a aumentar com o avançar da idade,
uma vez que os idosos apresentam a fragilidade decorrente do processo de envelhecimento e
estão mais sujeitos à ocorrência de múltiplas comorbidades (TAKEMOTO et al., 2011).
O tratamento hemodialítico apresenta-se para o idoso como um evento inesperado que
o remete à relação de dependência a uma máquina, a uma terapêutica eficaz, e a uma equipe
especializada. As mudanças causadas na autoimagem do indivíduo, com o estabelecimento da
fístula arteriovenosa (FAV), que é o acesso vascular de primeira escolha nesta terapia, e
alterações orgânicas resultantes da morbidade, podem causar transtornos psicológicos e
sociais nos pacientes portadores de DRCT. Essas alterações na sua autoimagem por sua vez
podem levar a uma desestruturação do seu senso de identidade (crenças, valores, ideias), com
consequente prejuízo em sua QV (PILGER et al., 2010).
A autoimagem expressa a percepção que a pessoa tem de si, sendo definida em termos
de uma constelação de pensamentos, sentimentos e ações acerca do relacionamento do
indivíduo com outras pessoas, bem como acerca do eu como uma entidade distinta dos outros
(GOUVEIA; SINGELIS; COELHO, 2002). Assim sendo a DRCT e seu tratamento causam
incapacidades físicas e emocionais, interferindo na vida dos indivíduos, limitando ou
impedindo a realização de suas atividades diárias, e esta autoimagem poderá estar abalada
(SANTOS; ROCHA; BERARDINELLI, 2011).
O presente estudo tem como objetivo avaliar a autoimagem e a QV de indivíduos
idosos com fístula arteriovenosa (FAV) submetidos à hemodiálise. A importância deste
contexto deve-se aos riscos nos mesmos de isolamento social e depressão entre outras
situações que levam a uma autoimagem prejudicada.
11
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. ENVELHECIMENTO POPULACIONAL
Envelhecimento é o fenômeno do processo de vida que, da mesma maneira como a
infância, a adolescência e a maturidade, é marcado por mudanças biopsicossociais específicas
associadas à passagem de tempo. Inúmeras são as dificuldades encontradas pelos idosos para
manter um padrão de envelhecimento saudável, tais como: a precariedade ou demora do
acesso à saúde, a deficiência de informação, e hábitos inadequados de vida adquiridos ao
longo da vida (LENARDT et al., 2008).
É notório o aumento expressivo no número de idosos em vários países. No Brasil não
poderia ser diferente, o cenário está mudando ocorrendo de forma gradual a inversão da
pirâmide etária. O envelhecimento populacional é um dos fenômenos que mais se evidencia
nas sociedades atuais, estando entre os fatores contribuintes: decréscimo progressivo das taxas
de natalidade e fecundidade, e diminuição da mortalidade infantil, levando a aumento gradual
da esperança média de vida. Assim sendo, este escalão etário reflete, atualmente, uma
categoria social que não pode ser ignorada (FECHINE; TROMPIERI, 2012).
A política nacional do idoso (PNI), Portaria n. 2.528, de 19 de outubro de 1994, e o
Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, define Idoso pessoas com 60 anos
ou mais. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2002) define o idoso a partir da idade
cronológica, portanto, idosa é aquela pessoa com 60 anos ou mais, em países em
desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. É importante reconhecer
que a idade cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o
envelhecimento. Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde,
participação e níveis de independência entre pessoas que possuem a mesma idade (BRASIL,
2005). No Brasil, a projeção é que em 2060 mais de um quarto da população tenha mais de 65
anos. Atualmente, esta população equivale a 7,4%, e até 2025 este terá a sexta maior
população idosa do planeta, com 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais (IBGE, 2013).
Vale salientar que no Brasil, com as mudanças na transição epidemiológica, ocorreram
alterações relevantes no cenário da morbimortalidade, fazendo com que as doenças infectocontagiosas, que representavam 40% das mortes registradas, alcançassem, atualmente, menos
12
de 10%. As doenças cardiovasculares que, em 1950, eram responsáveis por 12% das mortes,
hoje representam mais de 40%. Dessa forma, o país passou de um perfil de mortalidade típica
de uma população jovem para um desenho próprio de faixa etária mais avançada. A medida
que as pessoas envelhecem é possível perceber que as doenças crônicas não-transmissíveis
vão tornando-se os principais motivos relacionados ao aumento da morbidade, incapacidade e
mortalidade em todas as regiões do mundo (LOURENÇO; LINS, 2010).
Para Kusumota, Oliveira e Marques (2009), na senescência ocorre a diminuição da
capacidade funcional de cada sistema do nosso organismo, inclusive o renal. A partir da vida
adulta, o desempenho funcional dos indivíduos se deteriora gradativamente em decorrência do
processo natural e fisiológico do envelhecimento. Esse é um processo universal, porém a
trajetória do declínio funcional se torna mais lenta ou mais rápida, dependendo de uma série
de fatores, tais como a constituição genética, hábitos e estilos de vida, o meio ambiente, o
contexto socioeconômico, cultural e, até mesmo, o fato de nascer numa sociedade mais ou
menos desenvolvida.
Com envelhecimento populacional, por inúmeros fatores os indivíduos vão-se
tornando mais susceptíveis a morbidades decorrentes de processos patológicos. Dessa forma,
ocorre a perda progressiva da reserva renal fisiológica, consequente às alterações anatômicas
e funcionais, como: diminuição do tamanho e do peso renais, do fluxo sanguíneo renal, da
taxa de filtração glomerular (TFG) e da função tubular. Esta perda está associada a doenças de
alta prevalência para esta faixa etária, tais como, Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão
Arterial (HAS), que são as principais causas de falência renal. Consequentemente, o idoso
terá maior risco de ser acometido pela DRC. Razões pelas quais fazem este grupo específico
de indivíduos representar atualmente o maior grupo em diálise e, também, o que mais cresce,
quando consideramos a incidência de diálise por faixa etária (FRANCO; FERNANDES,
2013).
Frente a essa realidade, as alterações no perfil de morbimortalidade da população
mundial, ocorridas nas últimas décadas, evidenciaram um aumento das doenças crônicas e
projetaram a Doença Renal Crônica (DRC) no cenário mundial como um dos maiores
desafios à saúde pública deste século, com todas as suas implicações econômicas e sociais
(BASTOS et al., 2009).
13
2.2. DOENÇA RENAL CRÔNICA
Ser portador de uma doença crônica traz um impacto nas esferas da vida pessoal e
profissional dos indivíduos, exigindo o manejo de complexos regimes terapêuticos e
necessidade de alterações significativas nas atividades do cotidiano, sendo, assim, esperado
que os mesmos experimentem sentimentos de desesperança (FORBES, 1999).
Os rins são os principais órgãos responsáveis pela eliminação de toxinas e substâncias
do nosso corpo e são fundamentais para manter os líquidos e sais do organismo em níveis
adequados. Além disso, ajudam a produzir alguns hormônios e participam no controle da
pressão arterial. Por isso, doenças dos rins e a perda de suas funções acarretam uma série de
problemas, tais como: doenças cardíacas, anemia, alteração em ossos e nervos (CLARKSON;
BRENNER, 2007).
A DRC é um problema de saúde pública por ser considerada uma doença de elevada
morbimortalidade. Sua incidência e prevalência, quando em estágio terminal, têm aumentado
progressivamente em todo o mundo e se tornou uma epidemia. É uma condição patológica em
que os rins não podem remover os resíduos metabólicos do organismo ou realizar funções
reguladoras. Deste modo, ocorre acúmulo das escórias no organismo e as substâncias que
seriam eliminadas pela urina acumulam-se nos líquidos orgânicos, o que leva à ruptura nas
funções endócrinas e metabólicas e a distúrbios hidroeletrolíticos (SMELTZER; BARE,
2002).
Sabe-se que a DRC é importante problema para o idoso, e poderá estar associada a
outras doenças crônicas, que poderão levar à morte, ratificando a necessidade da identificação
precoce com objetivo de minimizar os danos a indivíduos fragilizados pelo processo da
senilidade (PIRES, 2011). Nesse sentido, em publicação recente do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2014), entre os indivíduos sob o risco de desenvolver a DRC estão os idosos,
reconhecendo essa população como grupo de risco. O objetivo é que seja feito o diagnóstico
precoce, identificando os fatores de pior prognóstico, definidos como aqueles que estão
relacionados à progressão mais rápida da perda da função renal.
Nos idosos, o número de néfrons funcionais reduz-se em um terço. A taxa de filtração
glomerular decresce linearmente com a idade, que predispõe os idosos à doença renal e
aumenta a necessidade de Terapia Renal Substitutiva para sobreviver. Conceitualmente, a
14
DRC é descrita como a perda gradual e irreversível da função renal, sendo processo que
ocorre de forma insidiosa e que, na maior parte do tempo, apresenta evolução assintomática
(FERMI, 2010).
Ratificando, entre as principais causas da DRC que levam à DRCT estão o diabetes
mellitus, a hipertensão, a glomerulonefrite e a doença cística renal, que juntas, são
responsáveis por 90% de todos os casos novos de DRC (CLARKSON; BRENNER, 2007).
Por sabermos que a DRC constitui-se numa perda lenta, progressiva e irreversível das
funções renais, exige a prática de processos adaptativos do próprio organismo que, até certo
ponto, permitem que o paciente permaneça um período com menos sintomas. (SILVEIRA;
CANINEU; REIS, 2011).
De acordo com as Diretrizes da Prática Clínica para Doença Renal Crônica (KDOQI,
2002), a DRC é classificada em cinco estágios (1, 2, 3, 4 e 5) categorizados de acordo com a
taxa de filtração glomerular (TFG), na qual a função é declinada em ordem crescente, sendo o
estágio V referente ao grau de falência renal, isto é, TFG <15 ml/min/1.73m², sendo, neste
caso, necessária a indicação de terapia renal substitutiva. Entretanto, foram publicadas
recentemente as diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com DRC no Sistema Único de
Saúde (SUS) (BRASIL, 2014) que ampliou a classificação dos estágios da DRC, com a
finalidade de otimizar a tomada de decisão no que se refere aos encaminhamentos para os
serviços de referência especializada. Objetivando a organização para o atendimento integral
ao indivíduo com DRC, o tratamento deverá ser classificado em conservador, quando nos
estágios de 1 a 3, pré-diálise quando 4 e 5-ND (não dialítico) e Terapia Renal Substitutiva
(TRS) quando 5-D (dialítico). Por conseguinte, ficam caraterizados como:
O tratamento conservador consiste em controlar os fatores de risco para a progressão
da DRC, bem como para os eventos cardiovasculares e mortalidade, com o objetivo
de conservar a TFG pelo maior tempo de evolução possível. A pré-diálise, para fins
dessa diretriz, consiste na manutenção do tratamento conservador, bem como no
preparo adequado para o início da TRS em paciente com DRC em estágios mais
avançados. A TRS, como definida anteriormente, é uma das modalidades de
substituição da função renal: hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal.
(BRASIL, 2014 p. 12)
15
Tabela 1: Classificação da DRC
Fonte: Ministério da Saúde, 2014
É importante lembrar que nos idosos, em decorrência da senilidade, há uma
diminuição da massa muscular, sarcopenia, e, como consequência, menos creatinina é gerada.
Por consequência, a creatinina sérica, que é marcador de função renal, não é indicação isolada
para diagnóstico, sendo necessária a associação de equações específicas que estimam TFG
(FRANCO; FERNANDES, 2013). Pires (2011) aponta que o uso da creatinina isolada há
muito tempo não é marcador confiável para mensurar a redução da função renal,
particularmente nas pessoas idosas, pois é possível a perda da metade da função renal,
mantendo-se normal a taxa de creatinina sérica. Dessa maneira, é fundamental a
complementação diagnóstica com outros exames, como: radioimagem, exames laboratoriais,
biópsia renal e exame clínico.
À vista disso, enfatiza-se que as fórmulas utilizadas baseadas na creatinina sérica têm
como objetivo estimar a TFG por meio de equações padronizadas, como: 1) Cockroft & Gault
(COCKROFT; GAULT, 1976); 2) Modification on Diet in Renal Disease Study Group
(MDRD) (CIRILLO; ANASTASIO; DE SANTOS, 2005); 3) Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) (LEVEY et al, 2009). Não existe consenso entre os
autores de qual é a melhor fórmula para esta faixa etária. Nas diretrizes clínicas para o
cuidado ao paciente com DRC no SUS, é recomendada a utilização da fórmula 2 ou 3,
enquanto a fórmula 1, que foi muito utilizada no passado, não é recomendada pois além de
necessitar de correção para superfície corpórea, apresenta vieses na correlação com a TFG.
16
No quadro 1 estão as fórmulas consideradas mais precisas para estimar TFG em qualquer
faixa etária, de acordo com as diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com DRC no SUS
(BRASIL, 2014).
Vale lembrar que: ―o cálculo da TFG é recomendado para todos os pacientes sob o
risco de desenvolver DRC. Todos os pacientes que se encontram no grupo de risco
para a DRC devem dosar a creatinina sérica e ter a sua TFG estimada, pelas
fórmulas‖ (BRASIL, 2014, p.12).
Fonte: Ministério da Saúde, 2014
Ressalta-se que o encaminhamento antecipado a um nefrologista é reconhecidamente
eficaz no sentido de melhorar a sobrevida de paciente, inclusive idosos (PIRES, 2011).
Quando diagnosticada a DRC, deve ser estabelecido um tratamento conservador ou dialítico o
mais precocemente possível, pois, caso contrário, a ocorrência de complicações pode levar à
morte (MADEIRO et al., 2010).
Vale ressaltar que as manifestações clínicas nos idosos poderão ser divergentes da
sintomatologia clássica apresentada nos adultos jovens. Pires (2011) descreve que no idoso o
processo poderá manifestar-se sem os sintomas clássicos de uremia, em decorrência do
agravamento de enfermidades preexistentes, tais como diabetes, isquemia renovascular,
nefropatia obstrutiva, insuficiência cardíaca congestiva, sangramento gastrointestinal e
demência.
17
2.2.1. Doença Renal Crônica Terminal (DRCT)
A DRCT é patologia que, além de acarretar consequências físicas ao indivíduo que a
vivencia, traz prejuízos psicológicos e altera o seu cotidiano, sendo caracterizada também,
como um problema social, que reflete no papel que esse indivíduo desempenha na sociedade
(ORLANDI et al., 2012).
Verifica-se que avanços terapêuticos no controle de outras patologias que
frequentemente acometem os idosos, tais como as doenças cardiovasculares (DCV) e as
neoplasias, têm proporcionado maior sobrevida desses pacientes, permitindo-lhes alcançar o
estágio 5 da DRC. Embora há 30 anos atrás, os pacientes idosos fossem excluídos da diálise,
atualmente, esse panorama é bem diferente. Algumas razões justificam essa mudança:
envelhecimento populacional, melhor aceitação pelos países industrializados da diálise em
idades avançadas e melhora da sobrevida dos pacientes que agora envelhecem em diálise
(FRANCO; FERNANDES, 2013).
Nos Estados Unidos da América, atualmente para cada quatro pacientes iniciando
TRS, um tem mais de 75 anos de idade. Seguindo a mesma tendência, na França a
média de idade dos pacientes incidentes em diálise é de 70,2 anos e no Reino Unido
está em torno de 65 anos. Em nosso meio, esse fato foi evidenciado com o censo da
SBN de 2011, que mostrou ser a proporção de idosos (65 anos ou mais) em TRS de
31,5%, superando em 0,8% a do ano anterior. (FRANCO; FERNANDES, 2013,
p.133)
A DRCT, classificada como estágio cinco de acordo com KDOQI, é o resultado final
do comprometimento da função renal, ocasionando múltiplos sinais e sintomas decorrentes da
incapacidade renal de manter a homeostasia interna do organismo. A ocorrência e a
intensidade dos sinais e sintomas da DRCT dependem do grau de comprometimento renal e
de outras condições subjacentes, tais como presença de outras doenças crônicas e/ou redução
da função renal decorrente de alterações anatômicas e fisiológicas, próprias do
envelhecimento humano (OLIVEIRA; ROMÃO; ZATZ, 2005).
Neste estágio, de acordo com o KDOQI, é fundamental indicar uma terapia para a
substituição da função renal. Riella (2003) aponta as modalidades de tratamento da DRCT,
que substituem parcialmente as funções renais: diálise, que subdivide-se em hemodiálise e
diálise peritoneal e transplante renal. Essas são terapias que advém para a manutenção da
vida, mas não proporcionam a cura da doença.
18
2.2.2. Terapia Renal Substitutiva: Hemodiálise
Acompanhando o panorama mundial, o aumento da expectativa de vida associado aos
avanços tecnológicos em terapias renais têm determinado o aumento expressivo de indivíduos
idosos em diálise no País. Adicionado a este cenário, o aperfeiçoamento na terapêutica
dialítica determina aumento da sobrevida dos pacientes em diálise (BRAGA et al., 2011). É
importante enfatizar que estas intervenções, embora não substituam todas as funções do rim
normal, permitem a manutenção da vida e a correção de graves distúrbios bioquímicos
(ORLANDI et al., 2012).
As primeiras hemodiálises foram realizadas na década de 40, em pacientes com
insuficiência renal aguda (IRA). Somente em 1962 e início de 1963, é que a diálise peritoneal
como a hemodiálise, então, foram indicadas como modalidades terapêuticas de intervenção
para a insuficiência renal crônica (IRC) (MACHADO; CAR, 2003).
No passado, a terapia renal substitutiva era terapêutica excludente para a população
idosa, uma vez que o seu acesso era restrito por fatores econômicos e sociais, associados à
menor expectativa de vida nos idosos (SOUZA; CINTRA; GALLANI, 2005). Hoje, é notório
que não existe um consenso quanto à melhor opção para esse grupo especial de pacientes,
uma vez que as taxas de sobrevida em DP e HD são similares, porém a depender da situação
existem dúvidas se vale a pena dialisá-los (FRANCO; FERNANDES, 2013). Afirmação
corroborada por outros autores, que destacam alguns pontos que devem ser considerados no
momento da escolha, como a opção do paciente e as indicações individuais, levando em
consideração além das alterações próprias do envelhecimento, suas condições clínicas e
psicológicas (KUSUMOTA; OLIVEIRA; MARQUES, 2009).
Vale lembrar que os idosos em hemodiálise possuem características clínicas peculiares
que deverão ser levadas em consideração, de forma ampla, possuindo maior número de comorbidades, requerendo maior número de hospitalizações, consumindo mais medicamentos e
utilizando mais os serviços de saúde do que os mais jovens (BRAGA et al., 2011). Wiggins
(2009) aborda as condições geriátricas que impactam na avaliação nefrológica, estando, entre
elas, a dificuldade visual, o comprometimento auditivo, a desnutrição/perda ponderal, o
comprometimento cognitivo, a polifarmácia, os problemas afetivos, a incontinência urinária, o
19
equilíbrio/ dificuldade na marcha/ quedas, as limitações funcionais, a falta de apoio social, as
dificuldades financeiras e o ambiente domiciliar/segurança.
Nesse sentido, a hemodiálise apresenta alguns problemas particulares em idosos.
Tais pacientes frequentemente oferecem dificuldade no estabelecimento de acesso
vascular satisfatório e procedimentos secundários provavelmente serão necessários.
Uma mudança pode comprometer ainda mais a insuficiência cardíaca já existente.
Ganhos de fluidos entre sessões de diálise são pouco tolerados e instabilidade
vascular durante a diálise é comum (PIRES, 2011, p.773)
Dessa maneira, o idoso é paciente que requer cuidado e atenção na tomada de
decisões. Diante da indefinição sobre a melhor terapia para pacientes com doença renal em
estágio cinco, é de suma importância a avaliação geriátrica para que se possa, de forma
consciente, indicar ou não o melhor tratamento dialítico. Entre as três possibilidades de
terapia Diálise Peritoneal (DP), Hemodiálise (HD) e Transplante Renal (TX), a indicação
deverá ser individualizada, levando-se em consideração, em primeiro lugar, o desejo do
paciente e, a depender da escolha, a visão deverá ser sempre em escolha que prolongue com
qualidade a vida do idoso (FRANCO; FERNANDES, 2013).
Por outro lado, na atualidade entre as terapias renais substitutivas a mais utilizada é a
hemodiálise (BASTOS et al., 2014). Essa modalidade de terapia é realizada em clínica e/ou
hospital especializado, consistindo na filtração extracorpórea do sangue por meio de uma
máquina. Esta terapia provoca várias circunstâncias para o doente renal crônico, afetando não
apenas os aspectos físicos, como também os psicológicos, sociais e repercutindo na vida
pessoal e familiar. Comumente, as prescrições do tratamento são feitas três dias por semana,
com duração média de três a quatro horas por sessão, dependendo das necessidades
individuais (RIELLA, 2003).
O mecanismo da hemodiálise é definido por processo de depuração do sangue, de
substâncias tóxicas como uréia, creatinina, potássio (NASCIMENTO; MARQUES, 2005). A
remoção de toxinas e água do sangue ocorre através de complexo sistema de difusão, osmose
e ultrafiltração, realizados por membrana semipermeável ou rim artificial (dialisador) e
solução de eletrólitos (dialisato), efetivados com auxílio de uma máquina (SMELTZER;
BARE, 2002). Nesse processo, o sangue, carregado de toxinas e resíduos nitrogenados, é
desviado do paciente para a máquina, um dialisador, no qual é depurado e, em seguida,
devolvido ao paciente, havendo necessidade de um acesso vascular adequado (KOEPE;
ARAÚJO, 2008).
20
Rodrigues e Botti (2009) apontam que a hemodiálise é o método de diálise mais
comumente empregado para remover substâncias nitrogenadas tóxicas do sangue e excesso de
água exigindo, paralelamente, cuidados rigorosos devido aos riscos de intercorrências
clínicas. Enfatiza-se a importância sobre a reflexão dos cuidados de enfermagem prestados
aos pacientes crônicos, principalmente no que se refere à qualidade da assistência,
resolutividade do serviço/tratamento e educação em saúde.
Publicações recentes apontam melhoras nos resultados de pacientes idosos com
terapias diárias de curta duração ou HD noturna, uma vez que pacientes frágeis podem não
tolerar as mudanças hemodinâmicas bruscas que ocorrem durante a HD convencional
(FRANCO; FERNANDES, 2013).
É importante ressaltar que as TRS não se competem, na verdade, se complementam.
Dessa forma, a diálise pode servir de terapia substituta inicial preparatória para realização do
transplante renal, como também, nos casos de rejeição aguda ou crônica do órgão
transplantado (FURTADO; LIMA, 2006).
Lima e Gualda (2001) expõem que a pessoa portadora de DRCT em programa de
hemodiálise convive com o fato de possuir uma doença sem cura que determina a submissão a
uma terapêutica dolorosa e prolongada que traz limitações e alterações de grande impacto
Apesar disso, Koeppe e Araújo (2008) afirmam que o setor de hemodiálise é
enriquecedor no que diz respeito à interação enfermagem-paciente, no aspecto voltado ao
cuidar, uma vez que o cliente comparece ao serviço três vezes por semana, por uma
permanência média de quatro horas. Este fato resulta em interação integral, cuja relação de
proximidade leva, muitas vezes, a um conhecimento sobre a pessoa, o contexto familiar e o
processo da doença.
2.2.3. Acesso vascular para hemodiálise: Fístula artério-venosa (FAV)
Considerando os aspectos mencionados referentes à hemodiálise, tal procedimento só
é possível com a confecção de um acesso vascular adequado. (CABRAL et al., 2013). Koeppe
e Araújo (2008) afirmam que para que o sangue possa ser removido, depurado e devolvido ao
corpo, é necessário o estabelecimento de um acesso à circulação do paciente. Entre os
21
acessos, o ideal é a FAV. A utilização de veia nativa (própria do indivíduo) para a confecção
da FAV apresenta eficácia superior e menor incidência de complicações quando comparado à
prótese (MOREIRA et al., 2011). A denominação da nomenclatura da FAV está diretamente
relacionada com o vaso utilizado na confecção da mesma, sendo comumente, a primeira
escolha, a confecção radio-cefálica.
Tendo em vista que o acesso vascular definitivo leva em média 30 dias para que a
fístula arteriovenosa torne-se apta para utilização, o ideal seria que sua confecção fosse
realizada durante o acompanhamento ambulatorial, como no tratamento conservador, que é o
período que o paciente não tem indicação de substituição da função renal, ainda, e faz um
controle permanente com objetivo de controlar a progressão da doença.. Existem alguns tipos
de acesso vasculares, uns temporários (cateter venoso central – tipo Shiley®) e outros
permanentes (fístula arteriovenosa – FAV, prótese – PTFE®, permcath ®) (FERMI, 2010).
Para confecção da FAV, faz-se necessário a realização de exame físico minucioso e
detalhado antes do procedimento, a fim de evitar complicações, uma vez que a mesma em
boas condições contribuirá para a realização de hemodiálise satisfatória, com aumento da
sobrevida (RIELLA, 2003).
A fístula é conhecida como o acesso permanente, indicada apenas para pacientes com
DRC, sendo criada por meio cirúrgico (usualmente no antebraço) ao unir a artéria a uma veia
que, após algumas semanas, estará pronta para a punção. O ramo venoso da FAV dilata-se e
sua parede se torna mais espessa, permitindo repetidas punções. As agulhas são inseridas no
vaso com finalidade de obter o fluxo sanguíneo adequado para passar através do dialisador
(SMELTZER; BARE, 2002).
Quando possível, a FAV deve ser confeccionada no braço não dominante, para não
limitar as atividades do paciente. Outros aspectos importantes que deverão ser considerados
são: a FAV deverá oferecer fluxo arterial em volume adequado medido em velocidade
(volume/tempo), ou seja, no mínimo 300ml/min, mensurado na máquina de hemodiálise;
acesso fácil para punção; e posição confortável para realização das sessões de hemodiálise.
A FAV é a melhor opção de acesso vascular para hemodiálise independente da faixa
etária. Nos idosos, a maior fragilidade vascular, o maior risco de doenças cardiovasculares, o
diabetes, a ampla exploração vascular para confecção de acessos anteriores, quando é o caso,
aumentam as chances de intercorrências e complicações com o acesso vascular. Posto isto, as
22
complicações com acesso nos idosos aumentam o risco de morbidade e aumento de custos
(KUSUMOTA; OLIVEIRA; MARQUES, 2009).
FAV é a maneira mais segura e duradoura de acesso vascular permanente, tendo as
seguintes vantagens sobre outros acessos: durabilidade, baixa morbidade associada à sua
confecção e baixo índice de complicações. Entre as desvantagens estão: longo tempo de
maturação e falência em desenvolver fluxo adequado para realização da hemodiálise. Em
alguns casos, a criação de FAV adequada pode não ser possível, como em pacientes muito
obesos, pacientes com doença arterial (devido a diabetes ou aterosclerose grave) e naqueles
com vasos lesados por múltiplas punções (BESARAD; RAJA, 2003).
Fermi (2010) aponta como as principais complicações da FAV as seguintes: mau
funcionamento, baixo fluxo, estenose, trombose, isquemia da mão, infecção, aneurisma e
pseudoaneurisma. Estas situações deverão ser acompanhadas, pois são fatores intimamente
relacionados à mortalidade desses pacientes, como vemos a seguir:
Dentre as complicações mais frequentes encontradas nas FAVs estão trombose,
infecção, aneurisma e estenose. O aneurisma é definido como uma dilatação
fusiforme ou sacular circunscrita com um diâmetro três vezes maior do que o
segmento da veia imediatamente a montante e a jusante do sítio de acesso. A
formação desses aneurismas geralmente decorre de um enfraquecimento da parede
venosa devido às repetidas punções. Na maioria das vezes, o problema é
considerado apenas estético e apenas se evita puncionar na área aneurismática. A
indicação para correção é quando ocorre dor, infecção, limitação da área de punção,
erosão da pele, rápida expansão e baixo fluxo associado à estenose (MOREIRA et
al., 2011, p. 165).
Diante da FAV, as cicatrizes e, por vezes, os aneurismas provocados por ela causam
comprometimento da autoimagem dos pacientes, podendo causar sofrimentos que, na maioria
das vezes, não são verbalizados (KOEPPE; ARAÚJO, 2008).
Vale ressaltar que o paciente desempenha importante papel para o sucesso do meio de
acesso, que se inicia na indicação e vai até a preservação do mesmo. Quando indicada a FAV,
torna-se essencial que o acesso seja merecedor de todos os cuidados, mesmo antes de sua
realização. Então, o paciente deve preservar o membro escolhido para o procedimento
evitando punção ou administração de medicamentos, assim como ter cuidados como: lavagem
do membro antes das punções, compressões, tricotomia, exercícios, avaliar sangramentos,
avaliar presença de frêmito, observação do local da FAV, não permitir punção venosa, não
permitir administração de medicamentos e não aferir pressão arterial no membro. Estes são
cuidados importantes para preservação de um acesso pérvio e duradouro (FERMI, 2010).
23
2.3. QUALIDADE DE VIDA
2.3.1. Qualidade de vida em idosos
A Organização Mundial de Saúde define saúde como: ―um estado de completo bemestar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença‖ (WHO, 1946), e ainda,
define QV como ―a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações‖ (WHOQOL GROUP, 1995). São conceitos que tem como objetivo fazer uma
abordagem multidimensional. Desta forma, é preciso avaliar o indivíduo em todos os
aspectos, para dessa maneira captar o impacto da doença e do tratamento sobre sua vida e,
então, intervir precocemente para possibilitar uma melhor QV (FLECK et al., 2008).
Para Zhan (1992) a qualidade de vida (QV) é um termo definido de vários modos, uma
vez que os aspectos biopsicosociocultural influenciam na forma como ela é percebida e as
suas consequências, porém apesar das diversas definições para o termo, existe uma coerência
em linha de pensamento, entre diversos autores de que, para avaliar QV, é necessária a
utilização de abordagem multidimensional
No campo da saúde, o paradigma de QV emergiu a partir de movimento de
humanização na área e de valorização de outros parâmetros de avaliação, além dos sintomas
ou dados epidemiológicos, como incidência e prevalência das doenças. Destarte, a QV se
estabelece a partir de parâmetros objetivos e subjetivos. Os parâmetros subjetivos são o bemestar, a felicidade e a realização pessoal, entre outros, enquanto os objetivos estão
relacionados à satisfação das necessidades básicas e daquelas criadas em uma dada estrutura
social. Os parâmetros objetivos têm a vantagem de não estarem sujeitos ao viés do
observador, enquanto os subjetivos possibilitam que as pessoas avaliadas emitam juízos sobre
temas que envolvem sua própria vida (FARQUHAR, 1995).
Os dois parâmetros se complementam entre si, sendo fundamental avaliar a QV sob
uma variedade de dimensões. É importante enfatizar a percepção subjetiva das pessoas idosas
acerca da QV, em situações que interferem na conquista e manutenção desta, uma vez que são
aspectos de alta relevância para a equipe de saúde no planejamento das ações de cuidados a
24
esses indivíduos, objetivando minimizar danos e assegurar condições que favoreçam boa QV
(MEIRELLES et al., 2010).
À luz de uma abordagem gerontológica, Celichi e Spadarin (2008) afirmam que ―a
qualidade do envelhecimento está diretamente relacionada com a qualidade de saúde que o
indivíduo tem no seu percurso existencial e o estilo de vida que ele assume nessa trajetória‖.
Fleck et al (2008) enfatizam que, devido a essa nova adaptação necessária para o
indivíduo que envelhece, tem-se buscado descobrir virtudes da velhice, o prolongamento da
juventude e a elevação da QV individual e social. A QV na velhice deveria ser avaliada em
relação aos critérios sócio-normativos e intrapessoais, buscando referências ao momento atual
e ao tempo passado, o que faria a QV na velhice depender de muitos elementos em interação
constante ao longo da vida. Dessarte torna-se complicado definir uma excelente QV para este
grupo etário, devido a existirem muitas formas de envelhecer. Os idosos são mais suscetíveis
a doenças devido à debilidade orgânica, apresentam perda progressiva na memória e na
comunicação, e facilmente demonstram medo e insegurança, o que leva à redução na QV.
Segundo esses autores, a QV dos idosos está diretamente relacionada com boas condições de
vida e saúde, uma renda satisfatória que repare suas necessidades, uma rede social de apoio, o
simples fato de estar vivo e de algum modo ativo, e a união familiar.
Desta forma, envelhecer bem, depende do equilíbrio constante imposto entre os anos
vividos pelo indivíduo e as novas condições adquiridas pela idade e pela doença crônica
(RABELO; CARDOSO, 2007). Logo, a QV depende da perspectiva que se deseja abordar,
pois é um conceito amplo que se refere a aspectos subjetivos e de difícil mensuração, podendo
ser percebida de diferentes modos, contemplando o bem-estar físico e mental. Logo, é
necessário considerarmos que a vida dos pacientes renais crônicos é permeada de alterações
físicas que impõem limitações e exige adaptações (MACHADO; CAR, 2003).
2.3.3. Qualidade de vida em idosos submetidos à hemodiálise
O aumento da população idosa advém dos avanços tecnológicos médicos investidos na
saúde, associados à elevação da QV. Atualmente, conjunto de fatores expressa a redução nas
taxas de mortalidade como: melhoras nutricionais, níveis elevados de higiene pessoal,
25
condições sanitárias em geral no trabalho e nas residências. O processo de envelhecer é
acompanhado por grandes mudanças físicas, cognitivas e no comportamento do indivíduo e,
em alguns momentos, essas alterações podem ser radicais mostradas em simples atividades
rotineiras, podendo colocar o sujeito idoso em risco de continuar lutando sem sucesso
(OLIVEIRA; LENARDT; TUOTO, 2003).
Dessa maneira, todo o processo desencadeado pela patologia crônica no idoso afeta os
aspectos biopsicosociocultural, uma vez que os sistemas estão interligados, o que torna a
definição do conceito de QV uma tarefa nada fácil, dada a quantidade e complexidade das
variáveis envolvidas. Contudo faz-se necessário a utilização de ferramentas que avaliem a QV
desses indivíduos fornecendo subsídios para que possamos identificar pacientes que estejam
sob risco de apresentar outros graves problemas. Não obstante, todos os indivíduos devem ser
vistos de forma integral, isto é, não fragmentada, respeitando suas particularidades, e ao idoso
agregam-se a valorização da sua fragilidade orgânica pelo processo do envelhecimento
(PASCHOAL, 2007).
A DRC é doença progressiva que induz a necessidade de um tratamento debilitante,
impedindo o indivíduo de realizar suas atividades rotineiras habituais. A hemodiálise restringe
e prejudica o estado de saúde física, mental, funcional, bem-estar geral, a interação social e a
satisfação pela vida. Associado a todos esses aspectos, incluímos a idade avançada, que tende
a fazer surgirem os sintomas de fragilidade que decorrem do envelhecimento e que
possibilitam uma maior diminuição na QV destas pessoas (KUSUMOTO; RODRIGUES;
MARQUES, 2004).
A partir do diagnóstico da DRC, o indivíduo idoso que já possui estilo de vida alterado
em decorrência da idade, passa a ter nova etapa de responsabilidades, como: enfrentar o
impacto do diagnóstico de doença incurável, a necessidade de realizar o regime terapêutico,
conhecer a doença, aprender a lidar com sintomatologia desagradável, entender que perdas
aconteceram na vida social, no lazer, no trabalho e no convívio com as outras pessoas e, desta
forma, a QV destas pessoas tem-se mostrado comprometida por esses inúmeros fatores
(TRENTINI; SILVA; LEIMANN, 1990). Todas essas modificações refletem na visão do
paciente sobre sua QV e, em decorrência disso, o cuidado a ser prestado dependerá da
percepção do próprio indivíduo sobre sua nova experiência (MARTINS; FRANÇA;
KIMURA, 1996).
26
A QV é forte indicador para avaliação dos atendimentos prestados pelos serviços de
saúde, atrelado ao processo saúde-doença, com a eficiência dos procedimentos utilizados para
o seu tratamento e reabilitação. Sendo assim, a QV de indivíduos portadores de doenças
crônicas tem sido alvo frequente no universo científico. O grupo etário mais afetado pelas
doenças crônico-degenerativas é o de idosos, havendo, por isso, a necessidade de conhecer
essa população em todos os seus aspectos. É altamente relevante encontrar subsídios que
ampliem a percepção da equipe que presta cuidados a essa clientela, contribuindo na geração
de ações condizentes com a realidade, a fim de lhe proporcionar uma assistência com
qualidade (TAKEMOTO; OKUBO; CARREIRA, 2011).
É importante observar na avaliação da QV não apenas a mensuração objetiva do
constructo, mas fundamentalmente agregar fatores relacionados e necessários para a
construção do conceito, ou que tenham influência sobre este. Na literatura é frequente a
aplicação de instrumentos que tem como objetivo avaliar a QV, por exemplo, escalas de
medida de depressão, escalas de grau de independência funcional, severidade percebida ou
impacto da doença, bem como de avaliações sistemáticas da condição clínica dos sujeitos
avaliados. Na avaliação clínica do paciente, em particular do portador de uma doença crônica
como a DRCT, vale salientar a importância do profissional de saúde conhecer a gravidade da
patologia, ou melhor, avaliar se as complicações físicas trazidas por essa morbidade, e que
correspondem à sua severidade, estão associadas à QV (SOUZA; CINTRA; GALLANI,
2005).
Dessa forma, a QV tem-se tornado importante critério na avaliação da eficiência dos
tratamentos e intervenções na área da saúde. Essas evidências têm se mostrado úteis para
analisar o impacto das doenças crônicas no cotidiano das pessoas e para isso, é necessário
avaliar indicadores de funcionamento físico, aspectos sociais, estado emocional e mental, a
repercussão dos sintomas e a percepção individual de bem-estar. A relevância dos indicadores
de QV é fundamental não só por ser um aspecto básico de saúde, como, também, porque
permite mostrar a relação existente entre QV, morbidade e mortalidade (MARTINS;
CESARINO, 2005).
Diante do contexto, percebe-se a importância da avaliação da QV, planejando medidas
que visem otimizar o cotidiano da população com DRCT que requer cuidados especiais,
objetivando minimizar os danos e favorecendo um velhice digna. Essa busca origina-se a
partir da constatação de que alcançar um estado de bem-estar físico e mental é possível,
27
resultando na recuperação da autonomia, das atividades de trabalho e lazer, da preservação da
esperança e do senso de utilidade destes indivíduos, pois o tratamento hemodialítico é
responsável por um cotidiano monótono e restrito, e as atividades desses indivíduos são
limitadas após o início do tratamento, favorecendo o sedentarismo e a deficiência funcional,
fatores que refletem na piora da QV (MARTINS; CESARINO, 2005).
O paciente com DRC sofre alterações da vida diária em virtude da necessidade de
realizar o tratamento, necessitando do suporte formal de atenção à saúde, isto é, vive
dependente da equipe de saúde, da máquina e do suporte informal para ter o cuidado
necessário (RIBEIRO, 2000).
A hemodiálise afeta não só os aspectos físicos, como também os psicológicos e
sociais, com repercussão na vida pessoal e familiar dos sujeitos. Sendo fundamental a
adaptação familiar a esse tratamento, exigindo compromisso e dedicação dos familiares e
pacientes, sendo essas intensas e tendendo a aumentar com a evolução da doença. Sendo
assim, tanto os pacientes quanto seus familiares frequentemente desencadeiam processos de
ansiedade, cansaço e estresse, alterando sua QV (TAKEMOTO et al., 2011). Os idosos
submetidos à hemodiálise têm sua dinâmica diária totalmente afetada em função das diversas
recomendações médicas. Diversas mudanças não são facilmente aceitas e cumpridas, uma vez
que muitas vezes esses indivíduos não estão preparados para novas exigências, o que impõe
novos aprendizados, tendo em vista as alterações do seu cotidiano (SILVEIRA; CANINEU;
REIS, 2011).
O idoso fisicamente fragilizado, pelo próprio processo da senilidade, tem no
diagnóstico da DRC um importante fator de impacto em diversas perspectivas de sua vida.
Pilger et al.(2010) afirmam que os idosos referem que o tratamento hemodialítico representou
a esperança de manterem-se vivos.. E, a partir desta oportunidade, passam a viver este
momento de forma diferente, pois cada indivíduo traz consigo sua história, sua bagagem
cultural, sua forma de reagir às condições crônicas de saúde e a necessidade de realização do
tratamento (CAMPOS; TURATO, 2010). Durante o tempo em que permanecem confinados
devido ao tratamento instituído, diferentes sentimentos permeiam esse intercurso, aflorando o
drama da situação que envolve a cronicidade. Por outro lado, esse cotidiano favorece ao
paciente um momento para projeção de sonhos e esperanças, bem como o desejo de melhorar
a sua QV com a possibilidade de um futuro transplante (ANTUNES et al., 2011).
28
Sujeitos submetidos à diálise renal, em geral, desenvolvem depressão, comportamento
não cooperativo, disfunção sexual, dificuldades relacionadas à ocupação e reabilitação. Neste
sentido, a patologia compromete a QV, bem como o bem-estar físico e social desses
indivíduos (MARTINS; CESARINO, 2005). Além disso, o compromisso com as sessões de
hemodiálise impregna a vida do sujeito, afastando-o parcial ou totalmente do trabalho, com
consequências na renda da família, acarretando limitação da vida da pessoa em inúmeros
sentidos e remetendo-o à dependência de um serviço de saúde (SILVA, 2002).
O indivíduo com DRC passa por inúmeras alterações na vida social, no trabalho, nos
hábitos alimentares e na vida sexual, que levam a mudanças na integridade física e emocional.
A doença representa prejuízo corporal e limitações, pois, em geral, há afastamento do
paciente de seu grupo social, de seu lazer e, às vezes, da própria família. Diante da doença, o
indivíduo sente-se ameaçado, inseguro, por saber que sua vida vai ser modificada por causa
do tratamento (OLIVEIRA; MARQUES, 2011). Além disso, sua vontade passa a ser
controlada e, por vezes determinada por várias limitações, repercutindo na perda da
autonomia, situação esta que poderá se agravar a depender do papel exercido no âmbito
familiar, associadas às limitações fisiológicas e psicológicas, tais limitações e sintomas são
vivenciados como uma ameaça e produzem sensações de medo e angústia (CAMPOS;
TURATO, 2010).
Takemoto et al. (2011), com o objetivo de avaliar a QV de idosos submetidos à
hemodiálise, mostraram que os idosos apresentaram QV baixa, com variações de acordo com
o domínio realizado, sendo o escore mais prejudicado o domínio físico, por tratar-se de
indivíduos idosos com doença crônica e irreversível. Em contrapartida, o domínio social
apresentou boas relações, principalmente no quesito familiar. Os autores destacaram, também,
uma boa percepção individual da QV.
Pacientes que dependem de recursos com alta tecnologia para manutenção da vida têm
o seu dia-a-dia modificado, em função das necessidades de adaptação, apresentando,
consequentemente, limitações e gerando perdas e mudanças biopsicossociais que interferem
em sua QV, tais como: perda do emprego, alterações da autoimagem corporal, restrições
dietéticas e hídricas (MARTINS; CESARINO, 2005).
29
2.4. AUTOIMAGEM
2.4.1. Autoimagem em idosos
Da mesma forma como as alterações anátomo-fisiológicas que ocorrem com o
processo de envelhecimento, ocorrem mudanças psicossociais na vida dos indivíduos idosos.
O acréscimo da idade acarreta impactos, tais como: diminuição da sociabilidade; depressão;
mudança no controle emocional; isolamento social; baixa autoestima e autoimagem;
dificuldades auditiva, visual e motora; síndrome do ninho vazio (consequente à saída dos
filhos de casa); e impotência sexual, entre outras condições (STORCH et al., 2012).
A autoimagem (AI) é caracterizada como a percepção que o indivíduo tem de si
mesmo e sofre a influência intensa das experiências que o ser humano vivencia em seu
ambiente (MOSQUERA,1984). Expressa a percepção que a pessoa tem de si, sendo definida
em termos de uma constelação de pensamentos, sentimentos e ações acerca do relacionamento
do indivíduo com outras pessoas, bem como acerca do eu como uma entidade distinta dos
outros (GOUVEIA; SINGELIS; COELHO, 2002).
Para Mosquera e Stobäus (2006), a autoimagem surge da interação da pessoa com seu
contexto social e é consequência de relações estabelecidas com os outros e consigo mesma.
Estes autores acreditam que, desta forma, ―o indivíduo possa entender e antecipar seus
comportamentos, cuidar-se nas relações com outras pessoas, aprender a interpretar o meio
ambiente em que vive e tentar ser o mais adequado às exigências que lhe são feitas e que ele
propõe para si mesmo‖.
A Autoimagem, diz ele, é o (re) conhecimento que fazemos de nós mesmos, como
sentimos nossas potencialidades, sentimentos, atitudes e ideias, a imagem o mais
realista possível, enfim, que fazemos de nós mesmos. A autoestima é o quanto
gostamos de nós mesmos, realmente nos amamos, nos apreciamos; autoimagem é o
quanto nos vemos, sabemos que somos capazes de, o como realmente somos.
Ambas surgem no processo de atualização continuada na nossa interação em grupo,
isto é, são interinfluências constantes que nos levam a nos entender e entender os
outros, de modo o mais real possível (MOSQUERA; STOBÄUS, 2006, p.85).
No idoso, a imagem corporal desempenha papel importante sobre a consciência que
ele apresenta de si e dos outros. Vale salientar que a imagem corporal remete-se tanto à
30
imagem mental quanto à percepção de si, então, o paradigma está diretamente relacionado, ou
seja, se a percepção do corpo é positiva, a autoimagem será (STORCH et al., 2012).
Mosquera e Stobaus (2006) apontam que o ser humano é dependente do seu corpo, de
suas habilidade e capacidades, as quais devem estar em harmonia em relação ao eu.
A autoimagem e a autoestima estão interligadas, sendo dependentes uma da outra e
variam de acordo com o gênero. Desta maneira, elas refletem os papéis sociais ocupados pelo
indivíduo. Quando a autoestima é alta, decorre de experiências positivas que o indivíduo
vivenciou ou ainda está vivenciando; por outro lado, quando a autoestima é baixa, resulta de
fatores negativos. A autoimagem está sempre em mudança, conforme o indivíduo adquire
experiências na vida cotidiana, ocupacional e de lazer.
Mazo (2003), em estudo realizado em mulheres idosas, verificou que quanto melhor a
autoestima, melhor é a autoimagem das idosas; aquelas mais ativas estão satisfeitas com a sua
autoimagem e a sua autoestima; as que não apresentam doenças mostram melhor autoestima e
menor percepção de sentimentos negativos.
Na velhice há tendência à modificação da autoimagem, tornando-a menos positiva,
modificação esta ainda sem explicação plausível. (MAZO; CARDOSO; AGUIAR, 2006)
2.4.2. Autoimagem em idosos com DRTC e FAV em hemodiálise
O indivíduo com DRCT, em função da sua doença, desenvolve riscos para apresentar:
autoestima e autoimagem prejudicada, enfrentamento e padrão de sexualidade ineficazes, e
medo, entre outros. Estas alterações se devem à presença de uma doença crônica e à
dependência de tratamento altamente desgastante para sua sobrevivência (CARPENITO,
2003).
A autoestima baixa apresenta-se como uma perturbação da pessoa no modo de
perceber a autoimagem, sendo caracterizada por sentimentos negativos sobre partes do corpo
ou por escondê-las. Tal comportamento está relacionado a fatores fisiopatológicos, neste caso
a DRCT, e às mudanças geradas por ela, como a presença da FAV no corpo (CARPENITO,
2003).
31
De acordo com Turra et al. (2001), quando há uma doença crônica a imagem que o
indivíduo tem do seu corpo é mudada imediatamente, pois toda estrutura motriz dos instintos
de vida do sujeito passa a ser focada no órgão doente e tais alterações orgânicas ativam as
emoções do indivíduo, reestruturando sua imagem corporal.
Furtado e Lima (2006), investigaram pacientes com DRCT sobre as vantagens e
desvantagens da FAV, observaram uma relação positiva quanto à substituição do cateter na
veia jugular por uma FAV, pois esta mudança acarretou melhor QV e estética corporal,
restabelecimento de algumas necessidades humanas básicas, e tranquilidade e liberdade.
Entretanto, os pacientes atribuíram como malefícios da FAV: o abandono das atividades de
lazer; as punções sucessivas; e as alterações na aparência física devido às cicatrizes e aos
aneurismas, ocasionando olhar preconceituoso e curioso das pessoas e, muitas vezes,
discriminatório, o que gera, em algumas situações, constrangimento e vergonha. Este perceber
diferente e curioso do outro pode ser a criação do imaginário, ao elaborar uma autoimagem a
partir de como ela se percebe e de como observa a percepção do outro acerca de si. O
sentimento de vergonha, muitas vezes, ocorre porque a identidade da pessoa constrói-se a
partir de um corpo íntegro e completo e quando esse corpo se modifica ocorrem profundas
modificações na identidade pessoal, gerando conflitos emocionais.
Para Diniz (2006), a formação da imagem corporal é o núcleo a partir do qual o ser
humano realiza suas escolhas e projetos no mundo. A percepção do corpo e de suas
capacidades contribui para que o homem possa atingir o controle da própria vida.
Apesar de sabermos que a FAV é a opção mais adequada para realização da
hemodiálise, há autor que. aponta que a FAV é porta de entrada para o problemático e difícil
caminho para o tratamento dialítico, visto que é motivo de diminuição da autoestima,
incapacidades, série de restrições e alterações no humor, deixando o paciente deprimido e não
cooperativo com o tratamento (CABRAL et al., 2013). Apesar de a FAV ser vista como um
fator limitante no dia-a-dia dos indivíduos com DRCT em função das dificuldades com o
trabalho, além do autocuidado impor limitações e prejudicar a AI, ela também é vista como
necessária para a sobrevivência, por ser o acesso venoso mais indicado para realização da
hemodiálise (SPINDOLA; GONÇALVES, 2012).
Segundo Koeppe e Araújo (2008), os pacientes com DRCT apresentaram-se tristes e
constrangidos diante dos olhares dos outros, inferiram que aquilo que pensam sobre você, ou
32
sobre algo em você, interfere em seu modo de agir e sentir. Isto é, pensamos através dos
outros, enquanto outros pensam em nós.
Cabral et al. (2013) procuraram identificar as mudanças ocasionadas pela FAV em
relação à percepção da autoimagem de pacientes com DRCT em tratamento hemodialítico e
entender as suas preocupações. Em seus relatos, os pacientes mencionaram as mudanças
físicas ocasionadas pela FAV: “o braço fica feio demais; fica cheio de nó; Isso é uma
aberração; é bastante desagradável tê-la alterando o meu corpo; a gente fica triste com essas
alterações”. São falas que retratam insatisfação por mudanças físicas causadas pela FAV,
como, aneurisma, edema, frêmito e hematomas, nos quais se destaca o incômodo por parte
dos pacientes que têm a sua estrutura normal do ―membro deformada‖, o que repercute em
sua autoimagem. Quando a percepção da imagem corporal é modificada, ocorre sensação de
estranheza do próprio corpo e, este estigma impede a desconexão entre a doença e a pessoa.
Neste mesmo estudo, foi identificado o incômodo advindo do estigma social frente à FAV,
pois essa postura tem uma grande influência no cotidiano desses indivíduos. Como exemplos
de verbalizações sobre o tema, tem-se: “Algumas pessoas se assustam quando veem; Como
ela causou deformação no meu braço, eu não fico saindo aí a gente fica com vergonha; [...]
Eu acho feia demais, tenho vergonha de andar com ela no meio da rua, aí o povo fica
olhando e pergunta se faço hemodiálise”. Estes são relatos de indivíduos que têm incômodo
com o fato de possuir uma FAV, sentem-se inferiorizados e vítimas de preconceito
comparados
à
pessoas
saudáveis,
gerando
sentimentos
negativos
e
levando
a
comprometimento das relações sociais, em consequência da tristeza, tentativa de isolamento e
vergonha (CABRAL et al., 2013).
No nosso meio, percebemos que são criados rótulos, estigmatizando e anulando a
individualidade dos indivíduos, considerando as pessoas como portadoras de doenças e
classificando-as segundo sua patologia (GUALDA; LIMA, 2004). Os discursos são
importantes, sendo imprescindível que os profissionais percebam os seus significados e
procurem entender o sentido das narrações, apreendendo-os como meios que facilitem a
discussão e reflexão profissional para uma melhor assistência a estes pacientes e, dessa
maneira, amenizando seu sofrimento (RAMOS et al., 2008).
33
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GERAL
Avaliar a autoimagem e qualidade de vida de idosos com FAV submetidos à hemodiálise.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Traçar o perfil sociodemográfico dos idosos amostrais;
Verificar o significado da FAV para os idosos;
Determinar os níveis da qualidade de vida da amostra;
Comparar os níveis de qualidade de vida entre homens e mulheres;
Avaliar a influência da idade na qualidade de vida dos idosos amostrais;
Avaliar a influência do tempo de acesso por meio da FAV sobre a qualidade de vida;
34
4. MÉTODO
4.1. TIPO DE ESTUDO
Trata-se de estudo observacional, descritivo e transversal, considerando-se que a
coleta de dados dos idosos foi feita em um único ponto no tempo (SAMPIERE; COLLADO;
LÚCIO, 2013).
4.2. LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado na Clínica de Doenças Renais de Taguatinga (CDRT), serviço
particular de Terapia Renal Substitutiva, localizado no Centro Hospitalar Anchieta, na região
administrativa de Taguatinga, Distrito Federal, que atende pacientes por convênios público e
particular. A unidade tem capacidade para atender 168 pacientes, entretanto havia 141
pacientes em tratamento. Estes são procedentes das Regiões Administrativas do DF, Águas
Claras, Ceilândia, Guará, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Vicente Pires.
O fluxo diário da Clínica é, em média, de 68 pacientes, divididos em três turnos de
atendimento, constando de dois grupos: um deles com sessões segunda, quarta e sexta-feira; e
o outro, terça, quinta e sábado.
O atendimento é prestado por uma equipe multiprofissional em conformidade com
Resolução-RDC n° 11, de 13 de março de 2014, que dispõe sobre os requisitos de boas
práticas de funcionamento para os serviços de diálise e dá outras providências, na qual estão
envolvidos profissionais como: assistente social, enfermeiros, médicos nefrologista,
nutricionista, psicólogo e técnicos de enfermagem.
4.3. POPULAÇÃO ESTUDADA
A amostra foi ao acaso, em conformidade com a demanda atendida pela unidade,
respeitando os critérios de inclusão e exclusão.
35
Dos 141 indivíduos em atendimento na clínica, 54 (38,3%) eram idosos, destes quinze
foram excluídos da amostra um por se recusar a participar da pesquisa, um por estar internado
na unidade de terapia intensiva e 13 por não atenderem aos critérios de inclusão, referenciados
a seguir.
A amostra foi composta por 39 idosos com média de idade de 68,3 ± 6,92 anos (6084), sendo 66,9% do sexo masculino.
4.3.1. Critérios de inclusão
Pessoas com 60 anos ou mais;
Idosos com diagnóstico de DRCT em estágio 5, com TFG <15ml/kg/1.73m², inscritos
no programa de hemodiálise cronicamente;
Idosos portadores de FAV nativa em pleno funcionamento;
Concordância em participar da pesquisa após os esclarecimentos adequados, assinando
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Responder aos três questionários aplicados.
4.3.2. Critérios de exclusão
Idosos com diagnóstico de demência;
Idosos com intercorrências na sessão de hemodiálise;
Indivíduos portadores dos demais acessos vasculares destinados aos pacientes
submetidos à hemodiálise, como: cateter de duplo-lúmen temporário ou permanente
(CDL) tipo Shiley® ou Permcath® e a prótese (PTFE – Politetrafluoretileno);
Idosos que tenham se recusado a participar do estudo;
Idosos com transferência temporária ou internação em outras unidades;
4.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Para a coleta de dados foi construído um caderno com três instrumentos (dados sócioeconômico-demográfico, autoimagem e qualidade de vida). Os dois primeiros foram
construídos pela própria pesquisadora com fim de obter dados descritivos e perceptivos da
amostra. Eles foram identificados como instrumentos A, B e C.
36
O instrumento A apresenta a identificação dos sujeitos, com um inventário sócioeconômico-demográfico, na qual foram abordadas perguntas quanto ao perfil social e
econômico, moradia, religião, informação sobre a doença e transporte utilizado para
deslocamento até a unidade de diálise. (Apêndice C).
O instrumento B apresenta questões dirigidas à relação da imagem percebida pelo
indivíduo, pelo outro e o seu enfrentamento diário, remetendo questões sobre a fístula
arteriovenosa (FAV), tempo de terapia, importância da FAV, percepção da FAV quanto a
imagem corporal, além de uma pergunta aberta sobre o significado da FAV para o idoso.
(Apêndice D).
O instrumento C é o questionário utilizado para avaliar a qualidade de vida, o Kidney
Disease Quality of Life Short Form – (KDQOL-SF™ traduzido e adaptado culturalmente para
avaliação da QV de pacientes com DRC) (DUARTE et al., 2003). Segundo Santos et.al
(2014) este instrumento é um dos mais completos para avaliação da QV de pacientes com
insuficiência renal crônica. O KDQOL-SF™ é composto de 80 itens, incluindo o SF-36 e
mais 43 itens versando sobre DRC (Anexo A). O SF-36 é composto de 36 itens, divididos em
oito dimensões: funcionamento físico (10 itens), limitações causadas por problemas da saúde
física (quatro itens), limitações causadas por problemas da saúde emocional (três itens),
funcionamento social (dois itens), saúde mental (cinco itens), dor (dois itens), vitalidade
(energia/fadiga) (quatro itens); percepções da saúde geral (cinco itens); e estado de saúde
atual comparado com o observado há um ano (um item). Este último item contém escala
variando de 0 a 10 para a avaliação da saúde em geral, sendo computado à parte. A parte
específica sobre DRC inclui itens divididos em 11 dimensões: sintomas/problemas (12 itens),
efeitos da doença renal sobre a vida diária (oito itens), sobrecarga imposta pela doença renal
(quatro itens), condição de trabalho (dois itens), função cognitiva (três itens), qualidade das
interações sociais (três itens), função sexual (dois itens) e sono (quatro itens). Inclui também
três escalas adicionais: suporte social (dois itens), estímulo da equipe da diálise (dois itens) e
satisfação do paciente (um item).
Logo, este último é composto por oito dimensões de aspectos genéricos
(funcionamento físico, função física, dor, saúde geral, bem–estar emocional, função
emocional, função social, energia e fadiga) e mais 11 dimensões específicas da doença
(Efeitos da doença renal, sobrecarga da doença renal, função sexual, sono, suporte social,
37
sintomas e problemas, papel profissional, função cognitiva, qualidade de interação social,
estímulo por parte da equipe de diálise e satisfação do paciente).
A tabela 1 apresenta quais são dos dados que compõem cada dimensão e a tabela 2
como deve ser feita a codificação de cada item.
Tabela 1 – Dimensões, número e definição dos itens.
Dimensões
Gerais
Funcionamento Físico
Função Física
Dor
Saúde Geral
Bem-Estar Emocional
Função Emocional
Função Social
Energia e Fadiga
Específicos da Doença Renal
Sintomas e Problemas
Efeitos da doença renal
Sobrecarga da doença renal
Papel Profissional
Função Cognitiva
Qualidade da Interação social
Função Sexual
Sono
Suporte Social
Estímulo por parte da equipe de diálise
Satisfação do paciente
Número de itens
Itens do instrumento
10
4
2
5
5
3
2
4
Número de itens
12
8
4
2
3
3
2
4
2
2
1
3a-j
4a-d
7,8
1, 11a-d
9b,c,d,f,h
5a-c
6,10
9a,e,g,i
Itens do instrumento
14a-l
15a-h
12a-d
20,21
13b,d,f
13a,c,e
16a,b
17,18a-c
19a,b
24a,b
23
Resposta
Original
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
Recodificação
Fonte: Santos et. al (2014)
Tabela 2 – Codificação dos itens.
Número de Itens
4a-d, 5a-c, 21
3a-j
19a,b
10, 11a,c, 12a-d
0
100
0
50
100
0
33,33
66,66
100
0
38
9b,c,f,g,i, 13e, 18b
1-2, 6, 8, 11b, d, 14a-m, 15a-h, 16a-b,
24a-b
7, 9a, d, e, h, 13a-d, f, 18a-c
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
25
50
75
100
0
20
40
60
80
100
100
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
75
50
25
0
100
80
60
40
20
0
Fonte: Santos et. al (2014)
Os dados encontrados foram tabulados e analisados, destacando-se os pontos mais
relevantes de acordo com os objetivos propostos.
As questões 2 e 22 do KDQOL-SF™ não são codificadas e computadas, são
consideradas itens adicionais do instrumento (DUARTE et al., 2003).
4.5- RISCOS E BENEFÍCIOS
A presente pesquisa teve como objetivos criar o benefício de adicionar conhecimentos
científicos ao tema e, por conseguinte, contribuir para que os profissionais da área de saúde
prestem melhor assistência à população idosa com DRC, compreendendo melhor a
autoimagem e a QV nos idosos com FAV submetidos à hemodiálise. Os dados analisados
poderão propiciar subsídios à equipe de saúde para que esta redimensione adequadamente os
cuidados prestados a esses pacientes, minimizando os danos provocados a esses idosos já tão
fragilizados.
39
Para reduzir a fadiga em função do número de perguntas durante a aplicação dos
questionários e, ocasionalmente, no constrangimento dos pacientes em relação às respostas foi
ofertado, aos idosos, tempo de pausa entre a aplicação dos instrumentos. Foi assegurada
proteção e confidencialidade, e todos foram orientados que caso não se sentissem à vontade,
poderiam deixar de responder a qualquer questão. Quando necessário, os idosos foram
encaminhados para suporte psicológico na própria unidade.
4.6 - LIMITAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa apresentou uma limitação com a falta de um lugar reservado para
realização da entrevista, e foi executada na sala de diálise durante a sessão de hemodiálise do
paciente. Entretanto, todos os indivíduos foram entrevistados individualmente e nenhum
apresentou intercorrências no momento da coleta de dados.
4.7 - ASPECTOS ÉTICOS
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade
Católica de Brasília sendo aprovado mediante CAAE 31944314.6.0000.0029 e com número
de parecer 681.487 em 09 de junho de 2014 (Anexo 2). Foram cumpridos os princípios éticos
dispostos na Resolução 466/2012 do CNS/MS. Os participantes da pesquisa foram
esclarecidos quanto ao sigilo dos dados e a sua utilização apenas para fins científicos e
possíveis publicações. O consentimento de participação na pesquisa se deu por meio da leitura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Apêndice B, que após concordar
com a participação, houve o registro com a assinatura.
4.8 – PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Inicialmente foi solicitada a Diretoria da Clinica de Doenças Renais de Taguatinga,
representada pela Dra Maria da Penha Almeida Batista, médica, Diretora de qualidade
(Apêndice A), a liberação para coleta de dados, após a aprovação pelo comitê de ética e
40
pesquisa. Sequencialmente à liberação, foi explicado aos pacientes o objetivo da pesquisa e
aqueles que concordaram em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e foram apresentados os três instrumentos, os quais foram preenchidos pela
própria pesquisadora.
Os pacientes foram abordados durante a sessão de hemodiálise. Em média a entrevista
durou cerca de 60 minutos. A coleta de dados foi realizada entre os meses junho e julho de
2014, no período manhã, tarde e noite dependendo do horário de terapia de cada participante.
A coleta de dados foi realizada com todos os participantes de forma sistemática,
iniciada pela aplicação do instrumento A e após, respectivamente, B e C. Optou-se pela coleta
de dados do tipo entrevista, considerando-se a possibilidade dos sujeitos apresentarem
dificuldade visual, baixo nível instrucional e dificuldade para escrever devido à imobilização
do membro durante a sessão de hemodiálise. Dessa forma quando o entrevistado não
compreendia alguma das perguntas dos questionários, a mesma era relida de forma pausada,
evitando dar sinônimo ou explicação às palavras, assim como a escala de respostas. Na
questão aberta para se conseguir mais fidelidade, procurou-se registrar na íntegra as
declarações dos participantes a respeito de suas expectativas sobre o assunto, tomando-se o
cuidado de não induzir as respostas, entretanto, as entrevistas não foram gravadas.
4.9 - ANÁLISES DE DADOS
Para análise descritiva dos dados foram utilizadas: médias, desvios e frequências. Para
análise inferencial foram realizados os testes de normalidade (Shapiro-Wilk), como os dados
não apresentavam distribuição normal foram utilizados testes não paramétricos MannWhitney (variáveis Sexo dois grupos independentes) e Kruskall Wallis (variáveis idade e
tempo de fístula - três grupos independentes).
O software SPSS-IBM 22.00 for Windows foi utilizado para as análises e o nível de
significância estipulado foi de p ≤ 0,05.
41
5. MANUSCRITO
1:
AUTOIMAGEM
DE
IDOSOS
COM
FÍSTULA
ARTÉRIOVENOSA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
Fabrícia Silvino Machado¹, Gislane Ferreira de Melo², Lucy Gomes³
¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB). Brasília, Distrito
Federal. Brasil. E-mail: [email protected]
² Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB). Brasília,
Distrito Federal. Brasil. E-mail: [email protected]
³ Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB). Brasília,
Distrito Federal. Brasil. E-mail: [email protected]
RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar a autoimagem dos idosos com FAV submetidos à hemodiálise.
Trata-se de estudo observacional, descritivo e transversal, realizado com 39 idosos em tratamento hemodialítico
na cidade de Taguatinga-DF. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista com dois instrumentos: um com
dados sócio-demográfico e um questionário da percepção da autoimagem, ambos construídos pelas
pesquisadoras. Os resultados evidenciam que 87,4% dos idosos amostrais não sentem vergonha de ter uma FAV
como acesso para hemodiálise, 94,6% a consideram como um instrumento importante para o tratamento, 100%
mantêm suas relações sociais, 84,6% dos pacientes referem não se incomodar com a aparência que a FAV é
percebida pelo outro e 79,5% tem uma percepção de autoimagem muito boa. Logo, neste estudo foi possível
perceber que os idosos não apresentaram repercussões negativas significativas quanto à percepção de sua
imagem corporal e percebem a FAV como um instrumento fundamental para o tratamento e manutenção de suas
vidas.
DESCRITORES: Idoso. Hemodiálise. Autoimagem. Fístula arteriovenosa.
______________________________________________________________________________________
SELF-IMAGE ELDERLY WITH ARTERIOVENOUS FISTULA HEMODIALYSIS
SUMMARY: The purpose of this study was to evaluate the self-image of older adults undergoing hemodialysis
AVF. It is observational, descriptive and cross-sectional study involving 39 older adults undergoing
hemodialysis in the city Taguatinga-DF. The data was collected through interviews with two instruments: one
with socio-demographic data and a survey of the perception of self-image, both built by the researchers. The
results show that 87.4% of the elderly sample were not ashamed of having an AVF as access for hemodialysis,
94.6% consider it as an important tool for the treatment, 100% keep their social relationships, 84,6% did not
concerned with the perception of the other as the FAV and 79.5% has a very good sense of self-image. Hence, in
this study it was revealed that the elderly showed no significant adverse effects in perceptions of body image and
realize the FAV as a key to the treatment and maintenance of their lives instrument.
KEYWORDS: Elderly. Hemodialysis. Self-image. Arteriovenous fistula.
AUTO-IMAGEN MAYOR CON FÍSTULA ARTERIOVENOSA HEMODIÁLISIS
RESUMEN: El propósito de este estudio fue evaluar la propia imagen de los adultos mayores sometidos a
hemodiálisis la FAV. Es un estudio observacional, descriptivo y transversal que incluyó 39 adultos mayores
sometidos a hemodiálisis en la ciudad Taguatinga-DF. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas con
dos instrumentos: uno con los datos sociodemográficos y un estudio de la percepción de la propia imagen, ambos
construidos por los investigadores. Los resultados muestran que el 87,4% de la muestra de edad avanzada no se
avergonzaban de tener una FAV como acceso para la hemodiálisis, el 94,6% lo considera como una herramienta
importante para el tratamiento, el 100% a mantener sus relaciones sociales, el 84,6% no lo hizo se ocupa de la
percepción del otro como la FAV y el 79,5% tiene un muy buen sentido de la auto-imagen. Por lo tanto, en este
estudio se reveló que las personas mayores no mostraron efectos adversos significativos en la percepción de la
imagen corporal y se dan cuenta de la FAV como una clave para el tratamiento y mantenimiento de su
instrumento
vidas.
PALABRAS CLAVE: ancianos. La hemodiálisis. Auto-imagen. Fístula arteriovenosa.
42
INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um dos fenômenos que mais se evidencia nas
sociedades atuais figurando, entre os fatores contribuintes, o decréscimo progressivo das taxas
de natalidade e fecundidade e a diminuição da mortalidade infantil, levando ao aumento
gradual da esperança média de vida. Assim sendo, este escalão etário reflete, atualmente, uma
categoria que não pode ser ignorada.¹
Essas alterações no perfil de morbimortalidade da população mundial evidenciam um
aumento das doenças crônicas e projetam a doença renal crônica (DRC) no cenário mundial
como um dos grandes desafios à saúde pública deste século, com todas as suas implicações
econômicas e sociais.²
A perda progressiva da reserva fisiológica renal, consequente às alterações anatômicas
e funcionais ocorridas com o envelhecimento, está associada a doenças de alta prevalência
nesta faixa etária, tais como diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS),
que são as principais causas de falência renal. Consequentemente, o idoso terá maior risco de
desenvolver DRC, fazendo que este grupo etário represente atualmente o maior número de
indivíduos em diálise e, também, o que mais cresce quando consideramos a incidência de
diálise por faixa etária.³
Conceitualmente, a DRC é descrita como perda gradual e irreversível da função renal,
sendo um processo que ocorre de forma insidiosa e que, na maior parte das vezes, apresenta
evolução assintomática.4 É uma condição patológica na qual os rins não realizam as funções
reguladoras, não removendo os resíduos metabólicos do organismo.5 Por ter característica
lenta, progressiva e irreversível, exige a prática de processos adaptativos que, até certo ponto,
permitem ao paciente que permaneça um período com poucos sintomas, embora com
restrições e limitações.6 Entretanto, quando diagnosticada a doença renal crônica (DRC), deve
ser estabelecido tratamento conservador e em seu estágio final terapias que substituam a
função renal, isto é, terapias dialíticas, entre elas a hemodiálise, a diálise renal ou o
transplante renal, o mais precocemente possível, pois, caso contrário, acarretará ocorrência de
complicações que podem levar à morte.7
Para que o sangue possa ser removido, depurado e devolvido ao corpo no processo
estabelecido na hemodiálise é necessário o estabelecimento de um acesso à circulação do
paciente. A Fístula Arteriovenosa (FAV) que é a melhor opção de acesso vascular para
43
realizar a hemodiálise, tanto em adultos como em idosos. A FAV é a maneira mais segura e
duradoura de acesso vascular permanente, tendo as seguintes vantagens sobre outros acessos:
excelente potência, baixa morbidade associada à sua confecção e baixo índice de
complicações. Entre as desvantagens estão: longo tempo de maturação e falência em
desenvolver fluxo adequado para realização da hemodiálise. Em alguns casos, a criação de
FAV adequada pode não ser possível, como em pacientes muito obesos, idosos (com
fragilidade vascular), com doença arterial (devido à diabetes ou aterosclerose grave) e
naqueles com vasos lesados por múltiplas punções. 8-9
Diante da FAV, as cicatrizes e, por vezes, os aneurismas provocados por ela causam
comprometimento da autoimagem (AI) dos pacientes, podendo causar sofrimentos que, na
maioria das vezes, não são verbalizados.8 A AI expressa a percepção que a pessoa tem de si,
sendo definida em termos de uma constelação de pensamentos, sentimentos e ações acerca do
relacionamento do indivíduo com outras pessoas, bem como acerca do eu como uma entidade
distinta dos outros.10
O paciente com DRCT apresenta riscos de apresentar a AI prejudicada, enfrentamento
e padrão de sexualidade ineficazes, medo, entre outros. Estas alterações se devem à
dependência de tratamento altamente desgastante para sua sobrevivência. Além disso, devido
às alterações fisiológicas do processo patológico os indivíduos com DRCT no geral
apresentam um envelhecimento precoce em função da deterioração músculo-esquelética,
descoloração da pele, emagrecimento e edema, mudanças essas que podem fazer esses
indivíduos se sentirem diferentes de outras pessoas consideradas saudáveis. Quando há uma
doença crônica sua imagem pode apresentar mudanças imediatas, uma vez que toda estrutura
motriz dos instintos de vida do sujeito passa a ser focada no órgão doente e tais alterações
orgânicas ativam suas emoções, reestruturando sua imagem corporal. A formação da imagem
corporal é o núcleo a partir do qual o ser humano realiza suas escolhas e projetos no mundo.
A percepção do corpo e de suas capacidades contribui para que o homem possa atingir o
controle da própria vida.11-14
Apesar de a FAV ser a opção mais adequada para realização da hemodiálise, há
autores que apontam que a FAV é motivo de diminuição da autoestima, incapacidades, série
de restrições e alterações no humor, deixando o paciente deprimido e não cooperativo com o
tratamento. Apesar de a FAV ser vista como um fator limitante no dia-a-dia dos indivíduos
com DRCT em função das dificuldades com o trabalho, além do autocuidado impor
44
limitações e prejudicar a AI, ela também é percebida como necessária para a sobrevivência,
por ser o acesso venoso mais indicado para realização da terapia.16-17
Quando a percepção da imagem corporal é modificada, ocorre sensação de estranheza
do próprio corpo e, este estigma impede a desconexão entre a doença e a pessoa.16 Desta
forma são criados rótulos, estigmatizando e anulando a individualidade dos indivíduos,
considerando as pessoas como portadoras de doenças e classificando-as segundo sua
patologia.18 A partir destas evidências o objetivo deste estudo foi avaliar a autoimagem dos
idosos com FAV submetidos à hemodiálise.
MÉTODO
Trata-se de estudo observacional, descritivo e transversal, considerando-se que a
coleta de dados dos idosos foi feita em um único ponto no tempo.19 O estudo foi realizado no
período de junho a julho de 2014, na Clínica de Doenças Renais de Taguatinga (CDRT),
serviço particular de terapia renal substitutiva, localizado no Centro Hospitalar Anchieta, na
região administrativa de Taguatinga, Distrito Federal.
A amostra foi ao acaso, em conformidade com a demanda atendida pela CDRT. Foram
critérios de inclusão: Pessoas com 60 anos ou mais; Idosos com diagnóstico de DRCT em
estágio 5, com TFG <15ml/kg/1.73m², inscritos no programa de hemodiálise cronicamente;
Idosos portadores de FAV nativa, em pleno funcionamento; Concordância em participar da
pesquisa após os esclarecimentos adequados, assinando o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e Responder aos três questionários aplicados. Foram critérios de
exclusão: Idosos com diagnóstico de demência; Idosos com intercorrências na sessão de
hemodiálise; Indivíduos portadores dos demais acessos vasculares destinados aos pacientes
submetidos à hemodiálise, como: cateter de duplo-lúmen temporário ou permanente (CDL)
tipo Shiley® ou Permcath® e a prótese (PTFE – Politetrafluoretileno); Idosos que tenha se
recusado a participar do estudo e idosos com transferência temporária ou internação em outras
unidades.
Para a coleta de dados, foi confeccionado um caderno contendo dois instrumentos um
com dados sócio-econômico-demográficos e o outro com sobre a percepção da autoimagem,
sendo identificados como instrumentos A e B, respectivamente. Os dois foram construídos
45
pela própria pesquisadora principal, com a finalidade de obter dados descritivos e perceptivos
da amostra.
O instrumento A apresenta a identificação dos sujeitos, com um inventário sócioeconômico-demográfico, abordando perguntas com referência à idade, escolaridade, religião,
transporte utilizado para deslocamento até a unidade de diálise, moradia, estado civil,
atividade atual e renda familiar.
O instrumento B apresenta questões relacionadas à imagem corporal percebida pelo
indivíduo com FAV, pelo outro e o seu enfrentamento diário, remetendo às seguintes questões
sobre a FAV: tempo de terapia hemodialítica, importância da FAV, percepção da FAV na
imagem corporal, além de uma pergunta aberta sobre o significado da FAV para o idoso.
Os pacientes foram entrevistados durante a sessão de hemodiálise, com duração média
de 30 minutos. A coleta de dados foi realizada nos períodos da manhã, tarde ou noite,
dependendo do horário de terapia de cada participante. Foi assegurada proteção e
confidencialidade, e foram orientados que caso não se sentissem à vontade, poderiam deixar
de responder a qualquer questão. Quando necessário, os idosos foram encaminhados para
suporte psicológico na própria unidade.
Optou-se pela coleta de dados do tipo entrevista, considerando-se a possibilidade dos
sujeitos apresentarem dificuldade visual, baixo nível instrucional e dificuldade para escrever
devido à imobilização do membro durante a sessão de hemodiálise. Contudo, quando o
entrevistado não compreendia alguma das perguntas dos questionários, a mesma era relida de
forma pausada, evitando-se mencionar sinônimo ou explicação às palavras, bem como a
escala de respostas. Na questão aberta, para se conseguir maior fidelidade, procurou-se
registrar na íntegra as declarações dos participantes a respeito de suas expectativas sobre o
assunto, tomando-se o cuidado de não induzir as respostas, entretanto, as entrevistas não
foram gravadas.
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade
Católica de Brasília sendo aprovado mediante CAAE 31944314.6.0000.0029 e com número
de parecer 681.487 em 09 de junho de 2014. Foram cumpridos os princípios éticos dispostos
na Resolução 466/2012 do CNS/MS.20
46
RESULTADOS
Caracterização dos participantes
Dos 141 pacientes atendidos na Unidade, 54 (38,3%) eram idosos e, destes, 39
(72,2%) atenderam os critérios de inclusão e exclusão. Portanto, a amostra estudada foi
composta de 39 pacientes.
As características sociodemográficas da amostra estudada estão apresentadas na
Tabela 1. A idade média foi de 68,3 ± 6,92 anos (60 a 84 anos), com predomínio da faixa
etária entre 60 e 64 anos, que agregou 35,9% da amostra. Tivemos 66,7% da amostra do sexo
masculino e 33,3% do sexo feminino.
Tabela 1 – Dados sócio-econômico-demográfico de 39 idosos em tratamento por hemodiálise, TaguatingaDF, 2014.
Sexo
Masculino
Feminino
Total
Idade
60-64
65-69
70-74
75-79
80 e +
Total
Escolaridade
Religião
Católica
Evangélica
Não tem
Outras
Total
Ativo na religião
Sim
Não
Total
Transporte residência/clínica
Privado
Ônibus/Metro/Táxi
Público (SUS)
Total
Tipo de Residência
Porcentagem
Total
66,7
33,3
100
26
13
39
35,9
25,6
20,6
5,1
12,8
100
6,36±4,5
14
10
8
2
5
39
(0-16)
71,8
20,5
5,1
2,6
100
28
8
2
1
39
66,7
33,3
100
26
13
39
59,0
23,1
17,9
100
23
9
7
39
47
Própria
79,5
Alugada
20,5
Total
100
3,54±1,68
Pessoas que moram na casa
Estado Civil
Solteiro
7,7
Casado
69,2
Viúvo
17,9
Separado
5,2
Total
100
Trabalha
Não trabalha
2,6
Aposentado
64,1
Aposentado por conta da hemodiálise
15,4
Trabalham
5,1
Pensionista
12,8
Total
100
Renda Familiar
1 a 3 SM
46,2
4 a 6 SM
30,8
7 a 9 SM
10,3
10 a 12 SM
0
13 e acima
12,7
Total
100
SM = salário mínimo valor vigente em junho/julho - 2014 R$ 724,00.
Figura 1
31
8
39
(1-9)
3
27
7
2
39
1
25
6
2
5
39
18
12
4
0
5
39
Figura 2
Figuras 1 e 2: Imagens dos pacientes P4 e P19, respectivamente, apresentam aneurisma/pseudoaneurisma
na FAV. Taguatinga, DF, 2014.
Quando questionados se conheciam a causa real da doença, evidenciou-se que 11
(28,2%) desconhecem e 28 (71,8%) idosos referiram ter conhecimento sobre a causa
etiológica da doença, sendo as principais causas: hipertensão em 14 (35,9%); diabetes em 11
(28,2%); outras causas 4 (10,4%).
Quanto aos dados referentes ao tratamento, observou-se que os pacientes têm em
média 53,56±53,15 meses (1-240 meses) de tempo de terapia hemodialítica, com a frequência
48
semanal média de diálise de 3,26±0,88, variando de 2 a 6 sessões. A grande maioria (87,2%)
dos idosos fazia três sessões por semana.
O tempo médio de confecção da FAV foi de 45,59±45,66, variando de 3 a 216 meses,
sendo que em 21 (53,8%) não foi o primeiro acesso vascular e nos restantes 18 (46,2%)
tratava-se do primeiro procedimento cirúrgico, ou seja, primeira FAV realizada para o
tratamento hemodialítico. No momento, 30 (76,9%) relataram que não apresentavam
complicações com o acesso, enquanto 9 (23,1%) referiram já ter apresentado ou estar
apresentando complicações sendo as mais comuns: hipofluxo 2 (22,2%), edema 2 (22,2%),
trombose 2 (22,2%), descamação da pele 1 (11,1%) e sangramentos excessivo pós-retirada
das agulhas 2 (22,2%), foi possível observar que apesar de não haver relatos pelos idosos do
aneurisma e pseudoaneurisma como uma complicação referida, até pelo desconhecimento
desse sinal como uma complicação, muitos apresentam na sua FAV.
Quanto as limitação das atividades de vida diárias (figura 3), 23 (59%) informaram
que o fato de possuírem uma FAV não trazia nenhuma limitação para o dia-a-dia, 8 (20,5%)
que apresentavam muita limitação, 7 (17,9%) limitação intensa, 1 (2,6%) limitação moderada
e ninguém relatou ter pouca limitação.
59%
20,50%
0%
17,90%
2,60%
Figura 3 – Limitação das atividades diária de 39 idosos com FAV submetidos à hemodiálise, Taguatinga,
2014.
Percepção da imagem da FAV
Feitas perguntas referentes à utilização de vestimentas com o intuito de tampar a FAV,
bem como questões se havia incômodo quanto à autopercepção, a percepção dos outros sobre
49
a fístula e a participação em eventos sociais. Afirmaram não se preocuparem em tampar a
fístula com roupas de manga longa ou outros acessórios 34 (87,2%), e estes mesmos idosos
afirmaram que a fistula não atrapalhava sua percepção corporal. Todavia, 5 (12,8%) cobrem a
fistula com roupas de manga longa.
Quanto à própria percepção da FAV, 37 (94,9%) disseram que não se incomodavam
com a mesma uma vez que ela significava a possibilidade de sua sobrevivência. Todos
(100%) idosos informaram que participavam de eventos sociais sem problemas ou
constrangimentos. Quando questionados se concordavam que a presença da FAV era motivo
de vergonha do próprio corpo, 35 (87,4%) disseram que discordavam totalmente, 3 (7,7%)
concordavam plenamente e 1 (2,6%) respondeu que era indiferente.
A figura 4 apresenta a percepção que os idosos tiveram em relação a imagem que os
outros tem quando vêm o aspecto da FAV.
35,90%
38,50%
15,40%
10,30%
0%
Pessima
Ruim
Indiferente
Boa
Muito Boa
Figura 4 – Imagem do outro sobre a FAV em 39 idosos, Taguatinga, 2014.
Variando a nota de 1 a 5, onde foi classificado no comando do item: 1- péssima; 2ruim; 3- indiferente; 4- boa e 5- muito boa, questionados sobre a nota que dariam hoje para
sua AI (figura 5), 31 (79,5%) tem uma imagem corporal muito boa, 4 (10,3%) boa, 2 (5,1%)
ruim e 2 (5,1%) péssima.
50
79,50%
5,10%
5,10%
0%
Péssima
Ruim
Indiferente
10,30%
Boa
Muito Boa
Figura 5 – Percepção da imagem corporal sobre a FAV em 39 idosos, Taguatinga, 2014.
Na pergunta aberta utilizada na investigação do significado da FAV na vida destes
pacientes. Foram encontradas respostas com diferentes significados que, em sua maioria
foram avaliados como positivos, ou seja, 15 (38,5%) dos idosos afirmaram que a FAV
significava tudo, 10 (26%) que era uma forma de sobrevivência, 9 (23%) que ela era
importante, 3 (8%) a percebiam como boa e 1 (2,6%) a definiram como saúde, apenas 1
(2,6%) paciente considerou a FAV horrível.
Logo, se faz necessário enfatizar verbalizações, algumas emocionantes, feitas pelos
idosos, na qual podemos perceber o significado da FAV para esses indivíduos, como: “minha
fístula é tudo, eu tenho um carinho, trato ela muito bem” (P25); “minha fístula é ótima, não
posso viver sem ela, é necessária para minha sobrevivência” (P13); “a fístula é tudo, se eu
ficar sem, como eu vou continuar o tratamento” (P17); “a fístula é uma coisa muito boa, é
uma joia preciosa, que eu tenho que amar, pois dependo dela para viver” (P2).
Quanto à importância 94,6% consideraram a FAV um instrumento extremamente
importante para o seu tratamento (índice 5), em uma escala gradual (Likert) de intensidade de
1 a 5, na qual o cinco é extremamente importante. O idoso que deu nota 1 afirmou que a
FAV não era importante, verbalizando que a mesma era horrível. Entre os relatos
descrevemos os que expressam valorização da FAV: ―é fundamental, melhor que o cateter‖
(P28); ―ela é tudo para mim e mais alguma coisa, melhor que o cateter, não tem comparação,
aquilo não existe‖ (P24); ―é tudo para mim, sem ela não tem como sobreviver, porque o
cateter tem muita preocupação‖ (P18); ―é muito boa, melhor do que o cateter, eu gosto mais
da fístula‖ (P16); ―ela é muito importante para mim, estou satisfeito, sem ela eu estaria com o
cateter. Vou ficar com ela até realizar o meu sonho que é o transplante‖ (P14); ―é importante
51
para a minha sobrevivência eu morro de medo de perder e ter que passar o cateter‖(P8);
―facilidade para o meu tratamento, porque com o cateter eu tinha impedimento, não podia
tomar banho‖(P22).
Destarte, vale lembrar um ponto importante referido pelos idosos, que no cotidiano
eles se deparam com questionamentos refere a FAV como: “Moço o que é isso? Explico a
situação e agradeço a Deus por ter tratamento” (P2); “Por que têm esses caroços?” (P1);
“Vê a fístula e fica perguntando sobre a doença, me incomoda, fico chateada em falar sobre
a minha doença com outras pessoas, as pessoas me olham com pena” (P9); “Vô o que é isso?
Uma minhoca?” (P36).
DISCUSSÃO
Em consonância com a literatura e dados da SBN, 201315 há uma predominância dos
pacientes do sexo masculino quando realizado a distribuição de indivíduos em diálise por
sexo, dado que não divergiu neste estudo, na qual 66,7% desta amostra é composta por
homens. Entretanto, não são claros os motivos pelas quais isto ocorre.
O procedimento de hemodiálise só é possível com a confecção de um acesso vascular
adequado.16 Pela alta indicação de um procedimento relevante na realização da terapia, a FAV
é um instrumento fundamental para uma sobrevida com mais qualidade. Entretanto, autores
relatam que a FAV pode ser vista como um fator limitante no dia-a-dia dos indivíduos com
DRCT, em função das dificuldades com o trabalho, além do autocuidado impor limitações e
prejudicar a AI, mas ela também é vista como necessária para a sobrevivência, por ser o
acesso venoso mais indicado para realização da hemodiálise.17 Neste estudo, 59% dos idosos
afirmaram que o fato de possuírem uma FAV não trazia nenhuma limitação para o seu dia-adia, enquanto 20,5% referiram que trazia muita limitação e 17,9% que os limitava
imensamente. Entre as maiores limitações referidas estavam pegar peso com o membro com a
FAV, recomendação dada pelo profissional de saúde para evitar a perda do acesso. À vista
disso, a sensibilidade de um cuidado não deve ser confundida com limitação.
Para favorecer a qualidade da hemodiálise do indivíduo, se faz necessária a expressiva
aceitação do doente quanto à presença da FAV, uma vez que se trata de acesso de primeira
escolha e o mais efetivo na manutenção da qualidade de vida. Na manutenção e preservação
desta, é primordial a aplicação de cuidados no dia-a-dia desses idosos, como relatado no
52
trabalho atual pelos idosos, por depender dela para sua sobrevivência, expresso na
verbalização de alguns pacientes como o relato de P2 que evidencia o valor da FAV na
preservação da sua vida e a classifica como uma jóia.
O paciente desempenha importante papel para o sucesso do acesso vascular, desde sua
indicação até a preservação do mesmo. Quando este for indicado, torna-se essencial que seja
merecedor de todos os cuidados, mesmo antes de sua realização. O paciente deve preservar o
membro escolhido para o procedimento de FAV, com cuidados como lavagem antes de
punções, compressões, tricotomia, exercícios, avaliar sangramentos e presença de frêmitos,
observar o local da FAV, não permitir punção venosa, não permitir administração de
medicamentos e não aferir pressão arterial no membro. Estes são cuidados importantes para
preservação de um acesso pérvio e duradouro. 4
Entre os idosos amostrais 76,9% referiram não apresentar no momento complicações
com o acesso, enquanto 28,2% referiram já ter apresentado ou estar apresentando
complicações, sabe se que a FAV, além de problemas associados às alterações estéticas e
limitações de atividades diárias, pode ser acometida por outras complicações como:
hipofluxo, sangramentos excessivos pós-retirada das agulhas, edema, aneurismas e
pseudoaneurismas e foram evidenciados em alguns indivíduos. Estes dados estão em
concordância com a literatura, que apontou como as principais complicações da FAV as
seguintes: mau funcionamento, baixo fluxo, estenose, trombose, isquemia da mão, infecção,
aneurisma e pseudoaneurisma. Estas situações deverão ser acompanhadas, pois são fatores
intimamente relacionados à mortalidade desses pacientes.4
Em estudo realizado questionando pacientes com DRCT sobre as vantagens e
desvantagens da FAV, observaram relação positiva quanto à substituição do cateter na veia
jugular por uma FAV, pois esta mudança acarretou melhor qualidade de vida e estética
corporal, assim como restabelecimento de algumas necessidades humanas básicas,
tranquilidade e liberdade.21 No trabalho atual, foi percebido nos diálogos que os idosos
compartilham da mesma experiência na substituição do cateter pela FAV, afirmando quando
questionados quanto ao significado da FAV que era fundamental, melhor que o cateter,
conforme expressões apresentadas nos resultados acima.
A FAV traz alguma limitação nas atividades do dia-a-dia para 41% dos idosos
estudados. Informação compatível com outro estudo, nos quais os pacientes atribuíram como
malefícios da FAV: abandono das atividades de lazer; punções sucessivas; e alterações na
53
aparência física devido às cicatrizes e aos aneurismas, ocasionando olhar preconceituoso e
curioso das pessoas e, muitas vezes, discriminatório, o que gerava, em algumas situações,
constrangimento e vergonha. Entretanto, quando comparados a FAV e o cateter, os pacientes
mostram preferência pela FAV, pois o cateter é dispositivo implantado na veia ficando
exteriorizado, o que compromete ainda mais a imagem corporal.21
Por outro lado, há de se valorizar, neste estudo, que a maior parte dos pacientes 59%
referiu que a FAV não traz nenhuma limitação para ao seu cotidiano o que deverá ser
valorizado pela equipe a fim de enfatizar cuidados que esses pacientes deverão respeitar para
preservação deste acesso, uma vez que, o fato de não trazer limitação pode estar diretamente
relacionado aceitação deste instrumento pelos indivíduos envolvidos o que acarreta inúmeros
benefícios a adesão da terapia proposta.
Diante da FAV, as cicatrizes e, por vezes, os aneurismas provocados por ela causam
comprometimento da autoimagem dos pacientes, podendo causar sofrimento que, na maioria
das vezes, não é verbalizado. Neste, ao investigarmos o significado da FAV para esses idosos,
foi expresso por meio de relatos os sentimentos de valorização desse acesso. As definições
expressas pelos pacientes pela FAV como: é tudo, é importante, é boa e é saúde impacta sobre
a maneira de alcançar sua sobrevivência. Corroborando com outros estudos que apontam que
em muitas situações os sentimentos demonstrados pelos pacientes como amor, esperança e
necessidade da FAV, surgem devido à conscientização da importância desta para o tratamento
que prolonga suas vidas.8
Quanto ao significado por meio dos vários relatos com seus significados e valores de
um ponto positivo a um negativo, dois foram essencialmente marcantes, em seu diálogo uma
idosa discursa ―quando eu tomo banho a primeira coisa que eu lavo é ela, faço massagens
nela, quando eu oro eu fal: Jesus a fístula não é minha é tua, eu já consagrei ela”(P25),
chama atenção principalmente por trata-se de uma idosa com deficiência visual, há sete anos
em terapia hemodialítica, que representou com palavras repletas de emoção os seus cuidados
com a FAV, em uma situação rotineira como o banho. Nota-se visivelmente a importância
que ela dá a este instrumento, bem como o valor para sua vida. Por outro lado, tivemos um
idoso que afirmou ser a FAV horrorosa, expressando um sentimento de revolta em suas
palavras, este último tinha somente quatro meses de terapia, era o idoso com menor tempo de
terapia.
54
Não obstante, neste contexto, podemos inferir que o tempo de terapia pode estar
diretamente associado à aceitação/conformação do indivíduo nesta terapia. Essas são posições
contrárias evidenciadas no dia-a-dia dos profissionais de saúde que atendem esses clientes,
onde de um extremo a outro encontramos pacientes que se adaptam, outros se conformam e
outros que se revoltam. Daí a necessidade de atenção por parte da equipe de saúde, com
objetivo de identificar as necessidades de cada indivíduo na sua integralidade, uma vez que
cada um possui características particulares quanto ao enfrentamento, à aceitação e ao suporte
social e familiar encarando, entretanto, a mesma necessidade, a hemodiálise.
Um estudo foi realizado, e procuraram identificar as mudanças ocasionadas pela FAV
em relação à percepção da autoimagem em pacientes com DRCT com tratamento
hemodialítico e, assim, entender as suas preocupações. Em suas falas, os pacientes estudados
mencionaram sua insatisfação por mudanças físicas causadas pela FAV como: aneurisma,
edema, frêmito e hematomas, destacando o incômodo por parte dos pacientes que têm a sua
estrutura normal do ―membro deformada‖, o que repercute em sua autoimagem. Quando a
percepção da imagem corporal é modificada, ocorre sensação de estranheza do próprio corpo
e, este estigma impede a desconexão entre a doença e a pessoa. Estes autores identificaram o
incômodo advindo do estigma social frente à FAV, pois essa postura tem grande influência no
cotidiano desses indivíduos e eles têm incômodo com o fato de conter uma FAV, sentindo-se
inferiorizados e vítimas de preconceito comparadas às pessoas saudáveis, gerando
sentimentos negativos e levando ao comprometimento das relações sociais, em consequência
da tristeza, tentativa de isolamento e vergonha.16
O perceber diferente e curioso do outro pode ser criação do imaginário do doente que
elabora uma autoimagem a partir de como ele se percebe e de como observa a percepção do
outro acerca de si. O sentimento de vergonha, muitas vezes, ocorre porque a identidade da
pessoa constrói-se a partir de um corpo íntegro e completo e quando esse corpo se modifica
surgem profundas modificações na identidade pessoal, gerando conflitos emocionais.21
Porém, no estudo atual foi observado que 87,4% dos idosos entrevistados não sentiam
vergonha do corpo pela presença da FAV, o que é significativamente positivo, pois favorece a
manutenção das relações interpessoais, remetendo-se ao conceito de resiliência, na qual o
indivíduo tem a capacidade de se adaptar às adversidades. A resiliência é definida pela
capacidade de o indivíduo ou da família enfrentar as adversidades, ser transformado por elas e
conseguir superá-las.22
55
Apesar do grande número de idosos que não sentem vergonha do corpo, alguns deles
dizem se deparar com situações de constrangimento e dúvidas, com expressões apresentadas
não só por desconhecidos, mas até por familiares. Por conseguinte, é necessário o apoio
profissional a estes idosos, para que saibam enfrentar estas situações que podem gerar
angústias e conflitos e que devem ser trabalhadas com muito cuidado para não acarretar
traumas e prejuízos nas relações sociais e, até mesmo, um reflexo negativo na adesão ao
tratamento. Vale ressaltar que as relações sociais, com uma rede de apoio consolidada, são
essenciais para a qualidade de vida desses indivíduos, fortalecendo os vínculos e impactando
positivamente no seu dia-a-dia.
Dado importante foi evidenciado, na qual 84,6% dos pacientes referem não se
incomodar com a aparência que a FAV é percebida pelo outro, afirmando que a FAV não
refletia negativamente em sua autopercepção. A aparência transmitida ou mesmo a forma
como as pessoas olhavam não tinha grande relevância, uma vez que a FAV é vista por eles
como instrumento necessário para sua sobrevivência. Por isso, esses indivíduos não
utilizavam ferramentas para esconder a FAV de outras pessoas. Por outro lado, para 7,7%
quando perguntado se havia sentimento de incomodo com a imagem da FAV pelo outro eles
informaram que era indiferente e para os 7,7% que relataram se incomodar com essa imagem,
ao relacionarmos o tempo, 67% dos destes pacientes têm menos de 24 meses de terapia e 33%
têm além do dobro, podemos inferir que a aceitação da FAV no seu corpo tem uma relação
direta com o tempo de permanência com a mesma, isto é, parece haver uma valorização deste
meio de acesso com o passar do tempo, pois os indivíduos passam a aceitar e adaptar-se a
nova situação. O que nos levar a refletir, inclusive, que esses idosos podem com o passar dos
anos se incomodarem menos com tal fato.
Os resultados da pesquisa atual mostraram que nenhum idoso deixava de participar em
eventos sociais por ter uma FAV, sejam eles, religiosos, confraternizações, familiares ou
viagens.
Dos idosos 79,5% referiram uma autoimagem muito boa e apenas 5,1% referiram uma
imagem péssima. Quando questionados quanto à importância dessa percepção vista por outras
pessoas, para 38,5% desses idosos é indiferente a percepção das pessoas que os rodeiam
quanto à FAV, pois o mais importante neste processo é ter um bom acesso. Porém, nenhum
deles acredita que as outras pessoas tenham uma visão boa da FAV no seu corpo, embora
demonstrem não estar preocupados com isto.
56
No estudo atual, percebeu-se que os idosos não tinham a autoimagem influenciada
pela presença da FAV, o que refletiu positivamente nas relações pessoais, estabelecimento de
vínculos e na qualidade de vida.
No nosso meio são criados rótulos, estigmatizando e anulando a individualidade das
pessoas, considerando-as como portadoras de doenças e classificando-as segundo sua
patologia.18 Os discursos dos pacientes são importantes, sendo imprescindível que os
profissionais de saúde percebam os seus significados e procurem entender o sentido das
narrações, apreendendo-os como meios que facilitam a discussão e a reflexão profissional
para uma melhor assistência a estes pacientes e, por consequência, amenizando seu
sofrimento.23 É necessário que os profissionais de saúde voltem à atenção a essa população
com objetivo de minimizar os riscos, uma vez que a FAV é intitulada como a melhor opção
de acesso, e é um instrumento necessário para manutenção de efetivo tratamento
hemodialítico, sendo percebida pela maioria dos idosos amostrais como o veículo de
sobrevivência necessário para manutenção de suas vidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos dados adquiridos a partir do instrumento aplicado, podemos concluir
que o idoso com FAV submetido à hemodiálise não apresentou repercussões negativas
significativas quanto à percepção de sua imagem corporal, o que favoreceu suas relações
interpessoais e a manutenção de uma rede de apoio, contribuindo para melhor qualidade de
vida. A idade e o tempo de terapia parecem ter representatividade importante na aceitação do
indivíduo ao tratamento hemodialítico. Por meio de diálogos, percebeu-se a relação de
dependência dos pacientes com a FAV. Os sentimentos expressos pela maioria foram de
amor, carinho, cuidado, necessidade e o medo de perdê-la, sentimentos que somente podem
ser compartilhados por indivíduos que vivenciam a mesma situação, porque apesar de muitos
desses pacientes acharem que ter uma FAV é ruim, para eles ter um cateter é muito pior.
Percebeu-se que os idosos não se deixam influenciar por opiniões, preconceitos ou
visões de outras pessoas com relação à formação do seu autoconceito quanto a imagem
corporal e a presença da FAV, pois, para eles, o essencial é a manutenção de um bom acesso
vascular para otimizar o seu tratamento, o que impacta positivamente na forma de
enfrentamento das adversidades vivenciadas por eles.
57
Esperamos que, com a realização deste estudo possamos contribuir com a comunidade
científica e com a unidade em que a pesquisa foi realizada, uma vez que os dados encontrados
poderão subsidiar os profissionais de saúde que atuam nesta área quanto à capacidade de
identificar problemas e conduzi-los da forma mais harmônica possível, a fim de minimizar os
danos aos indivíduos que desta ferramenta necessitam para manutenção de suas vidas e assim
favorecer a desconstrução dos estereótipos estabelecidos acerca das pessoas envolvidas.
Valem lembrar, que se fazem necessárias mais pesquisas com essa temática, inclusive a
comparação entre adultos e idosos no mesmo contexto terapêutico.
58
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Fechine BRA, Trompieri N. O processo de envelhecimento: as principais alterações
que acontecem com o idoso com o passar dos anos. InterSciencePlace [Internet]. 2012
jan-mar; 1 (20): 106-132.
2. Bastos RMR, Bastos MG, Ribeiro LC, Bastos RV, Teixeira MTB. Prevalência da
doença renal crônica nos estágios 3, 4 e 5 em adultos. Rev associação méd bras
[Internet]. 2009; 55 (1): 40-44.
3. Franco MRG, Fernandes NMS. Diálise no paciente idoso: um desafio do século XXI revisão narrativa. Jornal Brasileiro de Nefrologia. [online]. 2013; 35 (2): 132-141.
4. Fermi MRV. Diálise para enfermagem: guia prático. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan; 2010.
5. Smeltzer SC, Bare BG. BRUNNER & SUDDARTH: Tratado de enfermagem médicocirúrgica. 9ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002.
6. Silveira NDR; Canineu PR; Reis AA. Vivências e aprendizagens do paciente idoso na
rotina da hemodiálise. Revista Kairós Gerontologia. 2011 jun; 14 (2): 95-110.
7. Madeiro CA, Machado PDLC, Bonfim IM, Braqueais AR, Lima FET. Adesão de
portadores de insuficiência renal crônica ao tratamento de hemodiálise. Acta Paulista
de Enfermagem. 2010; 23 (4): 546-551.
8. Koepe GB, Araújo STC. A percepção do cliente em hemodiálise frente à fístula
arteriovenosa em seu corpo. Acta Paulista de Enfermagem. 2008; 21(esp): 147-151.
9. Besarab A, Raja RM. Acesso vascular para hemodiálise. In. Daurgidas, JT, Blake PG,
Ing TS. Manual de diálise. 3ªed. Rio de Janeiro: Medsi; 2003. p. 68-102.
10. Gouveia VV, Singelis T, Coelho JAPM. Escala de autoimagem: comprovação da sua
estrutura fatorial. Revista de avaliação psicológica. 2002; 1 (1): 49-59.
11. Carpenito, LJ. Manual de diagnósticos de enfermagem. 9ªed. Porto Alegre: Artmed,
2003.
12. Trentini M, Corradi EM, Raposo MAA, Camila FT. Qualidade de vida de pessoas
dependentes de hemodiálise considerando alguns aspectos físicos, sociais e
emocionais. Texto & Contexto Enfermagem. 2006 jan-mar; 15 (1): 74-82.
13. Turra K, Trentin C, Ribeiro DS, Mantovani MF, Polak YNS. As repercussões da
doença cardiovascular na qualidade de vida de adultos: relato de experiência. Cogitare
Enferm. 2001; 6 (1): 32-36.
14. Diniz D.P. Aspectos psicológicos envolvidos nos pacientes com patologias renais. In:
Barros E, Manfro RC, Thomé FS, Gonçalves LFS. Nefrologia: rotinas, diagnósticos e
tratamento. 3ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2006.
59
15. Sociedade Brasileira de Nefrologia. Censo 2013. São Paulo (SP); 2014. Disponível em:
http://www.sbn.org.br
16. Cabral LC, Trindade FR, Castelo Branco FMF, Baldoino LS, Silva MLR, Lago EC. A
percepção dos pacientes hemodialíticos frente à fístula arteriovenosa. Revista
Interdisciplinar. 2013 abr-jun; 6 (2): 15-25.
17. Spinola TD, Gonçalves VMS. Percepção de pacientes com insuficiência renal crônica
quanto à interferência da fístula arteriovenosa em seu cotidiano. Revista Enfermagem
Integrada. 2012 nov-dez; 5 (2): 977-986.
18. Lima AFC, Gualda DMR. História oral de vida: buscando o significado da
hemodiálise para o paciente renal crônico. Revista Esc Enfermagem USP. 2001 jun;
35 (3): 235-241.
19. Sampieri RH, Collado CF, Lucio MDPB. Metodologia de pesquisa. Penso: 2013.
20. Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa. Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012: diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: MS; 2012.
21. Furtado AM, Lima FET. Conhecimento dos clientes em tratamento de hemodiálise
sobre a fístula arteriovenosa. Rev. Rene. 2006 set-dez; 7 (3): 15-25.
22. Pinheiro DPN. A resiliência em discussão. Psicologia em Estudo. 2004; 9 (1): 67-75.
23. Ramos IC, Queiroz MVO, Jorge MSB, Santos MLO. Portador de insuficiência renal
crônica em hemodiálise: significados da experiência vivida na implementação do
cuidado da experiência vivida na implementação do cuidado. Acta scientiarum. Health
sciences. 2008; 30 (1): 73-79.
60
6. MANUSCRITO 2: QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM FÍSTULA
ARTERIOVENOSA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
Resumo
O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade de vida dos idosos com FAV submetidos
à hemodiálise. Trata-se de estudo observacional, descritivo e transversal, realizado com 39
idosos em tratamento hemodialítico na cidade de Taguatinga-DF. A coleta de dados ocorreu
por meio de entrevista com dois instrumentos: dados sócio-econômico-demográfico e um
questionário validado para avaliar qualidade de vida relacionada à saúde (KDQOL-SF™).
Identificamos que a Qualidade de vida é prejudicada a depender do domínio avaliado, os
valores médios dos escores encontrados variaram de 40,06 a 90,60, encontramos os menores
escores no domínio função sexual (40,06) e o mais elevado no domínio qualidade da interação
social (90,60). Neste estudo por meio dos instrumentos utilizados foi possível alcançar os
objetivos propostos e identificar pontos relevantes no cotidiano desses idosos submetidos à
hemodiálise, contribuindo com a equipe que presta assistência a esta população. Concluiu-se
que a QV desses idosos na CDRT – Taguatinga/DF apresenta, em média, altos escores nas
dimensões genéricas e específicas avaliadas.
Descritores: Idoso; Qualidade de vida; Hemodiálise
Descriptors: elderly; Quality of life; hemodialysis
Descriptores: Ancianos; Calidad de vida; hemodiálisis
61
Introdução
O envelhecimento populacional, antes restrito a países desenvolvidos, está ocorrendo
também nos países em desenvolvimento de forma muito rápido. No Brasil, este aumento tem
influenciado significativamente o número de atendimentos no sistema único de saúde (SUS),
relacionado principalmente às doenças crônico-degenerativas(1).
Dentre as doenças que levam a maior número de atendimentos encontram-se as
doenças renais crônicas (DRC) justificando, nos últimos anos, o aumento do número de
pacientes idosos nas unidades de diálise(2). De acordo com a Sociedade Brasileira de
Nefrologia (SBN), o número de pacientes sob terapia de diálise no período de 2012 a 2013
aumentou de 97.586 para 100.397 casos. Os dados revelam que de 2006 a 2013 tivemos um
aumento estimado de 34.161 pacientes novos em diálise, na população de idosos esse número
se manteve estável de 2011 a 2013 com uma média de 31,6% na população acima de 65
anos(3).
A DRC é doença progressiva que induz a necessidade de tratamento debilitante,
impedindo o indivíduo de realizar suas atividades rotineiras habituais. A partir do seu
diagnóstico, o indivíduo idoso que já possui um estilo de vida modificado em função do
processo senil, passa a ter nova etapa de responsabilidades enfrentando: o impacto do
diagnóstico da doença; a necessidade de realizar o regime terapêutico; ter que conhecer a
doença; aprender a lidar com sintomatologia desagradável; e entender que perdas vão
acontecer na vida social, no lazer, no trabalho e no convívio com outras pessoas(4).
Entre as terapias de substituição da função renal podemos conceituar a hemodiálise
como a de maior predomínio entre as terapêuticas adotadas. Trata-se de modalidade de terapia
na qual ocorre a filtração do sangue do paciente por meio de um filtro/capilar ―rim artificial‖
adaptado a uma máquina. Para a realização desse processo, é necessário que o paciente tenha
um acesso vascular adequado, sendo a fístula arteriovenosa (FAV) o de primeira escolha.
FAV é a união entre uma veia e uma artéria, procedimento realizado cirurgicamente em um
membro do doente por um médico habilitado.
A hemodiálise tende a desencadear modificações na rotina do indivíduo, afetando-a
diretamente nos aspectos biopsicosocioculturais. O tratamento hemodialítico apresenta-se
para o idoso como um evento inesperado que o remete à relação de dependência a uma
máquina, a um esquema terapêutico rigoroso trazendo limites ao seu cotidiano no convívio
62
social, restrições alimentares e hídricas e incapacidades físicas(1). Na visão dos pacientes,
essas modificações refletem em sua qualidade de vida (QV) e, em decorrência disso, o
cuidado a ser prestado ao indivíduo dependerá da sua própria percepção sobre a nova
experiência(5).
A Organização Mundial de Saúde define saúde como: ―um estado de completo bemestar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença‖(6), e ainda, define QV
como ―a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações‖(7). Estes são conceitos que têm como objetivo fazer uma abordagem
multidimensional. Desta forma, é preciso avaliar o indivíduo em todos seus aspectos, a fim de
captar o impacto da doença e do tratamento sobre sua vida e, então, intervir precocemente
possibilitando, melhorar a QV(8).
A QV se estabelece a partir de parâmetros objetivos e subjetivos. Os parâmetros
subjetivos são bem-estar, felicidade e realização pessoal, entre outros, enquanto os objetivos
estão relacionados à satisfação das necessidades básicas e daquelas criadas em uma dada
estrutura social. Os parâmetros objetivos têm a vantagem de não estarem sujeitos ao viés do
observador, enquanto os subjetivos possibilitam que os indivíduos emitam juízos sobre temas
que envolvem sua própria vida(9). Os dois parâmetros se complementam entre si, sendo
fundamental avaliar a QV sob uma variedade de dimensões. É importante enfatizar a
percepção subjetiva das pessoas idosas acerca de sua QV, em situações que interferem na
conquista e manutenção desta, uma vez que são aspectos de alta relevância para a equipe de
saúde no planejamento das ações de cuidados a esses indivíduos, objetivando minimizar
danos e assegurar condições que favoreçam boa QV(10).
Diante do impacto da doença e as repercussões da hemodiálise na QV do doente renal
crônico, faz-se necessário conhecer, nessa população, a área/domínio mais acometido na
avaliação da QV, de modo igual os reflexos gerados diretamente na vida desses idosos.
À luz de uma abordagem gerontológica, ―a qualidade do envelhecimento está
diretamente relacionada com a qualidade de saúde que o indivíduo tem no seu percurso
existencial e o estilo de vida que ele assume nessa trajetória‖(11). Nessa vertente, o estudo
atual teve por objetivo avaliar a QV de idosos com FAV submetidos à hemodiálise e as
possíveis repercussões deste tratamento em suas vidas. Pretende-se, ainda, contribuir para
ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde, em especial, da equipe de enfermagem
63
que atua diretamente na prestação de assistência a esses pacientes, a fim de incentivar
mudanças em suas condutas e ações que favoreçam uma assistência de enfermagem com
qualidade. Intenta-se sensibilizar o olhar para os idosos em tratamento hemodialítico, com o
intuito de minimizar os danos aos indivíduos que dessa ferramenta necessitam para a
continuidade de seu tratamento.
Método
Aspectos éticos
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade
Católica de Brasília, sendo aprovado mediante CAAE 31944314.6.0000.0029 e com número
de parecer 681.487 em 09 de junho de 2014. Foram cumpridos os princípios éticos dispostos
na Resolução 466/2012 do CNS/MS.
Desenho, local e período do estudo
Estudo observacional, descritivo e transversal, considerando-se que a coleta de dados
foi feita em um único ponto no tempo(12). Realizado na Clínica de Doenças Renais de
Taguatinga (CDRT), serviço particular de terapia renal substitutiva, localizado no Centro
Hospitalar Anchieta Taguatinga-Distrito Federal, no período de junho a julho de 2014.
População
A amostra foi constituída por 39 idosos, que atenderem os critérios de inclusão: 60
anos ou mais de idade; diagnóstico de DRCT inscritos no programa de hemodiálise
cronicamente; com FAV nativa como acesso vascular; concordância em participar da pesquisa
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Protocolo do estudo
Para a coleta de dados, foi construído um caderno com dois instrumentos. O
instrumento A (Apêndice C) foi preparado pelos próprios pesquisadores, com o fim de obter
os dados sócio-econômico-demográfico. O instrumento B foi o questionário utilizado para
avaliar a QV Kidney Disease Quality of Life Short Form – (KDQOL-SF™), traduzido e
adaptado culturalmente para avaliação da QV de pacientes com DRC(13-14). Este instrumento é
um dos mais completos para avaliação da QV de pacientes com DRC. É composto por oito
dimensões de aspectos genéricos (funcionamento físico, função física, dor, saúde geral, bem–
64
estar emocional, função emocional, função social, energia e fadiga) e mais 11 dimensões
específicas da doença (efeitos da doença renal, sobrecarga da doença renal, função sexual,
sono, suporte social, sintomas e problemas, papel profissional, função cognitiva, qualidade de
interação social, estímulo por parte da equipe de diálise e satisfação do paciente. Logo, todos
os itens do instrumento são codificados e pontuados de 0 a 100(15).
A coleta de dados foi realizada com todos os participantes de forma sistemática,
iniciada com a aplicação do instrumento A e após do B. Optou-se pela coleta de dados do tipo
entrevista, considerando-se a possibilidade dos sujeitos apresentarem dificuldade visual, baixo
nível instrucional e dificuldade para escrever devido à imobilização do membro durante a
sessão de hemodiálise. Os pacientes foram entrevistados durante a sessão de hemodiálise. O
tempo médio de cada entrevista foi de aproximadamente 30 minutos.
Análise dos dados
Para análise descritiva dos dados foram utilizadas médias, desvios e frequências. Para
análise inferencial foram realizados os testes de normalidade (Shapiro-Wilk). Como os dados
não apresentaram distribuição normal foi utilizado os testes não paramétricos Mann-Whitney
(variável Sexo - dois grupos independentes) e Kruskall Wallis (variáveis idade e tempo de
fístula - três grupos independentes). O software SPSS-IBM 22.00 for Windows foi utilizado
para as análises, sendo o nível de significância estipulado p ≤ 0,05.
Resultados
A média de idade foi 68,3 ± 6,92 anos (60 a 84 anos), sendo 26 (66,7%) do sexo
masculino e 13 (33,3%) do feminino. A faixa etária que apresentou maior predomínio foi de
60 a 64 anos, com 14 (35,9%) dos pacientes, quanto ao estado civil a maior parte é casada 27
(69,2%), quanto a escolaridade a média e o desvio padrão foi de 6,36±4,5, 31 (79,5%) relatam
que tem residência própria. Estes estavam realizando o procedimento entre 6 meses e 240
meses, com número de sessões semanais variando entre 2 e 6 (3,26 ± 0,88). Sobre o
conhecimento etiológico da doença, foi evidenciado que 27 (69,3%) sabiam a resposta, sendo
as principais causas: hipertensão, em 14 (35,9%); diabetes, em 11 (28,2%); uso abusivo de
anti-inflamatórios, em 2 (5,2%) outras causas.
Foram obtidas médias e desvio padrão. Tratando-se das funções genéricas, observouse que o maior escore correspondeu à dimensão função emocional (82,05), demonstrando que,
em média, houve pouca interferência negativa da hemodiálise nas relações emocionais no
65
trabalho ou em outras atividades da vida diária dos idosos. Inversamente ao escore anterior,
tivemos a função física (47,85) mostrando que esses pacientes realizam suas atividades
cotidianas com menos frequência que anteriormente à hemodiálise, porém não deixando de
realizá-las (Tabela 1).
Nas questões específicas para o doente renal crônico, destacou-se o alto escore
encontrado na dimensão qualidade da interação social (90,60), demostrando que, em média,
houve pouca interferência negativa da hemodiálise nas atividades sociais com família, amigos
e vizinhos. Em contrapartida, o baixo escore encontrado na dimensão função sexual (40,06)
evidenciou que as mulheres deste estudo não tinham atividade sexual (Tabela 1).
Tabela 1 – Valores médios das dimensões Genéricas e específicas do KDQOL-SFTM em 39 idosos de
ambos os sexos em tratamento com hemodiálise. Taguatinga, DF, Brasil, 2014.
Dimensões
Geral
Homens
Mulheres
Gerais
Média e DP
Média e DP
Média e DP
Funcionamento Físico
47,85±30,54
51,00±33,99
41,54±21,93
Função Física
79,49±37,11
87,50±27,61
63,46±48,54
Dor
78,53±24,46
82,40±20,68
70,77±30,09
Saúde Geral
68,97±23,90
68,85±23,12
69,23±26,37
Bem-Estar Emocional
80,31±28,44
77,23±32,25
86,46±18,22
Função Emocional
82,05±21,42
85,90±19,26
74,36±24,17
Função Social
81,09±27,64
83,17±28,27
76,92±26,93
Energia e Fadiga
74,62±26,81
73,08±30,20
77,69±19,00
Específicos
da
Doença Média e DP
Média e DP
Média e DP
Renal
Sintomas e Problemas
81,41±11,96
82,37±11,76
79,49±12,61
Efeitos da doença renal
68,11±20,38
68,51±21,25
67,31±19,33
Sobrecarga da doença renal
49,52±30,53
51,93±28,05
44,71±35,71
Papel Profissional
69,23±27,18
63,46±26,67
80,77±25,32
Função Cognitiva
88,21±18,95
86,92±21,37
90,76±13,20
Qualidade da Interação social
90,60±15,80
88,97±18,18
93,85±9,21
Função Sexual
40,06±48,77
60,09±48,61
0,00±0,00*
Sono
56,86±17,56
58,13±14,92
54,33±22,42
Suporte Social
88,89±23,05
85,90±26,12
94,87±14,25
Estímulo por parte da equipe 86,22±26,25
86,53±24,99
85,58±29,69
de diálise
Satisfação do paciente
82,56±17,39
79,66±17,02
88,37±17,31
*Comparação entre homens e mulheres com p≤0,05 – como os dados não apresentavam distribuição
normal foi aplicado o teste não paramétrico Mann-Whitney (comparação de dois grupos
independentes).
66
No gráfico 1 mostra-se a projeção comparativa dos escores dos homens e mulheres
idosos nos diferentes domínios da QV.
Gráfico 1 – Valores médios das dimensões genéricas e específicas do KDQOL-SFTM em 39 homens e
mulheres idosos em tratamento com hemodiálise, Taguatinga, DF, Brasil, 2014.
A tabela 2 apresenta a influência da idade nas dimensões genéricas e específicas do
KDQOL-SFTM. Observou-se variação significativa nas dimensões gerais nos domínios: saúde
geral, bem-estar emocional e função emocional e nas dimensões específicas nos domínios:
sintomas e problemas, efeitos da doença renal, sobrecarga da doença renal e função cognitiva.
Percebeu-se, por análise comparativa, que os mais idosos apresentaram níveis de escores mais
elevados quando comparados aos menos idosos na maioria dos domínios, exceto na função
cognitiva.
Tabela 2 – Valores médios e desvios padrões das dimensões genéricas e específicas do KDQOL-SFTM
em 39 idosos submetidos a hemodiálise, em diferentes faixas etárias, Taguatinga, DF, Brasil, 2014.
Dimensões
Gerais
Funcionamento Físico
Função Física
Dor
Saúde Geral
Bem-Estar Emocional
60 a 64 anos 65 a 69 anos 70+
(n=14)
(n=10)
(n=15)
p
43,93±28,70
80,36±35,60
73,75±24,29
59,64±23,98
70,29±31,72
0,75
0,84
0,43
0,001*
0,009*
47,10±32,84
70,00±48,30
84,75±26,10
56,00±19,69
74,00±33,80
52,00±32,23
85,00±31,05
78,83±24,24
86,33±15,41
93,87±14,17
67
Função Emocional
0,04*
80,95±21,54
70,00±18,92
91,11±19,79
Função Social
81,25±24,88
66,25±31,76
90,83±24,31
0,07
Energia e Fadiga
66,79±29,26
71,00±27,67
84,33±22,19
0,14
Específicos da Doença Média e DP
Média e DP
Média e DP
Renal
Sintomas e Problemas
0,003*
73,81±10,61
88,75±9,12
83,61±11,35
Efeitos da doença renal
0,001*
56,70±19,02
62,50±21,70
82,50±10,68
Sobrecarga da doença renal
0,03*
34,38±23,09
52,50±37,52
61,67±27,13
Papel Profissional
67,86±31,67
60,00±21,08
76,67±25,82
0,29
Função Cognitiva
0,005*
92,86±19,65
76,00±22,04
92,00±12,65
Qualidade da Interação 90,00±11,32
83,33±26,15
96,00±7,04
0,15
social
Função Sexual
50,00±51,89
38,75±50,16
31,67±46,50
0,46
Sono
56,46±21,30
49,70±11,39
62,00±16,35
0,18
Suporte Social
83,33±28,50
83,33±27,22
97,77±8,61
0,08
Estímulo por parte da equipe 73,21±36,31
87,50±21,24
97,50±7,01
0,07
de diálise
Satisfação do paciente
81,32±18,49
88,91±13,06
79,45±18,77
0,41
*Comparação entre homens e mulheres com p≤0,05 – como os dados não apresentavam distribuição
normal foi aplicado o teste não paramétrico Kruskall-Wallis (comparação entre três grupos
independentes)
A tabela 3 apresenta a influência do tempo de terapia nas dimensões genéricas e
específicas do KDQOL-SFTM. Verificou-se variação significativa nos domínios função
cognitiva e sono, com diferenças de p≤0,05. Notou-se que o tempo de terapia impactou
positivamente na QV nos aspectos: dor, bem-estar emocional, função emocional, função
social, energia e fadiga, função cognitiva, qualidade da interação social e suporte social.
Possivelmente, esses fatores estão diretamente ligados à aceitação da terapia e aos benefícios
do tratamento para manutenção das suas vidas.
Tabela 3 – Valores médios e desvios padrões das dimensões genéricas e específicas do KDQOL-SFTM,
em 39 idosos de acordo com o tempo de hemodiálise, Taguatinga, DF, Brasil, 2014.
Dimensões
(n=39)
1 a 24 meses 25
a
60 61
meses p
(n=17)
meses(n=12)
acima(n=10)
Gerais
Funcionamento Físico
Função Física
Dor
Saúde Geral
Bem-Estar Emocional
Função Emocional
47,84±30,53
79,48±37,11
78,52±24,45
68,97±23,90
80,30±28,43
82,05±21,42
50,64±33,33
73,52±39,99
74,70±27,83
71,17±24,07
73,88±32,49
78,43±23,39
42,91±25,53
87,50±29,19
77,08±25,73
70,83±21,19
81,66±30,10
80,55±22,28
49,00±33,39
80,00±42,16
86,75±15,27
63,00±27,90
89,60±15,91
90,00±16,10
0,80
0,53
0,61
0,70
0,50
0,42
68
Função Social
81,00±27,63
Energia e Fadiga
74,61±26,81
Específicos da Doença Média e DP
Renal
Sintomas e Problemas
81,41±11,96
Efeitos da doença renal 68,10±20,38
Sobrecarga da doença 49,51±30,53
renal
Papel Profissional
69,23±27,18
Função Cognitiva
88,20±18,94
Qualidade da Interação 90,59±15,79
social
Função Sexual
40,06±48,76
Sono
56,85±17,56
Suporte Social
88,88±23,04
Estímulo por parte da 86,21±26,25
equipe de diálise
75,00±33,36
71,47±29,40
Média e DP
81,25±25,28
68,75±27,72
Média e DP
91,25±16,71
87,00±17,98
Média e DP
0,55
0,22
83,82±8,70
67,09±23,87
44,48±35,69
80,20±15,60
72,91±16,11
56,77±27,75
78,75±12,29
64,06±19,27
49,37±24,72
0,65
0,63
0,65
64,70±29,39
87,45±20,39
87,05±21,79
79,16±25,74
80,00±21,08
92,77±9,62
65,00±24,15
99,33±2,10
94,00±7,33
0,32
0,01*
0,97
51,47±50,17
64,36±13,89
89,21±22,00
84,55±26,71
32,29±47,80
50,18±18,98
84,72±31,34
93,75±15,53
30,00±48,30
52,10±18,10
93,33±11,65
80,00±34,96
0,49
0,04*
0,98
0,45
* Diferença significativa – p ≤ 0,05
As questões 2 e 22 do KDQOL-SF™ não são codificadas e computadas, são
consideradas itens adicionais do instrumento.13Assim, a refletir sobre esses itens a questão de
número 2 (escala SF36) avalia a saúde geral atual do paciente comparada ao ano anterior.
Obteve-se como respostas dos pacientes para esse item: 13 (33,3%) consideraram sua saúde
atual ―aproximadamente igual há um ano‖; 5 (12,8%) ―um pouco melhor agora do que há um
ano; 12 (30,8%) ―muito melhor agora do que há um ano‖; 6 (15,4%) ―um pouco pior agora do
que há um ano‖; e 3 (7,7%) ―muito pior agora do que há um ano‖.
A questão de número 22 (escala específica para doença renal), também não foi
computada no cálculo das 19 dimensões do KDQOL-SFTM. É um item que se propõe a avaliar
a saúde em geral, utilizando-se uma escala com variação de 0 a 10. Obteve-se os seguintes
resultados: 5 (12,8%) pacientes consideraram sua saúde no geral no meio termo entre o pior e
o melhor (resposta = valor 5); 24 (61,5%) consideraram-na no intervalo do ―meio-termo entre
o pior e o melhor‖ e ―a melhor possível‖ (variação da resposta entre 6 e 9); 8 (20,5%)
consideraram-na ―a melhor possível‖ (resposta=valor 10); 1 (2,6%) considerou entre ―a pior
possível (tão ruim ou pior do que estar morto) e o ―meio termo entre o pior e o melhor‖
(variação das respostas entre 1 e 4); e 1 (2,6%) a considerou ―a pior possível (tão ruim ou
pior do que estar morto)‖ (resposta= valor 0). Notou-se que a maior parte dos idosos
considerou que o seu estado de saúde geral estava no intervalo do ―meio-termo entre o pior e
o melhor‖ e ―a melhor possível‖ (variação da resposta entre 6 e 9).
69
Discussão
No estudo atual os valores médios dos escores encontrados variaram de 40,54 a 90,60.
As dimensões que apresentaram maiores escores foram: qualidade da interação social (90,60),
suporte social (88,89), função cognitiva (88,21), estímulo por parte da equipe de diálise
(86,22), satisfação do paciente (82,56), função emocional (82,05), sintomas e problemas
(81,41), função social (81,09) e bem-estar emocional (80,31).
Por meio da aplicação do instrumento KDQOL-SFTM, foi possível obter dados quanto
aos aspectos geral e específico relacionados à percepção do idoso nos contextos geral, físico,
emocional e social, e o efeito do tratamento no seu cotidiano.
Não surgiram diferenças significativas na comparação entre homens e mulheres
idosos, sendo que os homens apresentaram médias mais altas nas dimensões: função física,
dor, emocional, social, efeitos e sobrecarga da doença renal, sintomas e problemas, sono,
estímulo por parte da equipe e função sexual. Acredita-se que essa variação no gênero possa
estar diretamente relacionada à predominância do sexo masculino na amostra estudada. O
censo da SBN em 2013(3) mostrou que a população masculina é prevalente no grupo de
pacientes em tratamento dialítico, perfazendo 58% dos pacientes em diálise, corroborando
vários outros estudos (16-18).
Entre os aspectos comparativos de gêneros, chamou-nos atenção o fato de que, quando
questionadas se tiveram atividade sexual nas quatro últimas semanas todas as idosas
responderam que não, isto é, nenhuma mulher teve atividade sexual, enquanto 60% dos
homens referiram ter tido. Como a sexualidade é impregnada de mitos e preconceitos com a
tendência de gerar tabus e contradições, mesmo com os avanços científicos e tecnológicos das
últimas décadas, é um tema que parece não evoluir quando se trata da exposição da
sexualidade dos idosos juntos aos familiares e profissionais que lidam no dia-a-dia com os
mesmos.
Logo sabemos que o organismo durante o passar dos anos se modifica, e a sexualidade
também se transforma. Comparando-se a resposta sexual do jovem e do idoso, esta não é
maior ou menor e, sim, diferente, pois os anos podem até reduzir a força dessa resposta, mas
nunca bloquear o desejo ou anular sua resposta(19). Entretanto, a questão da sexualidade dos
idosos é complexa e carregada de estereótipos, estando constantemente associada à
atratividade, juventude, beleza e potência sexual. Estes aspectos podem contribuir
70
negativamente para a autoestima e para o imaginário do idoso como alguém não interessante.
A forma como o idoso se sente sobre sua imagem envelhecendo, certamente influencia seu
comportamento e sua autoestima. A ansiedade com o processo de envelhecimento pode
destruir os relacionamentos e inibir a expressão sexual, sendo que o amor ao próprio corpo
tem de crescer para sobreviver ao processo de envelhecimento(20). Portanto, essa abordagem
trata-se de ponto fundamental a ser explorado com essa população, uma vez que há muitos
estigmas construídos acerca da sexualidade na velhice, sendo necessário o fortalecimento
dessa desconstrução uma vez que a própria doença poderá agregar valores que inviabilizem
esse processo(21). Ratificando-se a necessidade de trabalhar, com este grupo, em especial as
mulheres que referem não realizar esta atividade, a definição de conceitos entre sexo e
sexualidade, pois por meio de uma visão integral das necessidades básicas do ser humano
poderemos encontrar elementos que otimizem a qualidade de vida.
Dividindo-se a amostra estudada por faixas etárias, idoso jovem (60-64), idoso
mediano (65-69) e idoso muito idoso e avaliando-se a variação dos escores em todas as
dimensões da QV, obtivemos diferença significativa comparando-se homens e mulheres nas
dimensões geral (saúde geral, bem-estar emocional e função emocional) e específicas
(sintomas e problemas, efeitos da doença renal, sobrecarga da doença renal e função
cognitiva), com predomínio da elevação dos escores nos idosos e muito idosos o que leva à
reflexão da capacidade de enfrentamento com o avançar da idade.
Percebeu-se que, apesar dos prejuízos nos domínios físico, social e emocional,
indesejáveis nos indivíduos idosos, estes ainda vêem o tratamento hemodialítico como um
investimento à sua saúde. Assim, diante de uma situação que poderá levá-los à morte, eles
encontram mecanismos para enfrentar o tratamento rigoroso(1).
A percepção dos indivíduos quanto à sua QV pode ter-se alterado devido à cronicidade
da DRC e do seu tratamento, sendo comum a presença do conformismo(22). Logo, a
cronicidade da doença leva à condição de conformismo e aceitação do estado de saúde,
refletindo em avaliações ―fantasiosamente‖ positivas, resiliência(2).
A correlação entre o tempo de diálise e as diversas dimensões da QV, separado por
meses de tratamento em três grupos (de 1 a 24 meses, de 25 a 60 meses e acima de 61 meses),
evidenciou diferença significativa nas dimensões sono e função cognitiva. Nas demais,
observada elevação dos escores em várias dimensões associada ao maior tempo de terapia, o
que leva a refletir que seja uma variável indicativa da aceitação e/ou da acomodação do
71
doente ao tratamento, impactando sobre a capacidade de se adaptar à adversidade, ou seja,
sobre a resiliência, que é definida por um conjunto processos sociais e intrapsíquicos que
favorecem o desenvolvimento saudável da pessoa, mesmo esta vivenciando experiências
desfavoráveis(23).
Entretanto, é possível notar que a depender da idade, do gênero e do tempo de terapia,
surgiram escores predominantemente reduzidos, que levam a prejuízo na QV dos idosos
submetidos à hemodiálise, estando entre eles: função sexual, com escore 40,54,
funcionamento físico, com 47,85; sobrecarga da doença renal, com 49,52; e sono, com 56,86.
Esses são pontos de alta relevância, pois o paciente com DRC sofre alterações da vida diária
em virtude da necessidade de realizar o tratamento, necessitando do suporte formal de atenção
à saúde, isto é, vivendo dependente da equipe de saúde, da máquina e do suporte informal
para ter o cuidado necessário(24).
Portanto, a hemodiálise afeta não só os aspectos físicos, como também os psicológicos
e sociais, com repercussão na vida pessoal e familiar dos pacientes idosos. É fundamental a
adaptação familiar a esse tratamento, exigindo compromisso e dedicação tanto dos pacientes
quanto de seus familiares. As alterações surgidas tendem a aumentar com a evolução da
doença, levando a modificações na dinâmica familiar, com a introdução de novas rotinas,
como: realização das sessões de hemodiálise, utilização de medicamentos, deslocamento para
a unidade de diálise e alimentação com restrições, entre outras. Por isso, tanto os pacientes
quanto seus familiares frequentemente desencadeiam processos de ansiedade, cansaço e
estresse, alterando sua QV(2).
Nota-se, neste estudo, que a maioria dos idosos teve uma percepção positiva do
tratamento, principalmente quando comparada sua saúde com há de um ano, na qual a maior
parte refere estar igual ou muito melhor. Foi possível inferir que os idosos aceitam o
tratamento e com isso administram bem suas relações sociais e emocionais, amparados por
rede de apoio composta por familiares e amigos, com escores elevados.
Os resultados apresentados nesta amostra apresentaram semelhanças em diversas
dimensões e consonância com outro estudo(2) na qual foi avaliado a QV de idosos submetidos
à hemodiálise e evidenciado que os idosos apresentaram QV baixa, com variações de acordo
com o domínio pesquisado, sendo o escore mais prejudicado o domínio físico, por tratar-se de
indivíduos idosos com doença crônica e irreversível. Em contrapartida, o domínio social
72
apresentou boas relações, principalmente no quesito familiar. Destaca-se também, uma boa
percepção individual da QV.
Pacientes que dependem de recursos com alta tecnologia para manutenção da vida têm
o seu dia a dia modificado, em função das necessidades de adaptação, apresentando,
limitações e gerando perdas e mudanças biopsicossociais que interferem em sua QV, tais
como: perda do emprego, alterações da autoimagem corporal, restrições dietéticas e
hídricas(5). Nesse domínio, obtivemos o escore 68,11, que caracteriza os efeitos da doença
renal e reflete sobre as interferências da doença no cotidiano desses pacientes. Dentre os itens
neste aspecto que os incomodam extremamente, está a capacidade de viajar, que muitos
referiram ser muito ruim, pois quando têm essa necessidade, grande é a dificuldade, pois só
podem fazer tal deslocamento se conseguirem vaga para dialisar na cidade destino. Outro
ponto, que os incomoda extremamente é a restrição hídrica. Por outro lado, observou-se que
alguns elementos parecem não incomodá-los, como: depender da equipe de diálise, restrição
alimentar, capacidade de trabalhar (porque a maioria é aposentada), preocupações causadas
pela doença, aparência pessoal e vida sexual.
A equipe de saúde desempenha papel fundamental no conceito de adesão à terapia
proposta, sendo a base de apoio ao indivíduo dentro da unidade de diálise. Identificamos
elevados escores nas dimensões: estímulo por parte da equipe de diálise, com escore 86,22; e
satisfação do paciente, com 82,56. Evidenciou-se a satisfação do idoso quanto à amizade e
interesse demonstrado a ele, bem como o incentivo à independência e a lidar melhor com a
doença. Estes dados denotam a responsabilidade da equipe no amparo profissional e social
aos indivíduos em terapia hemodialítica, dando ênfase à importância de uma equipe
multiprofissional.
Diante do contexto, percebe-se a importância da avaliação da QV, planejando medidas
que visem otimizar o cotidiano desta população que requer cuidados especiais, objetivando
minimizar os danos e favorecendo um velhice digna. Essa busca origina-se a partir da
constatação de que alcançar um estado de bem-estar físico e mental é possível, resultando na
recuperação da autonomia, das atividades de trabalho e lazer, da preservação da esperança e
do senso de utilidade destes indivíduos, pois o tratamento hemodialítico é responsável por um
cotidiano monótono e restrito, e as atividades desses indivíduos são limitadas após o início do
tratamento, favorecendo o sedentarismo e a deficiência funcional, fatores que refletem na
piora da QV(5).
73
É cada vez mais necessário que os profissionais de saúde identifiquem as
necessidades, bem como as fragilidades desta população, uma vez que é crescente o número
de idosos submetidos a tratamento dialítico. Sendo assim, é vital a ampliação de fatores que
otimizem a QV desses idosos, por tratar-se de situação elementar para eles. Vale salientar que
é essencial, aos profissionais de saúde e familiares envolvidos neste processo, contribuir para
manter boa saúde e readequação das ações terapêuticas, a partir da compreensão da vida
habitual do idoso com DRCT, no sentido de contribuir na promoção de seu bem-estar geral e
de uma longevidade com qualidade.
Considerações Finais
Por meio do instrumento utilizado, identificaram-se pontos relevantes no cotidiano de
idosos submetidos à hemodiálise. Concluiu-se que a QV desses idosos na CDRT –
Taguatinga/DF apresenta, em média, altos escores nas dimensões genéricas e específicas
avaliadas.
Neste estudo, percebeu-se que os idosos em tratamento hemodialítico, apesar das
limitações diárias do tratamento, procuraram manter um nível de excelência em sua interação
social, mostrando elevados escores. Entretanto, a QV desses idosos ficou prejudicada em
domínios específicos que não estão agregados apenas à instalação de uma doença crônica, e
sim somados à senilidade. Dessa maneira, é fundamentalmente necessário que os profissionais
de saúde que atendem essa clientela mantenham-se vigis em suas ações, a fim de minimizar
os danos e reduzir as complicações.
Ressalta-se a necessidade de outros estudos que contribuam para contextualizar a
discussão da temática no cenário nacional. Por meio da pesquisa atual, pretende-se contribuir
com a população acadêmica, bem como diretamente com os profissionais da área de saúde,
em especial da enfermagem que prestam cuidados a esses indivíduos, ampliando seu olhar por
meio da reconstrução de conceitos e agregação de conhecimentos científicos. Com isto, será
possível a reestruturação da assistência, por meio de uma atenção sistematizada que favoreça
um olhar integral ao idoso, por meio, não só, da relação patológica-terapêutica, mas da interrelação biopsicosociocultural. Esta ação tem o intuito de minimizar os danos a esses
indivíduos acometidos por uma doença crônica e que necessitam de uma terapêutica eficiente,
melhorando sua QV.
74
Referências
1. Pilger C, Rampari EM, Waidman MAP, Carreira L. HD: seu significado e impacto
para a vida do idoso. Rev Esc. Anna Nery [online]. 2010; 14 (4):677-683.
2. Takemoto AY, Okubo P, Bedendo J, Carreira L. Avaliação da QV em idosos submetidos ao
tratamento hemodialítico. Rev. Gaúcha Enferm. 2011, jun; 32(2): 256-262.
3. Sociedade Brasileira de Nefrologia. Censo 2013. São Paulo (SP); 2014. Disponível em:
http://www.sbn.org.br
4. Trentini M, Silva DGV, Leimann AH. Mudanças no estilo de vida enfrentadas por pacientes
em condições crônicas de saúde. Rev. Gaúcha Enferm. 1990; 11(1): 18-28.
5. Martins MRI, Cesarino CB. QV de pessoas com doença renal crônica em tratamento
hemodialítico. Rev Latino-americana de Enfer. 2005, set/out; 13(5): 670-676.
6. Who (World Health Organization). Constitution of the World Health Organization. Basic
documents. WHO. Genebra, 1946.
7. The Whoqol Group. The world Health Organization quality of life assessment (WHOQOL):
position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine. 1995;
10:1403-1409.
8. Fleck MPA. et al. A avaliação de qualidade de vida – guia para profissionais da saúde. Porto
Alegre: Artmed; 2008.
9. Farquhar M. Definitions of quality of life: a taxomy. Journal of Advanced Nursing. 1995;
22(3): 502-508.Souza FF, Cintra FA, Gallani MCBJ. QV e severidade da doença em idosos
renais crônicos. Rev. Bras Enferm. 2005, set-out; 58(5): 540-544.
10. Meirelles BHS, Arruda C, Simon E, Vieira FMA, Cortezi MDV, Natividade MSL. Condições
associadas com à qualidade de vida dos idosos com doenças crônicas. Cogitare Enferm. 2010;
15(3): 433-440.
11. Celich KLS, Spadari G. Estilo de vida e saúde: condicionantes de um envelhecimento
saudável. Cogitare Enferm. 2008, jan/mar; 13(2): 252-260.
12. Sampieri RH, Collado CF, Lucio MDPB. Metodologia de pesquisa. Penso: 2013.
13. Duarte PS, Miyazaki MCOS, Ciconelli RM, Sesso R.— Tradução e adaptação cultural do
instrumento de avaliação de qualidade de vida para pacientes renais crônicos (KDQOL-SF™).
Revista da Associação Médica Brasileira. 2003; 49(4): 375-381.
14. Hays RD, Kallich JD, Mapes DL, Coons SJ, Amin N, Carter WB, et al. Kidney disease quality
of life short form (KDQOL-SFTM), version 1.3: a manual for use and scoring. Santa Monica:
Rand, p.7994; 1997. 39p.
15. Santos GD, Castilho MS, Viso BF, Carreira GF, Queiroz MIP, Mello TRC et al.
Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise na cidade de Mogi das Cruzes. Diagn
Tratamento. 2014; 19(1): 3-9.
16. Romão Junior JE. Doença renal crônica: definição, epidemiologia e classificação. J Bras
Nefrol. 2004;26:1-3.
75
17. Castro M, Caiuby AVS, Draibe AS, Canzian MEF. Qualidade de vida de pacientes com
insuficiência renal crônica em hemodiálise avaliada através do instrumento genérico SF-36.
Rev. Associação Med. Brasileira. 2003; 49(3): 245-249.
18. Abreu IS. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em hemodiálise no município de
Guarapuava – PR [Dissertação de Mestrado]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2005.
19. Pelegrini JO. Alterações na sexualidade da mulher no climatério. Revista Brasileira de
Sexualidade Humana. 1999, jan./jun; 10(1).
20. Freedman R. Meu corpo...meu espelho: aprendendo a conviver com seu corpo, a aceitar seu
visual e a gostar cada vez mais de você. Rosa dos Tempos, 1994.
21. Erbolato RMPL. Relações Sociais na Velhice. In: Freitas EV, Py L, Cançado F, Doll J,
Gorzoni ML. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, 2006,1324-1330.
22. Kusumoto L, Marques S, Haas VJ, Rodrigues RAP. Adultos e idosos em HD: avaliação da
QV relacionada à saúde. Acta Paul Enferm. 2008; 21(Esp): 152-159.
23. Pinheiro DPN. A resiliência em discussão. Psicologia em Estudo. 2004; 9(1): 67-75.
24. Ribeiro RCHM. A condição do idoso com insuficiência renal crônica. [Dissertação]. Ribeirão
Preto (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP; 2000.
25. Antunes M, Corso D, Brock F, Fortes VLF, Bettinelli LA, Pomatti DM. Quando uma máquina
mantém a vida: o itinerário do idoso renal crônico em hemodiálise. Revista contexto & saúde.
2011, jan-jun; 10(20): 1283-1286.
76
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU IS. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em hemodiálise no município de
Guarapuava – PR [Dissertação de Mestrado]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 2005.
ANTUNES, Michele et al. Quando uma máquina mantém a vida: o itinerário do idoso renal crônico
em hemodiálise. Revista contexto & saúde. Ed. UNIJUÍ, v. 10, n. 20, p. 1283-1286, jan-jun. 2011.
BARROS, Elvino at el. Nefrologia: rotinas, diagnósticos e tratamento. 3ª ed. Porto Alegre (RS):
Artmed, 2006.
BASTOS, Rosângela Alves et al. Adaptação fisiológica de idosos em tratamento hemodialítico: uma
análise à luz do modelo de Roy. Revista de Enfermagem UFPE [online]. abr. 2014. [Acesso em 02
de
abril
de
2014].
Recife,
v.8,
n.
4,
p.
834-841.
Disponível
em:
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/4743/pdf_4842.
BASTOS, Rita Maria Rodrigues et al. Prevalência da doença renal crônica nos estágios 3, 4 e 5 em
adultos. Rev associação méd bras [Internet]. 2009 [acesso em 20 de março de 2014]; v.55, n.1, p.4044. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ramb/v55n1/v55n1a13.pdf
BRANDEN, N. Autoestima no trabalho: como pessoas confiantes e motivadas constroem
organizações de alto desempenho. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 141p.
BRAGA, Sonia F. M et al. Fatores associados com a qualidade de vida relacionada à saúde de idosos
em hemodiálise. Rev Saúde Pública.; v.45, n.6, p.1127-1136, 2011.
BERTOLIN, Daniela Comelis et al. Associação entre os modos de enfrentamento e as variáveis
sociodemográficas de pessoas em hemodiálise crônica. Revista Esc Enfermagem USP, v.45, n.5,
p.1070-1076, 2011.
BESARAB, Anatole; RAJA, Rasib M. Acesso vascular para hemodiálise. In. DAURGIDAS, John T.;
BLAKE, Peter G.; ING, Todd S. Manual de diálise. 3ªed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003, p. 68-102,
cap. 4.
BRASIL, Ministério da Saúde. Diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal
crônica – DRC no sistema único de saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Especializada e Temática. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. Envelhecimento ativo: uma política de saúde.
Brasília-DF, 2005.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466, de 12 de dezembro de
2012 diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n° 10.741. Estatuto do Idoso, 2003. Disponível em:
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2003/10741.htm>Acesso em: 18 de fevereiro de
2014.
CABRAL, Luzivânia C. et al. A percepção dos pacientes hemodialíticos frente à fístula arteriovenosa.
Revista Interdisciplinar, v.6, n.2, p.15-25, abr-jun. 2013.
CAMPOS, Claudinei J. Gomes; TURATO, Egberto Ribeiro. Tratamento hemodialítico sob a ótica do
doente renal: estudo clínico qualitativo. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, v.63, n.5, p.
799-805, set-out, 2010.
77
CARPENITO, Lynda Juall. Manual de diagnósticos de enfermagem. 9ªed. Porto Alegre: Artmed,
2003.
CARREIRA, Ligia; MARCON, Sonia Silva. Cotidiano e trabalho: concepções de indivíduos
portadores de insuficiência renal crônica e seus familiares. Rev Latino-Am. Enfermagem [periódico
na Internet]. 2003 Dez [acesso em 18 de janeiro de 2014], v. 11, n. 6, p. 823-831.
Disponível:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692003000600018&lng=
pt. doi: 10.1590/S0104-11692003000600018.
CASTRO, Mônica de Castro et al. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em
hemodiálise avaliada através do instrumento genérico SF-36. Rev. Associação Med. Brasileira, v. 49,
n. 3, p. 245-249, 2003.
CELICH, Kátia Lilian Sedrez; SPADARI, Gessiel. Estilo de vida e saúde: condicionantes de um
envelhecimento saudável. Cogitare Enferm, v.13, n.2, p.252-260, jan/mar. 2008.
CIRILLO, M; ANASTASIO P; DE SANTO, N.G. Relationship of gender, age, and body mass index
to erros in predicted kidney function. Nephrol Dial Transplant, n.20, p. 1791-1798, 2005. Disponível
em: http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfh962.
CLARKSON, Michael R.; BRENNER, Barry M. O rim: Brenner & Rector: referência rápida. 7ª ed.
Porto Alegre: Artmed, 2007.
COCKCROFT, D.W; GAULT, M.H. Prediction of creatinine clearance from sérum creatinine.
Nephron, v.16, p.31-41,1976. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1159/000180580
DINIZ, D.P. Aspectos psicológicos envolvidos nos pacientes com patologias renais. In: BARROS,
Elvino et al. Nefrologia: rotinas, diagnósticos e tratamento. 3ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2006,
cap. 39.
DUARTE, Priscila Silveira et al.— Tradução e adaptação cultural do instrumento de avaliação de
qualidade de vida para pacientes renais crônicos (KDQOL-SF™). Revista da Associação Médica
Brasileira, v.49, n.4, p 375-381, 2003.
ERBOLATO, Regina M. P. L. Relações Sociais na Velhice. In: FREITAS, Elizabete V.; PY, Ligia;
CANÇADO, Flávio A. X.; DOLL, Johannes; GORZONI, Milton L. Tratado de Geriatria e
Gerontologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2006, p. 1324 – 1330.
FARQUHAR, M. Definitions of quality of life: a taxomy. Journal of Advanced Nursing, v. 22, n. 3,
p. 502-508, 1995.
FECHINE Basílio Rommel Almeida, TROMPIERI Nicolino. O processo de envelhecimento: as
principais alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos. InterSciencePlace [Internet].
Jan-mar. 2012 [acesso em 03 de abril de 2014]; v.1, n.20, p.106-132. Disponível em:
http://www.interscienceplace.org/interscienceplace/article/viewFile/382/268
FERMI, Márcia Regina Valente. Diálise para enfermagem: guia prático. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2010.
FLECK, M.P. et al. A avaliação de qualidade de vida – guia para profissionais da saúde. Porto
Alegre: Artmed; 2008.
FRANCO, Marcia R. G; FERNANDES, Natália M. da Silva. Diálise no paciente idoso: um desafio do
século XXI - revisão narrativa. Jornal Brasileiro de Nefrologia. [online], v.35, n.2, p. 132-141, 2013.
78
FREEDMAN, Rita. Meu corpo...meu espelho: aprendendo a conviver com seu corpo, a aceitar seu
visual e a gostar cada vez mais de você. Rosa dos Tempos, 1994.
FORBES, M.A. Hope in the older adult with chronic illness: a comparison of two research methods in
theory building. Adv. Nurs. Sci. v.22, n 2, p.74-87, 1999.
FURTADO, Angelina Monteiro; LIMA, Francisca Elisângela Teixeira. Conhecimento dos clientes em
tratamento de hemodiálise sobre a fístula arteriovenosa. Rev. RENE. Fortaleza, v. 7, n. 3, p.15-25,
set-dez.2006.
GOUVEIA, Valdiney V; SINGELIS, Theodore; COELHO, Jorge Artur P. de Miranda. Escala de
autoimagem: comprovação da sua estrutura fatorial. Revista de avaliação psicológica. Porto Alegre,
v.1, n.1, p.49-59, 2002.
HAYS, RD et al. Kidney disease quality of life short form (KDQOL-SFTM), version 1.3: a manual
for use and scoring. Santa Monica: RAND, P-7994; 1997. 39p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) [homepage na internet].
Estimativa de população [acesso em 10 de março de 2014]. Disponível em: http//www.ibge.gov.br.
K/DOQI Clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evoluation, classification and
stratification. American Journal Kidney Diasease, v. 39, n.1, p.1-266, 2002.
KOEPE, Giselle Barcellos; ARAÚJO, Sílvia T. Carvalho de. A percepção do cliente em hemodiálise
frente à fístula artério-venosa em seu corpo. Acta Paulista de Enfermagem, v. 21, n. especial, p.147151, 2008.
KUSUMOTA, Luciana; OLIVEIRA, Marília Pilloto; MARQUES, Sueli. O idoso em diálise. Acta
Paulista de Enfermagem. São Paulo, v. 22, n. especial, p. 546-550, 2009.
KUSUMOTA, Luciana; RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani; MARQUES, Sueli. Idosos com
insuficiência renal crônica: alterações do estado de saúde. Revista Latino-americana Enfermagem,
v. 12, n.3, p. 525-532, maio-jun. 2004.
KUSUMOTO, Luciana et al. Adultos e idosos em hemodiálise: avaliação da qualidade de vida
relacionada à saúde. Acta Paul Enferm, v. 21(Esp), p.152-159, 2008.
LENARDT, Maria H. et al. O idoso portador de nefropatia diabética e o cuidado de si. Texto contexto
Enferm. [periódico na Internet]. abr-jun. 2008 [acesso 10 de março de 2014]; v.17, n.2. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n2/13.pdf
LEVEY, A. S. et al. CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new
equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Inter Med, n. 150, p. 604-612, 2009. Disponível
em: http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006
LIMA, Antônio F. Costa; GUALDA, Dulce M. Rosa. História oral de vida: buscando o significado da
hemodiálise para o paciente renal crônico. Revista Esc Enfermagem USP, v.35, n.3, p.235-241, jun.
2001.
LOURENÇO, R.A; LINS, RG. Saúde do Homem: aspectos demográficos e epidemiológicos do
envelhecimento masculino. Rev.HUPE [online] .2010 [acesso em 12 de março de 2014]; v. 12, n. 9,
2009. Disponível em: http://revista.hupe.uerj/default.asp?ed=48
79
MACHADO, Leise Rodrigues Carrijo; CAR, Márcia Regina. A dialética da vida cotidiana de doentes
com insuficiência renal crônica: o inevitável e o casual. Revista Esc Enfermagem USP, v.37, n.3,
p.27-35, 2003.
MADEIRO, Cláudio Antônio et al. Adesão de portadores de insuficiência renal crônica ao tratamento
de hemodiálise. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo, v. 23, n. 4, p. 546-551, 2010.
MARTINS, Luciana Mendes; FRANÇA, Ana Paula Dias; KIMURA, Miako. Qualidade de vida de
pessoas com doença crônica. Rev Latino-am enfermagem, Ribeirão Preto, v. 4, n. 3, p. 5-18, dez.
1996.
MARTINS, Marielza R. Ismael; CESARINO, Cláudia Bernardi. Qualidade de vida de pessoas com
doença renal crônica em tratamento hemodialítico. Rev Latino-americana de Enfermagem, v.13,
n.5, p.670-676, set/out. 2005.
MAZO, Giovana Zarpellon; CARDOSO, Fernando Luiz; AGUIAR, Daniela Lima de. Programa de
hidroginástica para idosos: motivação, auto-estima e auto-imagem. Revista Brasileira de
Cineantropometria &Desempenho Humano, v. 8, n. 6, p. 67-72, 2006.
MEIRELLES, Betina Horner S et al. Condições associadas com à qualidade de vida dos idosos com
doenças crônicas. Cogitare Enferm, v.15 n. 3, p.433-440, 2010
MOREIRA, Ricardo Wagner da Costa et al. Correção cirúrgica de aneurismas saculares de fístula
arteriovenosa para hemodiálise utilizando a técnica de aneurismorrafia. J Vasc Bras, v. 10, n. 2, 2011.
MOSQUERA, Juan. Psicodinâmica do Aprender. Porto Alegre: Sulina; 1984.
MOSQUERA, Juan José Mouriño; STOBÄUS, Claus Dieter. Auto-imagem, auto-estima e autorealização: qualidade de vida na universidade. Psicologia, saúde & doenças. Porto Alegre, v. 7, n.1,
p. 83-88, 2006.
NASCIMENTO, CD; MARQUES, IR. Intervenções de enfermagem nas complicações mais
frequentes durante a sessão de hemodiálise: revisão da literatura. Rev Bras. Enferm. Brasília, v. 58,
n. 6, p.719-722, 2005.
OLIVEIRA, Débora R; LENARDT, Maria Helena; TUOTO, Fernanda Spiel. O idoso e o sistema de
cuidado à saúde na doença renal. Acta Paul Enf, São Paulo, v. 16, n.4, p. 49-58, 2003.
OLIVEIRA, Silvania Geremias de; MARQUES, Isaac Rosa. Sentimentos do paciente portador de
doença renal crônica sobre a autoimagem. Rev. Enfermagem UNISA, v.12, n.1, p.38-42, 2011.
OLIVEIRA, MB; ROMÃO, JE Júnior; ZATZ R. End-stage renal disease in Brazil: epidemiolgy,
prevention, and treatment. Kidney Int Suppl. n.97, p. 82-86, 2005
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE [homepage na internet]. Dados estatísticos [acesso em 23
de março de 2014]. Disponível em: http//www.who.int/bra/es
ORLANDI, Fabiana de S. et al. Avaliação do nível de esperança de idosos renais crônicos em
hemodiálise. Revista Esc Enfermagem USP, v.46, n.4, p.900-905, 2012.
PASCHOAL, Sérgio M.P. Qualidade de vida na velhice. In. FREITAS, Elizabete Viana de et. al.
Tratado de Gerontologia e Geriatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007, p. 147-153.
PELEGRINI, Júnior O. Alterações na sexualidade da mulher no climatério. Revista Brasileira de
Sexualidade Humana, v.10, n.1, 1999.
80
PILGER, Calíope et al. Hemodiálise: seu significado e impacto para a vida do idoso. Esc. Anna
Nery [online], v.14, n.4, p. 677-683, 2010.
PINHEIRO, Débora Patrícia Nemer. A resiliência em discussão. Psicologia em Estudo, v.9, n.1, p.6775, 2004.
PIRES, Ariovaldo José. Doença renal. In. FREITAS, Elizabete Viana de et. al. Tratado de
Gerontologia e Geriatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, p. 765-775.
RABELO, D. F.; CARDOSO, C. M. Auto- eficácia, doença crônica e incapacidade funcional na
velhice. Psico- USF, v.12, n.1, p. 75-81, jan/jun, 2007.
RAMOS, Islane Costa et al. Portador de insuficiência renal crônica em hemodiálise: significados da
experiência vivida na implementação do cuidado da experiência vivida na implementação do cuidado.
Acta scientiarum. Health sciences. Maringá, v. 30, n. 1, p. 73-79, 2008.
RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de nefrologia e distúrbio hidroeletrolítico. 4ªed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
RIBEIRO RCHM. A condição do idoso com insuficiência renal crônica. [Dissertação]. Ribeirão
Preto (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP; 2000.
RODRIGUES, Tatiana Aparecida; BOTTI, Nadja Cristiane Lappann. Cuidar e o ser cuidado na
hemodiálise. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo, v. 22, n. especial, p. 528-530, 2009.
ROMÃO, Junior JE. Doença renal crônica: definição, epidemiologia e classificação. J Bras Nefrol,
v.26, p.1-3, 2004.
SAMPIERI, R.H; COLLADO, C.F.; LUCIO, M.D.P.B. Metodologia de pesquisa. Penso: 2013.
SANTOS, Iraci dos; ROCHA, Renata de Paula Faria; BERARDINELLI, Lina Márcia Miguéis.
Qualidade de vida de clientes em hemodiálise e necessidades de orientação de enfermagem para o
autocuidado. Rev Esc. Anna Nery, v. 15, n. 1, p. 31-38, 2011.
SANTOS, Gabriel Domingues dos, et al. Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise na cidade de
Mogi das Cruzes. Diagn Tratamento, v.19, n.1, p.3-9, 2014.
SANTOS, Paulo Roberto. Relação do sexo e da idade com o nível de qualidade de vida em renais
hemodialisados. Rev. Associação Med. Brasileira, v. 52, n. 5, p. 356-359, 2006.
SILVA, Alessandra S. da et al. Percepções e mudanças na qualidade de vida de pacientes submetidos à
hemodiálise. Revista Brasileira de Enfermagem, v.64, n.5, p.839-844, 2011.
SILVA, Denise M.G.V. da et al. Qualidade de vida de pessoas com insuficiência renal crônica em
tratamento hemodialítico. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, v.55, n.5, p. 562-567, set-out,
2002.
SILVEIRA, Nadia D. Ruiz; CANINEU, Paulo Renato; REIS, Adriana Araújo. Vivências e
aprendizagens do paciente idoso na rotina da hemodiálise. Revista Kairós Gerontologia. São Paulo,
v.14, n.2, p.95-110, jun. 2011.
SMELTZER Suzanne C, BARE, Brenda G. BRUNNER & SUDDARTH: Tratado de enfermagem
médico-cirúrgica. 9ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. v.3.
81
Sociedade Brasileira de Nefrologia. Censo 2013. São Paulo (SP); 2013. Disponível em:
http://www.sbn.org.br
SOUZA, Fabiana F. de; CINTRA, Fernanda A.; GALLANI, Maria Cecília B. J. Qualidade de vida e
severidade da doença em idosos renais crônicos. Rev. Bras Enfermagem, v.58, n.5, p.540-544, setout, 2005.
SPINOLA, Thaise Dias; GONÇALVES, Virginia M. da Silva. Percepção de pacientes com
insuficiência renal crônica quanto à interferência da fístula arteriovenosa em seu cotidiano. Revista
Enfermagem Integrada. Ipatinga: Unileste, v.5, n.2, p. 977-986, nov-dez. 2012.
STORCH, Jalusa Andréia et al. Análise do limiar de autoestima e autoimagem em idosos com
deficiência asilados praticantes de atividade física. Revista Géfyra. São Miguel do Iguaçu, v.1, n.1,
p.73-80, jan./jun.2012.
TAKEMOTO, Angélica Y et al. Avaliação da qualidade de vida em idosos submetidos ao tratamento
hemodialítico. Rev. Gaúcha Enferm. Porto Alegre, v.32, n. 2, p.256-262, jun. 2011.
TERRA, Fábio de Souza; COSTA, Ana Maria Duarte Dias. Avaliação da qualidade de vida de
pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise. Rev. Enfermagem UERJ. 2007; v.15, p.430436.
THE WHOQOL GROUP. The world health organization quality of life assessment (WHOQOL):
position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, v.10, p. 1403-1409,
1995.
TRENTINI, Mercedes: SILVA, Denise Guerreiro V. da; LEIMANN, Arthur Henrique. Mudanças no
estilo de vida enfrentadas por pacientes em condições crônicas de saúde. Rev. Gauchá. Enfermagem,
Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 18-28, 1990.
TURRA, K. et. al. As repercussões da doença cardiovascular na qualidade de vida de adultos: relato de
experiência. Cogitare Enferm.,v.6, n.1, p.32-36, 2001.
VERAS, Renato. Envelhecimento humano: ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. In
FREITAS, Elizabete Viana de et. al. Tratado de Gerontologia e Geriatria. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
WIGGINS, J. Why do we need a geriatric nephrology curriculum? Geriatric nephrology
curriculum [periódico na internet], 2009 [acesso em 16 janeiro de 2014]. Disponível em:
http//www.asn-online.org/education/distancelearning/curricula/geriatrics
WHO (World Health Organization). Constitution of the World Health Organization. Basic
documents. WHO. Genebra, 1946.
ZHAN, Lin. Quality of life: conceptual and measurement issues. Journal of Advanced Nursing, v.
17, n. 7, p. 795-800, jul.1992.
82
APÊNDICE A AUTORIZAÇÃO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE
TAGUATINGA
83
APÊNDICE B TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: Relação entre autoimagem e
qualidade de vida de idosos com FAV submetidos a hemodiálise sob responsabilidade da Prof. Dra.
Lucy Gomes Vianna e aluna Fabrícia Silvino Machado.
O objetivo desta pesquisa é: avaliar a relação entre autoimagem e qualidade de vida em idosos
com fístula arterio-venosa submetidos à hemodiálise. Esta pesquisa justifica-se por existirem poucas
publicações sobre esta temática no contexto nacional e internacional.
O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa e
lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo através da omissão
total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). O(A) senhor (a) pode se recusar a
responder a qualquer questão (no caso da aplicação de um questionário) que lhe traga
constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum
prejuízo para o(a) senhor(a).
A sua participação será da seguinte forma. Inicialmente, é necessário que você assine este
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), responda a um questionário de informações
sociodemográficas, um questionário sobre autoimagem e um questionário sobre Qualidade de Vida.
As entrevistas serão gravadas, para posterior transcrição dos dados. O tempo estimado para sua
realização será de cerca de uma hora.
Os resultados da pesquisa serão divulgados na Instituição- Universidade Católica de Brasília
(UCB), podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão
sob a guarda do pesquisador principal.
Este projeto trará os seguintes benefícios. Na produção científica, dados que contribuam para
que os profissionais da área de saúde prestem assistência à população idosa, identificando a relação
entre autoimagem e qualidade de vida nos idosos com FAV submetidos à hemodiálise. Assim,
propiciará subsídios à equipe para que esta redimensione adequadamente os cuidados prestados a esses
pacientes. Durante a aplicação dos questionários, poderá surgir leve fadiga em função do número de
perguntas, o que será minimizado ofertando-se aos idosos tempo de pausa entre os questionários.
Ocasionalmente, poderá ocorrer certo constrangimento quanto às perguntas feitas. Os idosos, neste
caso, poderão se negar a respondê-las. Buscando uma maior privacidade, os idosos serão entrevistados
em um sala, exclusivamente pela pesquisadora. Será assegurada a proteção, a confidencialidade e a
privacidade dos voluntários. Caso não se sintam à vontade, poderão deixar de responder a qualquer
questão. Casos necessários serão encaminhados para suporte psicológico na própria unidade.
Se o (a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Prof.
Dra. Lucy Gomes Vianna, na instituição- UCB telefone: 3448-7228 no horário: de 8h as 12h.
Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UCB, número do protocolo
________. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem
ser obtidos também pelo telefone: (61) 3356-9784.
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a
outra com o voluntário da pesquisa.
______________________________________________
Nome / assinatura
____________________________________________
Pesquisadora Responsável
Nome e assinatura
Brasília, ___ de __________de _________
84
APÊNDICE C QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO
Paciente nº: _______
1. Sexo:
( ) Feminino
( ) Masculino
2. Cor:
( ) Branca
( ) Parda
( ) Negra
3. Data de nascimento:_____/______/_____
Idade:________
4. Estado civil atual:
( ) Solteiro(a) (nunca casou)
( ) Casado(a) ou com companheiro(a)
( ) Separado(a)/Divorciado(a)
( ) Viúvo(a)
( ) Outro. Qual?_____________________________
5. Quantos anos de escolaridade? ____________ anos
( ) Sem instrução, menos de 1 ano
( ) Graduação
( ) Pós-graduação
( ) Outros:__________________________
6. Qual é a sua profissão? ______________________________________________
7. Qual a sua ocupação atual:
( ) Aposentado (a)
( ) Pensionista
( ) Dona de casa ( ) Outro: _________________
8. Renda familiar mensal? (salário mínimo -SM- vigente R$ 724,00)
( ) 1 a 3 SM
( ) 4 a 6 SM
( ) 7 a 10 SM
( ) 11 a 12 SM
( ) superior a 13 SM
9. Qual a “cidade-satélite” que você reside? _________________________
10. Residência?
( ) Própria
( ) Alugada
( ) Outros:_____________________________
11. Quantas pessoas moram com você no mesmo domicílio?__________________
12. Qual sua religião?
( ) Católico(a)
( ) Evangélico(a)
( ) Espírita
( ) Outros:_____________
13. Você é ativo na sua religião? ( ) Sim ( ) Não
14. Meio de transporte utilizado: de casa para unidade de diálise e vice-versa?
( )Transporte público (ônibus, metro)
( )Transporte privado (carro particular ou transporte fornecido pela unidade de diálise)
( )Transporte público oferecido pelo serviço de saúde (SUS)
15. Você sabe o que causou a sua Doença Renal Crônica Terminal?
( ) Sim ( ) Não
Qual o motivo? ( ) Hipertensão Arterial ( ) Diabetes Mellitus
( ) Glomerulonefrites ( ) Doença cística renal ( ) Outras.
85
APÊNDICE D QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AUTOIMAGEM
QUESTIONÁRIO FÍSTULA ARTÉRIOVENOSA (FAV) E AUTOIMAGEM
Paciente nº: ____
1) Há quanto tempo você faz hemodiálise?
_____anos, _____meses
2) Quantas sessões de hemodiálise você faz por semana? ___________
3) Informações sobre a FAV:
a) Há quanto tempo você faz o tratamento por meio da FAV?
_____anos, _____meses
b) É a sua primeira FAV?
( ) Sim
( )Não
Se a resposta for negativa, quantas FAV (s) você já teve? Total:_________.
Localização da FAV atual? __________________
c) Você já teve alguma complicação com a sua FAV?
( ) Sim
( ) Não
Se a resposta for positiva, qual foi? __________________________________________
4) Você utiliza em suas vestimentas diárias alguma forma para não mostrar sua
FAV para outras pessoas?
( ) Sim
( ) Não
Qual? ___________________________________________________________________
5) Você já deixou de participar de algum evento social (religioso, confraternização
familiar, viagem) por causa da FAV?
( ) Sim
( ) Não
6) Você se incomoda quando alguma pessoa vê a FAV e faz comentários ou
perguntas sobre ela?
( ) Sim
( ) Não
Qual comentário ou pergunta já foi feita?____________________________________
Orientação: A escala Likert permite identificar níveis de opinião.
Dessa forma, a partir da questão 7 até a questão 10 você deverá escolher um número de 1 a 5,
com a seguinte equivalência:
1- Discordo totalmente/ 2- Discordo / 3- Indiferente/ 4- Concordo
parcialmente/ 5- Concordo totalmente;
86
7) Você concorda que a FAV é um instrumento importante para o seu tratamento?
1
2
3
4
5
8) Você concorda que a presença da FAV influencia na percepção que você tem
sobre o seu corpo?
1
2
3
4
5
9) Você concorda que presença da FAV traz limitação para o seu dia-a-dia?
1
2
3
4
5
10) Você concorda que ter uma FAV é motivo para ter vergonha do seu corpo?
1
2
3
4
5
Nas questões 11 e 12 os itens de 1 a 5 equivalem a: 1- Péssima/ 2- Ruim /
3- Indiferente/ 4- Boa/ 5- Muito boa.
11) Qual a imagem que você acha que as pessoas têm da sua FAV?
1
2
3
4
5
4
5
Você sente-se incomodado (a) com essa imagem?
( ) Sim
( ) Não
( ) Indiferente
12) Hoje, qual a nota para sua autoimagem (como você se vê)?
1
2
3
13) Em poucas palavras, qual o significado da FAV para você?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
87
ANEXO A QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA KDQOL-SFTM
Sua Saúde
Esta pesquisa inclui uma ampla variedade de questões sobre sua
saúde e sua vida. Nós estamos interessados em saber como você se
sente sobre cada uma destas questões.
1. Em geral, você diria que sua saúde é: [Marque um
caixa que descreve da melhor forma a sua resposta.]
Excelente
Muito Boa
Boa
Regular
Ruim
1
2
3
4
na
5
2. Comparada há um ano atrás, como você avaliaria sua saúde em
geral agora?
Muito
melhor
agora do
que há um
ano atrás
Um pouco
melhor
agora do
que há um
ano atrás
Aproximadamente
igual há um
ano atrás
Um pouco
pior agora
do que há
um ano
atrás
Muito pior
agora do
que há um
ano atrás
1
2
3
4
5
88
3. Os itens seguintes são sobre atividades que você pode realizar
durante um dia normal. Seu estado de saúde atual o dificulta
a realizar estas atividades? Se sim, quanto? [Marque um
em em cada linha.]
Sim,
Sim,
Não,
dificulta dificulta
não
muito
um
dificulta
pouco
nada
a
b
c
Atividades que requerem muito esforço,
como corrida, levantar objetos pesados,
participar de esportes que requerem muito
esforço ................................................................
1 .........
2
........
3
Atividades moderadas, tais como mover
uma mesa, varrer o chão, jogar boliche, ou
caminhar mais de uma hora ................................
Levantar ou carregar compras de
supermercado...............................................
1
.........
2
........
3
1
.........
2
........
3
d
Subir vários lances de escada ..............................
1
.........
2
........
3
e
Subir um lance de escada ...................................
1
.........
2
........
3
f
Inclinar-se, ajoelhar-se, ou curvar-se ...................
1
.........
2
........
3
g
Caminhar mais do que um quilômetro ................
1
.........
2
........
3
h
Caminhar vários quarteirões ...............................
1
.........
2
........
3
i
Caminhar um quarteirão .....................................
1
.........
2
........
3
j
Tomar banho ou vestir-se ................................... ..............................
1 .........
2 ........
3
89
4. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos
problemas seguintes com seu trabalho ou outras atividades
habituais, devido a sua saúde física?
a
b
c
d
Sim
Não
Você reduziu a quantidade de tempo que passa
trabalhando ou em outras atividades .......................
1
.........
2
Fez menos coisas do que gostaria.............................
1
.........
2
Sentiu dificuldade no tipo de trabalho que
realiza ou outras atividades .....................................
1
.........
2
Teve dificuldade para trabalhar ou para realizar
outras atividades (p.ex, precisou fazer mais
esforço) ....................................................................
1
.........
2
5. Durante as 4 últimas semanas, você tem tido algum dos
problemas abaixo com seu trabalho ou outras atividades de
vida diária devido a alguns problemas emocionais (tais como
sentir-se deprimido ou ansioso)?
a
b
c
Sim
Não
Reduziu a quantidade de tempo que passa
trabalhando ou em outras atividades .......................
1
.........
2
Fez menos coisas do que gostaria.............................
1
.........
2
Trabalhou ou realizou outras atividades com
menos atenção do que de costume. .........................
1
.........
2
90
6. Durante as 4 últimas semanas, até que ponto os
problemas com sua saúde física ou emocional interferiram com
atividades sociais normais com família, amigos, vizinhos, ou
grupos?
Nada
Um pouco
Moderadamente
Bastante
1
2
Extremamente
3
4
5
7. Quanta dor no corpo você sentiu durante as 4 últimas
semanas?
Nenhuma
Muito
leve
Leve
1
2
Moderada
3
Intensa
Muito Intensa
4
5
6
8. Durante as 4 últimas semanas, quanto a dor interferiu com seu
trabalho habitual (incluindo o trabalho fora de casa e o
trabalho em casa)?
Nada
Um pouco
Moderada-
Bastante
Extremamente
mente
1
2
3
4
5
91
9.
Estas questões são sobre como você se sente e como as coisas
tem acontecido com você durante as 4 últimas semanas. Para
cada questão, por favor dê uma resposta que mais se
aproxime da forma como você tem se sentido .
Durante as 4 últimas semanas, quanto tempo...
a
b
c
d
e
f
g
H
i
Todo o
tempo
A
maior
parte
do
tempo
Você se sentiu cheio
de vida? ...........................
Uma Alguma
boa parte do
parte tempo
do
temp
o
Uma
pequen
a parte
do
tempo
Nenhum
momento
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você se sentiu tão
"para baixo" que nada
conseguia animá-lo? ........
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você se sentiu calmo
e tranqüilo? .....................
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você teve muita
energia? ..........................
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você se sentiu
desanimado e
deprimido? .....................
1
1
........
2 ........
3 ........
............................
2
4
........
3
5
........5
6
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
1
........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você se sentiu uma
pessoa muito
nervosa? ..........................
Você se sentiu
esgotado (muito
cansado)? ........................
Você se sentiu uma
pessoa feliz? ....................
Você se sentiu
4
6
92
cansado? .........................
10. Durante as 4 últimas semanas, por quanto tempo os problemas
de sua saúde física ou emocional interferiram com suas
atividades sociais (como visitar seus amigos, parentes, etc.)?
Todo o
tempo
A maior
parte do
tempo
Alguma
parte do
tempo
Uma
pequena
parte do
tempo
Nenhum
momento
1
2
3
4
5
11. Por favor, escolha a resposta que melhor descreve até que
ponto cada uma das seguintes declarações é verdadeira ou
falsa para você.
Sem
Geralmen
dúvida
te
verdadeiro verdade
a
b
c
d
Não
sei
Geralmen
te Falso
Sem
dúvida,
falso
Parece que eu
fico doente com
mais facilidade
do que outras
pessoas........................ 1 ...........
2 ...........
3 ...........
4 ............
5
Eu me sinto tão
saudável quanto
qualquer pessoa
que conheço ...............
1
...........
2
...........
3
...........
4
............
5
Acredito que
minha saúde vai
piorar...........................
1
...........
2
...........
3
...........
4
............
5
Minha saúde
está excelente .............
1
...........
2
...........
3
...........
4
............
5
93
Sua Doença Renal
12. Até que ponto cada uma das seguintes declarações é
verdadeira ou falsa para você?
Sem
dúvida
Verdadeiro
a
b
c
d
Geralmente
Não
sei
Geralmente
Verdade
falso
Sem
dúvida
Falso
Minha doença
renal interfere
demais com a
minha vida ...................
1
...........
2
...........
3
...........
4
............
5
Muito do meu
tempo é gasto
com minha
doença renal................
1
...........
2
...........
3
...........
4
............
5
Eu me sinto
decepcionado ao
lidar com minha
doença renal................
1
...........
2
...........
3
...........
4
............
5
Eu me sinto
um peso para
minha família...............
1
...........
2
...........
3
...........
4
............
5
94
13. Estas questões são sobre como você se sente e como tem sido
sua vida nas 4 últimas semanas. Para cada questão, por favor
assinale a resposta que mais se aproxima de como você tem se
sentido.
Quanto tempo durante as 4 últimas semanas…
Nenhum
moment
o
a
b
c
d
e
f
Uma
Alguma
pequena parte
parte do
do
tempo
tempo
Uma
boa
parte
do
temp
o
A
maior
parte
do
tempo
Todo o
tempo
Você se isolou ( se
afastou) das
pessoas ao seu
1 ........
2 ........
3 ........
4 ........
5 ........
6
redor?...............................
Você demorou
para reagir às
coisas que foram
ditas ou
1 ........
aconteceram?...................
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você se irritou com
as pessoas
próximas? ......................... 1........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você teve
dificuldade para
concentrar-se ou
pensar?............................. 1........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você se relacionou
bem com as outras
pessoas?. .......................... 1........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
Você se sentiu
confuso? ........................... 1........
2
........
3
........
4
........
5
........
6
95
14. Durante as 4 últimas semanas, quanto você se incomodou com
cada um dos seguintes problemas?
a
Não me
incomodei
de forma
alguma
Fiquei um
pouco
incomoda
-do
Incomode Muito
i-me de
incomoda
forma
-do
moderada
Extremamente
incomoda
-do
Dores
musculares? ........................
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Dor no peito?.....................
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Cãibras? .............................
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Coceira na pele?
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Pele seca? ..........................
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Falta de ar? ........................
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Fraqueza ou tontura? ........
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Falta de apetite? ................
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
cansaço)? ...........................
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
Dormência nas mãos
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
1
.............
2
...........
3
............
4
...........
5
2
...........
3
............
4
...........
5
b
c
d
e
f
g
h
Esgotamento (muito
i
j
ou pés (formigamento)? ..........
k
Vontade de vomitar
ou indisposição
estomacal? .........................
(Somente paciente em hemodiálise)
l
Problemas com sua via
de
acesso (fístula
ou cateter)? ........................
1
.............
96
Efeitos da Doença Renal em Sua Vida Diária
15. Algumas pessoas ficam incomodadas com os efeitos da doença
renal em suas vidas diárias, enquanto outras não. Até que
ponto a doença renal lhe incomoda em cada uma das seguintes
áreas?
Não
incomoda
nada
Incomoda Incomoda Incomoda Incomoda
um pouco de forma
muito
Extremamoderada
mente
a
b
c
d
e
f
g
h
Diminuição de
líqüido? ......................
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
Diminuição
alimentar? ..................
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
Sua capacidade
de trabalhar em
casa? ..........................
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
Sua capacidade
de viajar? ...................
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
Depender dos
médicos e outros
profissionais da
saúde? ........................
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
Sua vida sexual? .........
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
Sua aparência
pessoal? .....................
1
............
2
...........
3
.............
4
............
5
Estresse ou
preocupações
causadas pela
doença renal? .............
97
As próximas três questões são pessoais e estão relacionadas à sua
atividade sexual, mas suas respostas são importantes para o
entendimento do impacto da doença renal na vida das pessoas.
16. Você teve alguma atividade sexual nas 4 últimas semanas?
(Circule Um Número)
Não ............................................ 1
Sim ............................................ 2
Se respondeu não, por favor pule
para a Questão 17
Nas últimas 4 semanas você teve problema em:
Nenhum
Pouco
Um
Muito
Problema
problema problema problema problema enorme
a
b
Ter satisfação
sexual? ........................
Ficar sexualmente
excitado (a)? ................
1
.............
2
............
3
...........
4
...........
5
1
.............
2
............
3
...........
4
...........
5
98
17. Para a questão seguinte, por favor avalie seu sono, usando
uma escala variando de 0, (representando “muito ruim”) à 10,
(representando “muito bom”)
Se você acha que seu sono está meio termo entre “muito ruim”
e “muito bom,” por favor marque um X abaixo do número 5. Se
você acha que seu sono está em um nível melhor do que 5,
marque um X abaixo do 6. Se você acha que seu sono está pior
do que 5, marque um X abaixo do 4 (e assim por diante).
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria seu sono em
geral? [Marque um X abaixo do número.]
Muito ruim
Muito bom
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99
18. Com que freqüência, durante as 4 últimas semanas você...
Nenhum
moment
o
a
b
c
Uma
pequen
a parte
do
tempo
Acordou durante a
noite e teve
dificuldade para
voltar a dormir? ................ 1........
Alguma
parte do
tempo
Uma
A
Todo o
boa
maior tempo
parte parte
do
do
tempo tempo
2
........
3
........
4
.......
5
........
6
Dormiu pelo tempo
necessário?....................... 1........
2
........
3
........
4
.......
5
........
6
Teve dificuldade
para ficar acordado
durante o dia? .................. 1........
2
........
3
........
4
.......
5
........
6
19. Em relação à sua família e amigos, até que ponto você está
satisfeito com...
Muito
insatisfeito
a
b
Um pouco
insatisfeito
Um pouco
satisfeito
Muito
satisfeito
A quantidade de
tempo que você
passa com sua família
e amigos? ............................
1 ...............
2 ...............
3
...............
4
O apoio que você
recebe de sua família
e amigos? ............................
3
...............
4
1
...............
2
...............
100
20. Durante as 4 últimas semanas, você recebeu dinheiro para
trabalhar?
Sim
Não
N
o
1
2
2
21. Sua saúde o impossibilitou de ter um trabalho pago?
Sim
Não
No
1
2
2
22. No geral, como você avaliaria sua saúde?
A pior possível
(tão ruim ou pior
do que estar
morto)
Meio termo entre pior e
melhor
A melhor
possível
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
101
Satisfação Com O
Tratamento
23. Pense a respeito dos cuidados que você recebe na diálise. Em
termos de satisfação, como você classificaria a amizade e o
interese deles demonstrado em você como pessoa?
Muito
ruim
Ruim
Regular
Bom
Muito
bom
Excelente
O melhor
1
2
3
4
5
6
7
24. Quanto cada uma das afirmações a seguir é verdadeira ou falsa?
Sem
dúvida
verda-
Geralmen
te
verdade
Não sei
Geralmen
te falso
Sem
dúvida
falso
deiro
O pessoal da
diálise me
encorajou a ser o
mais
independente
possível........................
1 ............
2 ...........
a
b
O pessoal da
diálise ajudou-me
a lidar com minha
doença renal................
1
............
2
...........
3
...........
4
............
5
3
...........
4
............
5
102
ANEXO B COMPROVANTE DE ENVIO DO MANUSCRITO 1 PARA REVISTA
TEXTO CONTEXTO ENFERMAGEM
103
ANEXO C COMPROVANTE DE ENVIO DO MANUSCRITO 2 PARA REVISTA
LATINO-AMERICANA ENFERMAGEM
104
ANEXO D PARECER CEP
105