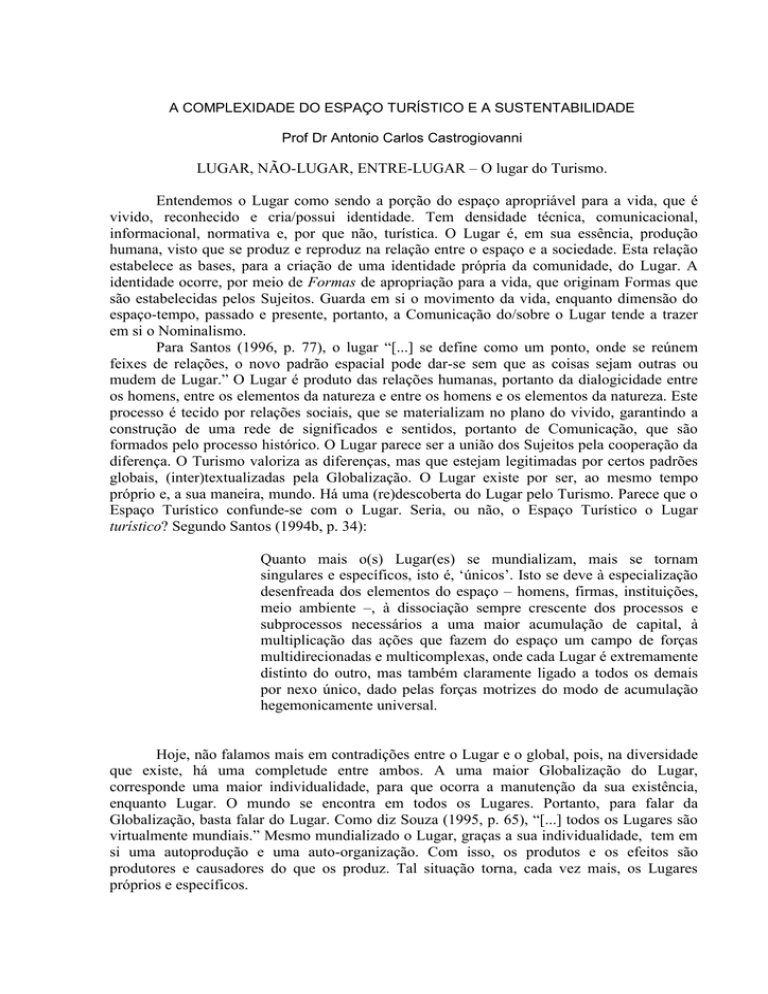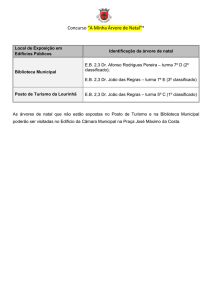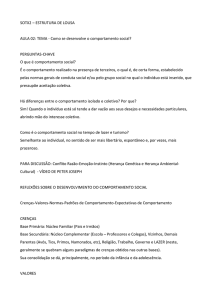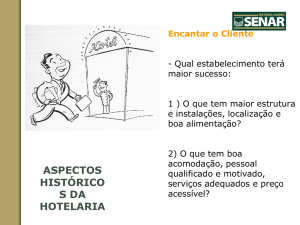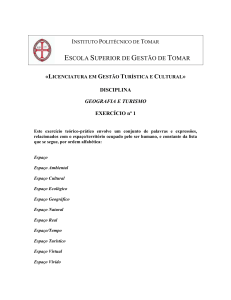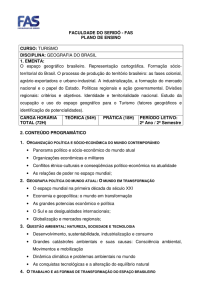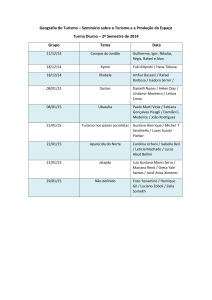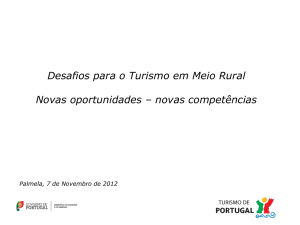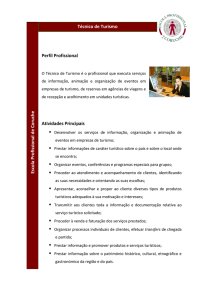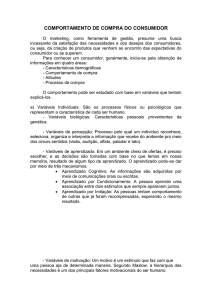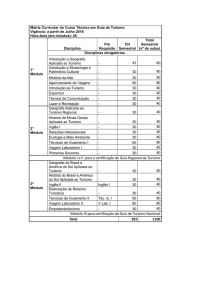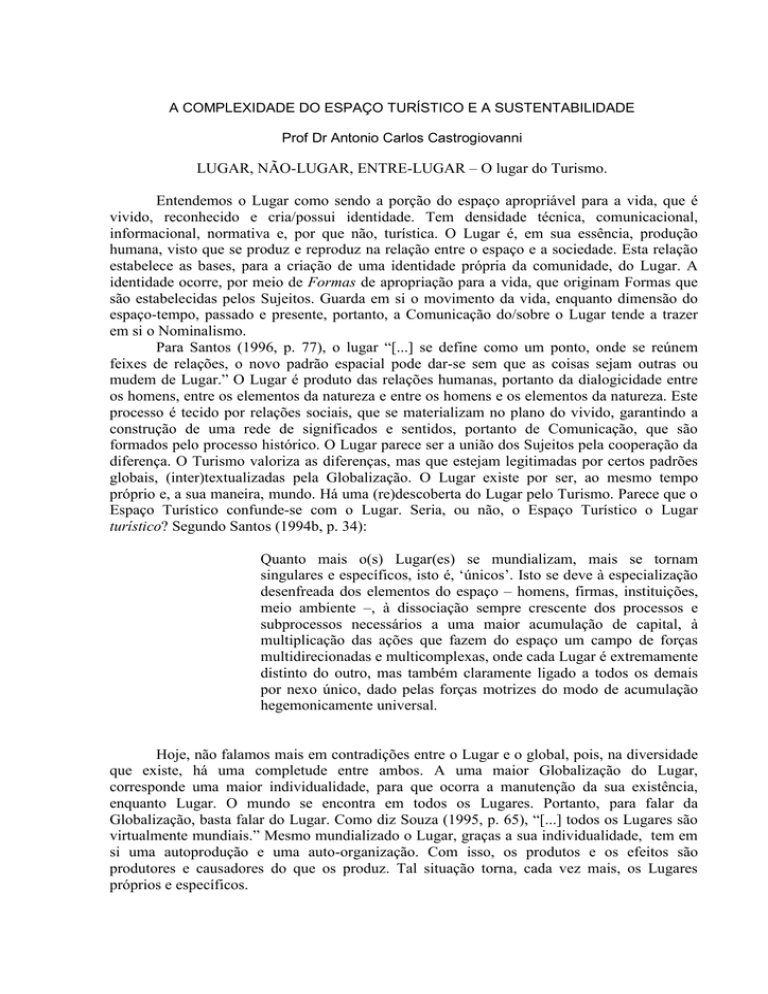
A COMPLEXIDADE DO ESPAÇO TURÍSTICO E A SUSTENTABILIDADE
Prof Dr Antonio Carlos Castrogiovanni
LUGAR, NÃO-LUGAR, ENTRE-LUGAR – O lugar do Turismo.
Entendemos o Lugar como sendo a porção do espaço apropriável para a vida, que é
vivido, reconhecido e cria/possui identidade. Tem densidade técnica, comunicacional,
informacional, normativa e, por que não, turística. O Lugar é, em sua essência, produção
humana, visto que se produz e reproduz na relação entre o espaço e a sociedade. Esta relação
estabelece as bases, para a criação de uma identidade própria da comunidade, do Lugar. A
identidade ocorre, por meio de Formas de apropriação para a vida, que originam Formas que
são estabelecidas pelos Sujeitos. Guarda em si o movimento da vida, enquanto dimensão do
espaço-tempo, passado e presente, portanto, a Comunicação do/sobre o Lugar tende a trazer
em si o Nominalismo.
Para Santos (1996, p. 77), o lugar “[...] se define como um ponto, onde se reúnem
feixes de relações, o novo padrão espacial pode dar-se sem que as coisas sejam outras ou
mudem de Lugar.” O Lugar é produto das relações humanas, portanto da dialogicidade entre
os homens, entre os elementos da natureza e entre os homens e os elementos da natureza. Este
processo é tecido por relações sociais, que se materializam no plano do vivido, garantindo a
construção de uma rede de significados e sentidos, portanto de Comunicação, que são
formados pelo processo histórico. O Lugar parece ser a união dos Sujeitos pela cooperação da
diferença. O Turismo valoriza as diferenças, mas que estejam legitimadas por certos padrões
globais, (inter)textualizadas pela Globalização. O Lugar existe por ser, ao mesmo tempo
próprio e, a sua maneira, mundo. Há uma (re)descoberta do Lugar pelo Turismo. Parece que o
Espaço Turístico confunde-se com o Lugar. Seria, ou não, o Espaço Turístico o Lugar
turístico? Segundo Santos (1994b, p. 34):
Quanto mais o(s) Lugar(es) se mundializam, mais se tornam
singulares e específicos, isto é, ‘únicos’. Isto se deve à especialização
desenfreada dos elementos do espaço – homens, firmas, instituições,
meio ambiente –, à dissociação sempre crescente dos processos e
subprocessos necessários a uma maior acumulação de capital, à
multiplicação das ações que fazem do espaço um campo de forças
multidirecionadas e multicomplexas, onde cada Lugar é extremamente
distinto do outro, mas também claramente ligado a todos os demais
por nexo único, dado pelas forças motrizes do modo de acumulação
hegemonicamente universal.
Hoje, não falamos mais em contradições entre o Lugar e o global, pois, na diversidade
que existe, há uma completude entre ambos. A uma maior Globalização do Lugar,
corresponde uma maior individualidade, para que ocorra a manutenção da sua existência,
enquanto Lugar. O mundo se encontra em todos os Lugares. Portanto, para falar da
Globalização, basta falar do Lugar. Como diz Souza (1995, p. 65), “[...] todos os Lugares são
virtualmente mundiais.” Mesmo mundializado o Lugar, graças a sua individualidade, tem em
si uma autoprodução e uma auto-organização. Com isso, os produtos e os efeitos são
produtores e causadores do que os produz. Tal situação torna, cada vez mais, os Lugares
próprios e específicos.
O autor (SANTOS, 1994b, p. 35) observa que, o “Lugar é um ponto do mundo onde se
realizam algumas possibilidades deste último.” Ele é uma parte que faz parte do todo, não é o
todo, mas, pela sua densidade e interatividade social, cada vez mais desempenha um papel na
história do todo, por isso, representa, muitas vezes, mais que o todo. Esta observação do autor
nos autoriza a pensar que a menor agitação no Lugar pode sacudir o Mundo, pois o Lugar, que
é um todo, faz parte do todo que é o Mundo. O Lugar é um conjunto de possibilidades frente
ao Mundo. “Hoje, porém, tais possibilidades (ainda mais no caso do Turismo!) são todas
interligadas e interdependentes.” (SANTOS, 1994b, p. 35). Seria, este, um traço da
necessidade em Globalizarmos o Turismo, ou não?
Santos (1996, p. 251) lembra que a nossa relação com o mundo mudou, porque o
vemos por inteiro (todo); através dos satélites, temos uma Imagem da Terra inteira. O Lugar
(parte), nesta Imagem, pode ser visto como o intermédio entre o Mundo e o Sujeito. A partir
do que diz Morin (2000d), no Princípio Hologramático, hoje, cada um de nós (Sujeito!),
parece ser um ponto singular de um holograma que, em certa medida, contém o todo
planetário que o contém. Cogitamos, neste momento que, no caso do Espaço Turístico, cada
Lugar também o seja. Silveira (1997, p. 37) observa que:
A produção material dos Lugares é causa e conseqüência da produção
imaterial do Turismo. Assim, o Lugar turístico torna-se um produto da
ciência e da tecnologia, com um conteúdo informacional e ideológico
que é capitalisticamente comercializado. Desenham-se, desse modo,
os pontos do meio técnico-científico-informacional.
Augè (1994) observa que entre o visitante/turista e o Lugar ocorre uma ruptura que o
impede de ver aí um Lugar, mesmo que tente preencher este vazio com (in)Forma(ções)
colhidas. O Nome(nalismo), próprio do Lugar, impõe ao Lugar uma injunção, vinda do outro,
ou seja, o turista não participa desta significação. Os Nome(nalismos) por si só parecem
bastar, para produzirem no Lugar um Não-Lugar ou Entre-Lugar, pois transformam os
Lugares em passagens simbólicas. Muitas das interpelações midiáticas, feitas pelos processos
de Comunicação, ao empregarem certas Imagens e utilizarem alguns Nominalismos, referentes
ao Lugar, parecem não contribuir, para que o visitante tome posse do mesmo, não
compreendendo a sua história, as suas Formas, as suas singularidades. Com isso, parece haver
um encaminhamento para a constituição do que seja um Não-Lugar ou Entre-Lugar.
O Não-Lugar pode ser, segundo Augè (1994, p.36-37),
[...] tanto as instalações necessárias à circulação de pessoas e bens
(vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os próprios
meios de transportes ou os grandes centros comerciais, ou ainda os
campos de trânsito prolongado onde são estacionados os refugiados
do planeta.
O Não-Lugar parece ser a simples negação do Lugar. O Lugar e o Não-Lugar são,
antes, polaridades fugidias: o primeiro não ser completamente apagado e o segundo nunca se
realiza totalmente. O Não-Lugar diferencia-se do Lugar pelo seu processo de constituição, e
não apenas pelas suas Formas. Ambos são frutos de construções sociais, no entanto, o Não-
Lugar é a medida da época. Será que o turista, ao negar o Lugar, constrói imaterialmente um
Não-Lugar turístico, ou não?
Augè (1994) observa que o espaço é um Lugar praticado, um cruzamento de forças
motrizes. São os Sujeitos passantes que transformam em espaço a rua, com sua Forma,
geometricamente definida pelo urbanismo proposto ao Lugar. O Não-Lugar é, portanto, a
ausência do Lugar em si mesmo. A falta da Forma(lização) específica que lugariza e dá
existência ao Lugar cria o Entre-Lugar. O Lugar existe, também pelas próprias contradições
que encerra em si, que lhe dão existência. O Não-Lugar parece ser um estágio em que a
realidade que comporta o Lugar se esforça para reproduzir a ficção da inexistência de
contradições. O Entre-Lugar parece ser o Lugar, praticado pelo turista, num certo tempo.
Se chamarmos de Espaço Turístico a prática dos Lugares que pontua, especificamente
a viagem, ainda assim, é preciso acrescentar que existem espaços, onde o Sujeito se
experimenta como espectador, sem que a natureza do espetáculo lhe importe realmente. Como
se a posição do espectador constituísse o essencial do espetáculo, como se, em definitivo, o
espectador, em posição de espectador, fosse para si mesmo seu próprio espetáculo. Para Augè
(1994, p. 80) “O espaço do viajante seria, assim, o arquétipo do Não-lugar”, pois a viagem
constrói uma relação fictícia entre o olhar e a paisagem. Para nós, esta relação, que ocorre a
partir de Formas simbólicas, como, por exemplo, fenômenos, ações, rituais, manifestações
verbais significativas, cria uma outra inter-espacialização, produzida e empregada por
Sujeitos, inseridos em uma temporalidade. Esta inter-espacialidade que é estabelecida entre o
Lugar e o Sujeito parece ser, não um Não-Lugar, mas um terceiro espaço, ou seja, um EntreLugar.
Adotamos a subcategoria Entre-Lugar como um terceiro espaço, a partir da
readequação da categoria, empregada por Bhabha (1998). O sociólogo indiano estudando a
forte influência colonizadora que vigora sobre as Culturas dos povos ainda colonizados,
refere-se à necessidade inicial de existir um Terceiro Espaço, para que ocorra a articulação da
diferença cultural e da assimilação de contrários. É o que ele denomina de “[...] inter, o fio
cortante da tradução e da negociação.” (BHABHA, 1998, p. 69). Na leitura do autor, o EntreLugar permite que comecemos a vislumbrar as histórias nacionais, antinacionalistas, do
‘povo’. E, ao explorar esse Terceiro Espaço, temos a possibilidade de evitar a política da
polaridade e emergir como os outros de nós mesmos. No caso do Espaço Turístico, o EntreLugar é esta possibilidade dos turistas verem em si o próprio espetáculo, onde o deslocamento
ocorre para o turista ser visto ou para ver o outro.
O Espaço Turístico pode ser analisado sob diferentes orientações, como, por exemplo,
o espaço do emissor/Lugar, onde vive o turista e, o espaço do receptor/Lugar que o turista
busca. Para nós, há possibilidade de haver um outro espaço turístico – o espaço intermediário,
ou seja, o entre-espaço ou Entre-Lugar turístico. No caso, este “Terceiro Espaço”, segundo
Bhabha (1998, p. 69), “[...] é a condição prévia, para a articulação da diferença cultural.” Para
nós, no caso do Turismo, se substantiva entre os dois outros espaços, o de emissor e do
receptor, sem que ocorra a efetiva dialogicidade. O Terceiro Espaço é aquele, em que não há a
permanência do Sujeito.
Os processos comunicacionais, através de chamadas midiáticas, tendem a reforçar o
sentido dado, pelas Imagens e Nominalismos, à criação do Entre-Lugar, pois criam
necessidades espaciais para o Sujeito ser feliz. Este Terceiro Espaço parece ser um espaço
temporal. Ele não existe na sua concretude material. Ele é representativo e depende de cada
Sujeito, ao estabelecer relações entre o seu Lugar com o Lugar do outro. Ao mesmo tempo em
que adquire uma espacialização e uma temporalização, pois depende, também, da relação do
Poder em um território, ele possibilita a existência de novos espaços turísticos, criando, assim,
novas territorialidades. Aqui, aparecem novas dúvidas: o Espaço Turístico é o Entre-Lugar,
por ser constituído de um conjunto de possíveis territorialidades, que surgem na relação
Sujeito e objeto, a partir da feição de singulares Imagens e Nominalismos, que se Forma(m)
no/do Espaço Geográfico, ou não? É o Entre-Lugar que se (toma) Forma no (inter)meio das
diferenças culturais entre visitantes e residentes, ou não? O Espaço Turístico existe, ou não, na
sua concretude enquanto tal, ou é o Espaço Geográfico, e só existe na linguagem
Comunica(ção)cional? Como observa Santos (1993, p. 55),
[...] a linguagem tem um papel fundamental na vida do homem por ser
a Forma pela qual se identifica e reconhece a objetividade em seu
derredor, através dos Nome(Inalismo)s já dados. Para alguns autores,
o ato fundador é dar um nome e, por isso, é a partir do nome que
produzimos o pensamento e não o contrário. (O ‘inalismo’ é de nossa
autoria).
Neste caso, o estudo da linguagem e da Comunicação parece ser indispensável, para a
compreensão do multidimensionalismo que envolve o Turismo. Muitos turistas, verdadeiros
nômades em busca de novas Imagens, movimentam-se para serem vistos e para verem outros
Sujeitos. Ser visto ou ver é uma ação que não ocorre, necessariamente, no Lugar visitado. Pode
ocorrer no Lugar de residência, através do souvenir ou das Imagens produzidas durante a
viagem. Assim, este desejo/necessidade é concretizado através de fotos, filmes, recordações
testemunhadas com Imagens que evocam Formas e Sujeitos do Lugar visitado ou, através da
própria Comunicação verbal, balizada/valorizada com Nominalismos. Quanto mais os Sujeitos
viajam, para verem ou serem vistos pelo(s) outro(s), parece que mais se estabelecem EntreLugares turísticos. O Entre-Lugar turístico é favorecido ou não pelo diálogo, que se produz
entre as diferenças do visitante e dos Sujeitos e Lugares visitados.
Pensamos, neste momento, ser o Espaço Turístico o Entre-Lugar. Um espaço que é
construído entre os Lugares. Aquele que se substantiva como um ponto onde se reúnem feixes
de relações ‘significativas’ para uma sociedade num certo momento histórico. Está construção
ocorre na relação própria entre os objetos e os Sujeitos com os turistas, também Sujeitos,
porém ‘nômades’, que durante a sua permanência no Lugar, produzem ações colonizadoras
sobre os Sujeitos, (inter)agindo na Cultura, nos valores, nas Formas, sobre e com os objetos
existentes. Estas relações criam “[...] um anel gerador, no qual os produtos e os efeitos são
produtores e causadores do que produz.” (MORIN, 2000d, p. 33). O Entre-Lugar turístico,
parece ser, uma espacialização multiterritorializada, que surge de comportamentos
substanciados por sentimentos a partir da Cultura e linguagem dos visitantes. Esta
espacialização está (inter)conectada pelos Meios de Comunicação, inseridos numa rede, que é
dirigida/fortalecida pelo processo de Globalização. O Turismo parece não ocorrer no Lugar ou
no Não-Lugar, mas na Complexidade, que encerra o Entre-Lugar, que é lugarizado pelos
processos comunicacionais, através de sentidos, atribuídos às Imagens e aos Nominalismos.
O Entre-Lugar turístico parece ser a lugarização do Espaço Turístico, substanciada
pelo visitante na dialogicidade estabelecida entre o seu Lugar (Lugar conhecido) e o
Lugar/Não-Lugar visitado (desconhecido). Ele é simbólico, enquanto existência, mas possui
uma densidade representativa, a partir da Cultura. Portanto, depende das incorporações tempoespaciais do Sujeito visitante. Ele confunde o Lugar de origem com o Lugar/Não-Lugar
visitado. Com a sua constituição, passa a ser uma parte do todo que é Espaço Turístico.
Assim, o nível de pensamento, que aproxima a relação entre o Lugar geográfico e o
Espaço Turístico, parece ser o mesmo que envolve a aproximação entre o Não-Lugar
geográfico e a significação do que é o Entre-Lugar, aplicado ao Turismo, frente ao processo de
Globalização.
Bibliografia
ANDRADE, José Vicente. Turismo: fundamentos e dimensões. 2. ed. São Paulo: Ática, 1995.
ANSARAH, Marília Gomes dos Reis. Teoria Geral do turismo. In: ANSARAH, Marília Gomes dos Reis (Org.).
Turismo, como aprender, como ensinar, 2. São Paulo: SENAC, 2001. p. 11-36.
AZEVEDO, Israel Belo de. Primeira viagem ao mundo da comunicação. Rio de Janeiro: Universidade Gama
Filho, 1998.
AUGÉ, Marc. Não-Lugares: Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994.
______. El viaje imposible: el turismo y sus imágenes. Barcelona: Gedis, 1996.
AVIGHI, Carlos Marcos. Turismo e comunicação: estudo do turismo na história da comunicação no século XX.
Turismo e Análise, São Paulo, v. 3, p. 18-31, nov. 1992.
BARBOSA, Ycarim Melgaço. O Despertar do turismo: um olhar crítico sobre os não-lugares. São Paulo: Aleph,
2001.
______. História das viagens e do turismo. São Paulo: Aleph, 2002.
BARRETTO, Margarita. Manual de iniciação ao estudo do turismo. São Paulo: Papirus, 1995.
______. Turismo e legado cultural. Campinas: Papirus, 2000.
BARRETO, Luís Felipe. Problemas epistemológicos da história da cultura. In: MORIN, Edgar (Org.). O
problema epistemológico da complexidade. Portugal: Mem Martins, 2002. p. 71-78.
BARTHES, Roland. Sistema da moda. São Paulo: Nacional/EDUSP, 1979.
______. Mitologias. 4. ed. São Paulo: DIFEL, 1980.
______. O Grão da voz: entrevistas 1962 – 1980. Lisboa: Edições 70, 1982.
______. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984a.
______. O Rumor da língua. Lisboa: Edições 70, 1984b.
______. O Óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
______. Aula. 7. ed. São Paulo. Cultrix, 1996.
______. O Prazer do texto. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.
______. Escritores, intelectuais, professores e outros ensaios. Lisboa: Presença, [s.d.].
______. Como viver junto. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BASSAND, Michel. Algumas observações para uma abordagem interdisciplinar do espaço. In: SANTOS, M.;
SOUSA M. A. (Coord.). O espaço interdisciplinar. São Paulo: Nobel, 1986. p. 133-139.
BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1981.
BAUER, Martin; GASKEL, George; ALLUM, Nicolas C. Qualidade, quantidade e interesses do conhecimento:
evitando confusões. In: BAUER, Martin W.; GASKEL, George (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem
e som. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 17-36.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização : as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. São Paulo: SENAC, 1998.
______. Globalização do turismo: megatendências do setor e a realidade brasileira. 2. ed. São Paulo: Aleph,
2003.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
BOULLÓN. Roberto C. Los municípios turísticos. México: Trillas Turismo. 1995.
______. Planificación del espacio turístico. México: Trillas Turismo,1997.
______. Ecoturismo sistemas naturales y urbanos. 2. ed. Buenos Aires: Librerías Turísticas, 2000.
BUZAI, Gustavo D. Geografia Glob@l: El paradigma geotecnológico y el espacio interdisciplinario em la
interpretión del mundo del siglo XXl. Buenos Aireis: Lugar, 1999.
CARLOS, Ana Fani A . A geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1999.
______. (Org.). Ensaios de geografia contemporânea. São Paulo: EDUSP, 2001.
CASASOLA, Luis. Turismo y ambiente. México: Trillas, 1990.
CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.
CASTORIADIS, C. Os destinos do totalitarismo e outros escritos. Porto Alegre: L&PM, 1985.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. Turismo e Ordenação do espaço urbano. In: CASTROGIOVANNI, A. C.
(Org.). Turismo urbano. São Paulo: Contexto, 2000a. p. 23-32.
______. (Org). Ensino de geografia; práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000b.
______. Existe uma geografia do turismo? In: GASTAL, Susana (Org.) Turismo: investigação e crítica. São
Paulo: Contexto, 2002. p. 59-67.
______. Turismo X espaço: reflexões necessárias na pós-modernidade. In: CASTROGIOVANNI, A . C.;
GASTAL, S. Turismo na pós-modernidade: (dês)inquietações. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003a. p. 43-50.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos et al. Um globo em suas mãos: práticas para a sala de aula. Porto Alegre:
Ed. UFRGS, 2003b.
_____.. O misterioso mundo que os mapas escondem. In: CASTROGIOVANNI, A. C. et al (Org.). Geografia em
sala de aula. 4. ed. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003c. p. 31-48.
CLAVAL, Paul. As abordagens da geografia cultural. In: CASTRO, E. I.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L.
(Org.) Explorações geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. p. 89-117.
______. Geografia cultural. Florianópolis: UFSC, 1999a.
_____ . A Geografia Cultural: o Estado da Arte. . In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto L. (Org.)
Manifestações da Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999b. p. 59-97.
______. O papel da nova geografia cultural na compreensão da ação humana. In: CORRÊA, Roberto L.;
ROSENDAHL, Zeny. Matrizes da geografia cultural. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 35-86.
______. A revolução pós-funcionalista e as concepções atuais da geografia. In: MENDONÇA, Francisco;
KOZEL, Salete (Org.). Elementos de epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: UFPR, 2002a. p. 1142.
______. A geografia cultural. Porto Alegre, 2002b. Curso ministrado na UFRGS, Deptº de Geografia – Programa
de Pós-Graduação, de 29 a 31 de outubro de 2002. Texto mimeografado.
COOPER, C. et al. Turismo; princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
CRUZ, Rita de Cássia. Política de turismo e território. São Paulo: Contexto, 2000.
DAMIANI, A. L.; CARLOS, A. F.; SEABRA, O. C. O Espaço no fim de século: a nova raridade. São Paulo:
Contexto, 1999.
DE LA TORRE, Oscar Padilla. El turismo fenomeno social. 2. ed. México: Fondo de Cultura Econômica, 1997.
DENCKER, Ada de Freitas M. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo: Futura, 1998.
DOLLFUS, Oliver. El espacio geográfico. Barcelona: Oikos-tau,1990.
ECHTNER, Charlotte M.; JAMAL, Tazim B. The disciplinary dilemma of tourism studies. Annals of Tourism
Research, London, v. 24, p. 868-883, 1997.
ERIKSON, Erik H. Identidade: juventude e crise. 2. ed. Rio De Janeiro: Guanabara, 1987.
FISCHER, Martin. Iraí, cidade saúde. Ijuí: Progresso, 1950.
FLICK, Uwe. Entrevista episódica. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Org.). Pesquisa qualitativa com
texto, imagem e som. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 114-136.
______. Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004.
FLORES, Hilda Hübner (Org.). Turismo no RS: 50 anos de pioneirismo no brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1993.
FINGER, Ingrid. Metáfora e significação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
FORESTI, Joadir Antônio. A complexidade da teleducação no canal futura. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
FORTUNA, Carlos. Cidade, cultura e globalização. Portugal: Celta, 1997.
FRASCARA, Jorge. El poder de la imagen; reflexiones sobre comunicación visual. Buenos Aires: Infinito, 1999.
FREITAS, Maria Ester de. Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma? Rio de Janeiro: FGV, 1999.
FULCHIGNONI, Enrico. La Imagen En La Era Cósmica. México: Editorial Trillas, 1991.
GASTAL, Susana. Lugar de memória: por uma nova aproximação teórica ao patrimônio local. In: GASTAL,
Susana (Org.). Turismo investigação e crítica. São Paulo: Contexto, 2002. p. 69-81.
GIUSTI, Miguel; MERINO, Maria Isabel. Ciudadanos en la sociedad de la Información. Lima: PUC del Perú e
Fondo Editorial, 2001.
GOELDNER Charles R.; RITCHIE, J. R. Brent; MCINTOSH, Robert W. Tourism, principles, practices,
philosophies. 18. ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 2000.
GOMES, Paulo César da Costa. Geografia e modernidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2000.
GRASSI, Fiorindo David. Iraí, ecologia e índios. Iraí: Prefeitura Municipal de Iraí, 1992.
______. Iraí, cidade turística. Frederico Westphalen: URI, 2001.
GUARDAMI, Fátima. Turismo em estâncias hidrominerais: uma abordagem do comportamento do consumidor
de águas de lindóia sob a ótica do marketing turístico. 1999. Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicação e
Artes, Universidade de São Paulo.
HAESBAERT, Rogério. Des-territorização e identidade: a rede “gaúcha” no nordeste. Niterói: EDUFF, 1997.
______. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2002.
______. O Mito da Desterritorialização : do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2004.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
HALL, C. Michael. Planejamento turístico: políticas, processos e relacionamentos. São Paulo: Contexto, 2001.
HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
HISSA, Cássio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: inserção da geografia na crise da modernidade. Belo
Horizonte: UFMG, 2002.
HOHLFELDT, Antônio. Os estudos sobre a hipótese de agendamento. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n. 7, p.
42 - 51, nov.1997.
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
IANNI, Otávio. Teorias da gobalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1995.
__________. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contagem da população 1996. Rio de Janeiro,
1997.
______. Censo demográfico 2000. Rio de Janeiro, 2000.
JALFEN, Luis J. Globalizacion y lógica virtual. Buenos Aires: Corigedor, 1998.
JAMENSON, F. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidós, 1991.
JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2001.
LEIPER, N. Tourism systems: an interdisciplinary study. occasion papers: n. 2. Nova Zelândia: Department of
Management Systems, Massey University, Palmerston. 1990.
LITTLEJOHN, Stephen. Fundamentos teóricos da comunicação humana. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
MCLUHAN, Marshall; POWERS, Bruce R. The global village. New York: Oxford University Press, 1989.
MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. Petrópolis: Vozes, 1996.
______ Perspectivas tribais ou a mudança do paradigma social. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 23, p. 2329, abr. 2004.
______ O Tempo das Tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense,
1998.
MATTELART, Armand. A globalização da comunicação. Bauru: EDUSC, 2000.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e humanização. Campinas: Papirus, 2002.
MARREIRO, Flávia. AL deve ser responsabilizar por imigrantes, São Paulo, Jornal Folha de São Paulo,
Caderno A, p. 16, 11 jul. 2004
MARTINAZZO, Celso José. A Utopia de Edgar Morin: da complexidade a concidadania planetária. Ijuí: Unijuí,
202.
MARTINS, Franscisco Menezes; SILVA, Juremir Machado da (Org.). Para navegar no século XXI. Porto
Alegre: Sulina/Edipucrs, 2000.
MASI, Domenico de. A sociedade pós industrial. São Paulo: SENAC, 1999.
MENDONÇA, Francisco; KOZEL, Salete (Org.). Elementos de epistemologia da geografia contemporânea.
Curitiba: UFPR, 2002.
MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. A paisagem como fato cultural. In: YÁZIGI, Eduardo (Org.). Turismo e
paisagem. São Paulo: Contexto, 2002. p. 29-64.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1993.
MOESCH, Marutschka. O fazer-saber turístico: possibilidades e limites de superação. In: GASTAL, Susana.
Turismo: 9 propostas para um saber-fazer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000a. p. 11-28.
______. A produção do saber turístico. São Paulo: Contexto, 2000b.
______. Para além das disciplinas : o desafio do próximo século. In: GASTAL, Susana. Turismo, investigação e
crítica. São Paulo: Contexto, 2002. p. 25-44.
MOLINA, Sergio E. Turismo y ecología. Mexico: Trillas, 1998.
______. El posturismo. México, 1998.
MORAES, Antonio Carlos Robert. GEOGRAFIA: pequena história crítica. São Paulo: Hucitec, 1999.
MORIN, Edgar. O enigma do homem: para uma nova antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
______. Cultura de massa no século XX: o espírito do tempo. Rio de janeiro: Forense, 1987.
______. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
______. Complexidade e ética da solidariedade In: CASTRO, Gustavo de et al. (Org.). Ensaios de complexidade.
Porto Alegre: Sulina, 1997a.
______. Amor, poesia, sabedoria.: Lisboa: Instituto Piaget, 1997b.
______. A ética do sujeito responsável. In: MORIN, Edgar et al. Ética, solidariedade e complexidade. São Paulo:
Palas Athenas, 1998.
______. O método III: o conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 1999a.
______. O problema epistemológico e a complexidade. Portugal: Mem Martins, 1999b.
______. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000a.
______. Ciência com Consciência. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000b.
______. Os sete saberes necessários a educação do futuro. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000c.
______. Da necessidade de um pensamento complexo. In: MARTINS, Franscisco Menezes; SILVA, Juremir
Machado da (Org.). PARA Navegar no século XXI. 2. ed. Porto Alegre: Sulina/Edipucrs, 2000d. p. 19-42.
______. Meus demônios. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000e.
______. O paradigma perdido: a natureza humana. Mem Martins:Publicações Europa-América, 2000f.
______.. O Método II: a vida da vida. Porto Alegre: Sulina, 2001a.
______. As duas globalizações: complexidade e comunicação, uma pedagogia do presente. In: SILVA, Juremir
Machado da (Org.). Porto Alegre: Sulina; EDIPUCRS, 2001b. p. 39-83.
______. O Método I: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002a.
______. O Método IV: as idéias. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2002b.
______. Edgar Morin: ninguém sabe o dia que nascerá. São Paulo: UNESP, 2002c.
______. O Método 5: a humanidade da humanidade: a identidade humana. Porto Alegre: Sulina, 2002d.
______. Problemas de uma epistemologia complexa. In: MORIN, Edgar (Org.). O problema epistemológico da
complexidade. Portugal: Mem Martins, 2002e. p. 13-34.
______. A comunicação pelo meio (teoria complexa da comunicação). Revista FAMECOS. Porto Alegre, n. 20,
p. 7-12, abr. 2003a.
______. Para além da globalização e do desenvolvimento: sociedade mundo ou império mundo?. In:
CARVALHO, Edgar de Assis; MUNDONÇA, Teresinha. Ensaios de complexidade 2. Porto Alegre: Sulina,
2003b. p. 7-20.
______. X da questão: o sujeito à flor da pela. Porto Alegre: Artemed, 2003 c.
______. Inclusão: verdade da literatura. In: RÖSING, Tânia M. K.; FALCI, Nurimar Maria (Org.). Edgar Morin,
religando fronteiras. Passo Fundo: Editora da UPF, 2004. p. 13-20.
MORIN, Edgar; MIOGNE, Jean-Louis Le. A inteligência da complexidade. 2. ed. São Paulo: Petrópolis, 2000.
NICOLÁS, Daniel Hiernaux. Elementos par um análisis sociogeográfico del turismo. In: RODRIGUES, Adyr B.
(Org). Turismo e geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 39-54.
NIELSEN, Christian. Turismo e Mídia – o papel da comunicação na atividade turística. São Paulo: Contexto,
2002.
ORGANIZAÇÃO MUNIDIAL DO TURISMO. Relatório anual. Madrid, 2000.
PEARCE, Douglas G.; BUTLER, Richard W. (Org.). Desenvolvimento em turismo: temas contemporâneos. São
Paulo: Contexto, 2002.
PENA, Luiz Carlos Spiller. Turismo: ação e reação. In: BAHL, Miguel (Org.). Turismo: enfoques teóricos e
práticos. São Paulo: Roca, 2003. p. 149-156.
PETRAGLIA, Izabel Cristina. Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do saber. Petrópolis: Vozes,
1995.
PINTO, Ildefonso Soares. Relatório dos estudos realizados, tendo em vista a organização da Estância de
Cruzeiro do Sul, Sede da Colônia Guarita. Porto Alegre, jan. 1920.
PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 12. ed. São Paulo: Brasiliense, 1970.
RODRIGUES, Adyr B. Águas de São Pedro: estância paulista: uma contribuição à geografia da recreação. 1985.
Tese (Doutorado) Faculdade de Geografia, Universidade de São Paulo, 1985. (Tese de Doutorado).
______. Geografia e turismo: notas introdutórias. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, n. 6, p. 1521, 1992.
_____. Turismo e desenvolvimento local. São Paulo: Hucitec, 1997a .
______. Turismo e espaço: rumo a um conhecimento transdisciplinar. São Paulo: Hucitec, 1997b.
REJOWSKI, Mirian; SOLHA, Karina T. Turismo em um Cenário de Mudanças. In: REJOWSKI, Mirian (Org.).
Turismo no percurso do tempo. São Paulo: Aleph, 2002. p. 71-115.
RIO GRANDE DO SUL. Relatório de estudos realizados tendo em vista a organização da Estância de Cruzeiro
do Sul, sede da Colônia Guarita. Secretaria dos Negócios das Obras Públicas, Diretoria de Terras e Colonização.
Porto Alegre: Livraria Globo, 1920.
ROSENDAHL, Zeny (Org.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998.
RÜDIGER, Franscisco. Introdução à teoria da comunicação. São Paulo: Edicon, 1998.
RUSCHMANN, Dóris. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente. Campinas: Papirus,
1997.
SANTAELLA, Lucia. Comunicação e pesquisa: projetos para mestrado e doutorado. São Paulo: Hacker, 2001.
SANTOS, Figueredo. Turismo: mosaico de sonhos: incursões sociológicas pela cultura turística. Lisboa: Colibri,
2002
SANTOS, José Rodrigues dos. O que é comunicação? Lisboa: Difusão Cultural, 1992.
SANTOS Milton. Espaço e sociedade. Petrópolis: Vozes, 1979.
______. O espaço dividido. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979.
______. Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1980.
______. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985.
______. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.
______. Técnica, espaço e tempo: globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: Hucitec,
1994a.
______. Metamorfoses do espaço habitado. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1994b.
______. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.
______. Por Uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 9. ed. Rio de Janeiro:
Record, 2002.
SILVEIRA, Maria Laura. Da fetichização dos lugares à produção local do turismo. In: RODRIGUES, Adyr
Balastreri (Org.). Turismo, modernidade, globalização. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 36-45.
SOJA, Edward W. Geografia pór-moderna: a reafirmação do espaço na teoria social crítica. Rio de Janeiro:
Zahar, 1993.
SOUZA, Marcelo Lopes de. A expulsão do paraíso: o paradigma da complexidade e o desenvolvimento sócioespacial. In: CASTRO, Iná Elias de; COSTA GOMES, Paulo César da; CORRÊA, Roberto Lobato (Org.).
Explorações geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. p. 43-87.
SOUZA, Maria Adélia de. Razão global/razão local/razão clandestina/razão migrante, reflexões sobre a cidadania
e o migrante: relendo (sempre homenageando) Milton Santos. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, n.
20, p. 64-67, 1995.
SWARBROOKE, John. Turismo sustentável: meio ambiente e economia. São Paulo: Aleph, 2000.
TESTON, Leonardo Triches. Estudo comparativo entre demandas: municípios de Iraí(RS) e Piratuba (SC): um
estudo de caso. Trabalho de Conclusão (Monografia) – Faculdade de Turismo/FAMECOS, PUCRS, 1999.
THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de
massa. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
TRIGO, Luiz Gonzaga Godói. Turismo e qualidade: tendências contemporâneas. Campinas: Papirus, 1996.
______. Entretenimento. São Paulo: SENAC, 2003.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Bases teóricas-metodológicas da pesquisa qualitativa em ciências sociais. 2.
ed. Caderno de Pesquisa Ritter dos Reis, Porto Alegre, v. 4, p. 01-156, nov. 2001.
TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. São Paulo: Difel, 1983.
VERA, J. Fernando. Análisis territorial del turismo. Barcelona: Ariel,1997.
VIZENTINI, Paulo Fagundes. Dez anos que abalaram o século XX. Porto Alegre: Novo Século, 1999.
WEARING, S.; NEIL, J. Ecoturismo: impacto, tendencias y posibilidades. Madrid: Sintesis, 1999.
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. 2. ed. Lisboa: Presença, 2001.
WOLTON, Dominique. Internet y después? Barcelona: Gedisa, 2000.
YÁZIGI, Eduardo. A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano. São Paulo: Contexto, 2001.