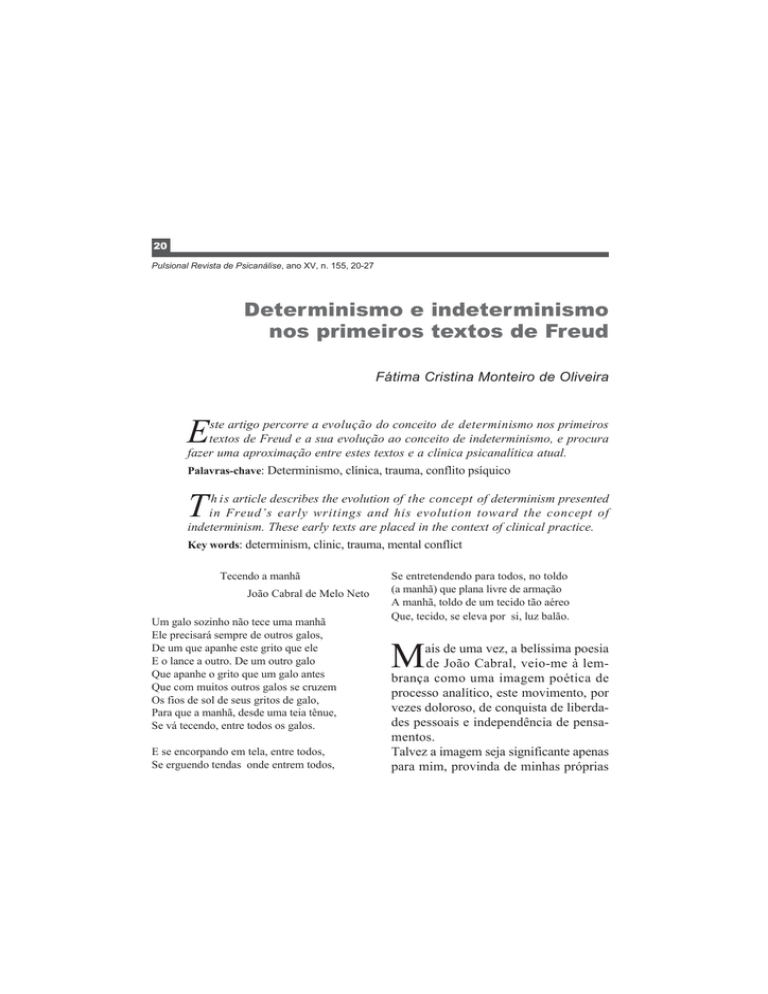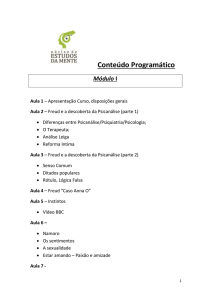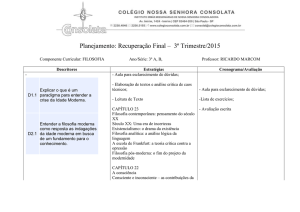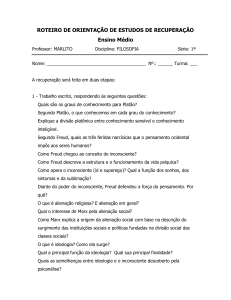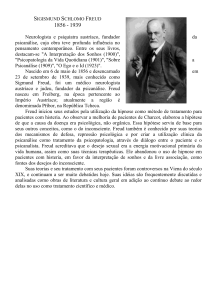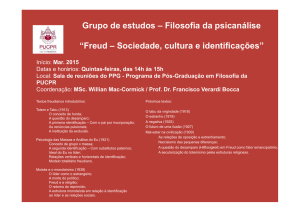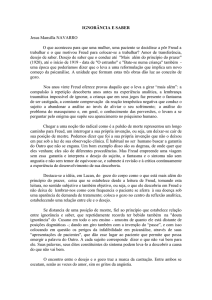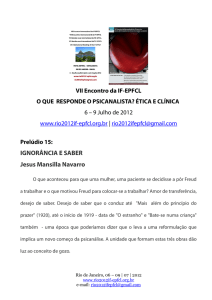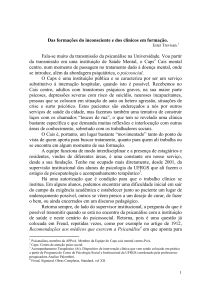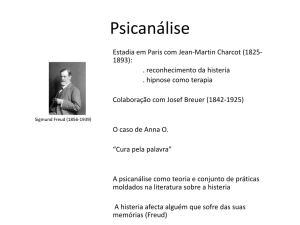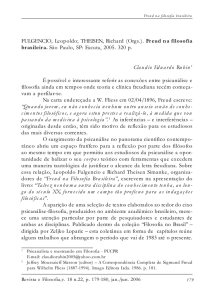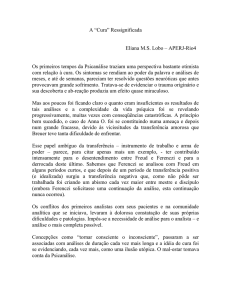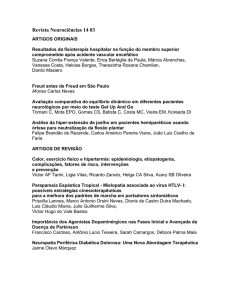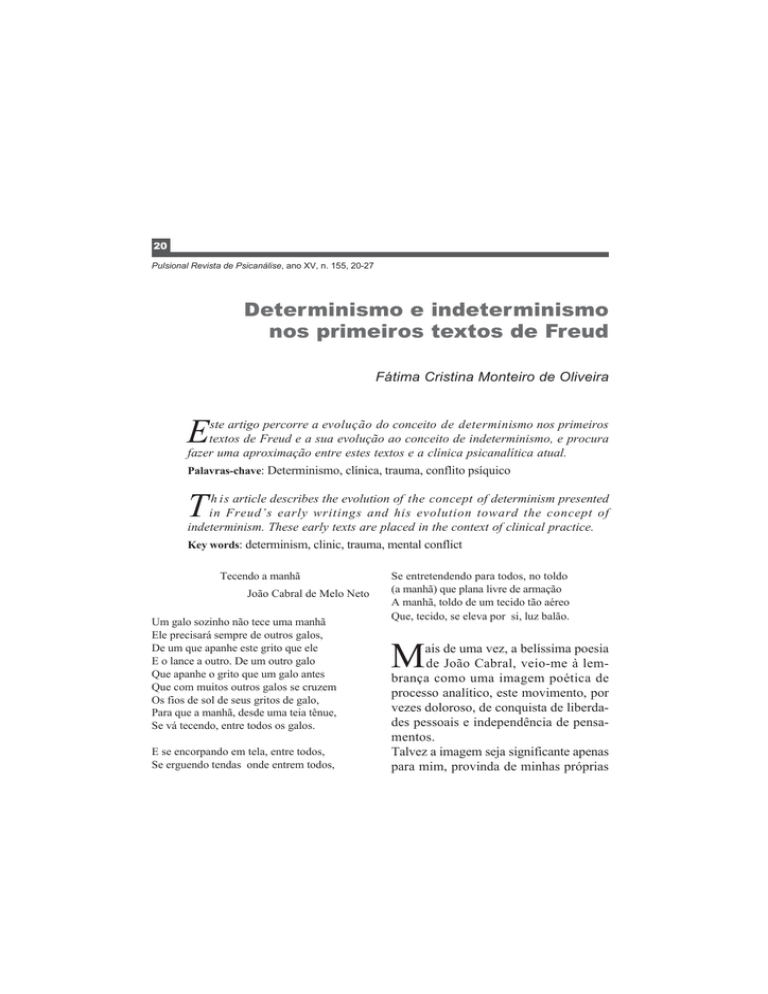
20
20
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, 20-27
Determinismo e indeterminismo
nos primeiros textos de Freud
Fátima Cristina Monteiro de Oliveira
E
ste artigo percorre a evolução do conceito de determinismo nos primeiros
textos de Freud e a sua evolução ao conceito de indeterminismo, e procura
fazer uma aproximação entre estes textos e a clínica psicanalítica atual.
Palavras-chave: Determinismo, clínica, trauma, conflito psíquico
T
h is article describes the evolution of the concept of determinism presented
in Freud’s early writings and his evolution toward the concept of
indeterminism. These early texts are placed in the context of clinical practice.
Key words: determinism, clinic, trauma, mental conflict
Tecendo a manhã
João Cabral de Melo Neto
Um galo sozinho não tece uma manhã
Ele precisará sempre de outros galos,
De um que apanhe este grito que ele
E o lance a outro. De um outro galo
Que apanhe o grito que um galo antes
Que com muitos outros galos se cruzem
Os fios de sol de seus gritos de galo,
Para que a manhã, desde uma teia tênue,
Se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
Se erguendo tendas onde entrem todos,
Se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
Que, tecido, se eleva por si, luz balão.
M
ais de uma vez, a belíssima poesia
de João Cabral, veio-me à lembrança como uma imagem poética de
processo analítico, este movimento, por
vezes doloroso, de conquista de liberdades pessoais e independência de pensamentos.
Talvez a imagem seja significante apenas
para mim, provinda de minhas próprias
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
Determinismo e indeterminismo nos primeiros textos de Freud
paixões tão voltadas para o ritmo e a sonoridade das palavras dos escritos da
poesia, que procura traduzir esta luta humana por uma significação. Cada um de
vocês há de ter seu modo pessoal de
simbolização, que pode estar na lembrança de uma música, em um filme, em
uma paisagem.
Posso dizer que a força das palavras, o
cruzamento dos fios de sol, a teia tênue
que vai se tecendo e se erguendo, o outro que está lá apanhando o grito ou não,
o encorpar em tela e planar livre de armação e, por fim, elevar-se por si, luz
balão, formam uma metáfora que a mim
tem o poder de poder significar e encantar. Cada um, decerto, terá as suas imagens, suas próprias metáforas, que estão
de acordo com sua história e suas paixões de sujeito.
Iniciarei este trabalho partindo da conceituação dos termos que abordaremos,
detendo-me um pouco em sua etimologia para, depois, caminhar na evolução
dos conceitos freudianos. No final deste trabalho, levantarei algumas idéias de
como os conceitos abordados se inserem na prática clínica da análise, bem
como algumas reflexões a que a elaboração deste trabalho me levou. Já em
1893, Freud, em “Sobre o mecanismo
psíquico dos fenômenos histéricos”,
enunciou que havia um aumento da
soma de excitação mediante uma impressão psíquica e a tendência para diminuir este soma “incômodo” para preservar a saúde. Freud faz neste trabalho
uma enunciação provisória do princípio
da constância, princípio segundo o qual
21
o aparelho psíquico tentaria manter
constante a quantidade de excitação que
contém, descarregando a energia (por
isso o afeto precisa ser descarregado) e
defendendo-se contra o aumento destas
excitações. Inicialmente, então, Freud
procurava, no tratamento das histéricas,
por um único trauma factual, ou seja,
um único fato, datável e isolável na história de vida da paciente. O conceito de
trauma está, então, ligado a acontecimentos externos reais que teriam ultrapassado a capacidade do ego em dar
conta da angústia, está ligado à incompatibilidade deste com o que o sujeito é,
do conflito que ele gera e da dor psíquica
que provoca se contrastado com o conjunto das representações deste sujeito.
Creio que podemos concluir disto que,
em diferentes épocas e culturas, portanto, a construção de sintoma neurótico
poderá ir se apresentando diferentemente, já que aquilo que envolve social ou
culturalmente os indivíduos é, fundamentalmente, diferente de uma época ou cultura para outra. Assim, o traumático não
é visto desde o início como vindo das
fantasias, das pulsões do paciente.
Como nos diz Monique Schneider
(1994, p. 14-5), em Afeto e linguagem
nos primeiros escritos de Freud:
O afeto enquanto traumatismo psíquico,
não é logo apresentado como a resultante
de um crescimento endógeno de excitação
que poderia fazê-lo aparecer como a expressão de uma busca partindo do próprio
sujeito.
E continua mais adiante:
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
22
Fátima Cristina Monteiro de Oliveira
É na realidade a analogia com um ferimento físico [como dissemos acima: traumatismo = ferida], que permite a Freud introduzir o afeto como o que vem surpreender e
perturbar. Nascida desta brecha pela qual
o mundo exterior procedeu a irrupção em
mim, a doença psíquica guardará sempre o
signo desta exterioridade que se mantém
sob a forma de uma violação perpetuada
do sujeito.
Freud já havia se dado conta de que uma
somação de experiências com modos de
funcionamento semelhantes e interligadas poderia ser a base onde mais tarde,
a posteriori, uma tomada de consciência
poderia fazer o paciente adoecer. Podemos, metaforicamente, comparar a trama psíquica a uma trama de fios de um
tecido no tear. Guardemos a imagem
deste tecido e imaginemos que vamos
pintá-lo com tintas. Por baixo de nossa
pintura aparecerá sempre a imagem em
alto relevo do tecido original... Sem a
tela, porém, não haveria a pintura. É
essa trama que possibilita a ressignificação, e aí temos, como extensão para a
clínica, que a análise deve ser possibilitadora de novas ligações, o sujeito não
deve ficar atado a um entramado único,
é preciso que uma nova apreensão libere estes fragmentos perdidos, isolados,
para que o sujeito não fique condenado
a repetir. Foi ainda na “Comunicação
preliminar” que Freud (1893) disse: “Os
histéricos sofrem principalmente de
reminiscências”. Esta frase nos assinala que as lembranças, as representações,
é que são patogênicas para a histérica e
são inconscientes. Assim, a histérica não
padece de uma doença física. Suas lembranças são esquecidas, mas esquecer
não é um fenômeno passivo, é colocar
para fora (o sufixo é es), fora de um lugar onde possa ser lembrado e isto por
causa do caráter doloroso, vergonhoso,
da lembrança. Pathos vem do grego e
dele deriva padecimento, paixão e também passividade. A derivação destes termos parece ir diretamente ao encontro
das palavras de Freud (1893):
Um insulto revidado mesmo que apenas
com palavras é recordado de maneira muito diversa de u m que tenha sido forçosamente aceito, e o uso lingüístico descreve caracteristicamente o insulto, sofrido
em silêncio, como uma mortificação
(kraenkung, literalmente: adoecimento).
Ora, em silêncio, representa a passividade com que a histérica sofria o trauma.
O insulto é patogênico por conter paixão
(afeto, excesso de emoção) que fica
contido, e a mortificação, o adoecimento, é o pathos, o padecimento. Manoel
Tosta Berlinck (2000) nos fala de Phatos
em seu livro Psicopatologia fundamental. Diz-nos que pathos brota do corpo.
O pathos faz o corpo sofrer e ao ser
ouvido traz em si mesmo o poder de
cura. O pathos é sempre provocado pela
presença ou imagem de algo que leva a
reagir, geralmente de improviso e aqui
reagir não quer dizer reclamar, gritar pois
aí a Patogenicidade seria menor. Ele é,
portanto, o sinal de que vivemos constantemente na dependência do outro.
O Princípio da Inércia rege o processo
primário (energia livre), correspondendo
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
Determinismo e indeterminismo nos primeiros textos de Freud
ao percurso da energia pelas representações do inconsciente. Já o Princípio da
Constância rege o processo secundário,
ou seja, dos sistemas pré-consciente e
consciente, que supõem uma ligação de
energia. Pode-se inferir, inclusive à prática clínica, que para as representações
inconscientes se tornarem conscientes
se requer uma enorme elaboração, uma
quantidade imensa de energia. Estes
princípios teóricos são o embasamento
para o tratamento da histeria pelo método catártico, o processo de cura pela
fala. Catharsis vem do grego, e significa purificação. O termo foi usado por
Aristóteles para designar o efeito produzido pelo espectador pela tragédia no
teatro. Assim Monique Schneider (Ibid.),
nos fala do catártico, como uma dramatização:
Longe da reprodução se constituir em um
segundo traumatismo, ela se dá antes como
uma dramatização do que pôde ser vivido
somente em um silêncio sufocado, estrangulado. (p. 38)
E mais à frente:
É difícil definir aqui o que reaparece apenas
na linguagem e o que reaparece no afeto, já
que a linguagem tem seu nascimento na
vontade do ser afetado em afetar o outro.
(p. 41)
Em “Estudos sobre a histeria” (18931895), Freud busca, portanto, um trauma único, cuja lembrança traria a cura da
doença, sendo os sintomas histéricos
símbolos da lembrança suprimida, uma
tentativa de religar a energia da represen-
23
tação que foi tornada inconsciente. Mas
já fala na sobredeterminação dos sintomas, ou seja, a evolução do trauma factual ao modelo econômico estava subliminar na evolução do pensamento freudiano já em seus primeiros trabalhos, no
princípio da inércia neuronal, no “Projeto...” onde se enuncia que “os neurônios
tendem a desembaraçar-se da quantidade excessiva de energia”.
No encaminhamento dos “Estudos sobre a histeria”, já se “assiste a um progressivo deslocamento do centro de gravidade”. No início o sintoma parecia ter
causa pontual, mas no percurso dos “Estudos...”, Freud vai percebendo que nas
análises das histerias, uma impressão
pré-sexual tornava-se traumatizante
quando reativada pela sexualidade que a
mulher adquiria, ou seja, a posteriori.
Logo, o traumático era da ordem do externo, mas também do interno. Podemos
compreender o significado de “a posteriori”, remetendo-nos à sua tradução em
alemão, nachtragenlich, onde teremos:
tragen: levar, carregar e nach: depois.
Figuradamente, na língua alemã, usa-se
como sinônimo de “não esquecer, guardar rancor”. Vale a pena citar literalmente Schneider (Ibid.):
A cena passada se carrega, então, de realidade no momento em que o sujeito a apreende como sendo este o lugar do qual se
surpreende ao ler seu desejo, no momento
em que é capaz de ler o acontecimento, não
somente intelectual mas fisicamente, em
uma visão corporal e afetiva. (p. 94)
E mais adiante:
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
24
Fátima Cristina Monteiro de Oliveira
É preciso, então esperar que esta perturbação se aposse do corpo para que, verdadeiramente os olhos se abram, conferindo
repentinamente à cena passada uma presença insustentável e intolerável. (p. 95)
Neste momento em que renuncia a um
trauma único, temporalmente localizado,
advindo de fora, como causa da patogenicidade. Freud não está renunciando à
influência de todas as experiências precoces, infantis, como determinantes daquilo que machuca, mas sim admitindo
que o traumatismo tem uma origem externa e interna. “A agressão externa não
machuca, a não ser que se acresça de
uma agressão interna e pulsional, única
capaz de dotar a primeira de um poder
de fascinação e paralisia” (Ibid., p. 96).
Quando Freud fala do efeito da revelação do reprimido emprega o vocábulo
Annahme, (admissão). Assim Schneider
observa que Annahme não significa ver,
objetivar, mas ao contrário, admitir, adotar, assimilar, em outras palavras, fazer
um movimento que implica o ser em vez
de desemplicá-lo.
E este movimento requer um mergulho
no afeto, não um afastamento e um entendimento racional deste. Citando Schneider integralmente em suas belíssimas
intuições:
Este trabalho exige não um simples olhar,
mas todo um trabalho que pode ir até a reestruturação interna do sujeito. Para que
este acontecimento seja conhecido é preciso que seja apreendido como ultrapassando o sujeito, impondo-se a ele do interior e
do exterior ao mesmo tempo, harmonia que
não se dá a não ser em um afeto: momento
de posse – renuncia onde o sujeito só dominará realidade à medida que se deixe surpreender por ela. (p. 99)
Disto temos conseqüências para a clínica. Se pretendemos ajudar o outro a mitigar seu sofrimento, saibamos que antes
ele terá que mergulhar nele, entrar, admiti-lo como traumatismo que pode ter vindo de fora, mas também de dentro dos
movimentos pulsionais e afetivos do sujeito. Assim, não é o afeto que se torna
outro, mas o sujeito que se torna outro
para receber dentro de si aquilo que, até
então, lhe era insuportável; e para isto
não basta lançar uma luz intelectual e sim
dar a esta noção de Annahme (tomada de
consciência) um sentido afetivo e visceral. Tem-se que chegar às entranhas
para uma ressignificação, um a posteriori
que não limite mais o sujeito, que o retire do amordaçamento. Assim, ao resignificar, objetiva-se que o paciente possa re-entender e mesmo re-dizer, recontar a sua história e que se abram
perspectivas de uma nova compreensão
que, atravessada pela emoção, possui um
valor terapêutico.
A definição filosófica do determinismo,
segundo o Aurélio, é: “A relação entre os
fenômenos pela qual estes se acham ligados de modo tão rigoroso que a um
dado momento, todo fenômeno está
completamente condicionado pelo que os
precedem e acompanham e condiciona
com o mesmo rigor os que lhe sucedem”. Pelo princípio do determinismo
psíquico, na mente nada aconteceria ao
acaso sendo cada acontecimento psíqui-
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
Determinismo e indeterminismo nos primeiros textos de Freud
co determinado por outros que o precederam. Este princípio fica, porém, mais
completo quando Freud, indo além das
causas lineares, postula que várias causas produzem um mesmo efeito. Assim,
a partir de 1900 (A interpretação dos sonhos), Freud propõe que além de muitas
causas produzirem o efeito do sonho há
o processo primário (inconsciente) podendo gerar efeitos conscientes. Deste
modo por meio de elementos inconscientes múltiplos (conteúdo latente – aquilo
que de fato está reprimido) é possível
construir uma rede de conexões que
constitui o sonho manifesto. O conteúdo inconsciente é substituído por outro
segundo determinadas linhas associativas. Um prazer inconsciente pode estar
desmascarado num sonho ou sintoma,
mesmo nos sonhos de angústia. Achei
interessante notar que sonho, em alemão, é traum, e trauma é trauma, portanto, os dois vocábulos parecem ter a
mesma raiz. Em “Cinco lições de psicanálise”, terceira conferência, Freud
(1909) também afirma sua crença no determinismo: “Notarão desde logo que o
psicanalista se distingue pela rigorosa fé
no determinismo da vida mental”. Para
ele não existe nada insignificante, arbitrário ou casual nas manifestações psíquicas. Antevê um motivo suficiente em
toda parte onde habitualmente ninguém
pensa nisso; está até disposto a acertar
causas múltiplas para o mesmo efeito,
enquanto nossa necessidade causal se
satisfaz plenamente com uma única causa psíquica.
Nessa mesma conferência, Freud fala
25
dos atos falhos como regidos pelo “determinismo psicológico”, pois exprimem
impulsos ou intenções que o sujeito procura manter fora da consciência, ou
como advindos do desejo reprimido, responsável também pela formação dos sintomas ou sonhos. Sendo os sintomas, os
atos falhos, os sonhos, os esquecimentos, regidos pelo determinismo psíquico,
eles se constituem em material de trabalho para o analista ter acesso às representações inconscientes do paciente, possibilitando-lhe enganches entre as representações, através das frestas abertas
por estas formações. São mais freqüentemente desejos da infância que conhecem uma fixação no inconsciente, mas
nem todas as experiências infantis são
destinadas ao inconsciente. Assim, os
conteúdos do inconsciente seriam os representantes das pulsões, as fantasias,
desejos, em que a pulsão se fixa. Nas
formações do inconsciente (sonhos, atos
falhos, lapsos, chistes), assim como nos
sintomas, existem associações simbólicas com o conteúdo inconsciente que
elas substituem. Deste modo, estas formações têm função de realização de desejo, e são regidas pelo processo primário, onde a circulação de energia pelas
representações é livre. Que conseqüências tem o determinismo para a prática
clínica? Quando o analisado é convidado a dizer o que pensa, ao livre-associar,
estamos favorecendo uma comunicação
em que o determinismo inconsciente,
surge para nós, criando cadeias associativas, preenchendo espaços que estavam
vazios, possibilitando a apreensão dos
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
26
Fátima Cristina Monteiro de Oliveira
conteúdos inconscientes. Deste modo,
partindo deste princípio de que nada na
mente acontece ao acaso, cada acontecimento psíquico está determinado por
outros anteriores, e as causas não são
apenas lineares já que várias delas podem
produzir um mesmo efeito, o psicanalista irá possibilitar novos enganches para
o paciente, apanhará sua fala e a enganchará com sua outra fala lá (como na
poesia que inicia e ilustra este trabalho).
Assim, podemos pensar no aparelho psíquico como sempre aberto às ressignificações, descapturado de um determinismo linear, estando as marcas sujeitas à
ressimbolização, à feitura de novos caminhos, já que o traumático não é aquilo
que está preso, encapsulado no passado,
mas sim aquilo que não encontrou no
momento de sua inscrição uma possibilidade de simbolização. Então, como analistas, nosso trabalho deve ir muito mais
além da procura por um trauma, do alívio ao encontrar uma causa datável. Não
podemos entrar pelo caminho simples,
se queremos facilitar as vias de trânsito
em que o paciente poderá caminhar. Há
que abrir-lhe colaterais, veredas, trilhas
estreitas, trilhas mais largas. Para isto temos que enxergar a história do sujeito,
daquele que se sujeitou a ela, e ajudá-lo
a historicizar. Não se trata de uma volta
na máquina do tempo, trata-se de uma
nova textualização, de um recompor, um
retranscrever aquilo que até agora insistia
como idêntico. É pegar uma fala aqui, a
outra lá, um sonho acolá, o esquecimento, o sintoma, vendo o que os determina, o que têm em comum, como se en-
trameiam, e possibilitando-lhes vias de
derivação, novas ligações, diferentes tecituras. Silvia Bleichmar, em seu livro A
fundação do inconsciente, nos expõe sua
proposta teórica sobre a constituição do
aparelho psíquico, partindo de que: O inconsciente não existe desde as origens.
Então,se o inconsciente é constituído,
constituição que se inicia no momento
do nascimento, quando uma sucessão
de inscrições se faz instituindo o aparelho psíquico daquele sujeito, podemos
perguntar-nos o que seria traumático e
de que depende a constituição deste aparelho? O traumático vem do outro humano, bem como pode vir dele a possibilidade de constituição do aparelho com
um entramado que possibilite o domínio
desta energia (traumática), por meio de
ligações colaterais que, tecidas em uma
rede, possibilitam formas de derivação
das pulsões que não apenas pela descarga. É a capacidade de ligação do aparelho que determinará a possibilidade de
contenção desta energia. O que o outro
humano oferece, nesta experiência que
propicia uma vivência de satisfação, não
é da ordem apenas da satisfação nutritiva. Estas primeiras inscrições não são
passíveis de consciência. Estes fragmentos precisam de um rearranjo, de um
outro que lhes ordene, transcreva, possibilite enganches e novas derivações. É
este outro que cuida, outro sexuado,
normalmente a mãe, possuidora de um
inconsciente que inserirá a criança na
cultura na qual está também envolvida.
É este outro que outorgará sentido ao
desconhecido, oferecerá um código, uma
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
Determinismo e indeterminismo nos primeiros textos de Freud
linguagem compartilhados. Propiciará
vias colaterais por onde a energia possa
se ligar, e a formação de um entramado
representacional no aparelho psíquico
deste bebê. Quanto mais vias de derivação, maior amplidão psíquica poderá ter
esta criança que, assim, não estará atada a um caminho único. O que encontramos no sintoma ou no sofrimento de
um paciente? Uma satisfação pulsional
proibida, um conflito, um desejo inconsciente. Podemos então, aqui, tentar redefinir o traumatismo, sendo traumático
aquilo que vem do outro e não funciona
como rearranjo, como transcrição, por
exemplo, o bebê que fica sob múltiplos
cuidados de “outros” que têm, cada um,
um inconsciente, uma história, um código; ou o bebê de uma mãe psicótica ou
com depressão profunda, impossibilitada de oferecer enganches, ligações e
mesmo desejo. Nas palavras de Silvia
Bleichmar (1984), devemos ter em vista “o caráter estruturante que a relação
com o outro tem para o sujeito humano”. Outro que faz transcrições, religações, que está presente com seu inconsciente, sua cultura, sua história, outro
que é historicizante, seja para o bebê, a
mãe, ou para o analisando, o analista que
lhe segue em seu processo.
REFERÊNCIAS
BERLINCK, Manoel Tosta. Psicopatologia
fundamental. São Paulo: Escuta, 2000.
BLEICHMAR, Sílvia. Nas origens do sujeito
psíquico. Porto Alegre: Artes Médicas
Sul, 1984. p. 49-75.
____ A fundação do inconsciente: des-
27
tinos da pulsão, destinos do sujeito.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 218.
FREUD, Sigmund. Estudos sobre a histeria.
Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 51-67.
____ Conferências introdutórias sobre
psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1969.
p. 265-91.
____ Cinco lições de psicanálise. Rio de
Janeiro: Imago, 1996. p. 50.
____ A interpretação dos sonhos. Rio de
Janeiro: Imago, 1999. p. 529-82.
LAPLANCHE, Jean. Interpretar (con) Freud
y otros ensayos. Buenos Aires: Nueva
Vision, 1984. p. 61-78.
____ e PONTALIS, J.-B. Vocabulário da
psicanálise. São Paulo: Martins Fontes,
2001. p. 488 e 522.
MELO NETO, João Cabral deo. A educação
pela pedra e depois. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1997. p. 15.
SCHNEIDER, Monique. Afeto e linguagem
nos primeiros escritos de Freud. São
Paulo: Escuta, 1994.
Artigo recebido em novembro/2001
Aprovado em janeiro/2002
Mais um e-mail da
Livraria Pulsional, para melhor
atendê-lo.
Pulsional Revista de Psicanálise, ano XV, n. 155, mar. 2002
[email protected]
Consulte-nos