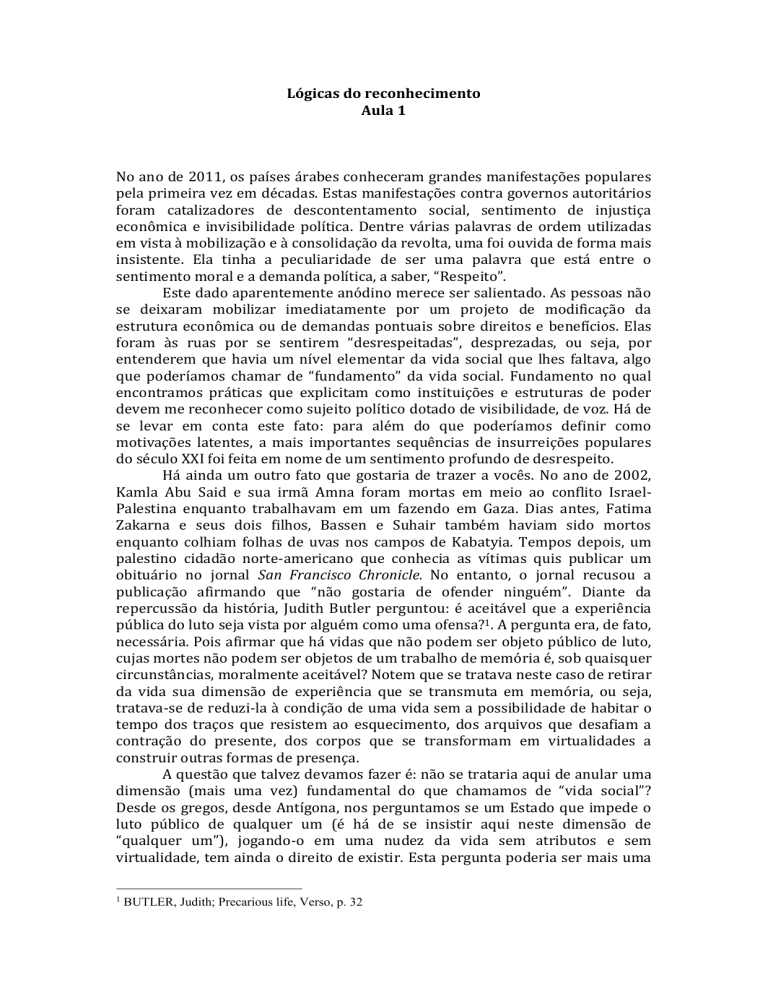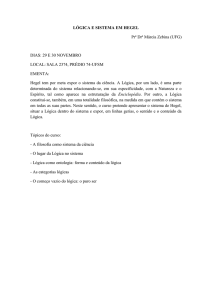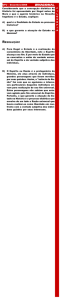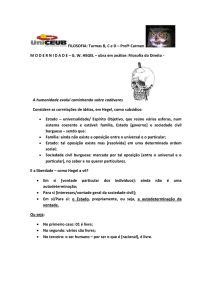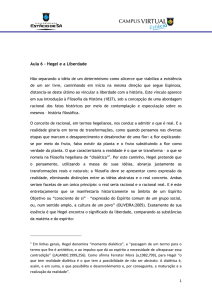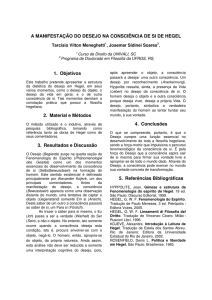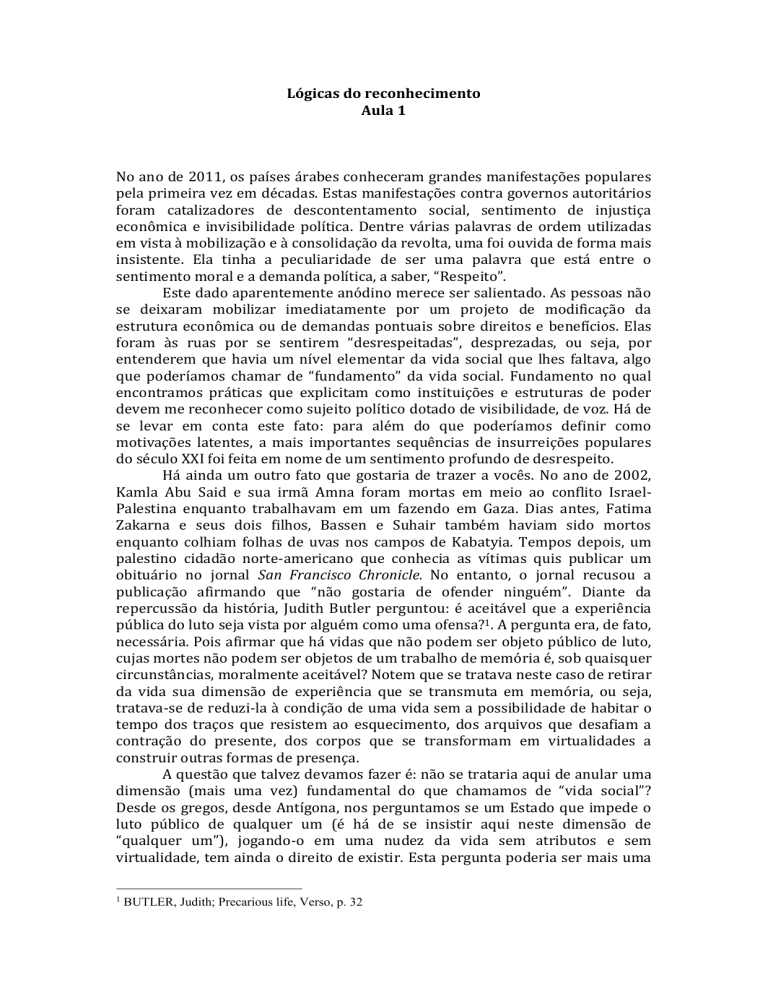
Lógicas do reconhecimento
Aula 1
No ano de 2011, os países árabes conheceram grandes manifestações populares
pela primeira vez em décadas. Estas manifestações contra governos autoritários
foram catalizadores de descontentamento social, sentimento de injustiça
econômica e invisibilidade política. Dentre várias palavras de ordem utilizadas
em vista à mobilização e à consolidação da revolta, uma foi ouvida de forma mais
insistente. Ela tinha a peculiaridade de ser uma palavra que está entre o
sentimento moral e a demanda política, a saber, “Respeito”.
Este dado aparentemente anódino merece ser salientado. As pessoas não
se deixaram mobilizar imediatamente por um projeto de modificação da
estrutura econômica ou de demandas pontuais sobre direitos e benefícios. Elas
foram às ruas por se sentirem “desrespeitadas”, desprezadas, ou seja, por
entenderem que havia um nível elementar da vida social que lhes faltava, algo
que poderíamos chamar de “fundamento” da vida social. Fundamento no qual
encontramos práticas que explicitam como instituições e estruturas de poder
devem me reconhecer como sujeito político dotado de visibilidade, de voz. Há de
se levar em conta este fato: para além do que poderíamos definir como
motivações latentes, a mais importantes sequências de insurreições populares
do século XXI foi feita em nome de um sentimento profundo de desrespeito.
Há ainda um outro fato que gostaria de trazer a vocês. No ano de 2002,
Kamla Abu Said e sua irmã Amna foram mortas em meio ao conflito IsraelPalestina enquanto trabalhavam em um fazendo em Gaza. Dias antes, Fatima
Zakarna e seus dois filhos, Bassen e Suhair também haviam sido mortos
enquanto colhiam folhas de uvas nos campos de Kabatyia. Tempos depois, um
palestino cidadão norte-americano que conhecia as vítimas quis publicar um
obituário no jornal San Francisco Chronicle. No entanto, o jornal recusou a
publicação afirmando que “não gostaria de ofender ninguém”. Diante da
repercussão da história, Judith Butler perguntou: é aceitável que a experiência
pública do luto seja vista por alguém como uma ofensa?1. A pergunta era, de fato,
necessária. Pois afirmar que há vidas que não podem ser objeto público de luto,
cujas mortes não podem ser objetos de um trabalho de memória é, sob quaisquer
circunstâncias, moralmente aceitável? Notem que se tratava neste caso de retirar
da vida sua dimensão de experiência que se transmuta em memória, ou seja,
tratava-se de reduzi-la à condição de uma vida sem a possibilidade de habitar o
tempo dos traços que resistem ao esquecimento, dos arquivos que desafiam a
contração do presente, dos corpos que se transformam em virtualidades a
construir outras formas de presença.
A questão que talvez devamos fazer é: não se trataria aqui de anular uma
dimensão (mais uma vez) fundamental do que chamamos de “vida social”?
Desde os gregos, desde Antígona, nos perguntamos se um Estado que impede o
luto público de qualquer um (é há de se insistir aqui neste dimensão de
“qualquer um”), jogando-o em uma nudez da vida sem atributos e sem
virtualidade, tem ainda o direito de existir. Esta pergunta poderia ser mais uma
1
BUTLER, Judith; Precarious life, Verso, p. 32
vez posta, como precisou ser várias vezes postas na história. O que acontece
quando há vidas impedidas de habitar o tempo do luto?
Mas eu gostaria ainda de trazer um terceiro fato. Na década de cinquenta,
o psicanalista Donald Winnicott recebeu uma paciente em seu consultório.
Tratava-se de uma mulher, por volta dos cinqüenta anos, que descobriu ter
construído uma vida na qual: “nada do que se passava realmente era
verdadeiramente importante para ela”2. Winnicott fala de um sentimento de não
“existir de fato”. Pois ela vive em um estado de dissociação no qual a parte “mais
importante dela mesma” encontra espaço em uma outra vida: uma vida
fantasmática. No entanto, nesta vida fantasmática onde ela pode conservar si
mesmo no interior da ilusão de onipotência própria ao que não precisaria se
confrontar com situações concretas para existir, ela descobre que fantasia como
um Outro. Winnicott remete tal alienação a situações infantis nas quais a
paciente, filha mais nova de um casal com várias crianças, relaciona-se com
outros internalizando um mundo já organizado. Assim, por exemplo, ela joga
com as crianças um “jogo dos outros”. Atividade que ela associa ao fantasiar.
Desta forma, ela podia: “observar-se jogando o jogo das outras crianças como se
ela observasse alguém outro no grupo do jardim de infância”3. Maneira de
afirmar que a paciente se sentia, na dimensão da fantasia, presa ao olhar do
Outro, jogando um jogo cujas regras não lhe parecem expressar algo que, de fato,
lhe concerne.
No entanto, a paciente produz um sonho importante para a sequência da
análise. Neste sonho, ela se debatia furiosamente com um tecido que deveria ser
cortado para produzir um vestido. Ela o cortava e recortava, fazia e desfazia, o
que lhe deixava exasperada. A interpretação de Winnicott girará em torno da
noção de “informidade” (formlessness). Tudo se passa como se o sonho mostrasse
como: “o meio ambiente tinha sido incapaz de lhe permitir, durante sua infância,
ser informe ‘recortando-lhe’ a partir de um padrão cujas formas tinham sido
concebidas por outros”4. A partir de tal interpretação, a paciente sente um
profundo sentimento de que, desde sua infância, ninguém havia reconhecido que
ela devia começar por ser informe.
O que estas situações tão distintas entre si tem em comum? Em que
experiência sociais como: manifestações de massa contra o sentimento de
desrespeito, vidas que não podem receber o luto público e uma mulher que se
sente jogando o jogo dos outros e que luta em seus sonhos contra um vestido
potencial por não saber o que fazer com sua informidade diriam respeito a um
problema simétrico? Haveria algo a unificar esses campos dispersos da política,
da moral e da clínica?
Creio que esta é talvez a melhor maneira de começarmos nosso curso
porque, de fato, ao menos para uma certa tradição filosófica, a resposta a darmos
a tais perguntas deveria ser necessariamente positiva. Nesses três casos, há um
nível fundamental da vida comum que foi bloqueado, produzindo com isto
situações que poderíamos chamar de “invisibilidade social”. Invisibilidade esta
que se traduz no sentimento de simplesmente não existir ou de ter uma
existência profundamente mutilada, como alguém preso entre a vida e a morte.
Ou seja, há em todos esses casos, de formas múltiplas, com intensidades
WINNICOTT, Donald; Jeu et réalité: l’espace potential, Paris: Gallimard, 1987, p. 44
Idem
4
Idem, p. 50
2
3
variáveis, a experiência de que a possibilidade de existência está inviabilizada. O
que nos coloca uma questão da maior importância e que certamente não será de
fácil resposta, uma questão que cada uma dessas situações nos coloca, a saber: o
que fenômenos como estes podem nos dizer a respeito do que entendemos por
“existência”?
Claro, há sempre aqueles que darão de ombros a questões como esta
dizendo que a determinação das condições de existência é um problema trivial
que se reduz a verificação de enunciados constatativos. Eles dirão então que algo
existe na medida que pode ser verificado pela percepção em condições normais.
A percepção constataria o que está lá, pronto para ser desvelado. E poderíamos
ainda naturalizar tais “condições normais” afirmando que elas corresponderiam
a padrões normativos gerais dos órgãos humanos. Padrões estes que, por sua
vez, poderiam ser potencializados a partir de instrumentos e condições de
laboratório.
Mas poderíamos também dizer que a determinação das condições de
existência não é dependente de enunciados constatativos. Nós não apenas
constatamos algo quando dizemos que algo existe. Nós produzimos algo, ou seja,
tratam-se de enunciados performativos. Muitas vezes, dizer que algo existe é
inclui-lo em um horizonte de experiência do qual ele não fazia parte, modificar
não apenas o estatuto de algo, mas a própria estrutura de tal horizonte. Dizer
que algo existe é inseri-lo em outra rede de efeitos. Pois a existência não é apenas
um fato, ela é um valor. Isto implicaria, entre outras coisas, colocar em questão
uma das mais fundamentais crenças do senso comum, a saber, a crença em uma
natureza meramente especular da percepção. Como se nossa percepção fosse
apenas um espelho do mundo, que pode ficar opaco às vezes, mas que também
pode ser polido até um grau elevado de translucidez.
Contra tal crença na especularidade da percepção poderíamos insistir
como o mundo humano estabelece uma relação profunda entre existência e algo
que devemos chamar aqui, algo que será o verdadeiro objeto de nosso curso e,
por isto, exigirá um movimento lento e detalhado de definição, de
“reconhecimento”. Se a existência não é um fato, mas um valor é porque toda
existência deve ser, necessariamente, existência reconhecida.
Neste sentido, poderemos dizer que aquilo em comum nos casos que
trouxe a vocês é: todos eles explicitam um sofrimento de inexistência devido à
impossibilidade de realização de exigências de reconhecimento. Ao sair às ruas
exigindo “respeito” é como se falássemos que até agora não existimos como
sujeitos políticos, não fomos reconhecidos no interior das dinâmicas sociais de
poder. Ao não admitir que certas vidas não possam ser objetos de luto, estamos a
dizer ser inaceitável que elas passem à invisibilidade, que lhes sejam negadas as
condições de reconhecimento. Ao dizer que para existir, ela precisava ser
reconhecida como informe, ser reconhecida para além da figura de uma boa
jogadora que joga o jogo dos outros, a paciente de Winnicott adoece por viver em
um mundo no qual as condições de reconhecimento de uma dimensão
fundamental de seu desejo foi negada.
Que este sentimento de reconhecimento negado perpasse a história de
nosso desejo, assim como nossa existência política e as possibilidades de
nomeação no interior da linguagem, isto apenas demonstra como não estamos
diante de dimensões de experiência completamente autônomas entre si e que
cabe à filosofia reconstruir o sistema de implicação entre campos que nossa
época gostaria de nos fazer acreditar que são radicalmente distintos. O que já
pode servir como uma primeira razão para analisarmos conceitos
aparentemente genéricos como “reconhecimento”. Pois talvez sua genericidade
tenha de fato uma função.
Existir é ser reconhecido
Mas voltemos por um instante a ideia de que reconhecimento seria,
principalmente, um modo de determinação de existência. Ao invés de começar por
fornecer a vocês aquela que seria a definição atualmente hegemônica de
reconhecimento, a saber, a relação mútua e simétrica entre indivíduos autônomos
em sua existência social, relação que exige uma mutualidade cooperativa entre
indivíduos, assim como a possibilidade de expressão e realização de seus
interesses autônomos e da consciência de suas auto-limitações recíprocas, eu
gostaria de construir com vocês uma outra compreensão do que está em jogo na
maneira que certa tradição filosófica trouxe à reflexão o problema do
reconhecimento. Eu gostaria de mostrar a vocês durante este curso que tal
definição de reconhecimento, tão presente atualmente na filosofia social, na
reflexão moral, na teoria política, na clínica do sofrimento psíquico, definição
para a qual convergem conceitos como intersubjetividade, ação comunicativa e
cooperação é insuficiente e irredutivelmente normativa.
Para tanto, seria o caso de começar com uma pergunta que se mostrará
simples apenas em aparência, a saber, o que significa dizer que só o que é
reconhecido existe? Que tipo de existência é esta que emerge a partir da
realização de dinâmicas de reconhecimento? Eu gostaria de insistir em três
consequências que definirão o horizonte a partir do qual o problema do
reconhecimento se desenvolverá a partir do século XIX.
A primeira consequência de uma afirmação que vincula reconhecimento e
existência é insistir que a existência é indissociável de algo que poderíamos
chamar de “estrutura implicativa”. Existir é produzir implicações, é estabelecer
relações implicativas, pois relações que transformam ambos os termos em
relação. Reconhecer seu desejo é, por exemplo, faze-lo, ao mesmo tempo, existir
e modificar meu próprio desejo. Esta implicação pode ser restrita, quando o
reconhecimento modificar apenas um conjunto de relações locais e
contextualmente determinada, ou genérica, quando modificar estruturas gerais
válidas em todo e qualquer contexto.
Neste sentido, devemos inicialmente distinguir “reconhecimento” e
“recognição”. Várias são as línguas que operam tal distinção: Anerkennung e
Rekognition, recognition e aknowledge, reconnaissance e recognition. Que nos
aproveitemos da força especulativa da linguagem ordinária. Pois esta distinção
permite a operacionalização de uma diferença filosoficamente relevante.
Reconhecer não deve ser entendido simplesmente como confirmar o que já
conheço, ver de novo, encontrar algo uma segunda vez, como se fosse questão de
re-conhecer, de re-apresentar, de re-presentar. Em todas essas situações,
encontramos o sentido de uma identificação que assimila o não conhecido ao
conhecido, o não visto ao já visto. Vejo alguém ao longe e reconheço se tratar de
um velho conhecido. Nada ocorreu, a não ser a adequação da representação ao
objeto representado. Como nada afinal ocorre quando Sócrates mostra, em
Menon, que o escravo sabe operar a duplicação da área do quadrado através da
dedução da diagonal, mesmo que não se dê conta disto. Sócrates apenas
atualizou o que já estava lá como reminiscência, o escravo apenas, como dirá
Platão, “recuperou a ciência”5. Por isto, não podemos dizer se tratar de
reconhecimento, o escravo não permite emergir algo que lhe modifica e que
modificaria também Sócrates. Sócrates continua mestre, o escravo continua
escravo, mesmo que saiba agora duplicar quadrados. Ele apenas operou uma
recognição.
No entanto, é verdade que este parece o sentido mais imediato do termo
“reconhecimento”, ou seja, confirmar o que já sei, assegurar-me da existência de
algo que já espero. Mas gostaria de insistir que esta identificação de
acontecimentos no interior de um sistema prévio de expectativas não saberia ter
força implicativa alguma. Pois implicar-me com algo é integrar ao meu horizonte
de experiência aquilo que até então dele não fazia parte. Implicação é uma
operação de assimilação do que não aparecia como meu, que pressupõe por isto
formas de transformação. Por isto, reconhecer é indissociável da compreensão
da existência como processo.
A importância histórica da noção de reconhecimento, fato que como
veremos ocorre a partir do início do século XIX no interior do idealismo alemão
através de Fichte e, principalmente, Hegel, só poderia ocorrer em uma era
histórica na qual a existência não será determinada como expressão de uma
substância, mas como desenvolvimento de um processo de alterações contínuas
desdobrando-se em um tempo prenhe de contingências. Desenvolvimento
processual que aparece nesta forma de associar, na mesma época que o
reconhecimento se consolidar como problema filosófico central, determinação
do ser e historicidade, desenvolvimento processual no interior do tempo. Pois se
reconhecer não é apenas produzir a recognição de algo é porque se trata de
permitir que algo implique minha própria existência, abrindo-lhe a um
movimento que não lhe era imanente, ou que só lhe é imanente de forma
retroativa, após o reconhecimento de algo que me aparece como outro.
Neste sentido, a segunda consequência de vincular reconhecimento e
existência é assumir uma tese forte a respeito da relação entre ser e pensar. Pois
afirmar que só aquilo que é reconhecido existe é uma das formas possíveis de
dizer que ser e pensar são pois o mesmo. O que não significa dizer que só o que é
atualmente pensado existe, tese que nos levaria a elevação da gramática atual do
pensamento a condição intransponível de determinação de existência. Na
verdade, temos a proposição de que o que é próprio ao que entendemos por
“ser” é indissociável de formas específicas de reflexividade. Há uma reflexividade
imanente ao ser. Ao pensar, não produzo necessariamente uma clivagem entre as
coisas tal como elas aparecem para mim e as coisas tais como seriam por si
mesmas. Ao pensar, eu permito que as coisas emerjam em sua existência.
Isto, como vocês podem imaginar exige muito a se dizer a respeito do que
pode significar “pensar” neste contexto. Afinal, poderíamos nos perguntar se
penso quando represento algo, quando disponho algo diante de mim [como
vemos no sentido da palavra vor-stellen] fazendo do sujeito um fundamento
normativo para toda e qualquer existência? Ou penso quando consigo me
aproximar do que me despossui das minhas condições iniciais de representação
e de apreensão?
5
PLATÃO; Menon, 85d
A este respeito, lembremos como todo reconhecimento é uma operação
reflexiva. Retomemos o sentido originário da noção de reflexão, este que aparece
pela primeira vez com John Locke e que se define como: “a observação que a
mente tem de suas próprias operações”6. Há uma experiência de auto-apreensão
do pensamento em toda reflexão, uma capacidade do pensamento inspecionar
seu próprio modo de apreensão. Neste sentido, a reflexividade imanente ao
reconhecimento tenta descrever estruturas de correlação fundamental entre
auto-referecialidade e referência a outro, entre relação a si e relação a outro. Esta
é uma das tensões fundamentais a sustentar os processos de reconhecimento e
ela nos leva a uma questão maior: em que condições a auto-referencia é, ao
mesmo tempo, uma referência a outro? Que tipo de autonomia podemos derivar
de uma operação na qual, de forma inesperada, a referência a si e a referência a
outro se confundem? Seria ainda possível falar em identidade no interior das
operações de reconhecimento? Reconhecer algo que é, ao mesmo tempo,
referência a si e referência a outro é ainda reconhecer uma identidade ou
precisaremos de um conceito mais preciso?
Como derivação direita deste ponto, teríamos a última consequência da
afirmação do vínculo entre reconhecimento e existência. Pois a noção de
reconhecimento, e ninguém melhor do que Hegel compreendeu isto, é
indissociável de uma compreensão da natureza conflitual da existência. Existir é
estar sob conflito. Proposição necessária se assumirmos que reconhecer é fazer
existir o que até agora não foi contado como existente, é reconfigurar os modos
atuais de existência. Pois esta exclusão não foi fruto de um acaso. Toda existência
está submetida a um jogo de forças, à perpetuação de uma configuração
específica de forças. Por outro lado, todo reconhecimento efetivo implica
modificações no jogo atual de forças, o que não pode ocorrer sem que emerja a
ordem do conflito. O que não produz conflitos não existe, existir é produzir
conflitos e este talvez seja um dos fundamentos de toda teoria do
reconhecimento digna deste nome.
No entanto, há de se lembrar que conflitos podem assumir, grosso modo,
duas formas fundamentais. Posso entrar em conflito por exigir um lugar no
interior do campo atual de visibilidade. Exijo a partilha de certos atributos, o
exercício de certos direitos que não me foram até agora conferidos. Neste caso,
notem como aceito a existência de algo como uma “gramática social de conflitos”.
Há uma gramática pressuposta que traduz os conflitos às determinações
possíveis e internas a um campo comum de regulação atualmente em operação.
Eu não coloco em questão o exercício de direitos e a determinação de atributos,
eu apenas exijo que eles também sejam aplicados a mim. Como se diz, eu peço o
que é meu.
Mas há situações nas quais posso entrar em conflito a respeito da
existência ou não de uma gramática comum de regulação. Posso dizer que o
conflito é a respeito da existência da própria gramática. Posso questionar que
exista uma gramática social de conflitos partilhada potencialmente por todos.
Assim, fica claro que posso ter um conflito sob regras e um conflito sobre regras e
este segundo caso é certamente o mais complexo. Pois este conflito colocará uma
questão fundamental a respeito dos modos de reconhecimento. Como
reconhecer o que nega a própria existência de uma gramática atual de condições
6
LOCKE, John; Essay concerning the human understanding, Livro II, Capítulo I, parágrafo 4
de reconhecimento? O que gostaria de mostrar é que, longe de uma simples
aporia, temos aqui uma dinâmica estruturante de algumas de nossas
experiências fundamentais.
Um retorno a Hegel
Recapitulando. Temos então na temática do reconhecimento um modo de
determinação de existência que é, ao mesmo tempo, implicativo, reflexivo e
conflitual, com níveis diversos de conflitualidade. O que gostaria de fazer neste
curso é não apenas descrever a emergência histórica deste conceito de
reconhecimento implicativo, reflexivo e conflitual, mas também expor sua
presença no pensamento contemporâneo, sua capacidade de tensionamento das
reflexões políticas, morais e clínica da vida contemporânea. Neste sentido, o
curso tem uma função dupla.
Em um primeiro momento, será questão de descrever como o problema
do reconhecimento aparece no interior do idealismo alemão. Veremos como é
através do problema do reconhecimento que se inicia o que poderíamos chamar
de “guinada materialista do idealismo”. Pois o reconhecimento nos abre para a
tematização da gênese das estruturas da consciência através das relações
concretas de trabalho, desejo e linguagem. Se a consciência só é enquanto
reconhecida, então serão os campos concretos de reconhecimento que
determinarão sua estrutura, seus modos de apreensão e pensamento. A filosofia
deverá assim se direcionar à compreensão das modalidades concretas de
trabalho, de desejo e de linguagem enquanto expressões de uma gênese social da
consciência. Gênese esta que demonstra como toda proposição de validade
deverá ser historicamente situada.
Mesmo que a emergência do conceito, em sua forma explícita, deva ser
remetida a Fichte e seus Fundamentos do direito natural, é com Hegel que
encontramos o pleno desenvolvimento do problema do reconhecimento, isto em
um movimento que perpassa seus textos de juventude (em especial o
manuscrito intitulado Sistema da eticidade) até alcançar a Fenomenologia do
Espírito, para ser retomado na Enciclopédia e nos Princípios da Filosofia do
Direito. Nós faremos este trajeto procurando mostrar como ele explicita as fontes
de uma dialética materialista. Ou seja, a tese a ser defendida aqui é: o problema
do reconhecimento é a maneira hegeliana de retirar a filosofia de uma orientação
transcendental, integrando uma perspectiva genética das estruturas da
consciência que nos permite a tematização do caráter formador da história e dos
processos materiais de organização do trabalho, de determinação do desejo e
realização social da linguagem.
Em Hegel, a temática do reconhecimento será ainda uma maneira
inovadora de compreender a natureza dos conflitos sociais. No entanto, aqui
veremos uma segunda hipótese. Pois há de se perguntar o que teria de realmente
inovador na maneira compreender conflitos sociais não apenas como conflitos
de redistribuição de riquezas, de revolta contra a espoliação e contra a ausência
de diretos dados a certas classes privilegiadas, mas como lutas por
reconhecimento. Pois a questão fundamental só pode aparecer com a pergunta:
mas, afinal, o que Hegel tem em vista quando insiste em uma dimensão
estruturante da luta por reconhecimento na determinação de todo e qualquer
sujeito?
Como veremos, esta pergunta é mais complicada do que poderia
inicialmente parecer. No entanto, ela é decisiva se não quisermos entrar na
ilusão retroativa que consiste a encontrar em toda filosofia sensível à
importância das relações intersubjetivas (como Rousseau, Hobbes, Locke ou até
mesmo Pascal e os moralistas franceses com sua consciência do caráter
constitutivo do amor-próprio e da estima na determinação social dos sujeitos) a
presença implícita do problema do reconhecimento. Hegel está a pensar em uma
dificuldade bastante específica vinculada a emergência de um conceito de sujeito
cujas determinações ontológicas será necessário precisar. Pois veremos como
Hegel lembra que há vários níveis de reconhecimento, mas há um nível
fundamental cuja falta implicará necessariamente uma alienação social
determinante.
Neste sentido, lembremos como, por exemplo, a propriedade é uma forma
de reconhecimento. Ter uma propriedade é exigir que outros reconheçam minha
posse, é levar outros a verem, em minhas propriedades, uma determinação
fundamental de minha pessoa. Da mesma forma, o contrato é um regime de
reconhecimento, pois ele implica meu reconhecimento como sujeito provido de
certos direitos de gozo de bens, de usufruto. A pessoa é, por sua vez, outro
regime de reconhecimento que me define como objeto de normatividades
jurídicas específicas. A identidade social é, por fim, também uma forma de
reconhecimento. Mas será algo parecido a tais determinações que Hegel tem em
vista? As lutas por reconhecimento das quais fala Hegel seriam lutas sociais
levadas a cabo por sujeitos que querem ser reconhecidos como pessoas, como
proprietários, como portadores de direitos assegurados por relações contratuais,
como identidade sociais? Ou Hegel está a dizer que há uma dimensão de
reconhecimento para além de tais determinações e é ela que nos coloca
problemas reais, é ela que, para nós, é difícil a pensar.
Notem como esta questão nos é contemporânea. Pois uma corrente
fundamental das discussões contemporâneas de reconhecimento, esta que
apareceu no interior da Terceira geração da Escola de Frankfurt (em especial
Axel Honneth) dirá ainda hoje, entre outras coisas, que: “sujeitos esperam da
sociedade, acima de tudo, reconhecimento de suas demandas de identidade”7. O
que não poderia ser diferente para alguém que afirmará: “sujeitos percebem
procedimentos institucionais como injustiça social quando veem aspectos de sua
personalidade, que acreditam ter direito ao reconhecimento, serem
desrespeitados”8.
Afirmações como estas colocam no horizonte regulador dos processos de
reconhecimento um conceito de “integridade pessoal” cujo pressuposto
fundamental é a naturalização de facto das estruturas das noções psicológicas de
“indivíduo”, “identidade” e “personalidade”. A consequência maior desta
pressuposição será definir a própria gênese da individualidade moderna como
um fundamento normativo pré-político para as dinâmicas sociais de
reconhecimento, ou seja, como horizonte valorativo de função transcendental
que funciona como um princípio formal de regulação das expectativas sociais de
emancipação. Algo que deve ser politicamente confirmado, e não politicamente
desconstruído.
HONNETH, Axel; “Redistribution as recognition: a response to Nancy Fraser” in: HONNETH, Axel
and FRASER, Nancy; Redistribution or recognition, Nova York: Verso, 2003, p. 131
8
Idem, p. 132
7
Neste ponto faz sentido retornar a Hegel. De fato, é isto que gostaria de
propor a vocês na primeira parte de nosso curso, a saber, um retorno a Hegel.
Gostaria de mostrar como toda sua teoria do reconhecimento é construída como
uma crítica exatamente ao caráter regulador da individualidade moderna e seus
conceitos de pessoa, identidade e personalidade. Talvez vocês já devam ter
tomado conhecimento da tese de que a filosofia hegeliana seria a elaboração
filosófica de três acontecimentos maiores para a formação da individualidade
moderna e seu princípio de subjetividade, a saber, a reforma protestante e sua
noção de interioridade, a revolução francesa e seu sujeito universal de direitos, a
ascensão do livre-mercado e seus indivíduos que são proprietários de si, que
definem sua liberdade sobretudo como auto-pertencimento (self-ownership).
Sem desconsiderar a relação da filosofia hegeliana à elaboração
especulativa de tais acontecimentos históricos, gostaria de mostrar como há
outra leitura possível. Digamos que Hegel elabora filosoficamente a reforma
protestante, mas a partir de sua noção de conflito e resistência. Da mesma forma,
a revolução francesa, mas sua noção de “revolução” que abala o enraizamento
das práticas e modos de julgamentos em costumes, tradições e transmissões. Por
fim, Hegel leva em conta a ascensão do livre-mercado, mas a partir de sua
dinâmica paradoxal de produção de riqueza e aumento da espoliação, ou seja, de
sua regulação social imperfeita. Isto cria uma dupla tarefa de, ao mesmo tempo,
saber dar visibilidade a uma subjetividade capaz de colocar em questão tudo o
que aparecia arraigado em hábitos e tradições, abrindo espaço a uma potência de
negação até então nunca vista, e produzir institucionalidades que não repitam a
estrutura paradoxal do livre-mercado.
Tal situação produzirá a emergência de um conceito de sujeito
absolutamente singular que será recuperado em momentos maiores do
pensamento dos séculos XIX e XX. Neste sentido, gostaria de aproximar tais
questões que veremos em Hegel do horizonte de constituição da crítica de Marx
à alienação. Ou seja, trata-se de afirmar que há uma teoria do reconhecimento na
base da crítica marxista das sociedades capitalistas e de seus mecanismos de
alienação no trabalho. Teoria que só pode ser legível na linha direta das relações
entre Hegel e Marx. A crítica social de Marx não é apenas uma crítica da
espoliação econômica, sua critica da propriedade não é apenas uma crítica
econômica. Ela é a reflexão sobre um regime de sofrimento social, a saber, a
alienação, resultante de bloqueios em processos de reconhecimento. Por isto, ela
não é apenas uma crítica econômica, mas também uma crítica política e mesmo
moral.
Dois modos de reconhecimento
Feito isto, eu gostaria de apresentar a vocês dois modelos de recuperação
da temática do reconhecimento no século XX. Um estará ligado à filosofia
francesa contemporânea e seus desdobramentos. Ele se inicia com um
comentário da Fenomenologia do Espírito, feito por Alexandre Kojève e se
desdobrará de forma hegemônica até os anos cinquenta. O outro estará ligado a
segunda e terceira geração da Escola de Frankfurt, assim como a certos setores
da filosofia anglo-saxã sensíveis ao pensamento hegeliano, e se desdobrará,
principalmente, do início dos anos noventa até hoje.
O primeiro modelo aparece nos anos trinta através da elevação da luta
por reconhecimento a eixo central de uma interpretação de Hegel produzida por
Alexandre Kojève. Esta leitura, cuja influência nas décadas seguintes na França
será impressionante e que articulava temáticas de Heidegger a Hegel e Marx,
estava fundada na elevação do desejo a eixo fundamental de análise dos
processos sociais de reconhecimento. Sartre, Marleau-Ponty, Lacan, Bataille,
Blanchot, Eric Wail, Raymond Aron. Todos eles foram, de uma forma ou outra,
influenciados pela construção do campo de problemas propostos por Kojève.
Poderíamos começar por nos perguntar por que foi apenas nos anos
trinta que a tematização específica do problema do reconhecimento emergiu
novamente. Qual é a configuração histórica que produz esta emergência
conceitual filosófica? A hipótese que gostaria de trabalhar com vocês é: foi a
constituição de um horizonte revolucionário nos anos vinte (Revolução Russa,
Revolução alemã abortada etc.) que fará a problemática do reconhecimento
emergir outra vez, da mesma forma como foi o horizonte de Revolução Francesa
que levou Hegel a tematizar as dinâmicas de reconhecimento a partir da
desestabilização das relações de dominação e servidão, da emancipação em
relação à servidão (lembraria aqui de intepretações, como a de Susan BuckMorss, que verão na revolução dos escravos no Haiti uma das referências
importantes da dialética hegeliana do senhor e do escravo 9). A presença de um
horizonte revolucionário efetivo leva a filosofia a tematizar reversões de poder
em relações de dominação e servidão que abrem a possibilidade de uma
existência emancipada a partir do reconhecimento do desejo. Ou seja, é neste
momento que o desejo aparecerá como categoria política pela primeira vez de
forma clara no século XX. Como se as possibilidades abertas pelas reversões das
relações de poder nos levassem necessariamente à tematização da natureza
política do desejo, à tematização dos regimes de sua alienação como condição
fundamental de emancipação social.
Esta perspectiva será desdobrada e ganhará novas inflexões nos trabalhos
de dois dos mais atentos alunos de Kojève, a saber, Jacques Lacan e Georges
Bataille. Por isto, gostaria de mostrar a vocês como a temática do
reconhecimento do desejo se desdobrará nos dois casos, seja através de uma
teoria do desejo que visa abrir a uma existência capaz de se afirmar contra os
mecanismos de alienação e suas formas de sofrimento psíquico (Lacan), seja
através de uma teoria da soberania que se colocará como contraposição à
reprodução material da sociedade do trabalho (Bataille). Lacan será responsável
por compreender sintomas, inibições e angústias que produzem o sofrimento
psíquico como déficits de reconhecimento a serem tratados por uma clínica
desmedicalizada, baseada na reorientação da palavra do analisando. Veremos os
detalhes deste modelos, assim como sua vinculação a um horizonte mais amplo
de recuperação da temática do reconhecimento.
No entanto, haverá um segundo modelo de recuperação da temática do
reconhecimento. Este não será solidário de um horizonte revolucionário, mas de
uma certa retração das potencialidades de transformação social global, com a
emergência de novos campos de conflitos sociais ligados ao sentimento de
desprezo social por grupos mais vulneráveis. Neste contexto, a noção de políticas
de reconhecimento retorna inicialmente sob a forma de reflexões sobre as
9
Ver BUCK-MORSS, Susan; Hegel, Haiti and universal history, University of Pittsburgh Press, 2009
potencialidades imanentes a sociedades multiculturais (Charles Taylor) para se
transformar, ao final, no eixo de uma reconstrução sistêmica dos potenciais
normativos de uma sociedade capaz de preencher exigências de estima recíproca
e respeito mútuo de indivíduos (Axel Honneth).
Eu gostaria de mostrar como esses dois modelos representam uma
espécie de embate a respeito das potencialidades imanentes a uma teoria do
reconhecimento, como eles exploram tendências diversas internas às estratégias
hegelianas. Ao final, eu gostaria de propor a vocês um eixo de desdobramento
contemporâneo da temática do reconhecimento que dê conta de uma teoria da
emancipação adaptada à nossa era histórica. Tal teoria procurará deslocar a
discussões sobre liberdade para fora das estratégias próprias à afirmação da
autonomia, isto em uma tentativa de recuperar potencialidades próprias ao
primeiro modelo de reconhecimento proposto no interior da filosofia
contemporânea francesa. Ela procurará pensar determinações sociais para além
da estruturação social da identidade, recuperando com isto um elemento a meu
ver fundamental para a formação de sujeitos em Hegel e Marx.