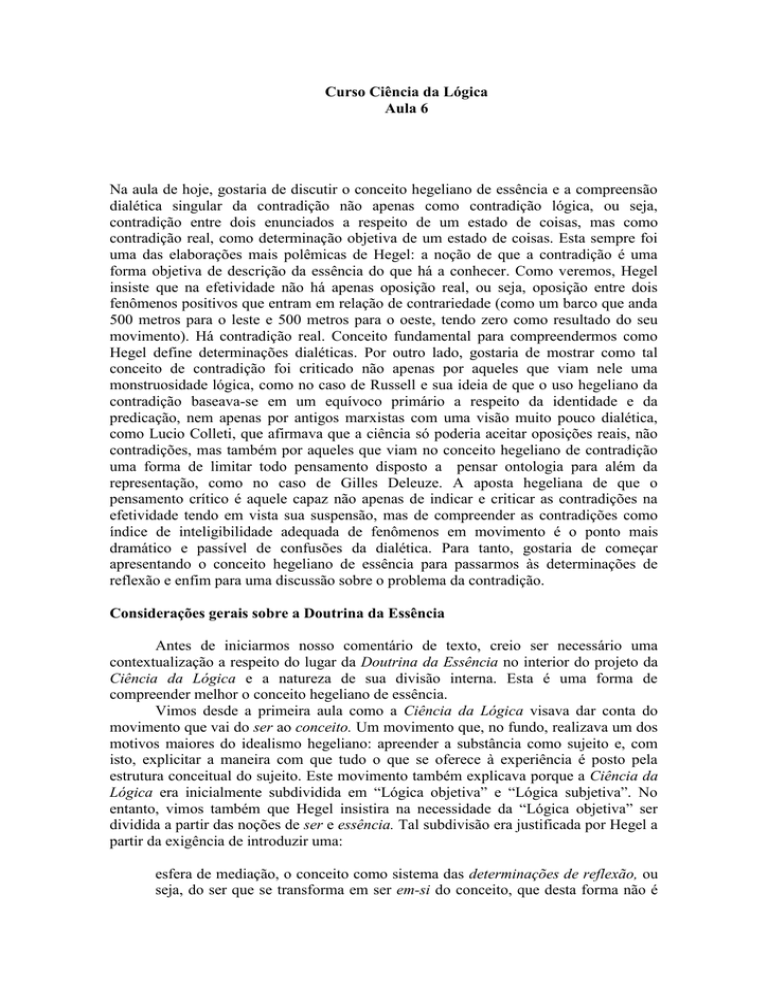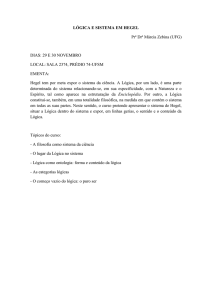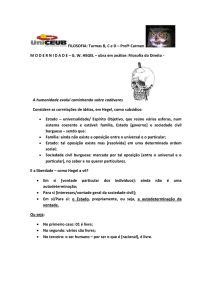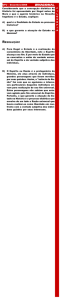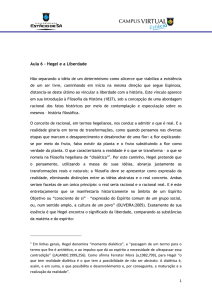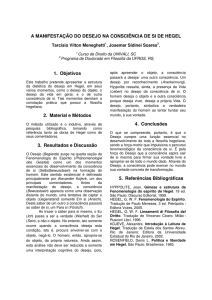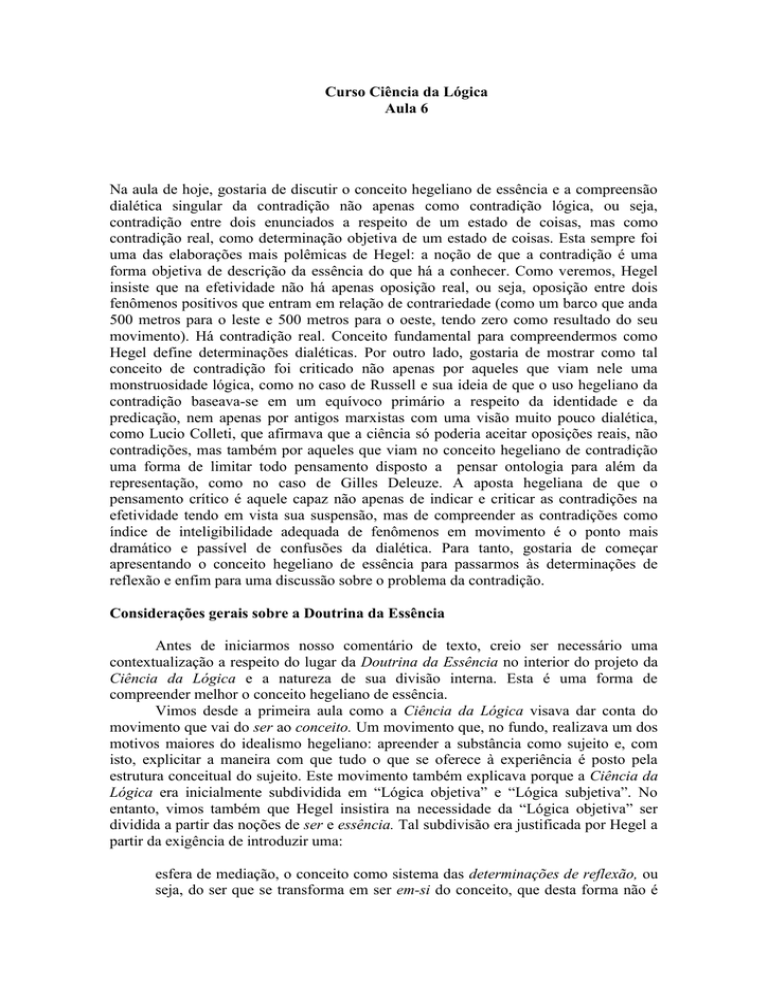
Curso Ciência da Lógica
Aula 6
Na aula de hoje, gostaria de discutir o conceito hegeliano de essência e a compreensão
dialética singular da contradição não apenas como contradição lógica, ou seja,
contradição entre dois enunciados a respeito de um estado de coisas, mas como
contradição real, como determinação objetiva de um estado de coisas. Esta sempre foi
uma das elaborações mais polêmicas de Hegel: a noção de que a contradição é uma
forma objetiva de descrição da essência do que há a conhecer. Como veremos, Hegel
insiste que na efetividade não há apenas oposição real, ou seja, oposição entre dois
fenômenos positivos que entram em relação de contrariedade (como um barco que anda
500 metros para o leste e 500 metros para o oeste, tendo zero como resultado do seu
movimento). Há contradição real. Conceito fundamental para compreendermos como
Hegel define determinações dialéticas. Por outro lado, gostaria de mostrar como tal
conceito de contradição foi criticado não apenas por aqueles que viam nele uma
monstruosidade lógica, como no caso de Russell e sua ideia de que o uso hegeliano da
contradição baseava-se em um equívoco primário a respeito da identidade e da
predicação, nem apenas por antigos marxistas com uma visão muito pouco dialética,
como Lucio Colleti, que afirmava que a ciência só poderia aceitar oposições reais, não
contradições, mas também por aqueles que viam no conceito hegeliano de contradição
uma forma de limitar todo pensamento disposto a pensar ontologia para além da
representação, como no caso de Gilles Deleuze. A aposta hegeliana de que o
pensamento crítico é aquele capaz não apenas de indicar e criticar as contradições na
efetividade tendo em vista sua suspensão, mas de compreender as contradições como
índice de inteligibilidade adequada de fenômenos em movimento é o ponto mais
dramático e passível de confusões da dialética. Para tanto, gostaria de começar
apresentando o conceito hegeliano de essência para passarmos às determinações de
reflexão e enfim para uma discussão sobre o problema da contradição.
Considerações gerais sobre a Doutrina da Essência
Antes de iniciarmos nosso comentário de texto, creio ser necessário uma
contextualização a respeito do lugar da Doutrina da Essência no interior do projeto da
Ciência da Lógica e a natureza de sua divisão interna. Esta é uma forma de
compreender melhor o conceito hegeliano de essência.
Vimos desde a primeira aula como a Ciência da Lógica visava dar conta do
movimento que vai do ser ao conceito. Um movimento que, no fundo, realizava um dos
motivos maiores do idealismo hegeliano: apreender a substância como sujeito e, com
isto, explicitar a maneira com que tudo o que se oferece à experiência é posto pela
estrutura conceitual do sujeito. Este movimento também explicava porque a Ciência da
Lógica era inicialmente subdividida em “Lógica objetiva” e “Lógica subjetiva”. No
entanto, vimos também que Hegel insistira na necessidade da “Lógica objetiva” ser
dividida a partir das noções de ser e essência. Tal subdivisão era justificada por Hegel a
partir da exigência de introduzir uma:
esfera de mediação, o conceito como sistema das determinações de reflexão, ou
seja, do ser que se transforma em ser em-si do conceito, que desta forma não é
ainda posto como para si [tal como na lógica subjetiva], mas que está marcado
ao mesmo tempo pelo ser imediato como algo que também lhe é exterior. Isto é
a Doutrina da essência que está no meio entre a Doutrina do ser e do conceito1.
Ou seja, a essência é, fundamentalmente, uma noção que opera a mediação entre
o ser e o conceito. Daí porque talvez seja correto dizer que esta é a região central do
livro, região onde os processos principais são apresentados. Mas qual a necessidade
desta mediação? Grosso modo, podemos dizer que as categorias do ser (como “ser”,
“nada”, “finito”, “infinito”, “um”, múltiplo”) tendem a produzir a ilusão de serem
determinações isoladas e não relacionais. No conceito de ser não está imediatamente
expresso que ele é impensável sem seu oposto, o nada. Decerto, vemos na Doutrina do
ser uma sucessão de passagens de um conceito a outro: “Sem dúvida, nessa progressão
por rupturas, as determinações finitas denunciam a sua instabilidade, mas somente sob a
forma da substituição de um conteúdo por um conteúdo diferente. A necessidade é
camuflada”2.
Já as categorias da essência (como “identidade”, “diferença”, ‘contradição”,
“fundamento”) são imediatamente categorias relacionais, onde um termo traz
imediatamente o seu oposto. Com isto, o Outro perde o aspecto de um exterior
indiferente para se tornar aquilo que está desde o início indissociável de seu oposto.
Desta forma, a tematização da essência permite o abandono de uma noção fixa e
identitária de objeto em prol de uma noção onde “objeto” nada mais é do que o nome de
uma estrutura relacional. É verdade que esta noção ainda é apenas “em-si” porque falta
a anulação do vocabulário da alteridade que só poderá ser realizada pela Doutrina do
conceito.
Mas é sempre bom lembrar que esta passagem do ser à essência é impulsionada
pelo ritmo da explicitação: trata-se de explicitar uma estrutura relacional que já estava
em operação, mas de maneira não-reflexiva, na compreensão das categorias do ser. Esta
dinâmica da explicitação pode ser encontrada na própria organização interna da
Doutrina da essência, toda ela construída através do movimento que vai da
interioridade à tematização da exterioridade. Assim, partindo da reflexão da essência em
si mesma (através principalmente da apresentação das determinações de reflexão)
vamos em direção aos modos da Erscheinung (fenômeno/aparecer), ou seja, daquilo que
aparece à consciência em sua experiência, isto até a realidade (Wirclichkeit) enquanto
espaço de manifestação do absoluto em sua necessidade e em seus modos de relação. À
sua maneira, este movimento da interioridade à exterioridade também é retomado pela
Doutrina do conceito.
Assim, se o ritmo de explicitação visa mostrar como a essência é, na verdade: “o
movimento do próprio ser”3 ou como a natureza do ser é advir essência, é porque: “a
passagem do ser à essência é passagem das determinações que parecem existir por si nas
‘coisas’ (o ser) à revelação de que as determinações aparentemente as mais ‘imediatas’
estão desde sempre constituídas e organizadas em um pensamento unificado (...) Uma
mesma unidade pensada organiza as percepção das coisas e a compreensão de suas
relações: ser e essência são uma e outra o produto do conceito”4.
Este comentário é de extrema importância por evidenciar que a passagem à
essência é um aprofundamento através do qual aquilo que parece existir por si nas
´coisas´ revela-se como sempre constituído e organizado em um pensamento unificado.
1
HEGEL, Wissenschaft der Logik I, p. 58
LEBRUN, A paciência do conceito, p. 324
3
HEGEL, WL II, p. 13
4
LONGUENESSE, Hegel et la critique de la métaphysique, p. 9
2
É desta maneira que devemos compreender a primeira frase da Doutrina da Essência:
‘A verdade do ser é a essência”5. Um essência que parece estar “por trás” do ser, em um
Hintergrund que constitui (ausmach) o ser. Ou ainda, que parece “anterior” ao ser, em
um passado que não deixa de ressoar na própria maneira com que o particípio passado
do verbo ser em alemão (gewesen) contém uma referência à essência (Wesen). Um
estranho passado descrito por Hegel como: “o passado, mas o ser passado desprovido de
tempo (zeitlos)”6. Como uma anterioridade que nunca passa e que, por isto, modifica
radicalmente nossa concepção de presente, já que: “aquilo que passou nem por isto é
negado abstratamente, mas apenas superado: e por isto, ao mesmo tempo, conservado”7.
No entanto, se retornarmos ao comentário de Longuenesse, veremos que
entramos em uma idéia maior do livro: a essência não é da ordem de um em-si
independente do pensamento. Ela é a da ordem da reflexão. Da porque a primeira parte
do livro deve necessariamente chamar-se: “A essência como reflexão em si mesma”. A
reflexão é a essencialidade que constitui o ser. Ou seja, ao afirmar que a verdade do ser
é a essência e ao determinar a essência como reflexão, Hegel, à sua maneira, está
dizendo não haver nada anterior ou mesmo exterior à reflexão. Proposição que parece a
realização última do chamado “idealismo absoluto” do qual ele seria o representante.
Fica claro que a verdadeira questão decisiva do livro gira em torno da
compreensão do que Hegel se refere quando fala em “reflexão”. Pois costumamos
compreender a reflexão como um procedimento meramente subjetivo do pensar
vinculado à auto-observação de operações de nossa própria mente. Lembremos, por
exemplo, do que diz Locke a respeito da reflexão: “A mente, recebendo as idéias de
fora, quando volta sua visão para si mesma e observa suas ações sobre as idéias que
tem, produz daí outras idéias que são tão capazes de ser objetos de sua contemplação
quanto qualquer outra que ela recebe de coisas exteriores”8. Ou seja, se sensações são
idéias cuja fonte são objetos externos, reflexão é: “the notice which the mind takes of its
own operations” e que produz idéias a partir do sentido interno.
Trago esta citação de Locke apenas para insistir na peculiaridade da noção
hegeliana de reflexão. Noção que, em hipótese alguma, pode ser confundida
simplesmente com esta auto-apreensão que a mente faz de suas próprias operações,
como se ela estivesse diante de um espelho. Metáfora especular fundamental para a
própria constituição da noção moderna de consciência. Embora Hegel conserve esta
metáfora especular na compreensão da reflexão, não é difícil imaginar que Hegel não
pode aceitar distinções entre sensação e reflexão tais como estas pressupostas por
Locke. Pois trata-se de mostrar como: “a reflexão é o que pelo qual algo enquanto algo
é”9. Ou seja, a reflexão não apenas observa as operações da mente, mas ela põe os
objetos com os quais a consciência se depara. De uma certa forma, ela é o movimento
das próprias “coisas”. Daí porque o que mais interessa Hegel nesta metáfora especular
seja o fato do imediato se cindir e se mediatizar, colocando-se como um outro10.
5
HEGEL, WL II, p. 13
HEGEL, WL II, p. 13
7
HEGEL, Enciclopédia I, par. 112
8
LOCKE, An essay concerning human understanding, Book II, Chapter VI
9
HAAS, Bruno, Die freie Kunst, p. 53
10
Diz Hegel: “O termo ´reflexão´ é empregado inicialmente [a propósito] da luz, quando em sua
propagação em linha reta encontra uma superfície especular e é por ela relançada para trás. Temos pois
aqui um duplo: primeiro, um imediato, um ente; e segundo, o mesmo enquanto mediatizado ou posto.
Ora, é esse exatamente o caso quando refletimos ou (como também se costuma dizer) nachdenken
[refletir, considerar – colocar diante] sobre um objeto, enquanto aqui não é mesmo o objeto que conta em
sua imediatez. Mas queremos conhecê-lo enquanto mediatizado” (HEGEL, Enciclopédia, par. 112)
6
No entanto, mesmo assim ainda não saímos necessariamente de uma perspectiva
idealista clássica. Pois podemos dizer que a reflexão, ao apreender as operações do
próprio pensar, simplesmente põe as condições de possibilidade para que um objeto
seja, para que ele apareça à consciência. Como se a reflexão fosse exatamente aquilo
que nos permite falar do que aparece, eleva-lo à condição de nomeável no interior de
uma linguagem humana, já que a reflexão revelaria a forma do que há a ser pensado (em
uma operação na qual a forma aparece no lugar da noção de essência). É assim que, por
exemplo, podemos interpretar a afirmação canônica de Kant: ‘A reflexão não tem que
ver com os próprios objetos, para deles receber diretamente conceitos; é o estado de
espírito em que, antes de mais, nos dispomos a descobrir as condições subjetivas pela
quais podemos chegar a conceitos”11.
No entanto, a proposição de Hegel é mais ousada. Trata-se de dizer: a reflexão,
enquanto movimento próprio da essência, não é apenas a posição das condições
subjetivas para a constituição de tudo o que é determinado e condicionado por um
sujeito. Ela é o movimento do que é absoluto e incondicionado. A ideia de que a
reflexão subjetiva está de um lado e o mundo objetivo de outro parte do pressuposto de
que a constituição da estrutura da reflexão é, de certa forma, anterior ao mundo,
autônoma a ele. Como lembrou bem John McDowell, mais correto seria dizer que
mundo e reflexão, de certa forma, nascem ao mesmo tempo. Não é por outra razão que a
Doutrina da Essência deve caminhar para a tematização do absoluto enquanto
realidade. Mas há aqui uma contradição a respeito da qual Hegel demonstrava-se
cônscio ao menos desde seu Diferença entre os sistemas filosóficos de Fichte e
Schelling:
O absoluto deve ser construído para a consciência, tal é a tarefa da filosofia:
mas, dado que tanto o produzir como os produtos da reflexão são apenas
limitações, isto é uma contradição. O absoluto deve ser refletido, posto; mas
deste modo ele não é posto, mas sim suprimido (aufgehoben worden), pois, ao
ser posto, tornou-se limitado. A mediação desta contradição é a reflexão
filosófica. Deve-se preferencialmente mostrar em que medida a reflexão é capaz
de captar o absoluto e como, no seu trabalho como especulação, suporta a
necessidade e a possibilidade de ser sintetizada com a intuição absoluta, e ser
para si, subjetivamente, justamente tão perfeita como o seu produto, o absoluto
construído na consciência, dever ser, ao mesmo tempo, consciente e
inconsciente12.
Hegel chega a falar que, para superar tal contradição de só poder pensar o
condicionado ao pôr uma multiplicidade infinita de condições e relações, a reflexão
deve dar para si mesma a lei de seu auto-aniquilamento. Podemos dizer que a Ciência
da Lógica realiza o que já estava posto neste escrito de juventude. Pois, de uma certa
forma, a reflexão, para se pôr como movimento do que é absoluto e infinito, deverá
aniquilar aquilo que serve como fundamento para seus modos de determinação. É
exatamente isto que veremos neste capítulo fundamental dedicado às determinações de
reflexão, a saber, a identidade, a diferença e a contradição. Pois modificado o sentido do
que compreendemos por identidade, diferença e contradição são as bases gerais das
operações de reflexão, tal como ela é compreendida pelo entendimento, que se
encontrarão aniquiladas. Neste momento, aquilo que Hegel compreende por reflexão
especulativa poderá se impor, o que permitirá a apreensão do absoluto sem a
11
12
KANT, Crítica da razão pura B 316
HEGEL, Diferença entre os sistemas filosóficos de Fichte e Schelling, p. 41
necessidade do recurso a alguma forma de intuição imediata ou de posição do préreflexivo.
Para o entendimento, esta reflexão especulativa própria à essência equivale à
pura negatividade, pois: “a determinação da essência tem um outro caráter do que as
determinidades do ser”13. Ela é pura negatividade por anular incessantemente todas as
determinidades próprias ao ser. Mas esta anulação não é simplesmente a abstração de
todo predicado do ser. Antes, ela é o que Hegel chama de movimento reflexivo no
interior do próprio ser. É pensando nesta força de corrosão própria à essência que Hegel
poderá falar da “natureza negativa da essência”14. Proposição fundamental, pois se a
essência tem uma natureza negativa (o que implica dizer que ela não está simplesmente
em uma situação na qual ela aparece como negativa, mas que ela é ‘negatividade em si”
[Negativität an sich]15), então será um movimento de confrontação incessante do que
aparece ao entendimento como determinado. O que nos explica uma afirmação como:
A essência como o retorno perfeito do ser em si mesmo é inicialmente essência
indeterminada; as determinidades do ser estão nela superadas; ela as contém em
si, mas não como se estivessem postas16.
A identidade como determinação de reflexão
Como movimento de efetivação e explicitação das condições de apreensão conceitual
do absoluto, a essência exige a recompreensão dos fundamentos lógicos do pensar. É
aqui que Hegel apresenta uma das operações mais ousadas e arriscadas da dialética, a
saber, o questionamento do princípio de identidade (A=A), do princípio de nãocontradição (A não pode ser, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, A e ¬A) e do
princípio do terceiro excluído (algo cai sob A ou sob ¬A, não há uma terceira opção).
Tais questionamentos, que visam mostrar como estas são “leis do entendimento
abstrato”, têm como base a reconstrução dos conceitos de identidade, diferença e, por
fim, contradição.
Hegel parte de considerações sobre a identidade, já que: “a identidade consigo é
a imediaticidade da reflexão”17. No entanto, Hegel não cansará de repetir a existência de
diferenças maiores entre a “identidade formal” do entendimento, ou seja, identidade
como exclusão da diferença, como exterioridade em relação à diferença, e a “identidade
concreta” da razão especulativa. Tal diferença é para ele tão importante que não temerá
afirmar: “é este o ponto em que toda má filosofia [pois aferrada ao senso comum] se
distingue da que unicamente merece o nome de filosofia”18. Neste sentido, a identidade
concreta será a negação absoluta como:
a negação que imediatamente nega a si mesma – um não-ser e diferença que
desaparece no seu surgir ou um diferenciar para o qual nada é diferenciado, mas
que colapsa imediatamente em si mesmo19.
13
HEGEL, WL II, p. 15
HEGEL, WL II, p. 21
15
HEGEL, WL II, p. 22
16
HEGEL, WL II, p. 15
17
HEGEL, WL II, p. 39
18
HEGEL, Enciclopédia, § 115
19
HEGEL, WL II, p. 40
14
Por isto, Hegel dirá que: “a identidade é também em si mesma absoluta nãoidentidade”20. Podemos entender melhor este ponto se levarmos a sério as crítica que
Hegel apresenta na nota 2 “Primeira lei originária do pensamento, proposição da
identidade”. Aqui, Hegel apresenta três críticas distintas, porém complementares, que
visam mostrar como a proposição A=A é uma tautologia vazia, desprovida de conteúdo
e sem valor algum para o conhecer. Os três argumentos usados por Hegel são:
toda enunciação da identidade imediata é uma contradição performativa;
a experiência não fornece o fundamento da identidade
não é possível definir a significação de A=A a partir da pretensa analiticidade
da proposição.
Primeiro, Hegel procura mostrar como sempre enunciamos a clivagem ao tentar
pôr a igualdade imediata a si. Pois sendo a identidade imediata, a exclusão da
essencialidade da diferença é um processo constitutivo de sua própria determinação.
Mas, ao afirmar que a identidade e a diferença são diferentes: “Eles [a consciência
comum] não vêem que já dizem que a identidade é algo de diverso; pois dizem que a
identidade é diversa em relação à diversidade” (HEGEL, 1986b, p. 41). Com isto,
produz-se uma passagem da negação exterior à negação internalizada resultante do
reconhecimento da posição da diferença ser momento essencial e interno ao processo
de posição da identidade. Daí porque Hegel pode dizer que a verdade é apenas a
unidade da identidade e da diversidade.
Notemos ainda esta estratégia, tipicamente hegeliana, de medir a verdade de
proposições lógicas fazendo apelo à pragmática da fala. Ao falarmos sobre a
identidade, sempre somos obrigados a pressupor a diferença como dado primeiro e
definidor. Pôr a identidade exige pressupor a diferença. Ou seja, invertermos a ordem
lógica e colocamos o reconhecimento da diferença como lei originária do pensar, já que
“a identidade de uma entidade consiste em um conjunto de seus traços diferenciais”
(ZIZEK, 1999, p. 135). Ela é momento de uma separação em relação a um processo no
qual a diversidade desempenha papel fundante.
Por outro lado, Hegel afirma que a identidade não é um dado de alguma forma
derivado de experiência imediatamente acessível à consciência. Não há um componente
factual orientando o uso de enunciados do tipo A=A. Na verdade, a experiência fornece
apenas a relação da identidade do Um com a multiplicidade da diversidade. Daí porque:
“o concreto e a aplicação é justamente a relação do idêntico simples a algo de variado
distinto dele”21. Ou seja, a aplicação expõe o esforço do pensar em unificar o que não
tem identidade imediata em si mesmo. Por isto que: “expresso como proposição, o
concreto seria inicialmente uma proposição sintética”22. A posição da proposição de
identidade já é, segundo Hegel, uma modificação da experiência, já que esta nos
mostra, na verdade, a unidade da identidade com a diversidade.
Mas podemos dizer que A=A, enquanto proposição analítica seria independente
da experiência, o que sabemos, ao menos desde Quine, que não é exatamente o caso, já
que sabemos que um dos dogmas fundamentais do empirismo é: “a crença em certa
divisão fundamental entre verdades analíticas, ou fundadas em significados
20
HEGEL, WL II, p. 41
Isto talvez nos explique porque Hegel afirma que: “Nenhuma consciência pensa, nem tem
representações, nem fala segundo essa lei [da identidade]; e nenhuma existência, seja de que espécie for,
existe segundo ela. O falar conforme esssa suposta lei da verdade (um planeta é – um planeta; o
magnetismo é – o magnetismo; o espírito é – um espírito) passa, com razão, por uma tolice: essa sim é
uma experiência universal” (HEGEL, Enciclopédia, par. 115
22
HEGEL, WL II, p. 43
21
independemente de questões de fato, e verdades sintéticas, ou fundadas em fatos”23.
Por isto, Hegel deve lembrar que mesmo a forma proposicional da proposição já diz
mais do que afirma. Este é uma maneira astuta de dizer que a analiticidade de
proposições do tipo A=A são um problema. Para chegar a tal compreensão especulativa
da proposição, Hegel compreende toda proposição a partir de sua forma geral (S é P)
que coloca as diferenças categoriais quantitativas entre a particularidade do sujeito e as
predicações de universais e rompe, assim, com a sinonímia pressuposta entre sujeito e
predicado24.
Quando digo, por exemplo “uma rosa é uma rosa” vê-se que a expectativa
aberta pela enunciação “uma rosa é ...”, na qual o sujeito aparece como forma vazia e
ainda não determinada, como “algo em geral”, como “som privado de sentido”25, é
invertida ao final da proposição. A rosa que aparece na posição de sujeito é um caso
particular, uma determinação empírica. Rosa que, em si mesmo, é apenas negação –
acontecimento contingente desprovido de sentido – enquanto que a rosa presente no
predicado aparece inicialmente como “representação universal”26 abstrata que
forneceria a significação (Bedeutung) do sujeito. Podemos mesmo afirmar que ela é
extensão de um conjunto ainda vazio. Para Hegel, ao enunciar “uma rosa é uma rosa”,
dizemos que o conjunto é idêntico a um de seus elementos, dizemos que o singular é o
universal. Esta é a interpretação que podemos dar à afirmação: “Já a fórmula da
proposição está em contradição com ela [a proposição A=A], pois uma proposição
promete também uma diferença entre sujeito e predicado; ora, esta não fornece o que
sua própria forma exige”27. Ou seja, a posição da identidade produz necessariamente
uma contradição. O que nos explica por que Hegel afirma: “Se alguém abre a boca e
promete indicar o que é Deus, a saber Deus é – Deus, a expectativa encontra-se
enganada pois ela esperava uma determinação diferente”28.
Hegel teria compreendido a existência, na forma geral da proposição, de uma
cisão estrutural entre o regime geral de apresentação e a designação nominal do
acontecimento particular. Pois o primeiro momento da afirmação “o singular é o
universal” põe a inessencialidade do singular e a realidade do universal. Uma rosa será
sempre uma rosa. É o predicado que põe o sujeito e, a partir do momento em que o
sujeito (ainda indeterminado) é posto, ele se anula: o que era predicado advém sujeito.
Devido à forma geral da proposição, o ato de enunciação da identidade produz sempre
a posição de uma alienação. Pois: “Se dizemos também: ‘o efetivamente real é o
Universal’, o efetivamente real como sujeito desaparece (Vergeht) em seu predicado”29.
Pode parecer que Hegel faça aqui uma confusão entre predicação e identidade,
como já dissera Russell. Ele parece negligenciar que há ao menos dois empregos
diferente do termo “é”. Frege nos lembra que “é” pode ter ao menos duas funções (Cf.
FREGE, Ecrits logiques et philosophiques, Paris: Seuil, 1971, p. 129) "é" pode ter a
função de forma lexical de atribuição a fim de permitir a predicação de um conceito a
um objeto. Assim, em ‘uma rosa é odorante’, ‘odorante’ é a predicação conceitual de
23
QUINE, Dois dogmas do empirismo, p. 231
Esta maneira de levar em consideração as diferenças categoriais quantitativas expressas na forma geral
da proposição é o que faz a especificidade da teoria hegeliana do julgamento, isto a ponto de Hegel
afirmar que se deve: “ver como uma falta de observação digna de surpresa que, nas lógicas, não
encontramos indicado o fato de que em todo julgamento exprime-se tal proposição: ‘o singular é um
universal’" (HEGEL, Encyclopédie, op. cit., par. 166).
25
HEGEL, Fenomenologia I, p. 21
26
HEGEL, Encyclopédie¸ tome 1, op.cit, p. 245.
27
HEGEL, Encyclopédie, p. 163.
28
HEGEL, WL I, p. 44.
29
HEGEL, Fenomenologia I., op.cit, p. 55
24
um nome de objeto (rosa). Mas, por outro lado, “é” pode ter a função de signo
aritmético de igualdade a fim de exprimir a identidade entre dois nomes de objeto
(como no caso da proposição “A estrela da manhã é Vênus”) ou a auto-igualdade de um
nome de objeto a si mesmo (“Vênus é Vênus”). Nos parece que, na verdade, a dialética
deve, em uma certa medida, confundir predicação e identidade. Normalmente, diríamos
que algo e idêntico quando é intercambiável em qualquer condição cognitiva possível,
como seriam, por exemplo, “solteiro” e “homem não casado”. Mas: “não há garantia de
que a concordância extensional de ‘solteiro’ e ‘homem não casado’ se baseie no
significado em vez de se basear meramente em questões de fato acidentais, como
acontece com a concordância entre ‘criaturas com coração’ e ‘criaturas com rins’30.
Uma relação de definição, assim como uma relação de sinonimia, pressupõe o
reconhecimento anterior do uso, ou seja, um ajustamento em relação a casos empíricos
convenientes. Esta passagem em direção a empiria é vista por Hegel como um caso de
predicação.
A diferença, entre a diversidade e a oposição
Tais colocações permitem a Hegel dizer que a proposição de identidade contém mais do
que ela visa, pois contém sempre a enunciação da diferença como seu pressuposto.
Hegel afirma que a diferença conhece dois momentos distintos: a diversidade
(Verschiedenheit) e a oposição.
A diversidade é a diferença pensada a partir da reflexão exterior. Por isto: “os
diversos estão em relação um com o outro não como identidade e diferença, mas apenas
como diversos em geral que são indiferentes um em relação a outro e em relação à sua
determinidade”. De uma certa forma, a diversidade é um gênero de retorno à
imediaticidade, um momento de recaída no empirismo de quem afirma que “Todas as
coisas são diversas” ou que “Não existem duas coisas que sejam iguais uma à outra”.
Tais proposições não deixam de se referir ao princípio leibniziano de identidade dos
indiscerníveis (se X e Y tem as mesmas propriedades, então eles são idênticos).
Hoje diríamos que os termos sob a noção de diversidade estão dispostos como
um multiplicidade pura, ou seja, estrutura cujos elementos não tem função subordinada,
mas são estruturados por relações recíprocas que não podem ser compreendidas como
relações de oposição. Hegel compreende esta determinação da diferença como pura
multiplicidade uma determinação deficiente. Sua deficiência vem do fato de Hegel
insistir que toda posição da diversidade, para ser minimamente estruturada, exige a ação
de comparação entre termos. Tal comparação pede a presença de uma espécie de
“terceiro termo” comum que permita a estruturação de relações de igualdade e
desigualdade. Este terceiro termo, que permite a comparação mas está para além dos
elementos comparados, acaba por nos obrigar a passarmos da diversidade à oposição.
Pois a simples diversidade é indemonstrável. A afirmação de que todas as coisas são
diversas é algo que a experiência não pode garantir. O que a experiência me fornece são
arranjos locais de diferenciação.
No entanto, segundo Hegel: “a diferença não tem de ser apreendida
simplesmente como diversidade exterior e indiferente, mas como diferença em si; e que
por isto compete às coisas, nelas mesmas, serem diferentes”31. Maneira de afirmar que a
diferença não deve ser apenas o resultado de uma distinção entre termos e elementos,
como se fosse algo produzido de forma contingente. Ela deve ser o modo de relação
interna dos termos e elementos. Daí esta afirmação surpreendente de que compete à
30
31
QUINE, De um ponto de vista lógico, p. 52
HEGEL, Enciclopédia, par. 117
coisas serem, nelas mesmas, diferentes. Ou seja, a diferença deve ser uma determinação
ontológica das coisas. Por isto, devemos passar da diferença à contradição, já que, para
Hegel, a contradição é esta figura da diferença em si.
Por outro lado, Hegel chega a pensar a possibilidade de uma multiplicidade que
não seja estruturada a partir de um princípio geral de medida, mas através de algo mais
próximo daquilo que Wittgenstein chamou de semelhanças de família: “porque as
diversas semelhanças entre os membros de uma família, constituição, traços faciais, cor
dos olhos, andar, temperamento, etc. sobrepõem-se e cruzam-se [umas às outras]”32. No
entanto, isto não modifica o problema central, que consiste em afirmar que a diferença
deve necessariamente resolver-se na posição da igualdade e da desigualdade. Posição
que, por sua vez, transforma a diversidade em oposição33, já que no interior de uma
relação de semelhança de família opera-se a partir de uma comparação opositiva entre
dois elementos onde tal comparação é determinante para a posição da identidade,
mesmo que apenas sob um de seus aspectos.
Sobre a oposição Hegel dirá que, nela, identidade e diferença são momentos da
diferença mantidos no interior dela mesma. Isto está enunciado na seguinte definição
hegeliana da relação de oposição:
Cada um é ele mesmo e seu outro, o que faz com que cada um tenha sua
determinidade em si mesmo, e não em um outro. Cada um relaciona-se a si
mesmo como se relacionando a um outro. Isto tem dois sentidos: cada um está
em relação com seu não-ser como suprimindo este outro, assim seu ser-outro é
apenas um momento interno ao si. Mas, por outro lado, o ser-posto se
transformou em um ser, um subsistir indiferente (...) consequentemente, cada um
é apenas na medida em que seu não-ser é.
Esta é a maneira hegeliana de afirmar que a oposição instaura uma relação de
incompatibilidade material (p/ não p) que tem a força de estruturar a extensão dos
termos em relação. No entanto, tal relação não pode ser compreendida apenas como
determinação exterior.
Este é um ponto central que pode ser melhor compreendido se levarmos em
conta a crítica hegeliana à noção kantiana de oposição real tal como Kant a desenvolveu
em seu Ensaio para introduzir em filosofia a noção de grandeza negativa. Para Kant,
uma oposição real indica que dois predicados de um sujeito são opostos de maneira
contrária, mas sem contradição lógica. Assim: “a força motriz de um corpo que tende a
um certo ponto e um esforço semelhante deste corpo para se mover em direção oposta
não se contradizem, sendo ao mesmo tempo possíveis como predicados de um mesmo
corpo” (KANT, 2005, p. 58). Tal oposição é descrita em linguagem matemática através
dos signos + e - (+A e -A) a fim de mostrar como uma predicação pode destruir outra
predicação, chegando a uma conseqüência cujo valor é zero, mas sem que seja
necessário admitir um conceito que se contradiz em si mesmo (nihil negativum). Isto
permitirá a Kant sublinhar que o conflito resultante de um princípio real que destrói o
efeito de outro princípio no nível da intuição não pressupõe uma contradição no nível
das condições transcendentais de constituição do objeto do conhecimento. Este conflito
real, ou oposição real, é a boa negação; “que permite ao entendimento constituir objetos
" (DAVID-MÈNARD, 1990, p. 41), já que, contrariamente à contradição lógica
32
WITTGENSTEIN, Inverstigações filosóficas, par. 67
Na verdade, não pode haver multiplicidade não-estruturada para Hegel. A simples posição de uma
proposição como ”Não há duas coisas que sejam completamente idênticas’ já pressupõe um dispositivo
de contagem que organiza a diversidade a partir da estrutura de uma multiplicidade numérica.
33
(pensada como objeto vazio sem conceito), esta negação deixa fora de seu julgamento a
questão da existência do sujeito do julgamento.
Mas se Kant afirma que os predicados opostos são contrários sem serem
contraditórios, é porque eles se misturam como forças positivas determinadas no
resultado de uma realidade final. Os opostos reais são, para Kant, propriedade
igualmente positivas, eles correspondem a referências objetivas determinadas. Não há
realidade ontológica do negativo (mesmo se há um poder negativo do transcendental na
determinação do númeno como conceito vazio em relação à intuição de objetos
sensíveis). A aversão e a dor são tão positivas (no sentido de se referirem a objetos
positivos) quanto o prazer. Elas têm uma subsistência positiva como objetos sensíveis
que não é redutível à relação de oposição.
Hegel está atento à maneira com que a oposição real não modifica a noção de
determinação fixa opositiva. Mesmo reconhecendo a existência de uma solidariedade
entre contrários no processo de definição do sentido dos opostos (ao afirmar que : “a
morte é um nascimento negativo”, Kant reconhece que o sentido da morte depende da
determinação do sentido do nascimento), a noção de oposição nos impede de perguntar
como a identidade dos objetos modifica-se quando o pensamento leva em conta relações
de oposição34. Como nos diz Lebrun: “Que cada um dos termos só possa ter sentido ao
ligar-se ao seu oposto, isto o Entendimento concede, esta situação é figurável. Mas que
cada um advenha o que significa o outro, aqui começa o não-figurável” (LEBRUN,
1971, p. 292). Daí porque: “Mesmo admitindo, contra os clássicos que o positivo pode
se suprimir e que o negativo possui de alguma maneira um valor de realidade, Kant
jamais colocará em questão o axioma: ‘A realidade é algo, a negação não é nada’. Essa
proposição é até mesmo a base do escrito sobre as grandezas negativas: ela é a condição
necessária sem a qual não se poderia discernir a oposição lógica da oposição real”
(LEBRUN, 2002, p. 266).
Neste sentido, podemos dizer que Hegel procurar desdobrar todas as
conseqüências possíveis de um pensamento da relação assentado na centralidade de
negações determinadas. Pois a produção da identidade através da mediação pelo oposto,
tal como vemos na oposição real, é reflexão-no-outro. Um recurso à alteridade que
aparece como constitutivo da determinação da identidade que promete uma interversão
(Umschlagen) da identidade na posição da diferença. Como nos dirá Henrich, o
primeiro passo deste movimento dialético consiste em passar de algo que se distingue
do outro enquanto seu limite para algo que é apenas limite (HENRICH, 1967, p. 112).
Tal passagem advém possível porque Hegel submete a negação funcional-veritativa à
noção de alteridade, seguindo aí uma tradição que remonta ao Sofista, de Platão35:
"Contrariamente à negação funcional-veritativa [fundada na idéia de exclusão simples],
a alteridade é uma relação entre dois termos. Faz-se necessário ao menos dois termos
para que possamos dizer que algo é outro" (HENRICH, 1967, p. 133).
Tal submissão da negação à alteridade nos explica porque a figura maior da
negação em Hegel não é exatamente o nada ou a privação, mas a contradição
Contradição que aparece quando tentamos pensar a identidade em uma gramática
filosófica que submete a negação à alteridade. Nesta gramática, só há identidade quando
uma relação reflexiva entre dois termos pode ser compreendida como relação simples e
Ela nos impede de colocar a questão: “como os objetos são redefinidos, reconstituídos pelo fato de se
inscreverem em relações? Quais transformações a noção de objeto recebe pelo fato de assim ser
reconstituída pelo pensamento? (LONGUENESSE, 1981, p. 80)
35
Como vemos na afirmação: “Quando enunciamos o não-ser, não enunciamos algo contrário ao ser, mas
apenas algo de outro” (PLATÃO, Sofista, 257b)
34
auto-referencial, ou seja, só há identidade lá onde há reconhecimento reflexivo da
contradição.