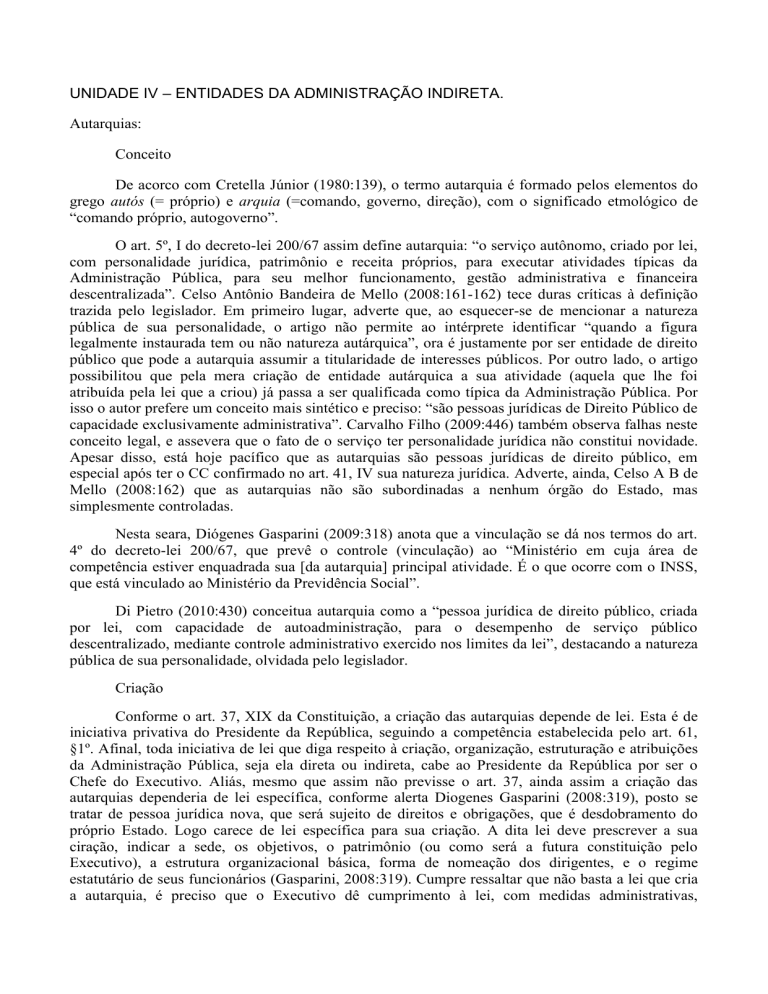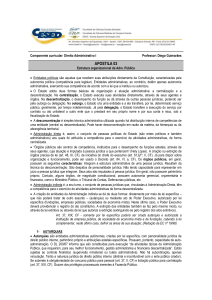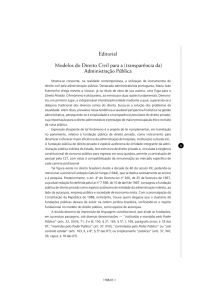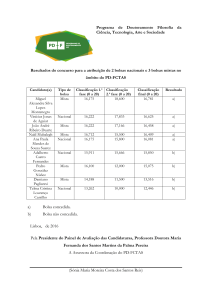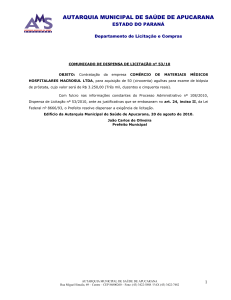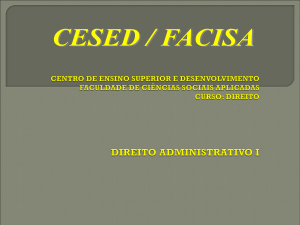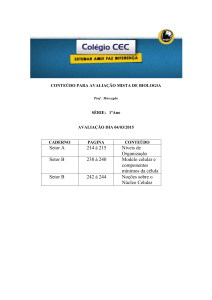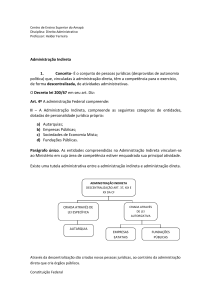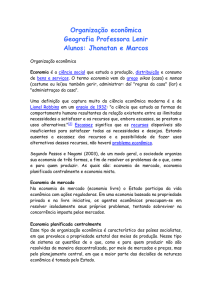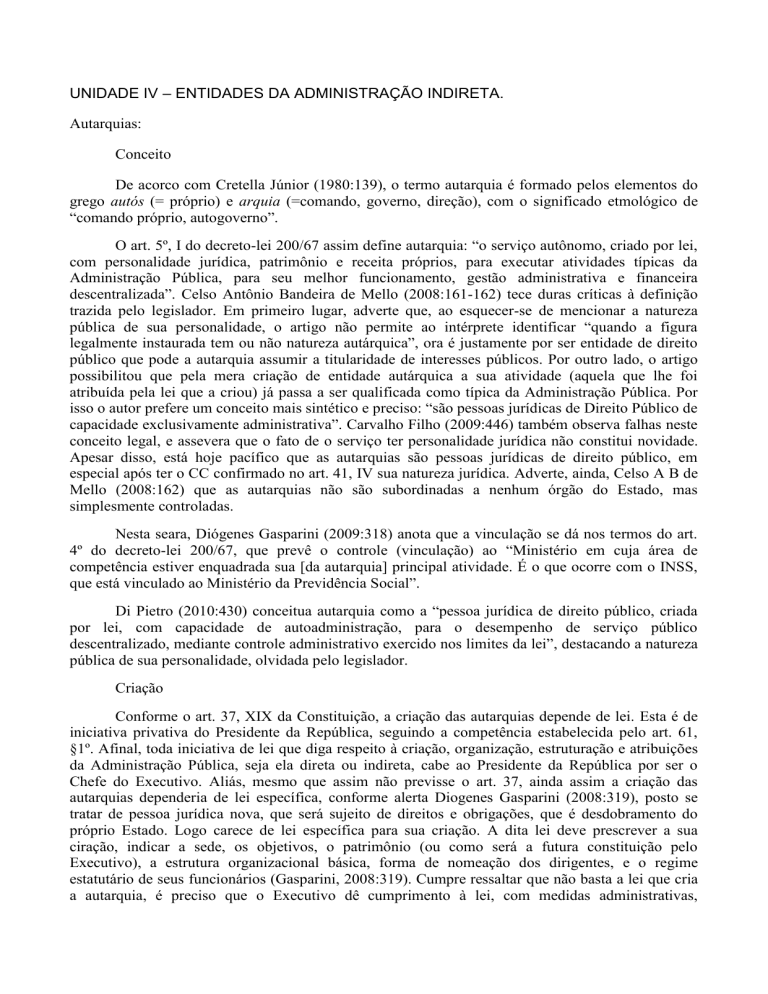
UNIDADE IV – ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.
Autarquias:
Conceito
De acorco com Cretella Júnior (1980:139), o termo autarquia é formado pelos elementos do
grego autós (= próprio) e arquia (=comando, governo, direção), com o significado etmológico de
“comando próprio, autogoverno”.
O art. 5º, I do decreto-lei 200/67 assim define autarquia: “o serviço autônomo, criado por lei,
com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da
Administração Pública, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada”. Celso Antônio Bandeira de Mello (2008:161-162) tece duras críticas à definição
trazida pelo legislador. Em primeiro lugar, adverte que, ao esquecer-se de mencionar a natureza
pública de sua personalidade, o artigo não permite ao intérprete identificar “quando a figura
legalmente instaurada tem ou não natureza autárquica”, ora é justamente por ser entidade de direito
público que pode a autarquia assumir a titularidade de interesses públicos. Por outro lado, o artigo
possibilitou que pela mera criação de entidade autárquica a sua atividade (aquela que lhe foi
atribuída pela lei que a criou) já passa a ser qualificada como típica da Administração Pública. Por
isso o autor prefere um conceito mais sintético e preciso: “são pessoas jurídicas de Direito Público de
capacidade exclusivamente administrativa”. Carvalho Filho (2009:446) também observa falhas neste
conceito legal, e assevera que o fato de o serviço ter personalidade jurídica não constitui novidade.
Apesar disso, está hoje pacífico que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, em
especial após ter o CC confirmado no art. 41, IV sua natureza jurídica. Adverte, ainda, Celso A B de
Mello (2008:162) que as autarquias não são subordinadas a nenhum órgão do Estado, mas
simplesmente controladas.
Nesta seara, Diógenes Gasparini (2009:318) anota que a vinculação se dá nos termos do art.
4º do decreto-lei 200/67, que prevê o controle (vinculação) ao “Ministério em cuja área de
competência estiver enquadrada sua [da autarquia] principal atividade. É o que ocorre com o INSS,
que está vinculado ao Ministério da Previdência Social”.
Di Pietro (2010:430) conceitua autarquia como a “pessoa jurídica de direito público, criada
por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público
descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei”, destacando a natureza
pública de sua personalidade, olvidada pelo legislador.
Criação
Conforme o art. 37, XIX da Constituição, a criação das autarquias depende de lei. Esta é de
iniciativa privativa do Presidente da República, seguindo a competência estabelecida pelo art. 61,
§1º. Afinal, toda iniciativa de lei que diga respeito à criação, organização, estruturação e atribuições
da Administração Pública, seja ela direta ou indireta, cabe ao Presidente da República por ser o
Chefe do Executivo. Aliás, mesmo que assim não previsse o art. 37, ainda assim a criação das
autarquias dependeria de lei específica, conforme alerta Diogenes Gasparini (2008:319), posto se
tratar de pessoa jurídica nova, que será sujeito de direitos e obrigações, que é desdobramento do
próprio Estado. Logo carece de lei específica para sua criação. A dita lei deve prescrever a sua
ciração, indicar a sede, os objetivos, o patrimônio (ou como será a futura constituição pelo
Executivo), a estrutura organizacional básica, forma de nomeação dos dirigentes, e o regime
estatutário de seus funcionários (Gasparini, 2008:319). Cumpre ressaltar que não basta a lei que cria
a autarquia, é preciso que o Executivo dê cumprimento à lei, com medidas administrativas,
instituindo a autarquia via decreto, que importa “determinação administrativa de afetar os meios
necessários ao efetivo funcionamento de um ser que juridicamente ganhou existência com a lei
criadora” (Mello, apud, Gasparini, 2008:320).
Para além da lei criadora e do decreto institutivo, outras formalidades são requeridas para a
efetivação da criação da autarquia, que representa a concretização do princípio da especialidade da
função, são eles: inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda, no Estado (inscrição estadual) e no Município (inscrição municipal) em que vai atuar, a
depender de suas atribuições, objeto e competências.
Deve-se ter em mente, também, que o que se criou por lei, só pode ser extinto por lei.
Portanto, a extinção das autarquias depende de lei específica, como se passou com o DNER,
autarquia federal que foi extinta pelo art. 102-A da Lei 10.233/01 (que criou o DNIT)
Patrimônio:
A questão do patrimônio das autarquias gerou muita polêmica quando da vigência do Código
Civil de 1916, uma vez que o artigo 65 estabelecia que só poderiam ser considerados bens públicos
aqueles pertencentes às pessoas federativas, todos os demais eram bens privados, independente da
pessoa a quem pertencessem. A doutrina, então, com a criação da figura das autarquias, passou a
interpretar o referido artigo como protetivo dos bens integrantes das pessoas administrativas de
direito público, incluindo-se, portanto, não só a administração direta, quanto a indireta.
Com o advento do código de 2001 a questão ficou definitivamente resolvida. Dispõe o art. 98
que “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. Carvalho Filho
(2008:459) observa que o critério qualificador do bem em público passou a ser o fato de pertencer a
qualquer pessoa jurídica de direito público, e não mais a um ente federativo. Desta feita, os bens das
autarquias são necessariamente públicos.
Desta feita, o patrimônio das autarquias estão sob a mesma proteção dos bens públicos em
geral, logo são igualmente imprescritíveis e impenhoráveis; por outro lado, não podem ser
livremente alienados pelo administrador, tendo este que observar a legislação pertinente para este fim
(alienação). Marinela lembra que a doutrina assevera que o bem autárquico é relativamente
inalienável, ou alienável de forma condicionada (atendimento aos requisitos, condições, da lei).
Estão elencados no art. 17 da lei 8.666/93 os requisitos para alienação dos bens públicos. Ao se dizer
que o bem é impenhorável significa que não cabem penhora, arresto e sequestro dos bens públicos.
Penhora é uma garantia do juízo, uma restrição a patrimônio dentro de uma ação de execução;
arresto e sequestro são cautelares típicas que servem para restrição do patrimônio do devedor para
que ele tenha condições de garantir o cumprimento de contrato no futuro, sendo que arresto é
restrição de bem indeterminado e sequestro de bens determinados. DICA: sequestrador decidiu
ganhar uma bolaaaaada, então ele não escolhe qualquer transeunte para sequestrar, ele vai escolher,
vai determinar a pessoa. Os bens públicos também não podem ser objeto de oneração (direito real de
garantia), ou seja, hipoteca (direito real de garantia sobre bem imóvel), penhor (direito real de
garantia sobre bens móveis fora da execução, uma pessoa dá um bem em garantia, como uma
pulseira, esta pulseira é um bem EMPENHADO – por ser objeto de penhor) e anticrese (utilização
do patrimônio do devedor pelo credor para saudar a prestação).
Esclarecida a polêmica, resta dizer que o patrimônio é formado por meio de transferência de
bens e direitos da Administração Pública, sua criadora. No âmbito da União, essa transferência se dá
na forma prescrita na lei que criou a autarquia, sendo a transferência de bem móvel via contrato
veiculado por escritura pública, devendo ser registrado em cartório imobiliário competente
(Gasparini, 2008:326).
Responsabilidades:
Conforme o disposto no art. 37, §6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos damos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros. Já não paira dúvidas sobre a personalidade jurídica das autarquias,
logo, sendo pessoas jurídicas de direito público, respondem pelos danos causados a terceiros da
mesma forma que os entes federados. Este dispositivo denota a opção do legislador pela
responsabilidade objetiva do Estado, que importa a obrigação em indenizar independente de
investigação sobre a culpa do agente em sua conduta. Desta feita, mesmo que não se possa identificar
culpa individual de agente autárquico, tendo o ato autárquico gerado prejuízo a terceiro, a autarquia
deve reparar. Por outro lado, sendo o agente identificado, há a autarquia tem o direito de regresso
contra aquele que diretamente provocou o dano. Neste caso a responsabilidade só se opera quando
verificada a culpa ou dolo do referido agente.
Celso Antônio Bandeira de Mello (2008:161) adverte que “perante terceiros as autarquias
são responsáveis pelos próprios comportamentos. A responsabilidade do Estado, em relação a eles,
é apenas subsidiária”. Isto porque, tendo em conta que a personalidade da autarquia é distinta da do
Estado, suas obrigações não se confundem com as dele, assim como seus direitos. Diógenes
Gasparini (2008:322-323) afirma que tal hipótese ocorre quando são danos causados a terceiros em
razão dos serviços que explora ou decorrentes de seus servidores. “Assim, quando esgotadas as
forças da autarquia, cabe à Administração Pública suportar o remanescente do prejuízo decorrente
desses comportamentos”. É de se observar que a responsabilidade do Estado, mesmo que subsidiária,
continua sendo OBJETIVA.
Regime de pessoal:
Conforme elucida Celso A B de Mello (2008:167), o regime de pessoal dos servidores
autárquicos é o mesmo dos servidores da Administração direta. Desde a Lei 8.112/90, em
atendimento ao art. 39 da CF, ficou estabelecido um regime único para os servidores da
administração direta, autarquias e fundações públicas. Daí conclui-se que o vínculo da autarquia com
seu servidor não é contratual, mas institucional, “estatutário”. Carvalho Filho (2009:459) observa
que a intenção do constituinte era a de acabar com as diferenças entre as carreiras das pessoas
jurídicas de direito público que durante muitos anos geraram inconformismos e litígios entre os
servidores. Entretanto, a EC 19/98 alterou o conteúdo do art. 39, e deixou de exigir o regime único,
extinguindo a vinculação entre os regimes jurídicos da administração direta e autarquias e fundações.
Desta feita, as autarquias puderam ter o pessoal regido tanto pelo regime estatutário quanto o
trabalhista, conforme previsão de sua lei criadora. Todavia, o STF em 2007, em virtude da ADI
2.135-4MC, de Relatoria da Ministra Ellen Gracie, suspendeu a eficácia da EC19/98 no que toca ao
novo art. 39, com efeitos ex nunc. Na prática, nada foi alterado, de acordo com Gasparini, posto que
não existe uma exigibilidade de que todos os servidores do quadro das autarquias sejam estatutários,
assim como ocorre para a Administração direta, podendo adotar regime misto (2008:324). Desta
feita, os trabalhos braçais podem ser desempenhados por empregados sob regime celetista, enquanto
os demais são sob regime de cargo (estatutário).
De uma forma ou de outra, os servidores são admitidos via concurso público de provas ou
provas e títulos, independente do regime a ser adotado, salvo os cargos em comissão, de acordo
como art. 37, II, CF. Ainda em conformidade com o art. 37, mas com base no inciso IX, se houver
previsão “em lei da entidade a que se vincula, a autarquia pode admitir servidores por tempo
determinado, sem prévio concurso público de provas ou de provas e títulos para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público” (Gasparini, 2009:324). Sendo a relação
entre a autarquia e o(s) servidor(es) for de vínculo contratual, ou seja, sob o regime da CLT, o foro
competente para julgar dissídios individual singular, individual plúrimo (vários empregados e um
empregador) ou coletivo (entre sindicato e/ou associações de classes e empregadores) será a Justiça
do Trabalho (art. 114, CF). Entretanto, se o regime for estatutário, a competência será ou da justiça
federal (autarquias federais) ou justiça comum (autarquia estadual ou municipal), sempre nos juízos
fazendários.
Imunidades e privilégios:
Por ser pessoa jurídica de direito público, as prerrogativas das autarquias são basicamente as
mesmas atribuídas à administração pública direta, salvo naquilo que lhes for estranho em razão da
atividade desempenhada. Entretanto, é justamente pela sua natureza jurídica que o ordenamento lhe
atribui tais prerrogativas. A doutrina destaca os principais privilégios, são eles:
Imunidade tributária: de acordo com o art. 150, VI, a, e § 2º CF não é possível instituir
impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das autarquias, desde que vinculados a suas
finalidades essenciais ou às que delas decorram. Importa dizer que sobre aqueles bens ou serviços
não destinados às finalidades da autarquia incidirão normalmente os impostos. Por esta razão
Carvalho Filho (2009:463) afirma que a imunidade das autarquias tem natureza condicionada. Goza
da chamada imunidade tributária recíproca que trata do caso de que um ente político não pode criar
impostos para o outro ente político. Pode instituir taxa e contribuições, não é para todos os tributos,
só recai a imunidade sobre os impostos.
Impenhorabilidade dos bens e das rendas: significa que não podem servir como garantia ao
credor, esta garantia se dá na forma de precatórios, conforme previsão do art. 100 da CF; por seu
turno, a execução obedece a regras especiais previstas na legislação processual. Obs: o art.100 da CF
foi alterado pela EC62/09. Cada autarquia tem a sua “fila” de precatório, o que faz com que seja
menor do que a da pessoa política.
Imprescritibilidade dos bens: sendo os bens públicos, a sua propriedade não pode ser
adquirida via usucapião por terceiros, conforme art. 183,§3º, que é peremptório quanto aos bens
imóveis. Já o art. 102 do CC diz que todo e qualquer bem público não é passível de ser objeto de
usucapião. O entendimento já era pacífico antes mesmo da vigência do novo CC, posto que o STF
inclusive tem súmula a este respeito (340).
Prescrição quinquenal: “dívidas e direitos em favor de terceiros contra autarquias prescrevem
em cinco anos. Significa que, se alguém tem crédito contra autarquia, deve promover a cobrança
nesse prazo, sob pena de prescrever seu direito de acioná-la com tal objetivo” (Carvalho Filho,
2009:463). (Decreto n°20.910/32, art. 1°, combinado c/ Decreto-Lei n° 4.597/42, art.2°). Significa
que aquele que tiver crédito contra a autarquia deverá promover a cobrança nesse prazo, sob pena de
extinção do seu direito de ação. Regra especial para a prescrição é regulada pela Súmula 383 do STF.
Para o caso da reparação civil há polêmica sobre este prazo. É que o art. 10 do decreto 20.910/32 diz
que o prazo é de 5 anos desde que não haja prazo mais benéfico. Com a entrada em vigor do novo
Código Civil houve alteração de vários prazos, entre eles o de reparação civil, no art. 206, §3º, que
passou a ser de 3 anos. Para o Estado o prazo de 3 anos é mais benéfico, posto que se a vítima não
ajuizar a ação em 3 anos não poderá mais fazê-lo e o Estado não corre mais o risco de ter de pagar e
gastar dinheiro público. Como a matéria não é constitucional quem enfrenta a questão é o STJ, que
no ano passado mudou de orientação e passou a decidir com o prazo de 5 anos, mas ainda há
divergências entre as turmas.
Créditos sujeitos à execução fiscal: os créditos das autarquias são inscritos na dívida ativa,
assim como os dos entes federativos, que são cobrados pelo processo especial de execução fiscal.
De acordo com o art. 188 do CPC as autarquias tem prazo em quádruplo para contestar e em
dobro para recorrer, por ser considerada como fazenda pública. As autarquias estão sujeitas à
obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, razão pela qual as decisões contrárias às autarquias só
geram efeitos depois de confirmadas por Tribunal (art. 475, I, CPC), assim como as que julgarem
procedentes embargos à execução contra a fazenda pública (na qual se insere a autarquia) (art. 475,
II, CPC).
São chamados privilégios processuais os de prazo dilatado, como citado acima no art. 188 do
CPC, e o reexame necessário, que significa de independentemente de as partes terem ou não
apresentado recurso voluntário, a decisão deve ser levada a tribunal. Há casos excepcionais em que o
reexame necessário não ocorre, até 60 salários mínimos e quando a matéria já tiver sido julgada pelo
pleno do tribunal. Enquanto não houver o reexame (exceto nos casos citados) não há transito em
julgado da decisão.
Está ainda, sujeita à contabilidade pública (lei 4320) e a lei de responsabilidade fiscal (lei
complementar 101/00) quanto aos procedimentos financeiros.
Orçamento:
“Consoante o art. 165, §5°, I, da CR, integra a lei orçamentária anual “o orçamento fiscal
referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Portanto, o orçamento das autarquias,
em sua forma, é idêntico ao dos órgãos da administração direta; suas receitas e despesas integram o
chamado “orçamento fiscal”, parte da lei orçamentária anual” (Sergimar).
Nomeação e exoneração de dirigentes:
“A forma de investidura dos dirigentes das autarquias será aquela prevista pela lei
investidora. A competência para nomeação, nas autarquias federais, é privativa do Presidente da
República, conforme o art. 84, XXV, da Carta, simetricamente, o governador, nos estados e Distrito
Federal e os prefeitos nos municípios. Para nomeação será exigida a aprovação do Senado Federal
(CF, art.84, XIV). Diferentemente, não pode e lei estabelecer hipóteses de exigência de aprovação
legislativa para exoneração de dirigentes das entidades da administração indireta (não pode tão
pouco prever que a exoneração seja efetuada diretamente pelo Poder Legislativo). Assim também
entendeu o Supremo ao julgar a ADIMC 1.949/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 18/11/99. A
vinculação do Poder Legislativo nessa seara representaria, segundo o entendimento do Tribunal seria
inconstitucional porque representaria uma violação ao princípio da separação dos poderes”
(Sergimar).
Atos e contratos
Há casos em que os atos e contratos das autarquias podem ter natureza privada, regulados,
portanto, pelo direito privado. Porém, esta não é a regra. Os atos das autarquias, via de regra, são atos
administrativos típicos, revestindo-se das mesmas peculiaridades dos atos exarados pela
administração direta, próprios do regime do direito público. Devem suprir os mesmos requisitos de
validade e possuem os privilégios da imperatividade, presunção de legalidade, auto-executoriedade e
exigibilidade. Por serem atos de autoridades públicas, sua legalidade pode ser aferida pela via do
mandado de segurança ou ação popular.
Os contratos que não sejam tipicamente de direito privado (compra e venda, doação etc.)
serão considerados contratos administrativos, que possuem princípios que privilegiam o Poder
Público, em razão da proteção do interesse coletivo. Desta feita, são regidos pela lei 8.666/93, e
devem ser precedidos de licitação, excetuados os casos ali previstos.
Os contratos possuem cláusulas exorbitantes. Está sujeita a licitação, pelo regime da lei
8.666.
Autarquias em regime especial:
Fernanda Marinela observa que esta denominação já é muito antiga, era utilizada para as
universidades federais porque o sistema de escolha dos dirigentes é por eleição, porque a
universidade tem maior autonomia na escolha das grades curriculares, dos cursos oferecidos. Esse
era o “regime especial” a que se fazia referência.
Segundo Carvalho Filho (2009:464-465), em face do processo de modernização do Estado,
diversas medidas foram tomadas pelo governo, entre elas a criação de uma categoria especial de
autarquias às quais se convencionou chamar por agências. Seu objetivo institucional é a função de
controle de pessoas privadas que desempenham prestação de serviços públicos, normalmente sob a
forma de concessão ou permissão, assim como a função de intervenção estatal no domínio
econômico (evitar abusos das pessoas da iniciativa privada).
Para fins didáticos as agências autárquicas foram divididas em agências reguladoras e
agências executivas. Estas tem por finalidade a execução efetiva de determinadas atividades
administrativas típicas do Estado, enquanto aquelas tem o mister da fiscalização e controle
(adequadas ao regime de desestatização). Celso A B de Mello (2008:169) observa que não há
legislação que preveja qual seja o tal regime especial, mas apenas uma ideia subjacente de que
“desfrutariam de uma liberdade maior do que as demais autarquias”. Carvalho Filho (2009:465)
assevera que o toque especial no regime seria relativo “à independência que a ordem jurídica lhes
conferiu em aspectos técnicos, administrativos e financeiros”. Isso, claro, em comparação com a
generalidade das autarquias.
Destaca-se que o termo foi importado do sistema americano em que, excluídos os poderes do
estado, todas as autoridades públicas constituem agências, logo a administração pública, no direito
norte-americano, é sinônimo de agências.
Agência executiva:
Recebe esta denominação, segundo Di Pietro (2010:465), a autarquia ou a fundação pública
que celebre contrato de gestão com órgão da administração direta, à qual se encontre vinculada, com
fins à melhoria da eficiência e redução de custos. Carvalho Filho (2009:468) observa que a base da
atuação da agência executiva é a operacionalidade, uma vez que objetiva a “efetiva execução e
implementação da atividade descentralizada, diversamente da função de controle, esta o alvo
primordial das agências reguladoras”.
A figura da agência executiva nasceu com a Lei 9.649/98, que tratou do assunto nos artigos
51 e 52. Assim dispõe o art. 51: “o Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva a
autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos: I – ter um plano estratégico de
reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento; II – ter celebrado contrato de
gestão com o respectivo Ministério supervisor”. No §1º tem-se que a qualificação é de competência
do Presidente da República; o § 2º incumbe o Poder Executivo de editar as medidas de organização
administrativas específicas para tais agências, com a finalidade de garantir a sua autonomia de
gestão, assim como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para cumprir as metas
e objetivos institucionais. Carvalho Filho (2009:468) verifica que não se trata de nova categoria de
pessoa jurídica, mas apenas uma qualificação, ou um título atribuído a autarquias ou fundações
públicas.
Celso A B de Mello (2008:181-182) tece duras críticas aos requisitos do art. 51: “Quanto ao
primeiro requisito para receber a qualificação de ‘agência executiva’, já se vê que não passa de um
conjunto de expressões sonoras, retumbantes e vazias. Quanto ao segundo, é preciso esclarecer em
que consiste. Infelizmente também leva ao vazio. ‘Contrato de gestão’ (com o Ministério supervisor)
é, pelo menos até que se edite a lei prevista no art. 37, §8º, da Constituição, uma figuração
juridicamente inconsequente, um nada perante o Direito”. E continua: “com a expressão contrato de
gestão querem mencionar aquilo que, na verdade, não passa de um arremedo de contrato, uma
encenação sem qualquer valor jurídico, pelo qual se documenta que a Administração Central
‘concede’ à autarquia ou fundação maior liberdade de ação, isto é, mais autonomia, com a dispensa
de determinados controles, e assume o ‘compromisso’ de repasse regular de recursos em
contrapartida do cumprimento por estas de determinado programa de atuação, com metas definidas e
critérios precisos de avaliá-las, pena de sanções a serem aplicadas ao dirigente da autarquia ou
fundação que firmou o ‘pseudocontrato’ se, injustificadamente, o descumprir”. Mais a frente discorre
o indignado autor: “É evidente que se as competências da entidade, se sua liberdade, autonomia,
decorrem de lei e não podem ultrapassar o que nela se dispõe, resulta óbvio que a autoridade
supervisora não tem qualquer poder em relação a isso. (...) Competências não se transacionam, e
muito menos por contrato”.
Di Pietro (2010:466-467) observa que o principal aumento de autonomia previsto para as
agências executivas não se encontra na lei que a criou, mas na lei 9648/98, a qual alterou a lei de
licitações, outorgando apenas às agências executivas (e não a todas as autarquias e fundações
públicas) a possibilidade de dispensa de licitação nos valores ali estipulados (art. 24, I e II) os quais
são considerados em dobro para as compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos,
sociedade de economia mista e empresas públicas, bem assim por autarquias e fundações
qualificadas, na forma da lei, como agências executivas.
A este respeito Celso A B de Mello afirma ser mais uma das tentativas de o Executivo burlar
a regra da licitação. Carvalho Filho (2009:469), por seu turno, observa que as agências já criadas
(INMETRO, SUDAM e SUDENE) em nada se diferenciam das antigas autarquias que substituíram,
suas estruturas ainda são as mesmas e assevera que “não adianta nada só mudar o nomen júris, se o
caos, o descontrole e a desorganização administrativa continuarem a grassar entre as pessoas
vinculadas ao Estado. É o mesmo que trocar seis por meia dúzia...”
São velhas autarquias ou velhas fundações. A qualificação em agência executiva serve para
melhorar a fundação ou autarquia sucateada. Para tanto, a autarquia e/ou fundação elabora um plano
estratégico de reestruturação e vai à administração direta para firmar um contrato de gestão. Este
garante àquela autarquia ou fundação garante mais autonomia e mais liberdade para se tornar mais
eficiente e ter condições de concretizar suas metas. Ela ainda recebe mais recursos orçamentários. A
doutrina critica o instituto por se “premiar” uma autarquia ou fundação já sucateada por sua
ineficiência. Outra crítica que se faz é que a lei que criou a autarquia ou fundação sucateadas é
alterada por meio de contrato, contrato este realizado com Ministério, que não tem personalidade
jurídica para isso. Lei 9649/98.
Agências Reguladoras:
De acordo com Di Pietro (2010:467), em sentido amplo, agências reguladoras no Brasil
correspondem a qualquer órgão da Administração direta ou entidade da Administração indireta com
função de regular a matéria específica que lhe está afeta. Observa, ainda, a autora, que esta função de
regulação e fiscalização não nasceu com o termo agência reguladora. Manuel Gonçalves Ferreira
Filho, em estudo realizado entre os anos 1930 e 1945, menciona o Comissariado de Alimentação
Pública (1918), o Instituto de Defesa Permanente do Café (1923), o Instituto do Açúcar e do Álcool
(1933), o Instituto Nacional do Mate (1938), o Instituto Nacional do Pinho (1941), o Instituto
Nacional do Sal (1940), todos instituídos como autarquias com a finalidade de regular a produção e o
comércio. Vê-se, portanto, que a introdução de um novo vocábulo não importou a criação de nova
atividade administrativa, em especial no âmbito de atuação da administração indireta.
Celso A B de Mello (2008:172) também reconhece não haver novidade em existirem
autarquias com funções reguladoras, o que não se pode dizer do termo trazido pela malfadada
“reforma administrativa”. Carvalho Filho (2009:465-466) esclarece que o vocábulo foi trazido do
direito norte-americano para o brasileiro em razão do PND (Plano Nacional de Desestatização) de
1995, que previa a transferência de atividades dantes exercidas pelo Estado para a iniciativa privada,
com a fim de sanar o déficit público e sanear as finanças governamentais. Entretanto, não se poderia
operar a privatização de forma tão larga e abrangente que as referidas atividades ficassem ao sabor
exclusivo desses sujeitos de direito privado, exigindo, portanto, a criação de órgãos reguladores, que
foram, daí em diante, denominadas de agências reguladoras.
Desta feita, foi atribuída a essas agências reguladoras a função “de controlar, em toda a sua
extensão, a prestação dos serviços públicos e o exercício de atividades econômicas, bem como a
própria atuação das pessoas privadas que passaram a executá-los, inclusive impondo sua adequação
aos fins colimados pelo Governo e às estratégias econômicas e administrativas que inspiram o
processo de desestatização” (Carvalho Filho, 2009:466).
Pairando sempre a possibilidade de as pessoas privadas intentarem abusar do respectivo poder
econômico, com o objetivo de dominação do mercado e eliminação da concorrência, pressupõe-se
que a atividade das agências reguladoras seja de fato marcadamente forte e presente. Assim, a função
de controle das atividades exercidas sob regime de concessão é relevante atribuição das agências. De
acordo com DI Pietro (2010: 468), regular significa “organizar determinado setor afeto à agência,
bem como controlar as entidades que atuam nesse setor”. Em sentido amplo, regulação importa “toda
forma de organização de atividade econômica através do Estado, seja a intervenção através da
concessão de serviço público ou o exercício do poder de polícia” (Calixto Salomão). Desta atribuição
surge a questão de até que ponto podem as agências exercer a função regulatória sem invadir a
competência legislativa.
Celso A B de Mello (2010:172-173) afirma que, com base em princípios, esta seria uma
resposta fácil, posto que o princípio da legalidade veda a possibilidade de atos normativos de origem
distinta da do Poder Legislativo inovarem no ordenamento jurídico. Logo, as agências poderiam
tratar exclusivamente de aspectos técnicos, uma vez que a lei permite que “providências subalternas”
regulem a sua própria execução, por meio, por exemplo, de regulamentos. Assevera, ainda, que “nos
casos em que suas disposições se voltem para concessionários ou permissionários de serviço público,
é claro que podem, igualmente, expedir as normas e determinações da alçada do poder concedente
(...) ou para quem esteja incluso no âmbito doméstico da Administração”. Por fim, o autor resume:
“cabe-lhes expedir normas que se encontrem abrangidas pelo campo da chamada ‘supremacia
especial’”.
Independente de qualquer hipótese, as normativas expedidas devem estar sempre amparadas
por lei, não podendo, portanto, contrariar o que estiver previsto em lei ou distorcer o sentido da
mesma, em especial quando for para agravar a posição jurídica dos destinatários ou terceiros.
Obviamente, princípios jurídicos também não podem ser violados, os quais só são afastáveis em
razão da necessidade do atendimento do bem jurídico comum, na exata medida da intensidade
requerida.
Nesta seara, Di Pietro (2010:472-473) afirma que a ANATEL e a ANP, sob a denominação
de órgão regulador, são as duas únicas agências previstas na Constituição nos arts. 21, XI e 177, §2º,
III. Nestes dois casos há de se reconhecer que a função normativa lhes foi delegada pela própria
norma constitucional, razão pela qual é uma função mais ampla, sem, contudo, ter o poder de inovar
no ordenamento jurídico, já que a função reguladora não se confunde com a função legislativa. Se a
interpretação dada aos poderes normativos dessas duas agências fosse no sentido de as equiparar ao
Poder Legislativo haveria violação à tripartição dos poderes, com flagrante ofensa à independência e
autonomia do Poder Legislativo. No que tange às demais agências, a delegação lhes é feita pela
própria lei instituidora. Desta forma, sua função normativa reguladora não pode ultrapassar aquela
exercida pelos demais órgãos e entidades da Administração Pública, sob pena de
inconstitucionalidade. Sendo assim, é-lhes vedado regulamentar conteúdo não disciplinado em lei
nem regulamentar diretamente as leis, já que esta é competência do chefe do Poder Executivo. De
maneira resumida, a autora afirma que as normas passíveis de expedição pelas agências se
restringem a: “a) regular a própria atividade da agência por meio de normas de efeitos internos; (b)
conceituar, interpretar, explicitar conceitos jurídicos indeterminados contidos em lei, sem inovar na
ordem jurídica”.
A par da questão da invasão das competências legislativas, a atribuição das função reguladora
enseja, também, uma divisão entre espécies de agências. Di Pietro (2010:468) elucida que, em razão
do sentido amplo de regulação, há dois tipos de agências: “a) as que exercem, com base em lei, típico
poder de polícia, com a imposição de limitações administrativas, previstas em lei, fiscalização,
repressão”, que é o caso da ANVISA e ANS; e “b) as que regulam e controlas as atividades que
constituem objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço público (telecomunicações,
energia elétrica, transportes etc.) ou de concessão para exploração de bem público (petróleo e outras
riquezas minerais, rodovias etc.)”. Alerta a autora que as primeiras não são em grande coisa distintas
das autarquias que já desempenhavam tal função, como o Bacen, Cade, Conselho Monetário
Nacional... Já a segunda espécie assume relevo de novidade no direito brasileiro, em razão do papel
que desempenham, em razão da concessão, permissão e autorização, que antes eram poderes de
titularidade da Administração direta, na qualidade de poder concedente. VER ANTAQ (agência
nacional de transporte aquaviário), ANA (agência nacional de águas), ANCINE (criada por medida
provisória).
Os contratos de concessão possuem dois aspectos: o primeiro é quanto a seu objeto, fazendo
referência à execução da atividade delegada ao particular; o segundo é financeiro, diz respeito aos
direitos do contratado (normalmente empresa capitalista que visa lucro). Daí concluí-se que há, no
contrato de concessão, regras regulamentares – para a garantia da prestação do serviço na forma mais
adequada ao interesse coletivo – e as cláusulas contratuais – que visam assegurar o direito ao
equilíbrio econômico-financeiro. Em razão das primeiras regras, são reconhecidos poderes à Adm
concedente: que pode fixar e alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares, emcampação,
intervenção, poder sancionatório, decretar a caducidade, direção e controle sobre a execução do
serviço e uso compulsório de recursos humanos e materiais da empresa. Esses poderes eram,
antigamente, exercidos diretamente pela Administração direta, entretanto, com a criação das
agências, estas funções vêm sendo por elas assumidas.
Em razão desta assunção de poderes entende-se que existe real necessidade de que seja
outorgada certa “independência em relação ao governo no que tange a vários aspectos de sua
atuação. Se há interferência do governo, o sistema perde sua pureza e vocação” (Carvalho Filho,
2009:467).
Di Pietro (2010:469) observa que não existe uma disciplina única para as agências, apesar de
que a instituição de cada uma delas tem se orientado pelos mesmos moldes, e vão sendo criadas por
leis esparsas, sob a denominação de autarquias em regime especial. Celso A B de Mello (2010:173174) afirma ser possível retirar o significado de “regime especial” das leis que criam as agências.
Assim, a lei que criou a ANATEL traz como características especiais, no seu art. 8º, §2º, a
“independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de
seus dirigentes e autonomia financeira”. Já na lei que criou a ANS o “regime especial” está refletido
em seu art. 1º, que estabelece a “autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de
recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes”. Há
outros exemplos que levam à conclusão genérica de que, nas palavras de Di Pietro (2010:469), o
regime especial consiste “em maior autonomia em relação à Administração Direta; à estabilidade de
seus dirigentes, garantida pelo exercício de mandato fixo, que eles somente podem perder nas
hipóteses expressamente previstas, afastada a possibilidade de exoneração ad nutum; ao caráter final
de suas decisões, que não são passíveis de apreciação por outros órgãos ou entidades da
Administração Pública”.
Em relação aos dirigentes, a lei 9.986/00 uniformizou as normas sobre seu provimento ao
estabelecer que serão escolhidos pelo Presidente da República, carecendo a indicação de aprovação
do Senado Federal. Prevê o art. 4º que as agências são dirigidas por colegiado, com um conselho
diretor ou diretoria composta por conselheiros ou diretores, sendo um deles o presidente ou diretorgeral ou diretor-presidente. O art. 5º determina que os membros desse colegiado sejam brasileiros, de
reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos
para os quais serão nomeados.
Fernanda Marinela afirma que a função de normatização de setores implica maior liberdade,
logo maior autonomia. Quanto aos dirigentes, afirma ser a “investidura ou nomeação especial”, já
que a nomeação não é livre, por depender de sabatina do Senado, além de não poder ser exonerado
ad nutum durante a vigência do mandato fixo. Há projeto de lei que pretende unificar o prazo do
mandato para 4 anos. Antes do prazo deve haver ou condenação ou renúncia ao cargo. É de se
salientar a quarentena do dirigente quanto à atuação na iniciativa privada no mesmo setor da Agência
da qual era dirigente. A quarentena não impede atuação em outro cargo público ou para outro setor.
Durante este período, em regra de 4 meses, o ex-dirigente continua recebendo a remuneração, já que
porta ainda informações privilegiadas (a quarentena pode ser de 12 meses).
É de se observar que o procedimento licitatório é diferente das demais autarquias. As
agências reguladoras, de acordo com 9472/97, poderiam estabelecer seu procedimento próprio
observando as formas pregão e consulta. Esta regra foi objeto da ADI1668, o STF decidiu a
inconstitucionalidade do procedimento próprio, logo as agências reguladoras se subordinam à lei
8666; mas o STF deixou passar o pregão e a consulta, que são as modalidades próprias. A consulta
não é regulamentada, mas o pregão é regido pela lei 10520/2002. No que toca ao regime de pessoal,
a lei 9986/00 define que o pessoal das agências será regido pela CLT com contratos temporários (que
não tem concurso público). Mais uma vez o STF teve de se pronunciar, ao julgar a ADI 2310, em
sede de cautelar, que a “contratação temporária” via CLT é inconstitucional; a necessidade é
permanente, não temporária, logo o regime correto é o regime de cargo público, estatutário, para
provimento definitivo. No curso do julgamento do mérito veio a MP 155/2003, que foi convertida na
lei 10871/04, na qual o Presidente da República criou cargos. Assim, a ADI perdeu o objeto. Daí o
Presidente da República vem editando MP prorrogando por mais um ano os contratos temporários
desde 2003 e os concursos não vieram. A matéria hoje é objeto da ADI 3678, ainda pendente de
decisão.
A AEB (agência espacial brasileira) é só autarquia não é agência reguladora, ABIN é órgão
da administração direta. CVM (comissão de valores mobiliários) é agência reguladora, apesar de não
ter o nome.
OBS: Conselhos de Classe originariamente tinham natureza de autarquida. Com a lei 9649/98 ficou
determinado que deveriam ter personalidade de direito privado e receberiam delegação. Essa lei foi
objeto de ADI 1717 no STF, que decidiu que os conselhos de classe ao exercerem poder de polícia
não poderiam ter natureza de direito privado, já que este poder de polícia não pode ser transferido a
particular em nome da segurança jurídica, logo conselho de classe tem de ter natureza pública,
voltando a ser autarquia. Isso importa que a anuidade que o conselho cobra terá natureza de
contribuição, logo é um tributo. Assim, ao não pagar a anuidade gera a cobrança via execução fiscal,
o que faz com que os conselhos de classe estão, portanto, sujeitos às regras de contabilidade pública
e sob o controle e fiscalização do Tribunal de Contas. A OAB é sui generes, que só aproveita as
benesses das autarquias e não as suas obrigações. O STF (ADI 3026) já determinou que a anuidade
da OAB não tem natureza de tributo, e sim de preço, por isso não cabe execução fiscal (cabendo a
execução comum) e não está sujeita ao controle e fiscalização do Tribunal de Contas. E mais, não
precisam fazer concurso público para contratar pessoal.
OBS2: Autarquia territorial é o próprio território, já que o território não é ente político, para conferir
personalidade de direito público os administrativistas como autarquia territorial.
Fundações Públicas:
Natureza Jurídica:
O decreto-lei 200/67, no art. 5º, IV, assim conceitua fundação pública: “Fundação Pública - a
entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude
de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos
ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos
respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes”.
Em que pese ter incluído as Fundações Públicas no rol das pessoas jurídicas de direito
privado, a discussão acerca da natureza jurídica dessas entidades não foi apaziguada. Celso A B de
Mello (2010:184), por exemplo, afirma categoricamente que a “afirmação normativa de que as
fundações públicas são pessoas de Direito Privado” é um absoluto equívoco. O mundo inteiro, a
exceção do Brasil, reconhece a essas entidades a natureza de pessoa de Direito Público, em razão do
regime jurídico a que se submetem. Regime este que também no Brasil é de direito público, uma vez
que as fundações têm titularidade de poderes públicos e não só a mera execução de serviços
públicos. O fato de o decreto-lei 220/67 estabelecer que as fundações serão sujeitos de direito
privado não faz com que aquelas entidades criadas com características de sujeito de direito público e
sob o regime de direito público se transformem em sujeitos de direito privado. E o que aconteceu no
Brasil foi justamente isso, a criação de diversas fundações sob o regime de direito público com
diversas características de pessoa de direito público, em nada distintas das autarquias. A razão pela
qual, indica o autor, de seu batismo enquanto pessoas de direito privado é que, em sendo pessoas de
direito público estão sujeitas aos controles típicos da vinculação do ente descentralizado à pessoa
criadora, ao adotar a personalidade de direito privado, as fundações (verdadeiras autarquias
disfarçadas) se esquivariam de tais controles moralizadores.
Di Pietro (2010:434), por seu turno, indica a existência de duas correntes: a primeira pugna
pela personalidade privada de todas as fundações instituídas pelo Poder Público; a outra entende
existirem fundações de direito público, que seria uma modalidade de autarquia, e fundações de
direito privado.
Celso A B de Mello (2010:184) assevera que com o advento da CF/88 já não há mais o que se
discutir sobre a natureza jurídica das fundações, posto que ao estabelecer que os servidores da Adm
direta, autarquias e fundações públicas estariam sob o mesmo teto remuneratório. Tal tratamento,
afirma o autor, se deve em razão de os constituintes, logo, por consequência, a própria constituição,
entenderem que as fundações públicas são pessoas de direito público. Desta feita, após longas
considerações sobre o tratamento conferido aos servidores das fundações pela Constituição, o autor
conclui que “as chamadas fundações públicas são pura e simplesmente autarquias, às quais foi dada
designação correspondente à base estrutural que têm” (2010:186). Isto porque no direito brasileiro,
como já no início do século ensinava Lacerda de Almeida (1905), as pessoas jurídicas (sejam
públicas ou privadas) podem ser classificadas em duas categorias: pessoas de base corporativa
(associações, corporações, sociedades) e as pessoas de base fundacional. As primeiras têm por
substrato um grupo de pessoas, as segundas um patrimônio a qual se atribuiu personalidade em busca
da consecução de uma finalidade. Assim, para não permitir que a base estrutural da entidade pudesse
afastar o regime jurídico que a Constituição a elas queria conferir, ficaram previstos em seu texto
duas pessoas estatais, com realidades idênticas, porém nomes distintos. E conclui dizendo que “uma
vez que as fundações públicas são pessoas de Direito Público de capacidade exclusivamente
administrativa, resulta que são autarquias e que, pois, todo o regime jurídico dantes exposto, como
concernente às entidades autárquicas, aplica-se-lhes integralmente”.
A este respeito, Carvalho Filho (2009:494) elucida que as fundações são oriundas do direito
privado e se caracterizam pela atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio que deverá
atender um certo fim social. Indica, em seguida, as características básicas da fundação: a figura do
instituidor (não se pode abstrair da fundação o sujeito que fez a dotação do seu patrimônio); o fim
social da entidade; e a ausência de fins lucrativos. A diferença entre as fundações públicas, esclarece
o autor, e as fundações regidas pelos arts. 62 a 69 do CC, é que a figura do instituidor naquelas é o
Estado. Desta feita, têm-se as fundações públicas, instituídas pelo Estado, e as fundações privadas,
instituídas por pessoas da iniciativa privada. A polêmica sobre a natureza jurídica das fundações, na
opinião do autor, é lamentável, e não acrescenta em nada à técnica jurídica.
Informa haver duas correntes sobre a questão. A corrente dominante seria a que entende que o
Poder Público pode instituir fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito
Privado. Corrente esta adotada por Di Pietro (2010:435): “em cada caso concreto, a conclusão sobre
a natureza jurídica da fundação – pública ou privada – tem que ser extraída do exame da sua lei
instituidora e dos respectivos estatutos”. Carvalho Filho (2009:495) anota que, para os seguidores
desta corrente, as fundações de direito público se caracterizam como verdadeiras autarquias, razão
pela qual os vocábulos autarquia fundacional ou fundações autárquicas tornaram-se tão conhecidos.
Esclarece, ainda, que o STF adotou este posicionamento ao decidir o RE 101.126-RJ (Rel. Moreira
Alves, sob a CF/67) destacando que “nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de
direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço
estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são
fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são
espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação que alude o §2º do art. 99 da Constituição
Federal”.
A segunda corrente, capitaneada por Hely Lopes Meirelles, assevera que não pode haver
fundações públicas de direito público, sendo figura típica de direito privado e dele oriundo, a
personalidade jurídica de todas as fundações é de direito privado, inobstante o seu instituidor. De
acordo com este doutrinador é impossível uma entidade ser espécie de outra sem seus conceitos se
confundirem, e afirma que o novel posicionamento do STF trará muitos problemas para a
administração pública, ao excluir o controle do Ministério Público e mantendo-se somente o do
Tribunal de Contas (1998:305-306).
Para Carvalho Filho (2009:496) o pensamento de Hely Lopes Meirelles parece ser o mais
acertado, já que a criação de Fundações pelo Estado seria em razão de desempenhar atividades
sociais com maior flexibilidade, tal como as fundações instituídas por particulares. Comenta que
também gera estranheza tratar fundação como espécie do gênero autarquia. Para submeter uma
entidade ao regime das autarquias, bastava criar uma autarquia e não uma fundação, que tem
finalidades distintas. Tal caracterização leva a conclusão forçada de que algumas fundações são
autarquias e outras não.
Para Di Pietro (2010:435) a questão aparenta certa simplicidade: “Quando o Estado institui
pessoa jurídica sob a forma de fundação, ele pode atribuir a ela regime administrativo, com todas as
prerrogativas e sujeições que lhe são próprias, ou subordiná-la ao Código Civil, neste último caso,
com derrogações por normas de direito público. Em um ou outro caso se enquadram na noção
categorial do instituto da fundação, com patrimônio personalizado para a consecução de fins que
ultrapassam o âmbito da própria entidade”.
De uma forma ou de outra o Supremo, detentor da palavra final nas interpretações de cunho
constitucional, determinou os requisitos a serem observados quando da verificação se a fundação
pública é de direito público ou privado: “desempenho de serviço estatal; regime administrativo;
finalidade; e origem dos recursos”. Carvalho Filho (2010:497) analisa os quatro fatores apontados
pelo STF como distintivos, e conclui que o único capaz efetivamente de diferenciar uma fundação de
natureza pública para uma privada é a origem dos recursos, posto que se deve admitir que “aquelas
cujos recursos tiverem previsão própria no orçamento da pessoa federativa e que, por isso mesmo,
sejam mantidas por tais verbas” sejam fundações estatais, por seu turno, as fundações de natureza
privada “serão aquelas que sobrevivem basicamente com as rendas dos serviços que prestem e com
outras rendas e doações oriundas de terceiros”.
Regime Jurídico:
Há dois regimes jurídicos aplicáveis às fundações, a depender se são instituídas como de
direito público ou privado.
Fundação de direito privado
Di Pietro (2010:436) observa que mesmo quando a personalidade jurídica da fundação
instituída pelo Estado é privada, ela nunca estará inteiramente submetida ao regime privado. A este
respeito, argumenta que, sob determinados aspectos, estará sempre sob o regime público, como se
verifica com o a fiscalização financeira e orçamentária – controle externo – e com o controle interno
exercido pelo Poder Executivo.
Informa, a autora, que a “posição da fundação privada perante o poder público é a mesma das
sociedades de economia mista e empresas públicas; todas elas são entidades públicas com
personalidade jurídica de direito privado, pois todas elas são instrumentos de ação do Estado para a
consecução de seus fins; todas elas submetem-se ao controle estatal para que a vontade do ente
público que as instituiu seja cumprida; nenhuma delas se desliga da vontade do Estado, para ganhar
vida inteiramente própria; todas elas gozam de autonomia parcial, nos termos outorgados pela
respectiva lei instituidora” (2010:436-437).
Aponta distinções quanto a fundação pública de direito privado instituída por particular e pelo
Estado: “na fundação, o instituidor gás a dotação de determinada universalidade de bens livres,
especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la; o seu
estatuto é feito pela pessoa por ele designada ou pelo Ministério Público, a quem compete velar pela
fundação”. E continua: “o papel do instituidor exaure-se com o ato da instituição; a parti do
momento em que a fundação adquire personalidade jurídica, ela ganha vida própria. O instituidor
nenhum poder mais exerce sobre ela; seu ato é irrevogável. (...) O patrimônio da fundação destaca-se
do patrimônio do fundador e com ele não mais se confunde”.
Estas seriam, portanto, características das fundações instituídas por particulares. O que se
passa nas fundações de direito privado instituídas pelo Estado é algo diferente, em que pese a lei
determinar a aplicação do CC. Assevera a autora que: “em primeiro lugar, o Poder Público, ao
instituir fundação, seja qual for o regime jurídico, dificilmente pratica simples ato de liberalidade
para destacar bens de seu patrimônio e destiná-los a fins alheios que não sejam de interesse do
próprio Estado. Este, ao instituir fundação, utiliza tal espécie de entidade para atingir determinado
fim de interesse público, serve-se da fundação para descentralizar a execução de uma atividade que
lhe compete, da mesma forma que o faz em relação às autarquias, sociedades de economia mista e
empresas públicas, às quais confere a execução de serviços públicos” (2010:437-438).
Observa, ainda, que, como o interesse público pode ser variado, a finalidade da fundação
também pode ser mudada pelo ente que a instituiu, alterando ou revogando a lei que a criou, e que a
impossibilidade desta hipótese configuraria violação ao princípio da indisponibilidade do interesse
público. Ao contrário do que ocorre com as fundações instituídas por particulares, cujo ato de
instituição é irrevogável ao instituidor, a fundação instituída pelo Poder Público pode ser extinta a
qualquer momento, e sendo o caso de alteração da lei que rege a fundação, não se faz necessária
decisão prévia dos dirigentes da entidade. Conclui a autora que, “enquanto no direito privado a
fundação adquire vida própria, independente da vontade do instituidor (que não poderá nem mesmo
fiscalizar o cumprimento da sua manifestação de vontade, já que essa função foi confiada ao
Ministério Público), a fundação instituída pelo Estado constitui instrumento de ação da
Administração Pública, que se cria, mantém ou extingue na medida em que sua atividade se revelar
adequada à consecução dos fins que, se são públicos, são também próprios do ente que a instituiu e
que deles não pode dispor” (2010:438).
Por fim, a autora critica a fiscalização exercida pelo Ministério Público, posto que tem por
única utilidade sobrecarregar a entidade, que acaba por realizar controles duplicados com o mesmo
objetivo. Afinal, todas as fundações estão sob a supervisão ministerial, além da fiscalização
financeira e orçamentária a cargo do TCU, conforme arts. 71; 49, X; 165, §5º e 169, §1º. Argumenta
que para as fundações instituídas por particulares há sentido em se atribuir a função ao MP em razão
da necessidade de manter a entidade dentro dos objetivos para os quais foi criada, uma vez que
adquire vida própria, estando o instituidor impedido de interferir. Para arrematar, traz citação de
Pontes de Miranda, que assevera que nas fundações instituídas pelo Estado “há o poder de ingerência
do Estado, que se não confunde com o dever de velar exercido pelo Poder Público e que se constitui
em característica da fundação de direito privado” (apud, 2010:439).
De forma genérica, pode-se dizer que o que resta do regime de direito privado é: “seus bens
não se equiparam a condição de bens públicos, em geral não praticam atividades relacionadas ao
poder de império do estado, não possuem poder normativo, não estão sujeitas ao regime dos
precatórios, não possuem capacidade tributária ativa e adquirem personalidade apenas após o registro
de seus atos constitutivos” (Sergimar).
Di Pietro (2010:441) menciona que com a EC19/98 a CF deixou de mencionar o termo
fundação pública, adotando somente o vocábulo fundação. Desta feita, deve-se entender que todos os
dispositivos em que não haja a especificação da personalidade jurídica da fundação é em razão de
pretender alcançar a todas as fundações sejam de direito público ou privado. Assim, sobra muito
pouca coisa não derrogada pelo direito público a ser aplicado às fundações de direito privado, sendo
estas, ao entender da autora, predominantemente públicas: subordinam-se ao controle do TCU e a
supervisão ministerial; sua constituição se dá por lei, logo só pode ser extinta por lei; os empregados
são equiparados aos servidores públicos para fins do art. 37 da CF (inclusive no que tange a
acumulação de cargos); submetem-se à lei 8.666/93 (licitações); imunidade tributária conforme o art.
150, §2º, CF; entre outras derrogações.
Fundação de direito público
O regime aplicado às fundações de direito público é basicamente o regime das autarquias.
Diferenciam-se das fundações de direito privado nos seguintes aspectos (Di Pietro, 2010:442-443):
“presunção de veracidade e executoriedade dos seus atos administrativos; inexigibilidade de
inscrição de seus atos constitutivos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, porque a sua
personalidade Jurídica já decorre de lei; não submissão à fiscalização do Ministério Público;
impenhorabilidade dos seus bens e sujeição ao processo especial de execução estabelecido pelo
artigo 100 da Constituição [precatório]; juízo privativo (art. 109, inciso I, da Constituição Federal).
Em resumo, usufruem dos privilégios e prerrogativas e sujeitam-se às mesmas restrições que, em
conjunto, compõem o regime administrativo aplicável às pessoas jurídicas públicas”.
Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista:
Conceito
De acordo como art. 5º do Decreto 200/67, as empresas públicas são: “a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União,
criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por
força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas
admitidas em direito”. Celso A B de Mello (2010:190) adverte sobre a impropriedade deste conceito
legal, uma vez que a “exploração de atividade econômica” não é o único fim pelo qual podem ser
criadas as empresas públicas, logo, não deveria ser utilizado como elemento definidor. Isto ocorre,
inclusive, por determinação constitucional, que prevê a criação de empresas públicas com a
finalidade de prestação de serviço público, serviços qualificados privativos de entidade estatal ou da
própria União, ou para realizar obras públicas, ou desenvolver outras atividades. Tendo por base uma
perspectiva hermenêutica, de acordo com a qual não se pode interpretar o direito de modo a tornar o
ordenamento um absurdo, o autor chega à conclusão de que, quando da elaboração do conceito, os
“espertos” que o formularam tinham em mente uma ideia pouco jurídica do que seria a atividade
econômica, e quiseram dizer, por meio da expressão “exploração de atividade econômica”, que a
atividade desempenhada se dá mediante prestações remuneradas.
Por esta e outras razões, Celso A B de Mello (2010:187) assevera empresa pública “é a
pessoa jurídica criada por força de autorização legal como instrumento de ação do Estado, dotada de
personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes de ser
coadjuvante da ação governamental, constituída sob quaisquer das formas admitidas em Direito e
cujo capital seja formado unicamente por recursos de pessoas de Direito Público interno ou de
pessoas de suas Administrações indiretas, com predominância acionária na esfera federal”. Só não
pode ser SA de capital aberto!
Conforme indica o art. 5º do Decreto-lei 200/67, sociedade de economia mista é: “a entidade
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua
maioria à União ou a entidade da Administração Indireta”. Celso A B de Mello (2010:192) afirma
que a impropriedade constante da definição legal (para além de todas as críticas efetuadas às
empresas públicas que também aqui são adequadas) da sociedade de economia mista é a ausência de
um elemento deveras importante à sua conceituação: a conjugação de capitais de pessoas
governamentais com capitais particulares, característica indispensável desta figura, cuja ausência
gera confusões lamentáveis. Renova a crítica sobre a expressão “exploração de atividade
econômica”, posto existirem diversas sociedades de economia mista que prestam serviço público, e
cita o exemplo da extinta TELEBRAS. Observa a relevância de se fazer tal distinção em razão do
regime que será aplicado a estas sociedades de economia mista a depender de prestarem serviço
público ou explorarem atividade econômica.
Decorre do exposto que, segundo Celso A B de Mello (2010:191), sociedade de economia
mista é “a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado,
dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes
desta sua natureza auxiliar da atuação governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou entidade de sua Administração
indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular”.
Para Carvalho Filho (2009:470-471) o termo “empresa pública” indica que “a forma
empresarial adotada pelo estado não é livre, mas, ao revés, há uma relação de controle entre o Estado
e tais empresas”. Já a expressão “sociedade de economia mista” revela sua natureza de sociedade por
ações, “adequadas para atividades empresariais, sendo as ações distribuídas entre o Governo e
particulares, com o visível objetivo de reforçar o empreendimento a que se propõem”. Sendo ambas
pessoas jurídicas de direito privado. Verifica, o autor, que as empresas públicas e as sociedades de
economia mista andam lado a lado, com diversas semelhanças e que merecem ser estudadas em
conjunto. Ao tratar dos respectivos conceitos, traz alguns exemplos: empresas públicas – FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, BNDES,
SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados); sociedades de economia mista – Banco do
Brasil S.A., PETROBRAS, Banco da Amazônia S.A., SABESP (companhia de saneamento básico
do Estado de São Paulo). Em seguida afirma que em muitos dos casos as críticas são justas e
necessárias, mas que ainda assim os conceitos oferecidos pelo Decreto-lei 200/67 são observados
pelas pessoas administrativas dos entes federados.
Personalidade Jurídica e regime jurídico
Não há duvidas na doutrina de que sejam pessoas de direito privado, o que as distingue das
autarquias. Porém, é necessário levar em consideração o objetivo que o Estado buscava alcançar com
a criação desse tipo de pessoa de natureza empresarial. Carvalho Filho (2009:472) sustenta que,
como os órgãos estatais estão atrelados a uma infinidade de controles, o desempenho dessas
atividades via desconcentração seria impregnado de excessiva lentidão. Por outro lado, se a atividade
fosse desempenhada por entidade de personalidade de direito privado, em razão da maior
versatilidade dessas pessoas, ter-se-ia o benefício da celeridade e eficiência na consecução de seus
objetivos. É preciso ter em mente, também, que o fato de serem criadas pelo Estado faz com que boa
parte do regime de direito privado seja derrogado pelo regime público.
Surge, então, a seguinte situação: tanto as empresas públicas, como as sociedades de
economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, porém, encontram-se sob o controle do
Estado. Motivo este que leva à conclusão de que não estão nem inteiramente regidas pelo direito
privado nem se submetem inteiramente ao regime de direito público. E até mesmo a intensidade com
que se verifica a ocorrência de um regime e de outro varia conforme o objeto da estatal, como se verá
adiante.
Desta feita, conforme indica Diógenes Gasparini (2009:439), o regime das empresas públicas
é imposição constitucional, com previsão no art. 173, §1º, II, que estabelece que estas empresas se
sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que concerne os direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, consistindo, portanto, empresas mercantil,
industrial ou de serviço. Em que pese o art. 27 do Decreto-lei 200/67 determinar que as condições
asseguradas às empresas públicas são idênticas às do setor privado, não se pode deixar de considerar
que se não incidissem regras de direito administrativo não seriam sujeitos instituídos pelo Estado,
por esta razão a própria Constituição Federal tratou de estabelecer no inciso III do mesmo parágrafo
do art. 173 que a empresa pública deve se ater à “licitação e contratação de obras, serviços, compras
e alienações, observados os princípios da administração pública.” Além disto, os cargos são providos
mediante concurso público e é preciso autorização legislativa para sua criação. Todo este contexto
demonstra uma verdadeira natureza híbrida, já que deve, além do exposto, observar o conteúdo do
CC no que tange as entidades empresariais.
Cumpre ressaltar que os comentários acima valem também para as sociedades de economia
mista, uma vez que o art. 173 faz menção às duas espécies de entidade da adm indireta, assim como
o art. 27 do decreto-lei 200/67. Destacando apenas que o regime privado a ela referente é o das SA,
sendo que esta lei já indica quais as derrogações aplicáveis às sociedades de economia mista. Celso
A B de Mello (2010:194) alerta para o fato de que as sociedades de economia mista “não podem, sob
pretexto algum, efetuar acordos de acionistas, por via dos quais fiquem outorgados aos acionistas
minoritários poderes que lhes ensejem conduzir ou embargar a livre condução da empresa por parte
daqueles que são, ‘ex vi legis’ majoritários precisamente para terem mãos desatadas no concernente
a isto” (destaque no original).
O autor adverte, ainda, (2010:195) que se não houvesse derrogações e adaptações no regime
privado ao qual as empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), ou seja, se
as “estatais desfrutassem da mesma liberdade que assiste ao comum das empresas privadas, haveria
comprometimento de seus objetivos e funções essenciais, instaurando-se, ademais, sério risco para a
lisura no manejo de recursos hauridos total ou parcialmente nos cofres públicos”. Ademais, sempre
que o poder público agisse nessa qualidade, estando completamente regido pelo direito privado, os
administrados não teriam meios de assegurar suas garantias e direitos frente à Administração
Pública, o que, por certo, seria uma violação da supremacia do interesse público sobre o privado.
Logo, as empresas estatais são, realmente, híbridos quanto ao regime jurídico que se lhe aplicam,
posto que, em que pese serem sujeitos de direito privado, são instituídas pelo Estado.
Com base nestas reflexões, conclui haver dois tipos de empresas públicas e sociedades de
economia mista: as que exploram atividade econômica, originariamente de competência da iniciativa
privada, mas que por relevante importância podem ser “protagonizadas” pelo Estado, que são regidas
pelo art. 173 da Constituição; e as que prestam serviço público ou coordenam a execução de obras
públicas, atividades estas constantes da esfera típica do Estado, regidas, por isso mesmo, pelo art.
175, CF. No primeiro caso é necessário que o regime se aproxime do direito privado, para que não
haja situações de indevida vantagem em relação às empresas privadas, evitando, assim, desequilíbrio
do setor econômico. Portanto é esperado que haja incidência do direito civil e empresarial, que
regulam as relações econômicas de direito privado. Não significa, com isso, que não ocorra
incidência do direito público, posto que, mesmo que indiretamente ou mediaticamente, todos os
órgãos e entidades da administração pública como um todo visam ao interesse público. Logo, devem
ser observados o princípio da autorização legal para a instituição (art. 37, XIX), o controle pelo TCU
(art. 71), controle e fiscalização pelo CN (art. 49, X), concurso público para ingresso de empregados
(at. 37, II), previsão de rubrica orçamentária (art. 165, § 5º) (Carvalho Filho, 2009:478).
No segundo caso, deve se ter em mente que as atividades tipicamente públicas devem estar
sob o conjunto de princípios da administração pública, para efetivar o devido respeito ao interesse
público. Por esta razão o regime deve ser mais aproximado daquele aplicado às pessoas de direito
público. Por esta razão, regem-se pelo art. 175, CF, que determina a prestação do serviço via
concessão ou permissão. Celso A B de Mello (2010:200-201) informa que isto, no que toca às
empresas estatais, nem sempre é verdade. De forma resumida expõe o autor que: “dentre as empresas
públicas, não serão concessionárias as formadas por capital exclusivamente da União ou por capital
dela em conjugação com o de pessoas de sua Administração indireta. Pelo contrário, sê-lo-ão se a
empresa pública for formada pela conjugação de recursos oriundos de entidades da esfera federal
associados a recursos provenientes de entidades da esfera estadual, distrital ou municipal. Já as
sociedades de economia mista em que haja, deveras – e não apenas simbolicamente -, capitais
particulares em associação com capitais advindos de entidade governamental serão sempre
concessionárias de serviço público”. Tal conclusão se dá em razão de algumas empresas e sociedades
são constituídas como fachada, apenas para assumir tal forma jurídica, o que não justificaria o
“específico plexo de direitos oponíveis pelo concessionário ao concedente”, já que refletem lados de
uma mesma estrutura. Quando a empresa presta serviço público e a carga tributária é repassada junto
com o valor do serviço ela não terá privilégios tributários, não repassando a carga tributária ela terá
privilégios conforme o art. 150, § 3º.
Por fim, para encerrar o debate sobre o regime jurídico, é necessário esclarecer qual seja a lei
a que o art. 173 se refere. Carvalho Filho (2009:479) esclarece que existem duas correntes a este
respeito: uma que afirma que seja editada por cada pessoa federativa com fins a disciplinar as
próprias empresas estatais, abrangendo tão somente aquelas que explorem atividade econômica; a
outra defende que o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista deve ser
regulamentado por lei federal, estabelecendo as linhas gerais e diretrizes básicas, que deverão nortear
a atuação legiferante estadual, distrital e municipal, vinculando os respectivos legislativos às
premissas postas, a exemplo do que ocorre com a licitação. Esta corrente se apresenta como mais
acertada, posto que evita um caos administrativo, em que cada ente federativo proporcionaria
tratamento diferenciado para suas estatais, para se ter uma leve noção só os Municípios ultrapassam
5000, ou seja, seriam 5000 tratamentos diferentes para as empresas estatais. Ademais há aspectos
que fogem à competência dos demais entes federativos, por constarem como competência exclusiva
da União, como os princípios constitucionais específicos.
Criação:
Com a EC 19/98 a redação do art. 37, XIX, passou a ser “somente por lei específica poderá
ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e
de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Assim,
não é a lei que cria as empresas públicas e as sociedades de economia mista, mas apenas autoriza a
sua instituição. Por seu turno, o Decreto-lei 200/67, no art. 5º, II e III, há previsão de que ambas são
criadas por lei específica. Assim, houve avanço na dicção constitucional, posto que em que pese a
participação do Legislativo no procedimento, evitando uma apreciação exclusivamente do Executivo,
sem, contudo, impedir que estas pessoas adotem o regime de direito privado. Assim, nas palavras de
Carvalho Filho (2009:473), deve o “Estado providenciar a prática do ato que contenha o estatuto, ou
dos próprios atos constitutivos da entidade, para que sejam inscritos no registro próprio, fato que dá
início à existência legal da pessoa jurídica, como, aliás, está claro no art. 45 do Código Civil”.
Assim como houve necessidade de autorização para a instituição de empresa pública ou
sociedade de economia mista, é preciso, igualmente, de lei autorizadora para a sua extinção. Importa
dizer, com isso, que o Executivo não pode a seu arbítrio extinguir uma estatal.
Objeto:
De acordo com a definição legal das empresas públicas e sociedades de economia mista, o
objeto dessas entidades é o desempenho de atividade econômica. A Constituição, no art. 173,
reafirma tal desiderato. Ressalta-se que o Estado só atua diretamente no domínio econômico,
explorando atividade econômica, de forma excepcional.
Celso A B de Mello (2010:194) assevera que as empresas estatais são “fundamentalmente e
acima de tudo, instrumentos de ação do Estado. O traço essencial caracterizador destas pessoas é o
de se constituírem em auxiliares do Poder Público; logo, são entidades voltadas, por definição, à
busca de interesses transcendentes aos meramente privados”. Tais interesses transcendentes aos
meramente privados não constituem apenas a exploração de atividade econômica, mas também a
prestação de serviço público.
Carvalho Filho (2009:475-476) afirma que, em que pesem as críticas dos mais elevados
doutrinadores, não há incompatibilidade de conceitos, uma vez que a atividade econômica pode ser
entendida em sentido amplo e em sentido estrito. No primeiro, importa a “utilização de recursos
visando à satisfação de necessidades”, desta feita, é possível entender que os serviços públicos são
atividades que, por meio da utilização de recursos, satisfaçam necessidades públicas.
Portanto, percebe-se na doutrina que a expressão atividade econômica é mais uma destas
expressões camaleão (termo de W. N. Hohfeld), que exige ato de interpretação, de acordo, também,
com o contexto lingüístico. Afinal, como bem observa Karl Larenz1, “a linguagem jurídica deve ser
entendida como ‘jogo de linguagem’”.
Tendo em conta que a própria CF aparta atividade econômica de serviços públicos
(confirindo-lhes tratamento particular), deve-se precisar a distinção entre as expressões. Eros Grau
observa que, num primeiro momento, inexiste oposição entre atividade econômica e serviço público,
estando esta subsumida a primeira. Isto porque a prestação de serviço público volta-se, por meio de
utilização de bens e serviços (recursos escassos), à satisfação de necessidades. Desta feita, serviço
público é tipo de atividade econômica “cujo desenvolvimento compete preferencialmente [não
exclusivamente, já que pode ser executado pelo setor privado por meio de permissão ou concessão]
ao setor público” (GRAU, 2007:103).
Em momento posterior assevera que atividade econômica tanto tem conotação de gênero
quanto de espécie. Assim, o gênero atividade econômica comporta duas espécies: serviço público e
atividade econômica. Nota-se, portanto, claramente a ambigüidade da expressão. A 1a (gênero) é a
atividade econômica em sentido amplo e a 2a (espécie) é a atividade em sentido estrito (que o autor
substitui, por vezes, pelo termo iniciativa econômica). Por fim, destaca que, às duas espécies já
citadas, deve-se adicionar as atividades ilícitas, que são atividades econômicas em sentido amplo
vedadas por lei (v.g. comércio de drogas, proxenetismo, etc).
Logo, temos que o sentido de atividade econômica empregado no art. 170 é de sentido amplo,
enquanto no art. 173 e seu §1o já se dá no sentido estrito. Este parágrafo, inclusive, dá azo à distinção
entre empresa estatal que exerce atividade econômica em sentido estrito e a empresa estatal
prestadora de serviço público (diferença já tratada pela jurisprudência do STF), já que o ditame se
“A observação de que um mesmo termo possa significar algo completamente distinto, conforme o contexto em que é
usado expresse uma realidade normativa ou factual, vai de par com a idéia de que a linguagem dos enunciados
normativos – quer dizer, dos enunciados sobre o mundo das normas – tem de considerar-se, apoiando-nos aqui
pontualmente na filosofia do último WITTGENSTEIN, como um ‘jogo de linguagem’ particular. O significado de uma
palavra, (...), não se lhe cola como uma propriedade estável, mas resulta em cada caso do seu uso em um determinado
‘jogo-de-linguagem’”. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 3a. ed. 1997, pág. 288/289.
1
direciona exclusivamente àquelas. Desta mesma feita, o §2o do art. 173 também não alcança as
empresas estatais que prestam serviço público, que podem gozar sim de privilégios fiscais, ainda que
não extensivos a empresas privadas prestadoras de serviço público em regime de concessão ou
permissão (art. 175)2.
Com base nesta distinção, Carvalho Filho (2009:476) identifica os serviços públicos nãoeconômicos e os serviços públicos econômicos, sendo que este se insere no âmbido das atividades
econômicas em geral. Adverte que nem todos os serviços públicos podem ser exercidos pelas
empreas públicas e sociedades de economia mista, mas, apenas, aqueles que poderiam ser prestados
pela iniciativa privada (em que pese estarem sob o exercício de empresa estatal), logo, os serviços
próprios do Estado não podem ser objeto das empresas estatais (segurança pública, prestação da
justiça, defesa da soberania nacional). Inclui, também, no rol dos que não podem ser prestados pelas
empresas estatais aqueles com elevada colaboração social, como assistência social a certas
categorias. Por isso chega à conclusão de que “no grande universo de sociedades de economia mista
e de empresas públicas dificilmente se encontrará alguma delas que execute serviço público que não
seja superavitário, demonstrando, por conseguinte, que seu alvo básico é realmente a atividade
econômica.
Pessoal:
Tanto o pessoal das empresas públicas, quanto o das sociedades de economia mista se
subordinam ao regime trabalhista comum, ou seja, CLT, de forma que o vínculo jurídico tem
natureza contratual (entre os empregados e as referidas entidades). Assim dispôs a Constituição
federal quando determinou no art. 173, §1º o regime jurídico de direito privado, inclusive no tocante
às obrigações trabalhistas. Tendo em conta a natureza do vínculo, o foro para solução de eventuais
conflitos oriundos da relação de trabalho é a justiça do trabalho, conforme art. 114, CF. Em que pese
o regime trabalhista, o art. 37, II determina que o ingresso de empregados também é precedido de
concurso público de provas ou provas e títulos. Parte da doutrina defende que esta previsão deve ser
ao menos atenuada quando a estatal simplesmente explore atividade econômica. Celso A B de Mello
(2010:221) assevera que a estatal pode dispensar a realização de concurso público sempre que a sua
realização obstasse a “alguma necessidade de imediata admissão de pessoal ou quando se trate de
contratar profissionais de maior qualificação, que não teriam interesse em se submeter a prestá-lo,
por serem absorvidos avidamente pelo mercado”. Carvalho Filho (2009:487), por seu turno, defende
a tese de que a CF não pretendeu fazer distinções no art. 37 quanto à atividade desempenhada, mas
referiu-se a todos os órgãos da Administração Direta e todas as entidades da Administração Indireta.
Por ser regime trabalhista, estes empregados não gozam dos mesmos privilégios dos
estatutários, não possuindo, por exemplo, a estabilidade, mesmo que tenham sido aprovados por
concurso, uma vez que incidem as regras da CLT tanto para a formação quanto para a rescisão do
contrato de trabalho.
Carvalho Filho (2009:487) indica, ainda, outras regras que se aplicam aos empregados de
empresas públicas e sociedades de economia mista: “a) não podem acumular seus empregos com
cargos ou funções públicas (art. 37, XVII, CF); b) são equiparados a funcionários públicos para fins
penais (art. 327, §1º, CP); registre-se, contudo, que a referência do dispositivo a servidores públicos
de “entidades paraestatais” – expressão, como vimos, plurissignificativa – tem provocado alguma
dúvida na jurisprudência sobre a equiparação de empregados de empresas públicas e sociedades de
Cumpre elucidar que a expressão empresa estatal engloba todas as empresas que se sujeitam, direta ou indiretamente,
ao controle do setor público. Estão, assim, albergadas pela expressão não só as empresas públicas e as sociedades de
economia mista, mas todas as demais que, apesar de serem estatais por serem controladas pelo Estado, não se confundem
com elas. GRAU, Eros Roberto. Ob cit. pág. 112.
2
economia mista, mas domina o entendimento de que são mesmo equiparados a servidores públicos, o
que é absolutamente correto, eis que, com a redação da Lei nº 9.983/2000, o art. 327, §1º, equiparou
também a servidores públicos os empregados de empresa prestadora de serviço contratada ou
conveniada para a execução de atividade típica da Administração; ora, se tais empregados são
equiparados, com maior suporte o serão os empregados daquelas pessoas administrativas; e c) são
considerados agentes públicos para os fins de incidência das diversas sanções na hipótese de
improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92)”. Quando a empresa não precisa de repasse de dotação
orçamentária para seu custeio, ela não está sujeita ao teto remuneratório. A equiparação a servidor
público também ocorre para fins de remédios constitucionais. A dispensa do empregado público é
imotivada, não precisa de justificativa, TST sum 390, não tem a estabilidade do art. 41, CF, daí
decorre a OJ (orientação) 247 que afirma que a dispensa é imotivada, não precisa ser justificada.
Se a dispensa for motivada, aplica-se também o a teoria dos motivos determinantes? Ou seja,
se os motivos narrados forem inverídicos, a indivíduo dispensado pode ser reintegrado?
Dirigentes:
“Regida segundo a lei e seus estatutos constitutivos. A indicação de seus dirigentes cabe ao
Chefe do Poder Executivo, na esfera de poder correspondente ao ente instituidor, sendo dispensada a
aprovação do Senado Federal (STF – ADIMC 2.225/SC, Rel. Min. Sepúlveda pertence, 26/06/00)”
(Sergimar).
Licitação:
De acordo como art. 37, XXI, CF, a licitação é obrigatória para obras, serviços, compras e
alienações, ressalvados os casos especificados na legislação. A EC 19/98 trouxe algumas
modificações nesta seara, como observa Di Pietro (2010:457), posto que a nova redação do art. 22,
XXVII faz remissão direta ao art. 173, §1º, III. Assim, a lei que instituir o estatuto jurídico da
empresa pública, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços disporá sobre
“licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da
administração pública”.
Di Pietro (2010:458) afirma que essa alteração abriu portas para o estabelecimento de normas
diferentes sobre licitação e contratos para as empresas estatais. Entretanto, até que se elabore o
estatuto do art. 173, §1º, CF as regras a serem aplicadas continuam sendo as da lei 8.666/93, já que o
dispositivo constitucional não é de eficácia plena, em sendo a lei editada, a Lei 8.666/93 só atuará
supletivamente. Esta lei, sem distinguir entre as atividades das empresas públicas e as sociedades de
economia mista, determinou que ambas, além de outras pessoas administrativas, estariam sujeitas ao
regime nela instituído, ou seja, quanto aos contratos administrativos. Assim, de acordo com o art. 2º
da citada lei, as empresas públicas e sociedades de economia mista também estão obrigadas à
proceder à licitação, em consonância com o art. 37, XXI, CF. Entretanto, o art. 119 prevê a
possibilidade de que as “entidades editem regulamentos próprios publicados e aprovados pela
autoridade de nível superior, os quais deverão observar, no entanto, as regras básicas do Estatuto”
(Carvalho Filho, 2009:489)
A lei 8666/93 prevê, no art. 24, incisos VIII e XVI hipóteses de dispensa de licitação para
pessoa jurídica de direito público interno e de entidades da administração indireta. As hipóteses de
dispensa da licitação não importam a obrigatoriedade de não a fazer, mas apenas a possibilidade de
não realizá-la quando a julgar inconveniente. É de se notar que se a compra sem licitação for feita
acima do preço de mercado, a administração estará sujeita à ação popular, com espeque no art. 4º, V,
b, da Lei 4.717/65. Neste caso, presume-se dano ao patrimônio público, responsabilidade solidária do
fornecedor ou prestador de serviço e o agente público responsável (art. 25, §2º, lei 8.666/93).
Há de se levar em consideração, também, a lei 9648/98 que alterou a lei 8.666/93, prevendo,
no inciso XXIII do art. 24, a dispensa da licitação “na contratação realizada por empresa pública ou
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de
bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado”.
Cumpre ressaltar que, não sendo o contrato administrativo, ou seja, nas relações negociais
com terceiros das empresas estatais exploradoras de atividade econômica, em concorrência com a
iniciativa privada, “quando atinentes ao cumprimento da finalidade industrial ou comercial para que
tenha sido criada, salvo alguma exceção mais adiante anotada, serão sempre regidas pelo Direito
Privado” (Bandeira de Mello, 2010:209). Desta feita, estes contratos não são precedidos de licitação.
Entende-se desta maneira em razão da agilidade e celeridade necessárias à operação no mercado em
concorrência com a iniciativa privada, desta feita, o procedimento delongado da licitação traria
enormes prejuízos ao desempenho das atividades das empresas estatais. Entretanto, como observa
Celso A B de Mello, há situações em que a realização da licitação nos moldes do adotado pela Adm
direta não acarreta nenhum inconveniente, sendo por esta razão que a CF determinou que também se
submetem ao regime de licitação, como seria o caso “construir a fábrica onde se instalarão, o prédio
em que funcionarão seus escritórios, ou intentem adquirir a maquinaria necessária para sua produção,
ou mesmo os móveis e equipamentos de suas sedes ou filiais” (2010:210). É que nenhuma destas
atividades vai interferir na normal e ágil exploração da atividade econômica a que se destina.
Marinela: EP e SEM quando prestadoras de serviço público devem licitar, não há polêmicas a
este respeito, dentro do quadro normativo da lei 8666. O problema surge quando as estatais são
exploradoras de atividade econômica em sentido estrito, esta mesma lei afirma que se a licitação
prejudicar o interesse público ela é inexigível (pressuposto jurídico). Ora, se a finalidade da licitação
é justamente proteger o interesse público, se ela prejudicar o interesse público a competição se torna
inviável, logo se revela inexigível. Aqui se enquadra a possibilidade de inexigibilidade de licitação
para a atividade fim da empresa pública ou sociedade de economia mista. Lembrando que as estatais
só podem ser criadas em razão de relevante interesse público e segurança nacional e quando licitação
recair na atividade fim (os ditos relevante interesse público e segurança nacional) a competição acaba
por prejudicar o interesse público. No caso do art. 24 parágrafo único da lei 8666 os 10% do convite
correspondem a R$15.000, para obras e serviços de engenharia e R$ 8.000,00 para outros casos, para
EP e SEM o limite é de 20%, ou seja, respectivamente R$30.000,00 e R$16.000,00.
BENS: só serão considerados impenhoráveis aqueles bens diretamente relacionados com a
prestação do serviço público, cuja penhora violaria o princípio da continuidade do serviço. Portanto,
só cabe àquelas estatais que prestam serviços públicos. Os demais bens seguem o regime privado.
Falência:
Carvalho Filho (2009:490) indica que o tema falência das empresas públicas e sociedades de
economia mista tem gerado intensa polêmica na doutrina. A princípio a lei 6404/76 dizia que as
sociedades de economia mista não estavam sujeitas ao regime de falência, mas que a execução de
débitos seguia o rito previsto no código de processo civil, logo seus bens eram penhoráveis para
garantir os direitos dos credores (art. 242). Houve, entretanto, a revogação deste dispositivo pela lei
10303/2001. Porém, antes desta revogação a doutrina afirmava que ele não havia sido recepcionado
pelo art. 173, §1º da Constituição, logo a revogação só veio confirmar tal entendimento. Assim, as
sociedades de economia mista passaram a se submeter ao regime de falência. Surgiu, então, a
controvérsia sobre as sociedades de economia mista que não exploram atividade econômica, mas
prestam serviço público, se estariam ao não sujeitas à falência. Parte da doutrina, sob o argumento de
que o regime destas sociedades de economia mista era o previsto no art. 175 rechaçava tal
possibilidade, até porque significaria a violação do princípio da continuidade dos serviços públicos,
sendo inadmissível que a sociedade fosse prejudicada pela má gestão de seus dirigentes e pela
cessação da atividade em razão da decretação de falência.
Para solucionar definitivamente a questão adveio a lei 11.101/05, que regula a recuperação
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. De acordo com o art.
2º, I, a lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista. Como não houve distinção
da atividade desempenhada por estas entidades, só cabe entender que a nenhuma delas se aplica o
regime falimentar. Pesam críticas sobre esta determinação legal, posto que não se encontra em
concordância com o disposto no art. 173, §1º que equipara as empresas públicas e as sociedades de
economia mista à iniciativa privada, quando exploram atividade econômica, inclusive quando ao que
toca a matéria comercial, âmbito em que se inclui a lei de falências. Ademais, em tese, não se pode
conceder vantagem às empresas estatais que não sejam concedíveis às da iniciativa privada. Esta
situação gera flagrante vantagem indevida às empresas estatais.
Por outro lado, o regime de execução e de penhora dos bens continua o mesmo, sendo
aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista, independente da atividade
desempenhada. Aliás, como disposição peremptória do art. 98 do CC, os bens destas entidades são
de natureza privada, em razão de sua personalidade jurídica.
Distinção:
Segundo Celso A B de Mello (2010:193-194), os pontos diferenciais são os seguintes:
“a) enquanto o capital das empresas públicas é constituído por recursos integralmente
provenientes de pessoas de Direito Público ou de entidades de suas Administrações indiretas, nas
sociedades de economia mista há conjugação de recursos particulares com recursos provenientes de
pessoas de Direito Público ou de entidade de suas Administrações indiretas, com prevalência
acionária votante na esfera governamental;
b) empresas públicas podem adotar qualquer forma societária dentre as em Direito admitidas
(inclusive a forma de sociedade ‘unipessoal’, prevista apenas para elas), ao passo que as sociedades
de economia mista terão obrigatoriamente a forma de sociedade anônima (art. 5º do Decreto-lei
200/67);
c) os feitos em que empresas públicas sejam parte, na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes (salvo algumas exceções), são processados s julgados perante a Justiça Federal (art. 109, I,
da Constituição), enquanto as ações relativas a sociedades de economia mista são apreciáveis pela
Justiça estadual nas mesmas hipóteses em que lhe compete conhecer das lides concernentes a
quaisquer outros sujeitos”.
A este respeito, Carvalho Filho (2009:482-484) observa que há empresas com participação
minoritária do Estado, que não são, portanto, sociedades de economia mista, conforme definição do
decreto-lei 200/67, são consideradas sociedades de mera participação do Estado, e não integram a
administração pública. Destaca que por determinação legal é que as sociedades de economia mista
são sempre SA, sendo reguladas pela Lei 6.404/76, da qual consta capítulo específico para o
disciplina dessas entidades. Elucida quanto a diferença entre as empresas unipessoais e pluripessoais:
estas são quando o capital dominante é da pessoa instituidora, mas a ele se associam recursos de
outras pessoas administrativas; já aquelas são de capital exclusivo da pessoa instituidora.
Considerando que a CF silenciou quanto ao foro competente para o julgamento de causas em que
figure sociedades de economia mista, restou à jurisprudência defini-lo, a súmula 556 do STF assim
determina: “é competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de
economia mista”. Neste mesmo sentido é a súmula 42 do STJ. Para Carvalho Filho não há sentido
esta distinção, já que são entidades muito semelhantes. Entretanto é de se notar que o foro
estabelecido na justiça federal é para empresas públicas federais, sendo as empresas públicas
estaduais, distritais ou municipais, o foro é a justiça estadual.
“Forma jurídica: As Empresas Públicas são criadas apenas por uma autorização derivada de uma lei anterior,
seu registro se faz no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. No caso das Sociedades de Economia Mista, seu
regimento se dá pela Lei 6.404/76 (Lei das S.As), e seu registro se faz no Registro Público das Empresas
Mercantis; Composição do capital: As empresas públicas possuem o capital formado exclusivamente por
recursos públicos, podendo ser unipessoal ou pluripessoal. Quanto as Sociedades de Economia Mista, seu
capital é composto de uma parte privada e de sua maioria público; Foro Processual: no geral podemos
associar as Empresas Públicas criadas pela união possuem foro na justiça federal, exceto para as causas de
cunho trabalhista, eleitoral, falimentar e acidente do trabalho. Quanto as Sociedades de Economia Mista, a
Súmula 556 do STF fixou a competência desta como sendo da justiça comum estadual. No tocante as de
origem distrital, a competência foi relacionada à justiça distrital”. (Sergimar)
A ECT tem regime próprio, em que pese ser empresa pública, é tratada como se fosse fazenda pública,
estando sujeita ao regime de precatório e à impenhorabilidade dos bens. Ademais, goza de imunidade
tributária recíproca, a exemplo das autarquias, já que é considerada fazenda pública. A dispensa de pessoal
na ECT também é diferente, não procedendo à dispensa livre, devendo ser motivada. Esta matéria (dispensa)
já foi enfrentada pelo STF no RE 589998, com repercussão geral proferida.
ADPF 46 (ler) diferencia o que é monopólio de exclusividade
Consórcio público: criado pela lei 11.107/05, nasce da reunião de entes políticos, deste contrato de
consórcio constitui-se uma associação que pode ser de regime público ou de regime privado (híbrido). Se a
associação seguir o regime público será considerada uma espécie de autarquia. Se for de regime privado vai
ser o mesmo regime híbrido aplicável às empresas estatais.