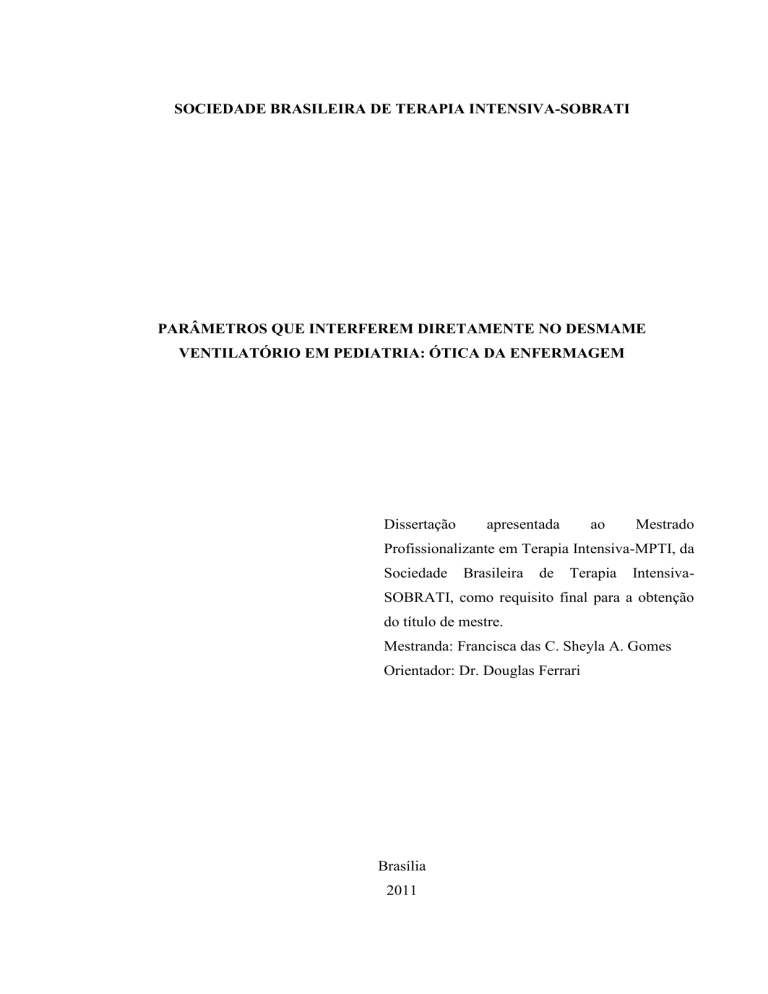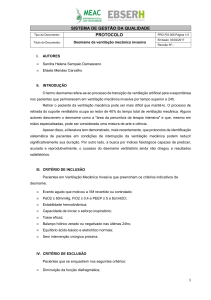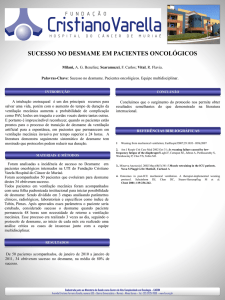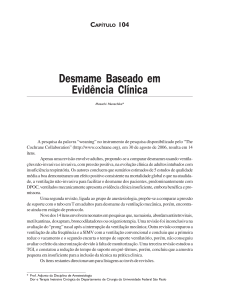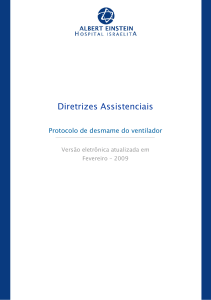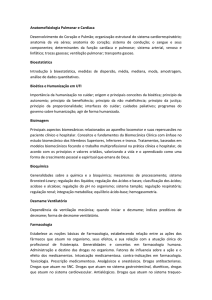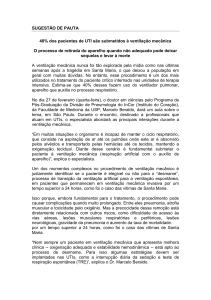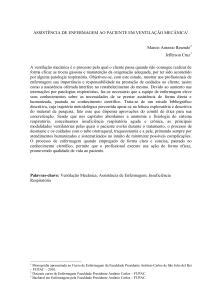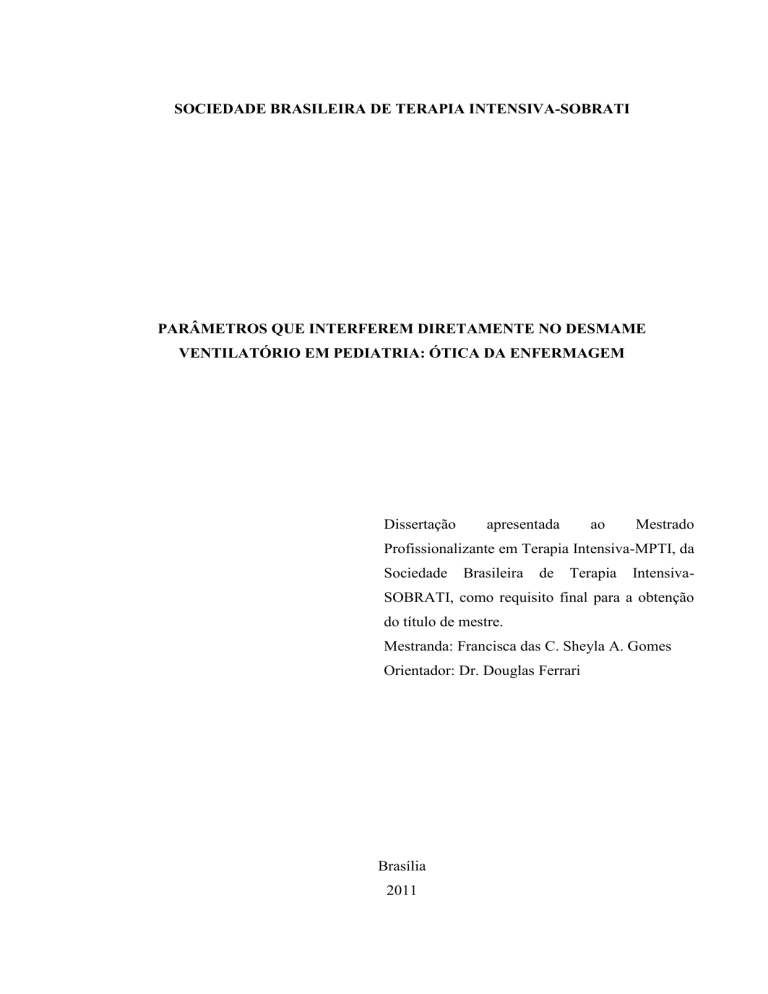
SOCIEDADE BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA-SOBRATI
PARÂMETROS QUE INTERFEREM DIRETAMENTE NO DESMAME
VENTILATÓRIO EM PEDIATRIA: ÓTICA DA ENFERMAGEM
Dissertação
apresentada
ao
Mestrado
Profissionalizante em Terapia Intensiva-MPTI, da
Sociedade
Brasileira
de
Terapia
Intensiva-
SOBRATI, como requisito final para a obtenção
do título de mestre.
Mestranda: Francisca das C. Sheyla A. Gomes
Orientador: Dr. Douglas Ferrari
Brasília
2011
FRANCISCA DAS CHAGAS SHEYLA ALMEIDA GOMES
PARÂMETROS QUE INTERFEREM DIRETAMENTE NO DESMAME
VENTILATÓRIO EM PEDIATRIA: ÓTICA DA ENFERMAGEM
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissionalizante em Terapia Intensiva-MPTI, da
Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva-SOBRATI, como requisito final para a obtenção do
título de mestre.
Data de Aprovação: _____/______/_____
BANCA EXAMINADORA
___________________________________________
Orientador
____________________________________________
Examinador
_____________________________________________
Examinador
PARÂMETROS
QUE
INTERFEREM
DIRETAMENTE
NO
DESMAME
VENTILATÓRIO EM PEDIATRIA: ÓTICA DA ENFERMAGEM
Francisca das Chagas Sheyla Almeida Gomes¹
Dr. Douglas Ferrari²
PARAMETERS DIRECTLY AFFECT WEANING IN PEDIATRICS: THE NURSING
PERSPECTIVE
¹ Enfermeira, mestranda profissionalizante em Terapia Intensiva pela SOBRATI. Email:
[email protected]
² Médico intensivista, professor universitário, mestre e doutor em Terapia Intensiva pela SOBRATI.
RESUMO
Aproximadamente 90% dos pacientes críticos necessitam de ventilação mecânica (VM). O
desmame ventilatório representa 40% do tempo total da ventilação mecânica e pode ser mais
difícil que mantê-lo, pois a retirada abrupta ou até mesmo inadequada pode resultar em
desequilíbrio clínico e necessidade de reintubação. A ventilação mecânica é um dos pilares
terapêuticos da pediatria moderna e o processo de retirada dessa ventilação é um importante
desafio clínico, onde o paciente deve ser observado rigorosamente e monitorizado
continuamente. O estudo é de caráter descritivo, do tipo revisão de literatura e objetiva
determinar através de estudos bibliográficos os parâmetros que interferem diretamente no
desmame ventilatório em pediatria dentro da ótica de enfermagem, identificando os principais
parâmetros observados pela enfermagem e correlacionando sua importância ao desmame
ventilatório na criança. O sucesso no desmame ventilatório, faz necessário observar,
monitorizar, acompanhar e avaliar o paciente quanto a sua estabilidade clínica,
hemodinâmica, respiratória e gasométrica. Os sinais e sintomas clínicos têm sido utilizados
para definir o sucesso do desmame em pacientes submetidos à VM, na qual a má condução
deste acarreta em consequente insucesso. A enfermagem tem importância primordial na
equipe de cuidados intensivos e aprimorar a prática do enfermeiro, na atenção ao paciente em
uso de suporte ventilatório e em todo o seu processo é uma questão que merece discussões e
reflexões entre os enfermeiros intensivistas, buscando uma assistência de enfermagem
sistematizada e propiciando uma intervenção individualizada dentro do contexto das
necessidades do paciente.
Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem. Desmame do respirador. Pediatria. UTI.
ABSTRACT
Approximately 90% of critically ill patients requiring mechanical ventilation (MV). The
weaning represents 40% of the total time of mechanical ventilation and may be more difficult
to keep it, because abrupt withdrawal or even may result in inadequate clinical imbalance and
need for reintubation. Mechanical ventilation is one of the pillars of modern therapy in
pediatrics and the process of withdrawal of ventilation is an important clinical challenge,
where the patient should be observed closely and continuously monitored. The study is
descriptive in character, the type and objective review of the literature through bibliographic
studies to determine the parameters that directly affect weaning pediatric nursing in the
optical, identifying the main parameters correlating observed by nursing and its importance in
the weaning child. The success in weaning, is necessary to observe, monitor, monitor and
evaluate the patient and their clinical stability, hemodynamic, respiratory and blood gas
analysis, the clinical signs and symptoms have been used to define success in weaning
patients submitted to MV, where this leads to bad driving resulting in failure. The nursing
staff is of prime importance in intensive care and improving the practice of nurses in patient
care on ventilatory support and the whole process is an issue that merits discussion and
reflection among intensive care nurses, seeking a nursing care providing a systematic and
individualized intervention within the context of the patient's needs.
Keywords: Nursing. Ventilator weaning. Pediatrics. ICU.
INTRODUÇÃO
A ventilação mecânica é considerada uma forma de tratamento ventilatório artificial
utilizada em unidades de terapia intensiva (UTI) para promover a oxigenação e a ventilação
do paciente portador de insuficiência respiratória de qualquer etiologia, pelo tempo que for
necessário para a reversão do quadro (PASSOS; CASTILHO, 2000).
Aproximadamente 90% dos pacientes críticos necessitam de ventilação mecânica
(VM. Durante esse período o paciente passa por um processo de transição da ventilação
mecânica para ventilação espontânea, esse processo da retirada do suporte ventilatório
representa 40% do tempo total do seu uso devendo ser efetuado assim que o paciente tenha
uma melhora clínica (MARINHO; VIANA, 2006; SANTOS, et.al. 2007).
Retirar o paciente da ventilação mecânica pode ser mais difícil que mantê-lo, pois a
retirada abrupta ou até mesmo inadequada da prótese ventilatória de pacientes que não
apresentam condições de extubação pode resultar em desequilíbrio clínico e necessidade de
reintubação, os quais podem repercutir adversamente na evolução clínica do paciente
(SILVA, et.al, 2008; GOLDWASSER e Cols, 2007).
As crianças têm uma anatomia diferente em relação à dos adultos, tanto pelo tamanho
das estruturas como também pela distribuição anatômica e maturidade fisiológica, isso faz
com que as crianças estejam mais sujeitas a desenvolver insuficiência respiratória, e
requeiram um cuidado mais intensivo. A ventilação mecânica pulmonar na criança é um dos
pilares terapêuticos da pediatria moderna e o processo de retirada dessa ventilação é um
importante desafio clínico, onde o paciente deve ser observado rigorosamente e monitorizado
continuamente (CARVALHO, et.al., 2004).
De acordo com a SOBRATI (2010), estima-se que 90% dos pacientes em UTI
Neonatal, 70% em UTI Pediátrica e 50% em UTI Adulto, necessitam de VM e para garantir
uma assistência integral e de qualidade em uma Unidade de Terapia Intensiva em Pediatria –
UTIP é necessário dispor de uma equipe multidisciplinar, onde o enfermeiro com sua equipe,
o médico e o fisioterapeuta são indispensáveis, para garantir o tratamento, manutenção e
prevenção de complicações, diminuindo assim o tempo de VM, favorecendo o desmame e o
retorno a respiração espontânea.
Uma adequada compreensão sobre as técnicas ventilatórias, bem como, a retirada do
paciente da ventilação mecânica, somadas a importância da manutenção hemodinâmica
adequada e demais parâmetros é de suma importância para garantir o sucesso do
procedimento, além de permitir uma utilização de opções cada vez mais apropriadas e no
momento adequado à manutenção das trocas gasosas (BARBOSA, 2009). E o enfermeiro,
tem papel singular para garantir esse processo de forma adequada e efetiva. Diante disso,
pode-se questionar: Dentre os parâmetros mais comuns avaliados pelos enfermeiros, quais
podem interferir no desmame ventilatório em crianças?
A presente pesquisa objetiva determinar através de estudos bibliográficos os
parâmetros que interferem diretamente no desmame ventilatório em pediatria dentro da ótica
de enfermagem, identificando os principais parâmetros observados pela enfermagem e
correlacionando sua importância ao desmame ventilatório na criança.
2 METODOLOGIA
O presente estudo é de caráter descritivo, do tipo revisão de literatura. O levantamento
bibliográfico ocorreu no período de março de 2010 a agosto de 2011, por meio da seleção de
artigos científicos disponíveis nas seguintes bases: PubMed (Mesh); Biblioteca Virtual em
Saúde - BVS (Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe - LILACS,
Biblioteca Regional de Medicina - BIREME, Base de Dados de Enfermagem - BDENF),
Cochrane Library (Scientific Eletronic Library Online - Scielo) e revistas científicas de
terapia intensiva, além de consensos, livros e tratados publicados sobre o assunto em questão.
Utilizou-se os seguintes descritores, a saber: desmame do respirador, cuidados de
enfermagem, respiradores mecânicos, pediatria e UTI.
Durante a leitura das bibliografias foi desenvolvida uma análise e discussão sobre a
importância da enfermagem para o desmame do ventilador, os tópicos relacionados foram:
monitorização hemodinâmica e sua relação com o desmame ventilatório e assistência de
enfermagem ao paciente no desmame ventilatório.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados vitais refletem o estado geral do paciente, e na ocorrência de anormalidade
na ventilação mecânica refletirá nas suas funções básicas, como freqüência respiratória,
pressão arterial, pulso, temperatura, pressão intracraniana e pressão arterial média, e devem
ser periodicamente controladas pela enfermagem (PASSO; CASTILHO e Cols, 2000). Devem
ser disponibilizados para toda a equipe de saúde, devendo ficar no prontuário do paciente em
um impresso específico e ser monitorizados de acordo com o protocolo da instituição e/ou a
gravidade do paciente.
Pacientes em unidades de terapia intensiva necessitam de cuidados de enfermagem
mais complexos; e os que estão em assistência ventilatória precisam de cuidados redobrados
de forma contínua à beira leito, porém para se ter uma monitorização efetiva faz-se necessário
uma equipe de enfermagem ativa em todas as etapas do processo. A sistematização da
assistência de enfermagem em uma UTI pediátrica é imperativa para uma assistência
adequada (GERMANO; SANTOS, 2008).
3.1 MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA E SUA RELAÇÃO COM O DESMAME
VENTILATÓRIO
A ventilação mecânica é entendida como um método de respiração que utiliza um
gerador mecânico para aumentar ou satisfazer total ou parcialmente as necessidades do fluxo
aéreo do paciente (CHEREGATTI; AMORIM, 2010).
De acordo com Piva (2007), 40% a 70% dos pacientes admitidos em UTI pediátrica
necessitam de assistência ventilatória. Acrescenta também que para determinar o método de
ventilação mecânica em Pediatria, a tendência atual é observar a inter-relação das variáveis do
respirador com a fisiopatologia da doença e com seus possíveis efeitos deletérios. Nos últimos
anos, tem sido observada uma tendência para implementar modalidades menos agressivas de
suporte ventilatório.
Várias experiências têm demonstrado, em diversas situações, que uma ventilação
artificial inadequada pode causar danos pulmonares graves e muitas vezes irreversíveis. Uma
compreensão adequada das técnicas de ventilação mecânica, assim como as técnicas para
retirada desta, é de extrema importância, tanto para permitir uma utilização de opções cada
vez mais apropriadas à manutenção das trocas gasosas, como para a utilização correta da
tecnologia para recuperação do paciente com insuficiência respiratória. Para tanto a equipe de
enfermagem, em especial o enfermeiro, devem estar preparados para identificar e agir com
coerência no momento em que a situação exigir (BARBOSA, 2009).
O desmame ventilatório é considerado como a "área da penumbra da terapia intensiva"
e que, mesmo em mãos especializadas, pode ser considerada uma mistura de arte e ciência
(GOLDWASSER e Cols; 2007).
O desmame deve iniciar assim que as causas da insuficiência respiratória tenham sido
tratadas e que alguns parâmetros devem está estabilizados para que o desmame seja bem
sucedido, como: a gasometria arterial deve estar dentro da normalidade, ou seja, em valores
semelhantes aos anteriores à descompensação; toda medicação sedativa deve ser interrompida
e a ventilação deve passar de controlada à assistida (SIQUEIRA & SIMÃO, 1976 apud
BARBOSA, 2003). Passos; Castilho e Cols (2000), dizem que se deve iniciar o desmame
quando atendidas as exigências de estabilidade clínica, hemodinâmica, funcional respiratória
e gasométrica do paciente.
Para Smeltzer & Bare (2002), corroborando com as autoras acima, expõem que o
desmame inicia quando o paciente está se recuperando do estágio agudo de sua patologia e
quando a causa da insuficiência respiratória foi suficientemente reduzida. As autoras relatam
também, que não existe o “melhor” método de desmame e que o sucesso depende da
combinação adequada das condições do paciente, protocolo da unidade, equipamento
disponível e a colaboração entre os profissionais de saúde, onde cada profissional deve
compreender a amplitude e a função dos outros membros da equipe em relação ao desmame
do paciente.
Todos os autores que expuseram sobre a equipe multiprofissional ressaltou em suas
considerações a importância dos profissionais que desempenham atividades junto ao paciente
em ventilação mecânica, valorizando a capacidade assistencial e a interação da equipe, para
garantir um atendimento de qualidade e integral.
No SIMPÓSIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (1993), foram elencados alguns
critérios e condições clínicas básicas que devem estar presentes em um processo de desmame,
quais sejam: estabilidade cardiovascular - bom débito cardíaco para um adequado
funcionamento da musculatura respiratória e oferta adequada de oxigênio; estabilidade da
mecânica respiratória - edema pulmonar, atelectasias, broncoespasmos e secreções devem
estar sob controle; estabilidade das trocas gasosas – a saturação arterial deve estar acima de
90% com uma fração inspiratória de O2 (FiO2) de 40% ou menor , e não deve ocorrer
variações na pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO2) ; estabilidade hidroeletrolítica –
evitar acidose e alcalose e corrigir os níveis de cálcio, magnésio, fósforo, sódio e potássio; e
estabilidade do centro respiratório – avaliar quadro neurológico e metabólico estáveis.
De acordo com a AMIB (2008), alguns índices e parâmetros são utilizados em
pediatria, para permitir a identificação do momento em que o paciente está capaz de assumir e
manter a sua ventilação e assim prever e identificar o momento da extubação, evitando a
ventilação por tempo prolongado e suas complicações. Estes incluem diferentes funções
fisiológicas do sistema respiratório tais como: resolução da etiologia da insuficiência
respiratória e função respiratória estável; FiO2 < 50%; PEEP < 5 cmH2O; freqüência
respiratória (FR) menor que 60 mrm para lactentes, menor que 40 para pré-escolares e
escolares e menor que 30 para adolescentes;- ausência de acidose (pH 7,3) e hipercapnia (
pCO2 > 50 cmH2O), além de parâmetros que indiretamente afetam a oxigenação e
complacência pulmonar que são: a relação paO2/FiO2 > 200; paO2 > 60 mmHg em FiO2<
0,3; SaO2 > 94% em FiO2 < 0,5; pressão inspiratória máxima < 30 cmH2O; PEEP < 5
cmH2O; diferença alvéolo-arterial de oxigênio < 350 em FiO2 de 1,0. Todos estes parâmetros
combinados com uma apropriada função respiratória e estabilidade hemodinâmica (boa
perfusão periférica, não necessidade de drogas vasoativas e inotrópicas), valores de potássio,
fósforo e magnésio normais e escala de coma de Glasgow > 11 garantem um desmame
adequado e uma extubação eficiente.
A dificuldade da aceitação do desmame reside em cerca de 5 a 30% dos indivíduos
submetidos à terapêutica, numa primeira e segunda tentativas e o que acaba dificultando sua
retirada da ventilação mecânica é a complexidade fisiopatológica da doença que originou a
necessidade do uso do respirador mecânico e que o insucesso no processo de desmame da
ventilação mecânica está em torno de 11 a 44% dos pacientes internados em terapia intensiva.
Em pediatria as experiências em vários serviços têm demonstrado que, apesar da utilização de
protocolos, a incidência das falhas na retirada da ventilação varia entre 14 a 24% dos casos
(BARBOSA, 2009; AMIB, 2008).
Barbosa (2009), em seu estudo sobre desmame, conclui em seus resultados,
comparando valores dos pacientes em ventilação mecânica e relacionando aos mesmos após
iniciar processo de desmame, que o aumento da FR acima de 40,00%, uma queda da SaO2
maior que 4,08% e o aumento da FC acima de 35,55%, podem indicar o não aceite do
desmame ventilatório.
Alguns autores citados afirmam que os sinais e sintomas clínicos têm sido utilizados
para definir o sucesso do desmame em pacientes submetidos à VM, onde a má condução deste
acarreta em consequente insucesso, podendo proporcionar ao paciente um maior índice de
mortalidade, principalmente na vigência da incidência de infecções respiratórias, aumentando
em aproximadamente sete vezes este índice, quando comparados aos pacientes que obtiveram
sucesso no desmame.
De acordo com o Goldwasser (2007), durante este período, o paciente deve ser
monitorizado de forma contínua quanto às variáveis clínicas, às alterações na troca gasosa e as
variáveis hemodinâmicas, ocorrendo algum sinal de intolerância, o desmame será suspenso e
haverá o retorno às condições ventilatórias prévias. Pacientes que não apresentarem sinais de
intolerância deverão ser extubados e observados (monitorizados) pelo período de 24 horas na
UTI.
Para a AMIB (2008), o mais importante é definir que grupo de pacientes tem maior
risco de falha na extubação, identificando os fatores de risco associados com a possibilidade
de falha. Dentre os principais fatores de risco para falha na extubação tem-se: crianças de
baixa idade (principalmente menos de 6 meses) pela alta complacência da caixa torácica;
baixa elasticidade e alta resistência de vias aéreas, o que ocasiona maior esforço respiratório e
risco de atelectasias; uso prolongado de analgésicos e sedativos; alta pressão média de vias
aéreas; índice de oxigenação > 0,45; uso de drogas vasoativas; altas concentrações de
oxigênio e má nutrição.
Os pacientes que são submetidos ao desmame passam por testes para avaliar o
fracasso da respiração espontânea e sua avaliação se dá de forma subjetiva e objetiva. A
primeira avalia a mudança do estado de consciência; o início ou piora do desconforto
respiratório; sudorese intensa; sinais de uso exagerado da musculatura acessória respiratória, e
a segunda realiza a avaliação da saturação de oxigênio (SO2), se a mesma estiver < 85-90%;
com pH < 7,25; frequência cardíaca com aumento acima de 20% da basal; pressão arterial
sistólica mais que 20% da basal e frequência respiratória mais que 50% da basal, a não
ocorrência destas mudanças, possibilita a continuação do desmame. É importante frisar que
não existe uma única estratégia ou protocolo de desmame e não existe nenhum estudo que
mostre superioridade entre as técnicas empregadas, mesmo em adultos (AMIB, 2008;
AMORIM, 2008). Porém, Goldwasser (2007) relata que recentemente têm sido criados
protocolos de identificação sistemática de pacientes em condições de interrupção da
ventilação mecânica, onde pode ser percebida uma redução significativa de sua duração.
A monitorização de funções vitais é uma das mais importantes e essenciais
ferramentas no manuseio de pacientes críticos na UTI e objetiva reconhecer a má perfusão
tecidual, avaliar o quadro nos seus vários tipos, quantificar a gravidade do processo e
acompanhamento terapêutico (CHEREGATTI, et.al, 2010).
O principio básico da monitorização é a vigilância, buscando analisar e mensurar os
parâmetros e funções com o objetivo de avaliar a homeostase e detectar mudanças e
tendências, bem como, a resposta e medidas terapêuticas. A monitorização não-invasiva
aumenta nossa capacidade de avaliação, com risco mínimo de complicações e na maioria das
vezes com precisão e rapidez e fornece dados importantes na avaliação do paciente quando
bem interpretadas (DUARTE, 2008).
De acordo com Cheregatti et.al (2010), as variáveis e métodos recomendados para a
monitorização hemodinâmica básica são: freqüência cardíaca, diurese, ECG contínuo, pressão
arterial média não invasiva, temperatura, frequência respiratória e SpO2.
Diante do exposto, pode-se observar que todos os autores são consensuais e enfáticos
quando relatam que para a ocorrência do sucesso no desmame ventilatório faz necessário
observar, monitorizar, acompanhar e avaliar o paciente quanto a sua estabilidade clínica,
hemodinâmica, respiratória e gasométrica. Corroborando também que o sucesso ou insucesso
do desmame depende da condução/ mal condução do mesmo.
As alterações na freqüência cardíaca interferem profundamente no funcionamento
miocárdico e esta deve ser mantida em padrões adequados, de acordo com a idade, para
manter um débito cardíaco apropriado as demandas de oxigênio (SWEARINGEN; KEEN,
2005). A eletrocardiografia contínua fornece dados imediatos da FC, podendo detectar
alterações importantes em pacientes críticos (DUARTE, 2008).
Na palpação do pulso se observa todas as suas características como frequência,
amplitude, ritmo e simetria A frequência normal do pulso varia de acordo com a idade, em um
recém-nascido (RN) gira em torno de 120 a 140 bpm, em lactentes de 100 a 120bpm, segunda
infância e adolescência de 80 a 100bpm e adultos entre 60 e 80 bpm. A pressão do pulso pode
aumentar ou diminuir de acordo com a patologia apresentada (DUARTE, 2008;
CHEREGATTI, 2010).
A pressão arterial é a função do produto: debito cardíaco x resistência vascular
periférica, ou seja, a pressão que o sangue exerce contra a parede dos vasos quando lançado
na corrente sanguínea pelo ventrículo esquerdo. Esta pressão depende de cinco fatores
principais: força contrátil do coração, resistência vascular periférica, volume do sangue
circulante, viscosidade sanguínea e elasticidade da parede dos vasos. Os valores habituais da
pressão arterial diferem de acordo com a faixa etária de cada indivíduo (MOZACHI; SOUSA,
2005; SMELTZER & BARE, 2002).
A respiração compreende quatro processos, cuja finalidade é a transferência de O2 do
exterior até o nível celular e a eliminação de CO2, transportada no sentido inverso, os quais
são: ventilação pulmonar, trocas gasosas, transporte sanguíneo dos gases e respiração celular
(CHEREGATTI, 2010).
A Frequência Respiratória (FR) normal varia de acordo com a idade onde em recémnascidos gira em torno de 40 a 45 respirações por minuto, em lactentes de 25 a 35 irpm em
crianças com idade pré-escolar de 20 a 35 irpm, em escolares em torno de 18 a 35 irpm e os
adultos gira em torno 16 a 20 irpm (PORTO, 2008).
A insuficiência respiratória (IR) é a condição em que o sistema respiratório é incapaz
de atender as demandas metabólicas do corpo; é também considerada uma condição clínica na
qual o sistema respiratório não consegue manter os valores, dentro dos limites da
normalidade, da pressão arterial de oxigênio (PaO2) e/ou da pressão arterial de gás carbônico
(PaCO2). A IR é uma deterioração súbita e fatal da função da troca gasosa do pulmão. A
insuficiência respiratória aguda (IRpA) é a queda na PaO2 para menos de 50mmHg
(hipoxemia) e uma elevação de PaCO2 para mais de 50mmHg (hipercapnia), com um PH
arterial menor que 7,35 (SMELTZER & BARE, 2002; SWEARINGEN; KEEN, 2005;
GONÇALVES, 2010).
De acordo com Smeltzer & Bare (2002), a oximetria de pulso é um método não –
invasivo de monitorização contínua da saturação de oxigênio da hemoglobina (SaO2). Os
valores normais de SaO2 são entre 95% a 100%, os valores inferiores a 85% indicam que os
tecidos não estão recebendo oxigênio suficiente e o paciente precisa de uma avaliação mais
ampla.
As literaturas publicadas sobre o assunto em questão mostram que a frequência
respiratória, a saturação, a frequência cardíaca, bem como a pressão arterial influencia no
processo de desmame e que a não estabilidade destes parâmetros prediz a ocorrência de
complicações, além de direcionar a ação que deve ser realizada para garantir uma extubação
eficiente e assim uma melhor qualidade da assistência frente a esta situação.
A temperatura corporal de uma pessoa pode variar devido a diversos fatores. Quando a
temperatura corporal está acima da faixa normal temos o estado de febre que geralmente
indica que um processo patológico está ocorrendo no organismo. A hipertermia ou febre pode
ser causada por anormalidades do próprio cérebro ou por substâncias tóxicas que afetam os
centros de regulação térmica, conhecidos como agentes pirógenos, esta normalmente
acompanha alterações cardiorrespiratórias, causando taquipnéia e taquicardia (MOZACHI;
SOUSA, 2005).
Na medida do possível, a temperatura deve ser mantida dentro dos limites da
normalidade, evitando situações de hipo ou hipertermia. No caso de hipertermia teremos
aumento do consumo de oxigênio, aumento das perdas sensíveis, aumento do consumo
calórico, aumento da produção de dióxido de carbono e ácidos orgânicos, aumento da
freqüência cardíaca e respiratória, vasodilatação periférica, desvio da curva de dissociação da
hemoglobina para a direita e vasoconstricção pulmonar com leve aumento do shunt cardíaco e
intrapulmonar (DUARTE, 2008).
Nenhum dos artigos pesquisados relata a temperatura corporal estável como um fator
predisponente a não continuidade do desmame e/ou a realização da extubação, mas Passos;
Castilho e cols (2000), expondo a importância dos sinais vitais, inclusive a temperatura,
afirmando que suas funções básicas podem sofrer alterações quando ocorre alguma
anormalidade durante a ventilação mecânica.
Os distúrbios hidroeletrolíticos são especialmente comuns em pacientes criticamente
doentes, podendo estar associado a situações de iminente risco de vida, o que torna essencial
seu reconhecimento e manejo adequados (DIAS, 2008). Podendo ser obtido através da
realização do balanço hídrico, que permite o ajuste do volume, e dos resultados obtidos sobre
a qualidade e quantidade dos íons, para evitar ou corrigir descompensação metabólica que
pode agravar o quadro clínico do paciente (SWEARINGEN; KEEN, 2005).
Na tentativa de manter um controle é importante pesar o paciente sempre que possível,
o peso demonstra o balanço hídrico do paciente, bem como, o débito urinário que nos dá uma
idéia da perfusão. São considerados satisfatório valores acima de 1ml/kg/h. Devendo atentar
para os níveis de potássio, cálcio, magnésio, sódio e fósforo, já estes eletrólitos influenciam
diretamente na estabilidade hemodinâmica e na força da musculatura respiratória (DUARTE,
2008; PASSOS; CASTILHO, 2000).
Atualmente para garantir a existência de uma uniformidade nas avaliações realizadas
por equipe multidisciplinar, foram propostas escalas de avaliação para se obter o nível de
consciência. A mais utilizada é a Escala de Coma de Glasgow (ECG), de fácil aplicação,
favorecendo uma avaliação rápida da evolução e o prognóstico do paciente. Para crianças
existe a ECG modificada. Existem outras escalas que se aplicam bem em crianças submetidas
à ventilação mecânica, porém a ECG ainda é a mais usual (LINDEN, 2008).
É importante frisar que outros fatores impossibilitam um desmame bem sucedido,
como a não interrupção da medicação sedativa; da avaliação do estado neurológico através da
escala de coma Glasgow, se o escore for < 11, além da não estabilidade hidroeletrolítica,
cardiovascular, do centro respiratório, da mecânica respiratória e trocas gasosas.
Diante do exposto pode-se reforçar a importância da monitorização e avaliação dos
sinais vitais, bem como dos demais parâmetros, para a garantia de um desmame adequado.
3.2
ASSISTÊNCIA
DE
ENFERMAGEM
AO
PACIENTE
NO
DESMAME
VENTILATÓRIO
A equipe de enfermagem deve prestar atendimento integral e uma assistência de
qualidade que garanta melhoria nas condições de saúde dos pacientes, principalmente dos que
necessitam de cuidados intensivos de forma eficiente e integrada. Vários são os cuidados
prestados pelo enfermeiro a um paciente em ventilação mecânica e a manutenção rotineira das
técnicas utilizadas em relação ao cuidado são indispensáveis para prevenir complicações,
diminuir gastos e garantir o sucesso do desmame.
Embora não exista um índice capaz de prever o sucesso do desmame de forma
consistente em neonatologia e pediatria, a literatura tem mostrado que a utilização de
protocolos pode facilitar o desmame e a interrupção da VM. A utilização de parâmetros que
possa identificar possíveis falhas na extubação poderia prevenir a extubação precoce e
consequentemente complicações cardiorrespiratórias graves que podem levar a morte do
paciente (COSTA; BARBOSA, 2011).
As mesmas autoras relatam que vários fatores influenciam no sucesso do desmame e
na extubação de pacientes ventilados mecanicamente, dentre eles o estado nutricional, estado
mental, trabalho respiratório, estado hemodinâmico, troca gasosa, entre outros, que devem ser
acompanhados e avaliados.
Toda a equipe deve está atenta a todas as mudanças que podem ocorrer, porém é a
enfermagem que realiza esta monitorização de forma contínua. Além do controle dos sinais
vitais, da monitorização cardiovascular, trocas gasosas e padrão respiratório, balanço hídrico e
peso corporal, já elencados no tópico anterior, temos a responsabilidade de observar e realizar
cuidados diretos para garantir maior conforto ao paciente e dessa forma garantir também
maior celeridade em sua recuperação.
Passos; Castilho, et.al. (2000); Karan (2002) referem outros cuidados que a
enfermagem deve realizar aos pacientes submetidos a VM e em desmame ventilatório, os
quais sejam: aspiração de secreções pulmonares, é obrigatória em doentes ventilados
mecanicamente para assegurar a desobstrução do tubo e a obtenção de amostras para cultura
microbiológica, além de favorecer a manutenção da pressão intrapulmonar; observar sinais de
hiperinsuflação; higiene oral, fixação, mobilização do TOT e troca do TQT, pois a higiene
oral previne o desconforto e o acúmulo de bactérias na cavidade oral. Os TOTs orais podem
causar irritação oral, ulceração, infecção fúngica e hipersalivação, tal como erosão e
ulceração nos lábios, especialmente nas margens laterais, ou naqueles sob uso de drogas
antimuscarínicas ou hipovolêmicos, pode desenvolver sensação de secura na boca, a reposição
dos TOTs devem ser feitos alternadamente em ambos os lados para impedir o traumatismo
dos lábios.
Os autores acrescentam também o controle de pressão do “cuff”, a pressão do balonete
aumentada e prolongada pode acarretar necrose da laringe e traqueia ou ainda fístula
traqueoesofágica; controle do nível nutricional, a nutrição inadequada diminui a massa
muscular do diafragma, reduzindo o desempenho da função pulmonar e aumentando a
necessidade da ventilação mecânica, como a dieta está limitada pela intubação deve ser dada
especial atenção para garantir uma nutrição enteral e parenteral adequada; as alterações nas
eliminações vesico-intestinais devem ser observadas e registradas, pois devido alguns
medicamentos, crescimento de microorganismos resistentes a antibióticos, integridade do
intestino prejudicada, mudanças na dieta ou a imobilidade podem causar prisão de ventre,
provocando distensão abdominal e/ou diarréias, interferindo na função normal do diafragma e
na capacidade ventilatória.
Os autores expõem a importância da observação do circuito e dos alarmes do
ventilador, pois o acúmulo de água nos reservatórios das traquéias pode causar obstrução do
circuito e favorecer um meio de cultura, além da umidificação e aquecimento do gás inalado,
o gás seco é altamente prejudicial podendo causar ressecamento das vias aéreas e inflamação
da mucosa. A água dos ventiladores pode tornar-se um meio de cultura para microorganismos
resistentes, por isso deve ser substituída e não completada e a temperatura do ar que chega na
cânula, deve ser em torno de 30ºC – 32ºC, que é a temperatura fisiológica protetora da
mucosa ciliada e de outras estruturas.
Quanto aos alarmes pode soar devido a ajustes incorretos de parâmetros de ventilação
ou dos limites dos alarmes, por alterações nas condições do paciente, ou ainda, por mau
funcionamento do aparelho, deve-se atentar para a montagem das traquéias do respirador,
verificar a entrada e saída de ar, assim é possível determinar o motivo do disparo dos alarmes,
bem com conhecer os parâmetros utilizados; A observação do sincronismo entre o paciente e
a máquina deve ser realizada devido à possibilidade de ocorrer barotrauma (PASSOS;
CASTILHO e Cols, 2000).
A manutenção do decúbito elevado a 30º propicia uma melhor mecânica respiratória e
diminui o risco de aspirações e ameniza a pressão de cisalhamento da pele, prevenindo a
formação de úlceras de pressão; a orientação de exercícios ajuda a melhorar a ventilação
alveolar e facilitar as trocas gasosas, evitando atelectasias e outras complicações; o
posicionamento do doente bem como os cuidados com as articulações e a pele evita a
formação de linhas de pressão e minimiza o contato entre as superfícies da pele. A falta de
movimentos pode causar o encurtamento dos tendões e atrofiar musculatura, a mudança de
decúbito do paciente altera as áreas de depressão, influencia no movimento das secreções
brônquicas e permite que o doente em desmame tenha uma perspectiva diferente do ambiente
que o rodeia (KARAN, 2002).
Karan (2002) relata que o enfermeiro também é responsável pelo controle de infecção
hospitalar e o paciente sob VM é extremamente susceptível a infecções nosocomiais, devido a
perda de suas defesas naturais, acrescido do contato com a equipe de saúde, através das suas
mãos e dos equipamentos respiratórios que constitui a maior fonte de contaminação exógena,
por tanto se deve ter um controle rigoroso da organização, higienização, troca de materiais e
da lavagem das mãos dos profissionais.
A comunicação e apoio emocional ao paciente são relatados como de extrema
importância, pois os pacientes mais orientados tendem a ser mais cooperativos, o que
influencia na sua adaptação a ventilação mecânica, e a família serve de apoio e elo de ligação
entre ações de assistência terapêutica e a aceitação dessas pelos pacientes ((PASSOS;
CASTILHO e Cols, 2000).
Dentre os membros, o enfermeiro tem a responsabilidade de gerenciar a assistência e o
processo decisório do cuidar, necessitando cada vez mais do domínio dos princípios
científicos e tecnológicos, isso exige que o enfermeiro se prepare adequadamente,
aprimorando seus conhecimentos, de forma a fortalecer sua competência para atuar mais
objetivamente nas tarefas de observar, refletir, interpretar, decidir, orientar, interagir e avaliar
de forma constante e de acordo com a necessidade do paciente e a realidade institucional.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A enfermagem tem importância primordial na equipe de cuidados intensivos, porém
muito ainda há de se pesquisar para que possamos identificar e justificar melhor a atuação
desses profissionais na vigilância contínua dos pacientes submetidos a ventilação mecânica e
consequentemente todo o processo que ocorre até o retorno da respiração espontânea.
A importância de aprimorar a prática de enfermagem, em especial do enfermeiro, na
atenção ao paciente em uso de suporte ventilatório e em todo o seu processo é uma questão
que merece discussões e reflexões entre os enfermeiros intensivistas, buscando compreender
seu papel assistencial, enfatizando e buscando uma assistência de enfermagem sistematizada,
propiciando uma intervenção individualizada dentro do contexto das necessidades do
paciente. Buscando uma excelência na assistência de enfermagem prestada aos pacientes em
ventilação mecânica, além de estudar, questionar e reavaliar as medidas assistenciais usuais
em todo o processo de suporte ventilatório.
Analisando os referenciais encontrados pode-se perceber há existência de poucas
literaturas voltadas para o desmame ventilatório em pediatria, bem como, de trabalhos que
justifiquem a atuação e a importância do enfermeiro no acompanhamento do processo de
desmame, porém mesmo com essa deficiência de publicações, é notório que a atuação da
enfermagem, com destaque para o enfermeiro não deve ser menosprezada, pois uma equipe
multiprofissional, desenvolvendo uma assistência de forma integrada e integral, garante uma
maior qualidade das ações desenvolvidas para o paciente.
Pode-se perceber a importância de uma assistência sistematizada, com parâmetros que
possam não somente nortear o desmame, mas principalmente que possa garantir uma
confiabilidade maior na resposta do paciente ao procedimento realizado, de forma que o
mesmo não retorne à ventilação mecânica. Dessa forma abre-se um predicativo de que sejam
desenvolvidos protocolos que incluam a atuação de enfermagem, tanto no que diz respeito a
observação, monitorização, acompanhamento e avaliação, quanto ao cuidar, para garantir uma
maior qualidade aos pacientes submetidos a ventilação mecânica e consequentemente a todo o
seu processo até a evolução para uma respiração espontânea.
5 REFERÊNCIAS
Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB. Retirada (Desmame) da Ventilação
Mecânica, 2008.
AMORIN, A. M. R. et.al. Ventilação Mecânica. In: DUARTE, M. C. M. B. et.al. Terapia
Intensiva em Pediatria. Rio de Janeiro: Medbook, 2008.
BARBOSA, P. M. K.; et.al. DESMAME DO PACIENTE DA VENTILAÇÃO
MECÂNICA: AVALIAÇÃO CLÍNICA. Nursing. p. 27-32, jul. 2003. ilus, tab. BDENF Id:
16493.
_____________________. DESMAME VENTILATÓRIO: UMA REVISÃO DA
LITERATURA, 2000. Publicado em: 16 de Outubro de 2009 > http://www.pedrokaran.
com/artigos-de-enfermagem/assistencia-na-ventilacao-mecanica <. Acesso em: 11 de agosto
de 2010.
BARRETO, S. S. M. e Cols. INDICAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA
COM PRESSÃO POSITIVA. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. Jornal
Brasileiro de Pneumologia. 2007.
CARVALHO, W.B., et.al., Ventilação Pulmonar Mecânica em Pediatria e Neonatologia.
2.ed. São Paulo: Atheneu, 2004.
COSTA, A. C. F. E.; ANDRADE, L. B. Desmame – Processo de retirada da ventilação
mecânica.. In: ANDRADE, L. B. (Org.). Fisioterapia respiratória em neonatologia e
pediatria. Rio de Janeiro: Medbook, 2011.
CHEREGATTI, A.L.; et.al. Monitorização dos parâmetros vitais em UTI. In: CHEREGATTI,
A.L; AMORIM. C.P. (Org.).Enfermagem em Unidade de terapia Intensiva.1.ed.São Paulo:
Editora Martinari, 2010.
DIAS. J. A. G. F. In: DUARTE, M. C. M. B. et.al. Terapia Intensiva em Pediatria. Rio de
Janeiro: Medbook, 2008.
DUARTE, P. M. Monitoramento Hemodinâmico. In: DUARTE, M. C. M. B. et.al. Terapia
Intensiva em Pediatria. Rio de Janeiro: Medbook, 2008.
GERMANO, E.M.; SANTOS, I. F. A. Cuidados de Enfermagem a Pacientes em assistência
Ventilatória In: DUARTE, M. C. M. B. et.al. Terapia Intensiva em Pediatria. Rio de
Janeiro: Medbook, 2008.
GONÇALVES, C.C.S. Avaliação do Sistema Respiratório em Terapia Intensiva. In:
CHEREGATTI, A.L; AMORIM. C.P. (Org.). Enfermagem em Unidade de terapia
Intensiva.1.ed.São Paulo: Editora Martinari, 2010.
GOLDWASSER, R.; FARIAS, A.; FREITAS, E. E.; SADDY, F.; AMADO, V.;
OKAMOTO, V. Desmame e Interrupção da Ventilação Mecânica. III Consenso Brasileiro
de Ventilação Mecânica. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2007.
LINDEN, A.V.D. Comas na Infância In: DUARTE, M. C. M. B. et.al. Terapia Intensiva em
Pediatria. Rio de Janeiro: Medbook, 2008.
MARINHO, Camilla Cristiane Azevedo; MARINHO, Cleyci Cristina de Azevedo; VIANA,
Antonio. Desmame da Ventilação Mecânica com tubo T. Publicado em 12/11/06.
Disponível em: < http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/
respiratoria/desmamecamila.htm >. Acesso em 07 de agosto de 2010.
MOZACHI,N.; SOUSA,V.H.S. O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 2.ed. Curitiba:
os autores, 2005.
PASSOS, Elane; CASTILHO, Vânia Gislene. Papel da Enfermagem na Assistência ao
Paciente em Ventilação Mecânica. Jornal de Pneumologia. II Consenso Brasileiro de
Ventilação Mecânica. São Paulo, v. 26, supl. 2, mai. 2000. Disponivel em:
<http://books.google.com.br/books?id=9dBFthsxfd4C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=Papelda +
Enfermagem+na+Assist%C3%AAncia+ao+Paciente+em+Ventila%C3%A7%C3%A3o+Mec
%C3%A2nica+passos+e+castilho&source=bl&ots=DiIuME53q&sig=f16vuCq0TKuw-Qy26
gQIA0AO0&hl=pt-R&ei=1kWGTIfGEcGB8gb66uCmAg&sa=X&oi=bookresult&ct= res u lt
&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q=Papel %20da%20 Enfermagem %20na%
20Assist%C3%AAncia%20ao%20Paciente%20em%20Ventila%C3%A7%C3%A3o%20Mec
%C3%A2nica%20passos%20e%20castilho&f=false>. Acesso em 07 de agosto de 2010.
PIVA, J.P.; GARCIA, P.C.R. Medicina Intensiva em Pediatria. Rio de Janeiro: Revinter,
2005.
PORTO, C. C. Exame Clínico: Bases para a prática médica. 6.ed.Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.
SANTOS, L.O., et.al., Comparação entre três métodos de obtenção do índice de respiração
rápida e superficial em pacientes submetidos ao desmame da ventilação mecânica. Rev. bras.
ter. intensiva vol.19 no.3 São Paulo July/Sept. 2007 doi: 10.1590/S0103507X200700030001119(3): 331-336, jul.-set. 2007. ilus, tab. Artigo [LILACS ID: lil-470944
SILVA, Z.M., et.al. Fatores associados ao insucesso no desmame ventilatório de crianças
submetidas a cirurgia cardíaca pediátrica. Rev Bras Cir Cardiovasc vol. 23 no. 4, São
José do Rio Preto Oct./Dec. 2008 doi: 10.1590/S0102-7638200800040000823(4): 501-506,
out.-dez.2008. tab. Artigo [LILACS ID: lil-506033 ] Idioma: Inglês; Português. Acesso em 06
de agosto de 2010.
SIQUEIRA, H. R.; SIMÃO, A. T. Respiradores Mecânicos. In: SIMÃO, A. T. Terapia
Intensiva. Rio de Janeiro: Atheneu, 1976, apud BARBOSA, P. P. K. et.al., DESMAME DO
PACIENTE DA VENTILAÇÃO MECÂNICA: AVALIAÇÃO CLÍNICA. Nursing. p.
27-32, jul. 2003. ilus, tab. BDENF Id: 16493.
SIMPOSIO DE VENTILAÇÃO MECANICA, I, 2 a 4 de abril de 1993; São Paulo. Manual
didático. São Paulo: Hospital Israelita Albert Eistein.
SMELTZER, S. C. & BARE, B. G. Troca Gasosa e Função Respiratória. In: BRUNNER /
SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002, v. 1, cap. 22.
Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva – SOBRATI, 2010.
SWEARINGEN, P. L.; KEEN, J.H. e Cols. Manual de enfermagem no cuidado clínico:
intervenções em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.