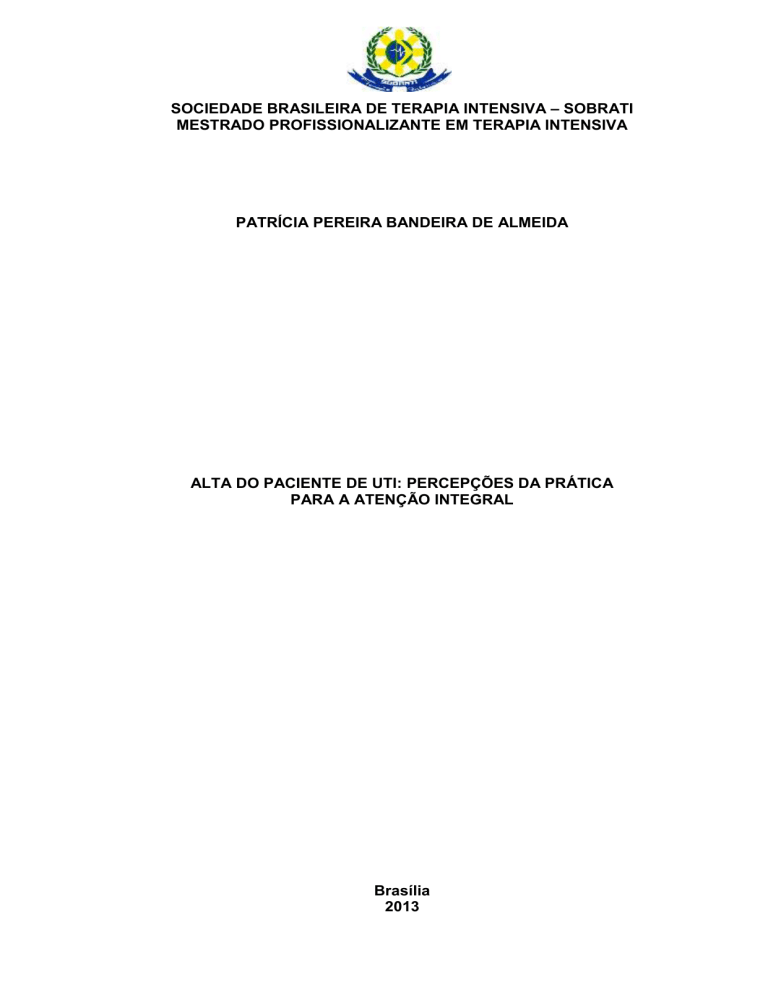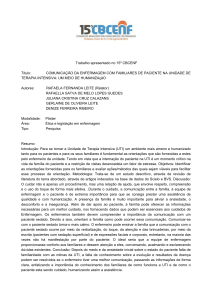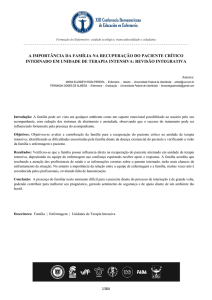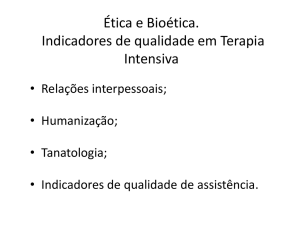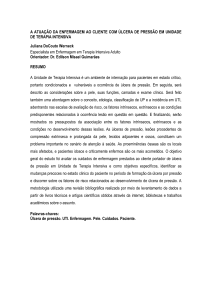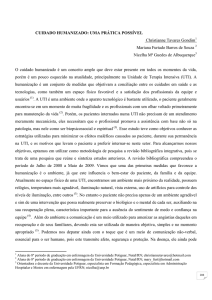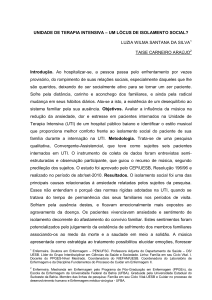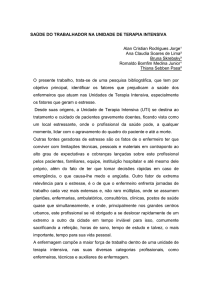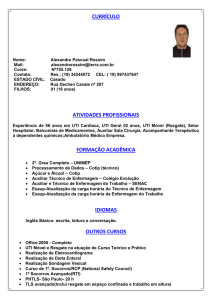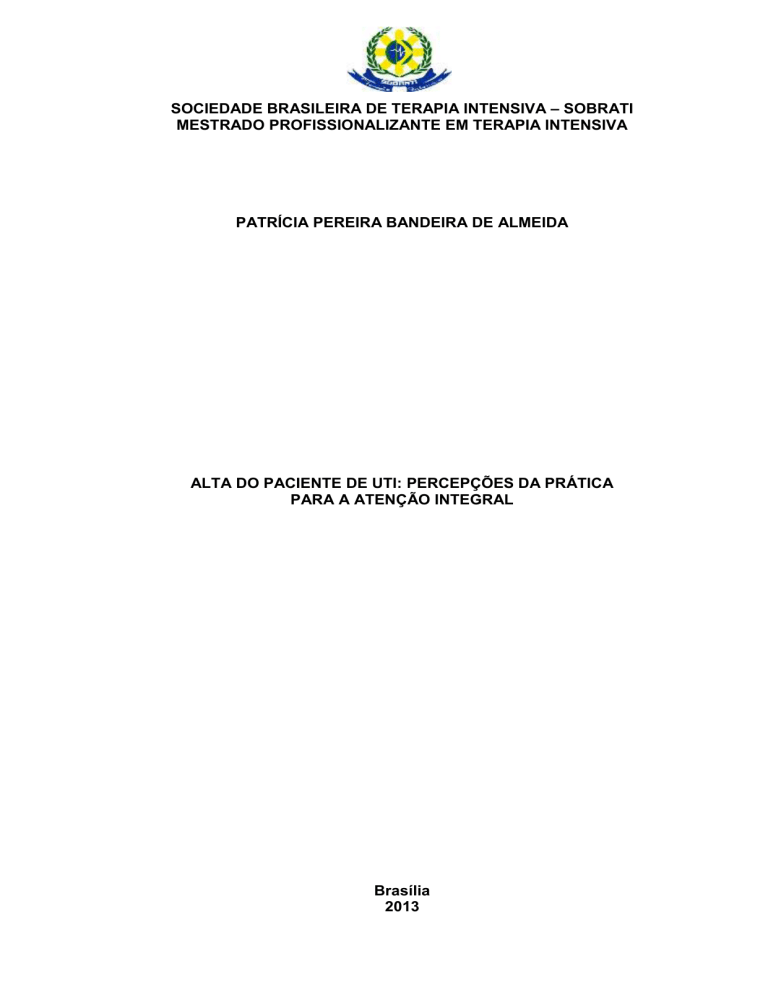
1
SOCIEDADE BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA – SOBRATI
MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM TERAPIA INTENSIVA
PATRÍCIA PEREIRA BANDEIRA DE ALMEIDA
ALTA DO PACIENTE DE UTI: PERCEPÇÕES DA PRÁTICA
PARA A ATENÇÃO INTEGRAL
Brasília
2013
2
SOCIEDADE BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA – SOBRATI
MESTRADO EM TERAPIA INTENSIVA
PATRÍCIA PEREIRA BANDEIRA DE ALMEIDA
ALTA DO PACIENTE DE UTI: PERCEPÇÕES DA PRÁTICA
PARA A ATENÇÃO INTEGRAL
Artigo científico apresentado ao Curso de
Mestrado
Profissional
em
Terapia
Intensiva da Sociedade Brasileira de
Terapia Intensiva - SOBRATI, como
requisito para obtenção do grau de Mestre
em Terapia Intensiva.
Orientadora: MSc. Dolores Fernandes
Meirelles Araújo
Brasília
2013
3
PATRÍCIA PEREIRA BANDEIRA DE ALMEIDA
ALTA DO PACIENTE DE UTI: PERCEPÇÕES DA PRÁTICA
PARA A ATENÇÃO INTEGRAL
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Artigo elaborado como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre pela Sociedade
Brasileira de Terapia Intensiva - SOBRATI
Data de Aprovação: ___/___/____
Conceito: __________
Banca examinadora
__________________________________
Prof. Dr. Douglas Ferrari.
Presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva - SOBRATI
_________________________________
Examinador 2
_________________________________
Examinador 3
4
ALTA DO PACIENTE DE UTI: PERCEPÇÕES DA PRÁTICA
PARA A ATENÇÃO INTEGRAL
Patrícia Pereira Bandeira de Almeida1
Dolores Fernandes Meirelles Araújo²
RESUMO
O objetivo do presente artigo é mostrar os pacientes com alta de UTI quanto aos estados
biossocial e de internação, e verificar as necessidades diárias de cuidados de enfermagem,
de acordo com o núcleo de assistência à saúde bem como caracterizar o processo de
trabalho de enfermagem na UTI. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura em que
foram consultados artigos das bases de dados LILACS, MEDLINE, CINAHL, SCIELO, livros
e revistas. Aborda-se a política de humanização no cenário de uma UTI e sua importância
nesse processo. A possibilidade de internação na Unidade de Terapia Intensiva constitui um
dos focos mais frequentes abordados, assim como intervenções relativas à informação dos
pacientes. Nesse contexto, é importante destacar o desenvolvimento do Therapeutic
Intervention Scoring System (TISS). Destaca-se a importância da realização de estudos
experimentais e quase experimentais sobre a eficácia da informação para o autocuidado aos
pacientes de alta de UTI e seus familiares. A comunicação é um dos principais meios para
favorecer as interações entre a equipe, pacientes e familiares. Conclui-se que são
necessárias a implementação de mudanças na reorganização do trabalho, tendo em vista a
reabilitação da saúde do paciente de UTI e a redução de reinternações.
Palavras chave: UTI. Alta do paciente. Enfermagem. Carga de Trabalho.
ABSTRACT
The purpose of this article is to show patients with ICU discharge as states biosocial and
stay, and check the daily nursing care in accordance with the core health care and to
characterize the process of nursing work in ICU. It is an integrative literature review articles
were consulted where the databases LILACS, MEDLINE, CINAHL, SCIELO, books and
magazines. Discusses the policy of humanization in an ICU setting and its importance in this
process. The possibility of admission to the Intensive Care Unit is one of the foci frequently
discussed, as well as interventions related to patient information. In this context, it is
important to highlight the development of the Therapeutic Intervention Scoring System
(TISS). Highlights the importance of performing experimental and quasi-experimental studies
on the effectiveness of information for self-care to patients of ICU discharge and their
families. Communication is a key means to foster interactions between staff, patients and
relatives. Concludes that are necessary to implement changes in the reorganization of work
in order
to recover
the health
of
the patient
to
and reducing
readmissions.
Keywords: ICU. Patient discharge. Nursing. Workload.
1
Bacharel em Enfermagem (Unimar) especialista em Terapia Intensiva (Ibpex), Mestranda (Sobrati), Gerente de
Enfermagem do Hospital Unimed de Imperatriz-MA - Email: [email protected]
² Graduada em Enfermagem pela URFJ, Pós-graduada em Enfermagem do Trabalho pela FIP, docência do
ensino superior pelo IBE, saúde pública pela UFRJ. Enfermeira do MS, e FMS DE Campos dos Goytacazes.
Mestre e Doutora em Terapia Intensiva pela Sobrati. MESTRANDA EM BIOÉTICA PELA UMSA
(UNIVERSIDADE DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO).
5
1 INTRODUÇÃO
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é conhecida, atualmente, como um local
onde é prestada assistência qualificada e especializada, independentemente de os
mecanismos tecnológicos utilizados serem cada vez mais avançados, capazes de
tornar mais eficiente o cuidado prestado ao paciente em estado crítico. Segundo o
Regulamento técnico do Ministério da Saúde (1998), este setor é constituído de um
conjunto de elementos funcionalmente agrupados, destinado ao atendimento de
pacientes graves ou de risco que exijam assistência médica e de enfermagem e
recursos humanos especializados.
Atualmente os pacientes vêm sendo liberados mais precocemente do
hospital, antes de acabar o tratamento e a recuperação da saúde. Tal método tem
sido abonado pelo melhor emprego dos leitos, pela redução do custo hospitalar,
pelos aumentos tecnológicos na área da saúde e pelos riscos introduzidos na
hospitalização.
Tal fato tem provocado estudos que procuram conhecer como os pacientes
vivenciam a recuperação em casa e as implicações para suas famílias, após a
hospitalização. Em uma revisão sobre o tema, contemplando estudos realizados, os
autores descrevem a recuperação do paciente sob a perspectiva psicossocial e de
variáveis fisiológicas, porém, com pouca ênfase no período pós-alta. Nos primeiros
estudos, a recuperação foi avaliada como abandono do papel de doente. Estudo
subsequente, descreve-a como processo de retomada ao normal composto por três
fases: a passividade, a retomada da atividade e a estabilização da saúde.
Desvenda, ainda, que o processo de recuperação pode estender-se além da alta
hospitalar.
Destarte, os hospitais também têm optado pela alta precoce do paciente,
acrescentando aos motivos já citados que a redução do tempo de internação
minimiza os efeitos danosos da separação desse paciente da sua família.
Sabe-se que a finalização da recuperação do paciente, torna a família
responsável por continuar os cuidados fora do hospital até a completa recuperação
da saúde, quando isto for possível, visto que no período de internação é realizada
apenas uma parte do cuidado ao membro doente. No entanto, a mudança do perfil
da recuperação do paciente em razão da redução do tempo de internação não vem
se refletindo nas pesquisas, para que os profissionais respondam adequadamente
6
às necessidades do paciente e de sua família após a alta.
Além disso, as atividades desenvolvidas no hospital e focadas na família são
destinadas
a
ajudá-las
a
enfrentar
a
experiência
da
hospitalização
e,
frequentemente, não são suficientes para prepará-las para deixar o hospital. O
número de reinternações também é preocupante, e a falta de seguimento após a
alta não permite avaliar as condições que podem favorecer esse fenômeno. Assim,
torna-se relevante conhecer como a recuperação da saúde tem sido vivenciada pelo
paciente de UTI e suas famílias no domicílio, já que o planejamento de alta
hospitalar é uma das atribuições da enfermagem, e o acompanhamento da saúde do
mesmo fora do hospital está previsto nas ações de atenção à saúde desse paciente.
No sentido de contribuir com subsídios teóricos à prática de enfermagem no âmbito
hospitalar e no seguimento do paciente e sua família após a alta, este estudo teve
como objetivo identificar o conhecimento disponível sobre o processo de
recuperação do paciente de UTI hospitalizado e de sua família após a alta.
7
3 METODOLOGIA
O presente estudo tem caráter descritivo.
A coleta das informações foi realizada através de uma revisão integrativa da
literatura em que foram consultados artigos das bases de dados LILACS, MEDLINE,
CINAHL, SCIELO, livros e revistas. Utilizou-se a categorização de dados por melhor
se adequar à investigação qualitativa do material sobre saúde, embasados em
Minayo (2002).
8
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 UTIs
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade fechada, isto é, uma
unidade que facilita a coordenação das atividades dos profissionais que ali
trabalham e que restringe o acesso a outras pessoas. A planta física e os
equipamentos característicos despertam curiosidade a todos que adentram nesse
território. A estrutura física da UTI, associada às condições dos pacientes,
normalmente críticos, e a intensa atividade da equipe de saúde, fazem com que
muitas pessoas considerem essa unidade um ambiente hostil (TAKAHASHI, 1986).
Sem cadeiras para familiares, logo, sem um convite para uma visita prolongada
(SANTOS, 2004), a entrada de familiares, é permitida durante curto período de
tempo e em horários pré-estabelecidos. Além disso, não se observa a preocupação
com o preparo prévio do familiar para o contato com o paciente e com o novo
ambiente (TAKAHASHI, 1986).
A principal característica que determina um paciente internado na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) é o agravamento do seu estado de saúde que demanda,
conseqüentemente, observação médica e de enfermagem especializados, com
demandas distinguidas de cuidados, quando se deparam com outras unidades
hospitalares.
A necessidade de avaliar objetivamente quem são os pacientes graves que
requerem tratamento intensivo tem tornado a utilização de instrumentos de medida
de gravidade, prática indispensável nas UTIs, face aos altos custos dessas
unidades. No entanto, tão importante quanto avaliar a gravidade e predizer
mortalidade dos pacientes admitidos na UTI, a avaliação das necessidades de
cuidados e, conseqüentemente, da demanda de trabalho de enfermagem, tem sido
relevante quando se busca aliar qualidade da assistência, otimização de recursos e
redução de custos.
Assim, tais índices são cada vez mais necessários como ferramenta
assistencial e administrativa voltada para a adequação de recursos
materiais, equipamentos e de pessoal de enfermagem na UTI (GAIDZINSKI,
1998, p.23).
9
Sem sombra de dúvidas que a UTI é a unidade destinada ao tratamento de
pacientes graves, porém recuperáveis, portanto, identificar quem é o paciente que
necessita de cuidados intensivos e avaliar a real gravidade das suas condições
apenas tornou-se exequível a partir do desenvolvimento de sistemas objetivos de
medida (KOLLEF; SCHUSTER, 1994) e de métodos prognósticos específicos para
sua aplicação em UTI (CULLEN, 1974 apud DUCCI et al, 2003).
Um dos instrumentos desenvolvidos com essa finalidade foi o Therapeutic
Intervention Scoring System (TISS), que desde a sua criação em 1974, teve
como propósito medir a gravidade do paciente segundo a complexidade e o
grau de invasividade das intervenções, bem como o tempo procedimentos
(CULLEN, 1974 apud GONÇALVES; GARCIA, 2006).
Porém, com o desenvolvimento de índices de gravidade de base fisiológica
(LEMESHOW, 1993 apud GONÇALVES; GARCIA, 2006), o TISS, após várias
versões (PIERIN et al, 1990), foi reestruturado e mais direcionado para a avaliar as
necessidades de cuidados e carga de trabalho de enfermagem na UTI, passando a
denominar-se Nursing Activities Score (NAS) (QUEIJO, 2002). Incorporando
atividades de enfermagem não contempladas nas versões anteriores, como
procedimentos de higiene, suporte e cuidados aos familiares/pacientes, tarefas
administrativas e gerenciais, o escore NAS expressa a porcentagem de tempo gasto
por um profissional de enfermagem na assistência direta ao doente crítico na UTI,
em 24 horas (REIS MIRANDA et al, apud GONÇALVES; GARCIA, 2006).
Apesar da inquestionável necessidade de se estimar carga de trabalho de
enfermagem em UTI com o uso de instrumentos de medida específicos para os
doentes críticos, ainda são poucos os estudos existentes no nosso meio, razão pela
qual julgou-se de interesse a presente investigação. Além disso, há que se ressaltar
que a disponibilidade do NAS recentemente traduzido e validado para a realidade
brasileira, tornou possível a sua aplicação prática em nosso meio (QUEIJO, 2002).
3.2 A atenção integral ao paciente de alta da UTI
A integralidade é uma das colunas de sustentação do Sistema de Saúde
Brasileiro e a busca por sua realização deve acontecer nos diferentes níveis e
serviços de saúde, especialmente na capacidade de articulação entre eles. Este
item, foco da pesquisa objetiva identificar as percepções da enfermagem acerca dos
10
limites e das potencialidades do seu trabalho para a integralidade do cuidado na
articulação entre atenção hospitalar e básica no processo de alta hospitalar do
paciente de UTI.
O Sistema Único de Saúde (SUS) é respeitado por ser um sistema complexo,
pois tem o cargo de proferir e coordenar ações promocionais e de prevenção com as
de cura e reabilitação (VASCONCELOS; PASCHE, 2006 apud SILVA; RAMOS,
2001). Conforme a Lei Orgânica nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a construção
do SUS é norteada por alguns princípios e diretrizes, entre os quais a integralidade
(BRASIL, 2002).
Esta é uma das diretrizes mestras da reforma do Sistema de Saúde
Brasileiro, portanto, deve ser ponto de reflexão a seu alcance, bem como
seu limite e efetivação na prática dos serviços em saúde, levando em
consideração a eficiência e eficácia do SUS (FONTOURA; MAYER, 2006).
Reporta-se que, designadamente, no processo de alta hospitalar do paciente
de UTI, cabe considerar a importância da atuação profissional, para a continuidade e
integralidade do cuidado. A alta desse paciente hospitalizado é vista como um
processo que se materializa no momento final da internação hospitalar e continua no
período pós-hospitalar. É, também, um andamento distinto para concretizar o
cuidado integral. O cuidado integral em saúde acontece quando existe uma
combinação generosa e flexível de tecnologias duras, leve-duras e leves (CECÍLIO;
MERHY, 2005) de modo a contemplar a complexidade das necessidades e do objeto
da ação em saúde.
Entre os envolvidos no processo de alta, encontra-se a enfermagem, seja da
atenção hospitalar ou da atenção básica, agenciar a assiduidade da assistência do
hospital a residência; uma assistência integrada e comprometida com a saúde.
Considerando a integralidade do cuidado ao paciente de alta de UTI, o enfermeiro
deve favorecer a articulação da atenção hospitalar e básica, colaborando para a
construção deste princípio. Entretanto, na procura por um agir integral, aparecem
alguns limites e potencialidades que impedem e colaboram para tal construção. Com
tal ênfase, não se pretende negligenciar a responsabilidade dos outros profissionais
de saúde e da própria família para a efetivação do cuidado integral.
3.3 Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI)
11
A humanização tem se constituído em uma temática central na atualidade,
configurando um dos elementos que podem permitir o resgate do cuidado
humanístico ao indivíduo que vivencia o estar saudável e o estar doente e a sua
família. Isso porque, ao longo dos tempos, a formação de profissionais e a
organização dos serviços de saúde têm privilegiado e priorizado, sobretudo em
virtude do paradigma cartesiano, o conhecimento parcelar e especializado, a
supremacia do poder médico, a valorização da técnica e da destreza manual e a
visão do ser humano como máquina (DESLANDES, 2005 apud COSTA et al, 2009).
Entende-se, desta maneira, que quanto mais especializado for o serviço de
saúde, mais presentes estarão as condições que sustentam o paradigma cartesiano.
Sendo assim, as UTIs podem representar um espaço que, por sua concentração de
tecnologia
de
ponta,
caracteriza-se
pela
manutenção
do
saber
científico
especializado e fragmentado, em que pacientes e familiares acabam destituídos de
sua humanidade (GOTARDO; SILVA, 2005 apud COSTA et al, 2009). Em virtude
desta realidade, há um movimento profissional e governamental pelo resgate e
valorização da humanização no cuidado em saúde, especialmente a partir de 2001.
Tendo em vista este contexto, o Ministério da Saúde elaborou o PNHAH,
visando, dentre outras questões, humanizar a assistência hospitalar pública prestada
aos pacientes, assim como aprimorar as relações existentes entre usuários e
profissionais, entre os profissionais, e entre o hospital e a comunidade, com vistas a
melhorar a qualidade e a eficácia dos serviços prestados (BRASIL, 2001). Com o
intuito de unificar as políticas, em 2003, o PNHAH, juntamente com outros
programas de humanização já existentes, acabou transformando-se na PNH – o
Humaniza-SUS (BRASIL, 2003) – o qual passou a abranger, também, os cenários
da Saúde Pública (instituições primárias de atenção) na busca por melhorar a
eficácia e a qualidade dos serviços de saúde.
A PNH, assim como os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS), se compromete em possibilitar atenção integral à população e a propor
estratégias que possibilitem ampliar as condições de direitos e de cidadania. Há que
se considerar, ainda, que a humanização, como estratégia de qualificação da
atenção e gestão do trabalho, busca “transformações no âmbito da produção dos
serviços (mudanças nos processos, organização, resolubilidade e qualidade) e na
produção de sujeitos (mobilização, crescimento, autonomia dos trabalhadores e
12
usuários)” (SANTOS-FILHO, 2007, p.1001).
Compreende-se que o termo humanização, mesmo considerando o texto
base da PNH, apresenta uma polissemia conceitual e uma plasticidade, variando as
possibilidades interpretativas desde aquilo que é tido como do senso comum até as
leituras de um humanismo ancorado na ética da vida (BENEVIDES; PASSOS, 2005
apud COSTA et al, 2009). Em virtude disso, a PNH não define e delimita um
conceito único, apenas circunscreve um entendimento sobre o que é a
humanização, ou seja, a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo
de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; fomento da autonomia e
do protagonismo desses sujeitos; aumento do grau de co-responsabilidade na
produção de saúde e de sujeitos; estabelecimento de vínculos solidários e de
participação coletiva no processo de gestão; identificação das necessidades de
saúde; mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho tendo
como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde; compromisso com
a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento (BRASIL, 2004).
A política de humanização, portanto, precisa ser considerada uma construção
coletiva que acontece a partir da identificação das potencialidades, necessidades,
interesses e desejos dos sujeitos envolvidos, bem como da criação de redes
interativas, participativas e solidárias entre as várias instituições que compõem o
SUS. Compreende-se que, como política, “ela deve traduzir princípios e modos de
operar no conjunto das relações entre profissionais e usuários, entre os diferentes
profissionais e entre as diversas unidades e serviços de saúde” (MOTA et al, 2006
apud COSTA et al, 2009).
A política de humanização deve ser tratada como um elemento de
transversalidade para o SUS, estando presente desde a recepção e acolhimento do
usuário no sistema de saúde, até o planejamento e gestão das ações e estratégias,
sejam elas de promoção, prevenção e/ou reabilitação. Sendo assim, quando se
considera o cenário hospitalar, é necessário entender que a humanização precisa
estar voltada não só ao paciente internado e aos seus familiares, mas também à
própria equipe de saúde, uma vez que será pela inter-relação efetiva e afetiva
existente entre eles que o cuidado poderá ser desenvolvido de maneira mais
humana, ética e solidária.
Segundo Mezzomo (2001, p.276), um “hospital humanizado é aquele que sua
estrutura física, tecnológica, humana e administrativa valoriza e respeita a pessoa,
13
colocando-se a serviço dela, garantindo-lhe um atendimento de elevada qualidade”.
É, portanto, da convergência de vários aspectos presentes nos contextos
hospitalares que se conseguirá implantar e implementar a política de humanização
como estratégia eficaz para um atendimento resolutivo e acolhedor ao usuário, e
garantir educação permanente aos profissionais, bem como sua participação nos
modelos de gestão, para alcançar melhorias na produção de cuidados de saúde.
Assim, em meio a estas necessidades presentes nas instituições de saúde e
os diferentes aspectos que compõem a política de humanização, entende-se como
relevante o desenvolvimento de pesquisas que contemplem o processo de
humanizar relacionado às UTIs, seja para o que tange às percepções e significados
atribuídos pelos profissionais, quanto para as aplicações e dificuldades práticas de
sua implementação. Acredita-se que o principal objetivo da humanização em
unidades de alta complexidade como as UTIs seja o de manter a dignidade do ser
humano e o respeito por seus direitos, sendo importante dar voz aos profissionais
para compreender como eles se percebem em meio a esta política e prática em
saúde.
3.4 O papel da enfermagem na interação família/paciente
Quando a interação e a comunicação estabelecidas são analisadas como
necessidade da equipe cuidadora, permitem a aproximação entre os envolvidos na
relação, a qual é explanada por meio do afeto e de palavras que se compõem em
estímulos verbais. A comunicação é um dos principais meios para favorecer as
interações entre a equipe, pacientes e familiares. Porém, essa interação não ocorre
ao acaso; necessita ser conscientemente planejada pela equipe de enfermagem, a
partir das observações realizadas, das necessidades evidenciadas e das
interpretações dos significados atribuídos pelo paciente e seus familiares a sua nova
situação de vida.
A disponibilidade, por exemplo, de um monitor cardíaco que verifique a
pressão arterial, a saturação de oxigênio, a freqüência cardíaca e a temperatura,
contribui, também, para disponibilizarmos um período de tempo maior para
permanecermos junto ao paciente e seus familiares (GONÇALVES, 2000 [online]).
É importante ressaltar que a relevância da presença da equipe de
enfermagem acoplada ao paciente e familiares, da empatia, da interação, da
14
cooperação da equipe multidisciplinar e do uso da tecnologia como um instrumento
que pode adequar um cuidado mais humanizado. Daí a importância de questionar a
prática cotidianamente buscando a perfeição.
3.5 Carga de trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva-UTI
Caracterizar a carga de trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) com vistas a obter um quantitativo de pessoal que assegure
qualidade e adequada relação custo-benefício da assistência intensiva é busca
antiga que acompanha o próprio desenvolvimento histórico dessas unidades
(DRAGSTEED, 1992 apud GONÇALVES; PADILHA, 2004).
Nas UTI(s), distinguidas pela elevada carga, e pelo alto índice de mortalidade,
(JACOB, 1997 apud GONÇALVES; PADILHA, 2004), durante décadas utilizou-se a
razão mortalidade/morbidade como parâmetro de escolha para descrever resultado
da eficiência do cuidado intensivo. Todavia, nos últimos anos, a inclusão da
demanda de trabalho de enfermagem como um parâmetro para avaliação dos
resultados, tem sido também considerada, devido ao seu impacto na qualidade da
assistência intensiva (JACOB, 1997 apud GONÇALVES; PADILHA, 2004).
Dessa forma, a estimativa de tal demanda de trabalho, bem como dos fatores
acompanhados a ela, tem se indicado como recurso de gestão dessas unidades,
visto que uma equipe superdimensionada dar a entender ao um alto custo. Por outro
lado, sabe-se que uma equipe restringida tende a gerar uma queda na eficiência da
assistência, espaçando a internação, acrescentando a mortalidade/morbidade e
provocando um maior custo no tratamento dos pacientes (GAIDZINSKI, 1998).
Nesse contexto, é importante destacar o desenvolvimento do Therapeutic
Intervention Scoring System (TISS), em 1974, que introduziu na prática clínica em
UTI a medida da carga de trabalho de enfermagem (CULLEN, 1974 apud
GONÇALVES; PADILHA, 2004).
Apesar da importância desses sistemas para uso específico em UTI, a
aplicação prática mostrou falhas estruturais dos instrumentos para a medida total da
demanda de trabalho, uma vez que as atividades relacionadas ao cuidado indireto
do paciente, como tarefas organizacionais; as pausas no trabalho e outras
atividades não estavam incluídas nas suas composições. Com vistas a superar as
lacunas apontadas, um novo ajuste do TISS-28 foi proposto em 2003 (MIRANDA,
15
2003, apud GONÇALVES; PADILHA, 2004).
Ainda Miranda (2003, apud GONÇALVES; PADILHA, 2004) através dessa
nova estrutura, a pontuação obtida com o NAS expressa diretamente a porcentagem
de tempo gasto pela equipe de enfermagem na assistência ao doente em estado
crítico, em 24 horas, podendo chegar no máximo a 176,8%.
Na literatura são poucos os estudos que utilizaram o NAS. Talvez isso se
justifique pelo fato de ser um instrumento novo, validado e adaptado recentemente
para a realidade brasileira (GONÇALVES et al, 2006). No entanto, observa-se um
número crescente de enfermeiros, intensivistas ou gerenciais, que vêm aplicando o
instrumento e divulgando os resultados em eventos científicos da área de terapia
intensiva (GONÇALVES et al, 2006).
Nesses casos, uma equipe de enfermagem com noções prévias dos fatores
associados à alta carga de trabalho é capaz de formar estratégias para aceitar o
paciente na Unidade e dar continuidade ao processo de cuidar na UTI e depois da
alta, de modo a garantir a qualidade e eficiência do seu trabalho. Dessa forma,
considerando-se a carência de estudos sobre o processo de trabalho de
enfermagem mensurada pelo NAS e a necessidade de radicar o conhecimento
sobre os fatores anexos a essa demanda da alta do paciente, optou-se pela
realização deste estudo.
16
4 CONCLUSÃO
Os resultados do presente artigo apontam que no cotidiano de trabalho, na
alta do paciente de UTI, em busca de uma prática integral, a enfermagem encontra
alguns limites e potencialidades que dificultam ou favorecem um agir coerente com o
princípio da integralidade.
Considera-se relevante esse artigo, pois o mesmo possibilitou-nos aprender a
valorizar alguns elementos internos e inerentes a qualquer pessoa, dentre eles, a
sensibilidade, a afetividade, a capacidade de empatia e envolvimento emocional,
como instrumentos a serem utilizados na relação pessoa a pessoa. Descobriu-se,
também, a capacidade de transmitir segurança ao outro, pela simples presença junto
ao paciente e ao seu familiar. Dessa maneira, conseguiu-se demonstrar o interesse
genuíno por sua situação de vida e o envolvimento no processo de cuidar.
Por isso, considera-se como imprescindível que a equipe de enfermagem
designe um espaço para refletir sobre a importância da alta do paciente de UTI ativa
no cuidado prestado aos mesmos na recuperação da sua saúde. Essa experiência
vem mostrando que a equipe de enfermagem, precisa observar a si mesma, refletir
sobre o seu vivido, pensar intuitivamente, permitindo-se aprender a ser receptiva e
atenta aos estímulos transmitidos pelas pessoas que estão a sua volta, de modo a
satisfazer muitas das necessidades físicas, emocionais, espirituais e sociais do
paciente e de seus familiares.
Conclui-se que, na perspectiva da integralidade, faz-se necessário um refletir,
um repensar dos profissionais, na busca por caminhos e estratégias que possam
modificar o atual cenário e preencher as lacunas existentes no cuidado prestado e
na articulação entre seus diferentes níveis. Acredita-se que preencher essas lacunas
é sem dúvida um desafio para a equipe, porém, necessário para que mudanças
ocorram na reorganização do trabalho, tendo em vista a reabilitação da saúde do
paciente de UTI e a redução de reinternações.
17
5 REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990: dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília (DF): Guia do
Conselheiro; 2002.
CECÍLIO, L.C.O.; MERHY, E.E. A integralidade do cuidado como eixo da gestão
hospitalar. In: Pinheiro R, Mattos RA, (org). Construção da integralidade: cotidiano,
saberes e práticas em saúde. 3 ed. Rio de Janeiro (RJ): IMS, UERJ, Abrasco; 2005.
p. 197-210.
COSTA, Silvio Cruz et al. Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Adulto
(UTI): compreensões da equipe de enfermagem. Interface (Botucatu) vol.13 supl.1
Botucatu, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em 20 fev/2013.
DUCCI, A. Janzantte et al. Gravidade de Pacientes e Demanda de Trabalho de
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva: Análise Evolutiva Segundo o TISS28. RBTI - Revista Brasileira Terapia Intensiva. 2003. Disponível em:
www.scielo.br. Acesso em 19 fev/2013.
FONTOURA, R.T.; MAYER, C.N. Uma breve reflexão sobre a integralidade. Rev
Bras
Enferm.
2006
Jul-Ago;
59(4):532-6.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/similar.php?text=Uma%20breve%2. Acesso em
20 fev/2013.
GAIDZINSKI, R.R. Dimensionamento de pessoal de enfermagem em
instituições hospitalares [livre-docência]. São Paulo (SP): Escola de
Enfermagem, USP; 1998.
GONÇALVES, M.X. AIDS: uma contribuição da enfermagem à compreensão da
vulnerabilidade feminina a partir do discurso de mulheres soropositivas [dissertação].
Florianópolis (SC): Pós-Graduação em Enfermagem/UFSC; 2000. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci+arttext8pid=S0104070720050005000116&Img=pt8nrm=iso≠end. Acesso em: 12 mar/2013.
GONÇALVES, Leilane Andrade; GARCIA, Paulo Carlos. Necessidades de cuidados
de enfermagem em Terapia Intensiva: evolução diária dos pacientes segundo o
Nursing Activities Score (NAS). Rev Bras Enferm 2006 jan-fev; 59(1): 56-60.
GONÇALVES, Leilane Andrade; PADILHA, K. G. Fatores associados à carga de
trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. Rev Esc Enferm USP
2007; 41(4):645-52. Disponível em: www.ee.usp.br/reeusp/. Acesso em 20 fev/2013.
GONÇALVES, L.A. et al. Necessidades de cuidados de enfermagem em Unidade de
Terapia Intensiva: evolução diária dos pacientes segundo o (NAS) Nursing Activities
Score. Rev Bras Enferm. 2006; 59(1):56-60. Disponível em: www.scielo.br. Acesso
em 22 fev/2013.
KOLLEF, M.H.; SCHUSTER, D.P. Previsão do Prognóstico na UTI com Sistemas de
18
Graduação. In: Clínicas de Terapia Intensiva. Rio de Janeiro, Interlivros, 1994;119. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em 24 fev/2013.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org). Pesquisa Social: teoria, método e
criatividade. Petrópolis: Vozes, 2002.
PIERIN, A.M.G. et al, Caracterização dos pacientes de duas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI): condições bio-sociais, processo de internação e intervenções
terapêuticas. Rev Esc Enferm USP 1990; 24(3):371-388.
PINHO, I.C. et al. As percepções do enfermeiro acerca da integralidade da
assistência. Rev Eletr Enferm [online]. 2006; 8(1):42-51. Disponível em:
http://www.fen.ufg.br/ revista/revista8_1/original_05.htm. Acesso em 27 fev/2013.
QUEIJO, A.M.G. Tradução para o português e validação de um instrumento de
medida de carga de trabalho de enfermagem em unidade de terapia intensiva:
Nursing Activities Score (NAS) [tese]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem,
USP; 2002.
SANTOS, K.M.A.B. Percepção dos profissionais de saúde sobre a comunicação
com os familiares de pacientes em UTIs e análise proxêmica dessas interações
[tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 2004.
SILVA, R.V. Gomes de Oliveira; RAMOS, F.R. Souza. Processo de alta hospitalar da
criança: percepções de enfermeiros acerca dos limites e das potencialidades de sua
prática para a atenção integral. Rev. Enferm. vol. 20 n.2 Florianópolis abr./jun. 2011.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072011000200005&lng=pt&nrm=iso>.
ISSN
0104-0707.
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072011000200005. Acesso em 25 fev/2013.
TAKAHASHI, E.I.U. Visitas em unidade de terapia intensiva. Rev Paul Enfermagem.
1986; 6(3): 113-5.
VASCONCELOS, C.M.; PASCHE, D.F. O Sistema Único de Saúde. In: Campos
GWS, Minayo MCS, Akerman M, Drumond M Junior, Carvalho YM, (org). Tratado de
saúde coletiva. São Paulo/Rio de Janeiro (SP/RJ): Hucitec/Fiocruz; 2006. p. 53162. Disponível em:
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/similar.php?text=Uma%20breve%2. Acesso em
20 fev/2013.