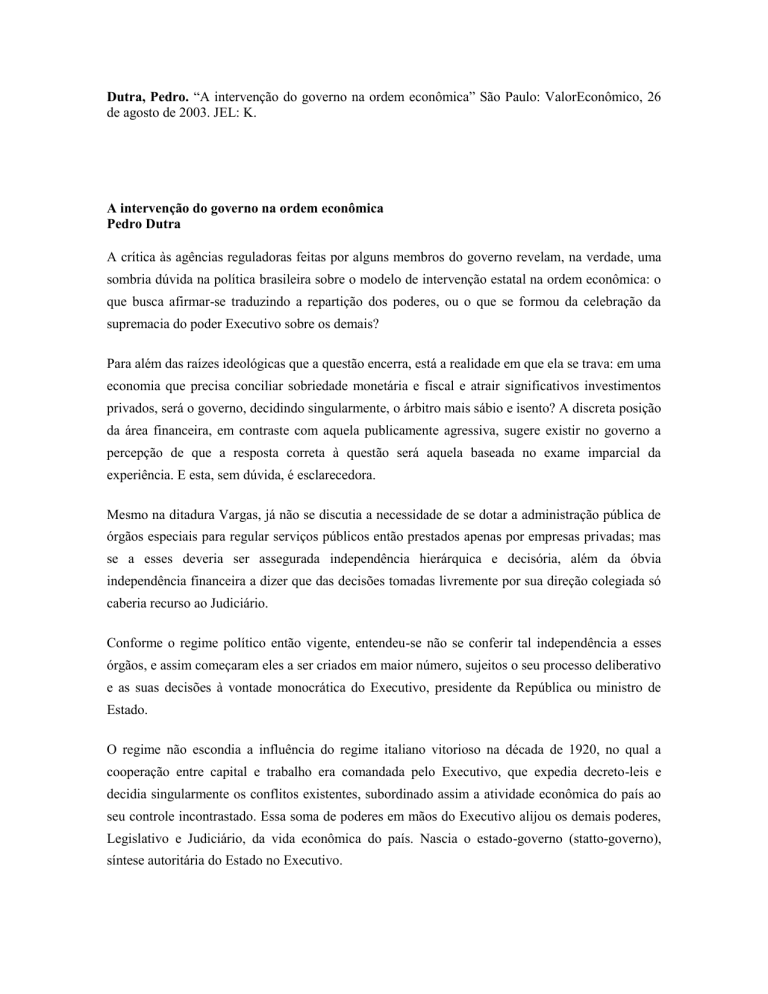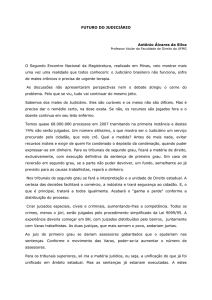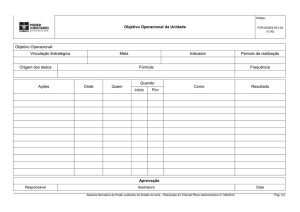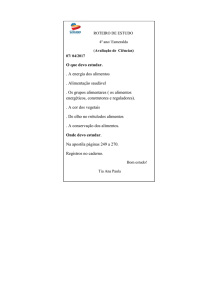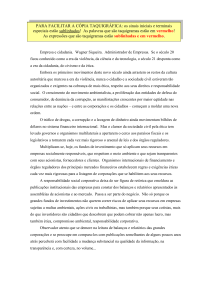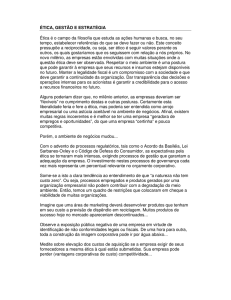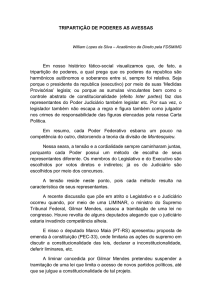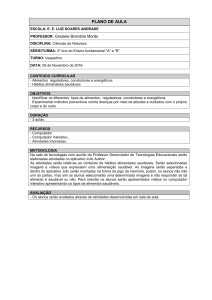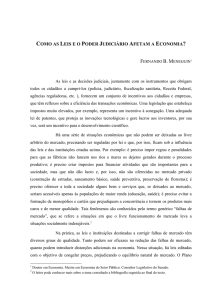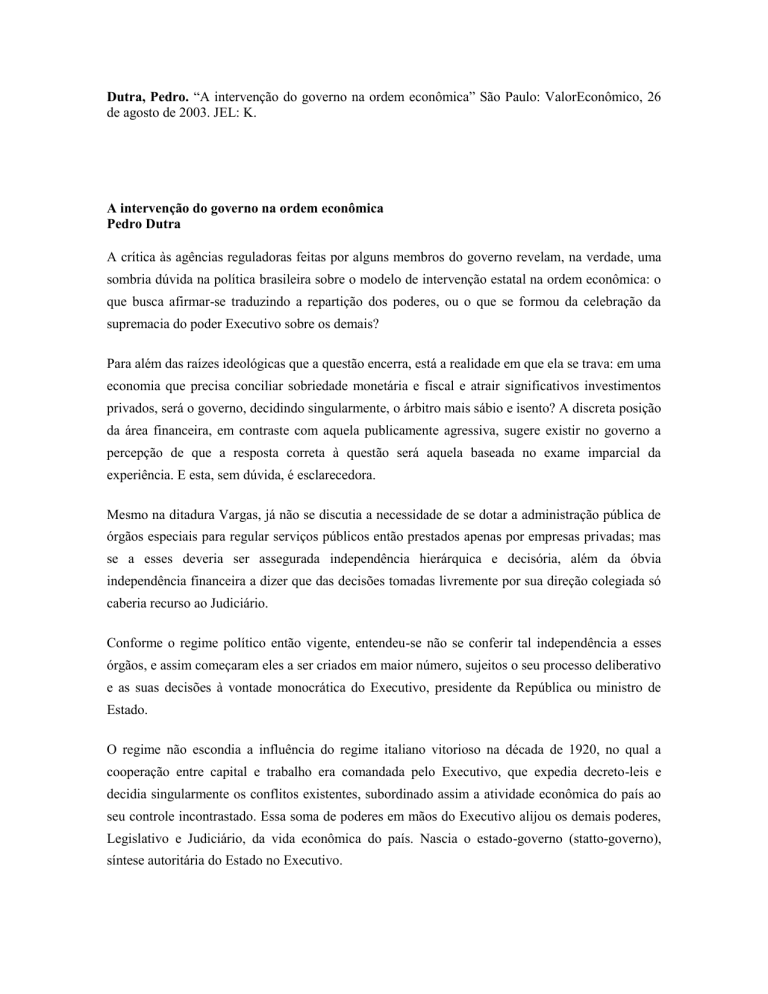
Dutra, Pedro. “A intervenção do governo na ordem econômica” São Paulo: ValorEconômico, 26
de agosto de 2003. JEL: K.
A intervenção do governo na ordem econômica
Pedro Dutra
A crítica às agências reguladoras feitas por alguns membros do governo revelam, na verdade, uma
sombria dúvida na política brasileira sobre o modelo de intervenção estatal na ordem econômica: o
que busca afirmar-se traduzindo a repartição dos poderes, ou o que se formou da celebração da
supremacia do poder Executivo sobre os demais?
Para além das raízes ideológicas que a questão encerra, está a realidade em que ela se trava: em uma
economia que precisa conciliar sobriedade monetária e fiscal e atrair significativos investimentos
privados, será o governo, decidindo singularmente, o árbitro mais sábio e isento? A discreta posição
da área financeira, em contraste com aquela publicamente agressiva, sugere existir no governo a
percepção de que a resposta correta à questão será aquela baseada no exame imparcial da
experiência. E esta, sem dúvida, é esclarecedora.
Mesmo na ditadura Vargas, já não se discutia a necessidade de se dotar a administração pública de
órgãos especiais para regular serviços públicos então prestados apenas por empresas privadas; mas
se a esses deveria ser assegurada independência hierárquica e decisória, além da óbvia
independência financeira a dizer que das decisões tomadas livremente por sua direção colegiada só
caberia recurso ao Judiciário.
Conforme o regime político então vigente, entendeu-se não se conferir tal independência a esses
órgãos, e assim começaram eles a ser criados em maior número, sujeitos o seu processo deliberativo
e as suas decisões à vontade monocrática do Executivo, presidente da República ou ministro de
Estado.
O regime não escondia a influência do regime italiano vitorioso na década de 1920, no qual a
cooperação entre capital e trabalho era comandada pelo Executivo, que expedia decreto-leis e
decidia singularmente os conflitos existentes, subordinado assim a atividade econômica do país ao
seu controle incontrastado. Essa soma de poderes em mãos do Executivo alijou os demais poderes,
Legislativo e Judiciário, da vida econômica do país. Nascia o estado-governo (statto-governo),
síntese autoritária do Estado no Executivo.
Nos Estados Unidos, a regulação teve início no século dezenove, tendo por alvo o transporte
ferroviário e no início do século seguinte criado o órgão de defesa da concorrência. A superação da
recessão de 1929 determinou a criação de novos órgãos reguladores, forma que praticamente
condensou a intervenção estatal na economia daquele país.
A questão da independência desses órgãos em relação ao governo também ocorreu, mas atendeu à
separação harmônica dos poderes vigente naquele regime político, e assim a esses órgãos foi
outorgada independência hierárquica e decisória para que pudessem exercer suas funções legais sem
injunções político-partidárias. Em ponto menor, os órgãos reguladores reproduzem as funções dos
poderes do Estado, de fazer cumprir a Lei, expedir normas infra-legais e decidir conflitos entre seus
regulados, igualmente harmonizadas. Este equilíbrio repete-se no controle a que são submetidas: o
Executivo indica seus titulares e propõe seu orçamento; o Legislativo aprova ambos e fiscaliza o
desempenho daqueles; e o Judiciário revê suas decisões.
A redemocratização iniciada em 1946 no Brasil não alterou o modo de intervenção na economia, de
extração autoritária, contradição que aprofundou a seguir a crise na prestação dos serviços públicos,
uma vez que os reajustes de tarifas destes serviços e outras decisões essenciais, como novos
investimentos, atenderam a critérios não técnicos, e sim a interesses políticos de vária sorte. A
ditadura militar a partir de 1964 retomou e extremou o modelo seguido por Vargas. Ao fim daquele
regime, a prestação dos serviços públicos repetia a experiência herdada ao seu início, de ineficiência
e onerosidade, em prejuízo direto ao consumidor.
O governo anterior ao atual buscou enfrentar esta situação, e o fez com a inapetência que lhe
caracterizou as iniciativas de reformas institucionais. Ainda assim, pela primeira vez na
administração pública nacional, foi outorgada em lei independência hierárquica e decisória a alguns
órgãos reguladores. À conta de tais características, alguns integrantes do atual governo acusam estes
de estar fazendo "políticas públicas", função que seria, argumentam, exclusiva do governo, pois a
este, ao ser eleito seu chefe, teria sido outorgado mandato para as implementar, como constariam do
seu programa de governo.
As críticas e o argumento são insubsistentes. As agências cumprem a lei e os contratos; se o fazem
devidamente, é questão posta ao seu controlador, o Congresso, e ao seu revisor, o Judiciário.
Nenhuma das normas, legais ou infra-legais que traçam diretrizes que tais órgãos devem seguir, foi
por eles editada: ou estão nas leis que os criaram, ou nos decretos do Executivo, ou nas decisões dos
conselhos consultivos ligados a esses órgãos reguladores. A sua vez, "política pública" é um
conceito barateado ao extremo na cena nacional, a ponto de ser identificado à vontade singular do
governo, quando, na verdade, significa um conjunto de normas legais (votadas pelo Congresso) e
infra-legais (daquelas deduzidas), expedidas para possibilitar o alcance de um objetivo de eminente
interesse público, cabendo ao governo executá-las com a autonomia que elas lhe reservem.
Portanto, o governo não formula "políticas públicas" senão no limite que as normas legais o
permitam, ou ao enviar ao Congresso projetos que alterem normas existentes e as vir aprovadas.
Em nenhum regime democrático o presidente é eleito para agir pondo seu projeto de governo acima
das normas legais vigentes, mas sim para aplicá-las efetivamente, ou para alterá-las, sempre na
forma prevista, na ordem econômica inclusive. Esta é a regra prática da democracia. Por essa razão,
o povo, além do presidente da república, elege também seus representantes no Congresso. Assim é
o jogo da democracia.