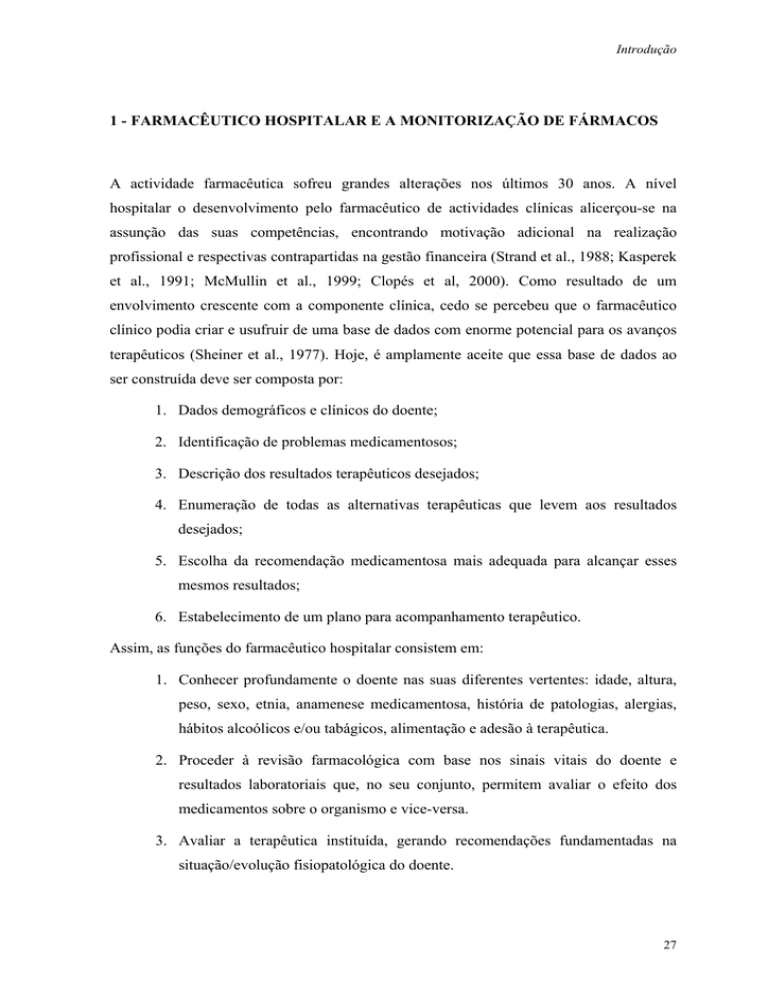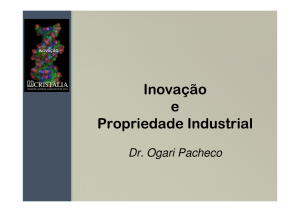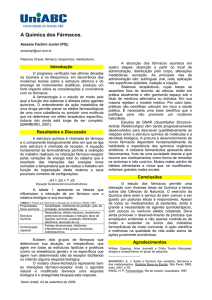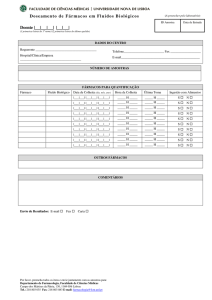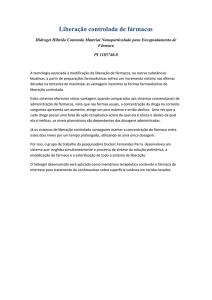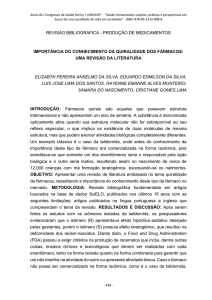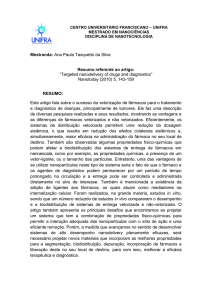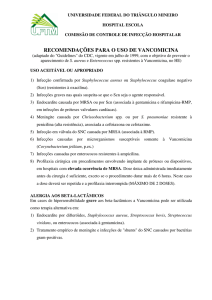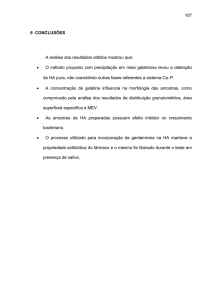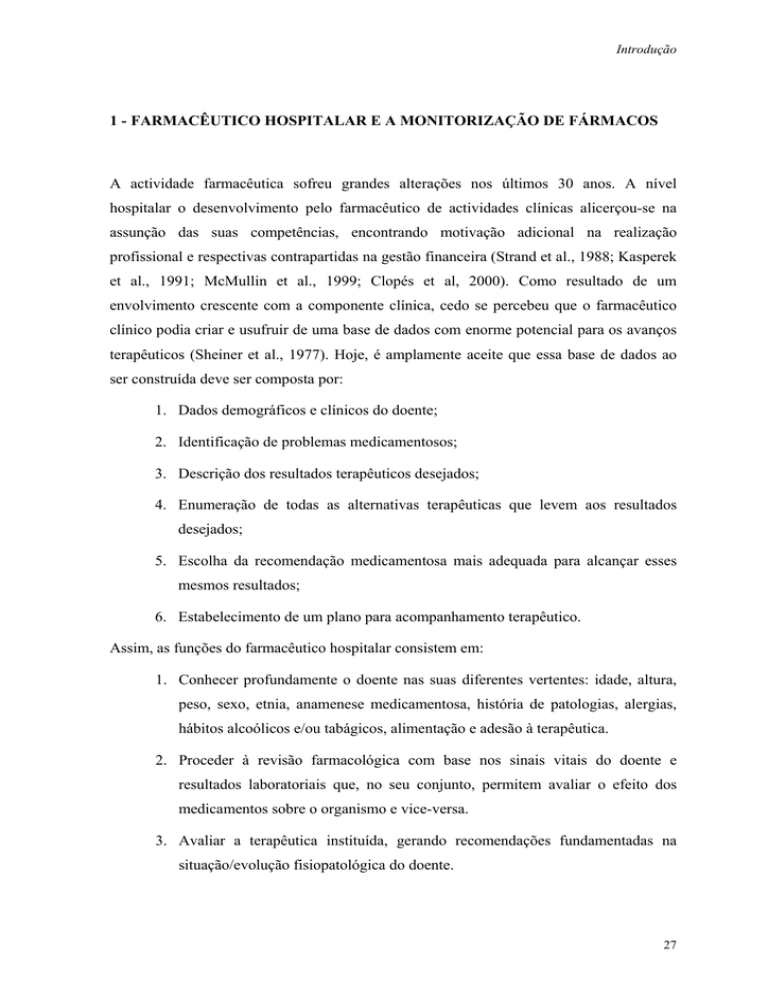
Introdução
1 - FARMACÊUTICO HOSPITALAR E A MONITORIZAÇÃO DE FÁRMACOS
A actividade farmacêutica sofreu grandes alterações nos últimos 30 anos. A nível
hospitalar o desenvolvimento pelo farmacêutico de actividades clínicas alicerçou-se na
assunção das suas competências, encontrando motivação adicional na realização
profissional e respectivas contrapartidas na gestão financeira (Strand et al., 1988; Kasperek
et al., 1991; McMullin et al., 1999; Clopés et al, 2000). Como resultado de um
envolvimento crescente com a componente clínica, cedo se percebeu que o farmacêutico
clínico podia criar e usufruir de uma base de dados com enorme potencial para os avanços
terapêuticos (Sheiner et al., 1977). Hoje, é amplamente aceite que essa base de dados ao
ser construída deve ser composta por:
1. Dados demográficos e clínicos do doente;
2. Identificação de problemas medicamentosos;
3. Descrição dos resultados terapêuticos desejados;
4. Enumeração de todas as alternativas terapêuticas que levem aos resultados
desejados;
5. Escolha da recomendação medicamentosa mais adequada para alcançar esses
mesmos resultados;
6. Estabelecimento de um plano para acompanhamento terapêutico.
Assim, as funções do farmacêutico hospitalar consistem em:
1. Conhecer profundamente o doente nas suas diferentes vertentes: idade, altura,
peso, sexo, etnia, anamenese medicamentosa, história de patologias, alergias,
hábitos alcoólicos e/ou tabágicos, alimentação e adesão à terapêutica.
2. Proceder à revisão farmacológica com base nos sinais vitais do doente e
resultados laboratoriais que, no seu conjunto, permitem avaliar o efeito dos
medicamentos sobre o organismo e vice-versa.
3. Avaliar a terapêutica instituída, gerando recomendações fundamentadas na
situação/evolução fisiopatológica do doente.
27
Introdução
Esta acção farmacêutica conduz a um aumento da eficácia, segurança, conforto,
conveniência e adesão a um regime terapêutico (Strand et al., 1988; Brown, 1991; Hawkey
et al., 1990; Bjornson et al., 1993; Scroccaro et al., 2000). No entanto, para que toda esta
acção seja desenvolvida de forma eficaz e completa, é necessário proceder a uma
monitorização contínua de todo o processo.
A monitorização terapêutica de fármacos é uma das actividades desenvolvidas pelo
farmacêutico hospitalar no âmbito da sua actividade clínica (Figura I 1). A sua
implementação promove a qualidade de vida do doente, conseguindo-se simultaneamente
uma optimização do custo-benefício associado à intervenção medicamentosa (Strand et al.,
1988; Bjornson et al., 1993; Riba et al., 2000).
Monitorização Terapêutica
Resolução do problema
com o prescritor
Documentação e
Registo do problema
com revisão diária
Aplicação de critérios de uso de
medicamentos e vigilância das
restrições.
Monitorização farmacocinética
Prescrição
Identificação do problema
Serviços Farmacêuticos
Monitorização Terapêutica
de Fármacos
Direcção Hospitalar
Contacto directo
com o doente
Informação
Comissões Hospitalares:
Farmácia e Terapêutica
Antibióticos
Oncológica
Nutrição
Higiéne
Farmacovigilância
Distribuição
Farmacêutico
Controlo dos Medicamentos
usados no hospital:
Formulário e adenda
Restrições de uso
Protocolos aprovados
Boletins informativos
Protocolos médicos escritos
Registo de reacções adversas
Auditorias
Figura I 1 – Organigrama de actividade farmacêutica na monitorização do uso de
medicamentos. (adaptado de Huntress et al., 1990)
28
Introdução
Os principais candidatos a uma monitorização terapêutica mais apertada incluem doentes
com as seguintes características: (Riba et al., 2000):
• Insuficiência renal;
• Idade superior a 65 anos (pela sua deterioração orgânica e politerapia);
• Medicados com fármacos com estreita margem terapêutica (monitorização
farmacocinética clínica);
• Sonda nasogástrica (adequar o medicamento à via);
• Antibioterapia com mais de 10 dias de tratamento;
• Terapia parenteral em doentes que toleram a via oral (passagem para via oral).
Uma das formas práticas de monitorização terapêutica é a revisão das prescrições, o que no
mínimo, mostra ser uma forma eficaz de prevenir erros de medicação; outra é a presença
do farmacêutico na enfermaria e na visita geral do serviço, pois aumenta a aceitação das
alterações terapêuticas propostas. Embora esta última acção dependa da capacidade do
farmacêutico estabelecer relações interpessoais (Leape et al., 1999). No caso concreto da
monitorização sérica de fármacos é fundamental esta relação de confiança para que haja
efeitos práticos, ou seja, boa aceitação das propostas efectuadas (Burkle, 1990; Ismail et al.,
1997).
1.1 - PERSPECTIVA HISTÓRICA
Tendo presente a frase de Voltaire proferida no século XVIII – “os médicos usam
medicamentos que conhecem pouco para tratar doenças que conhecem menos em pessoas
que não conhecem nada”, pode dizer-se que se avançou alguma coisa em qualquer uma
destas áreas, mas os conhecimentos em farmacoterapia ainda estão longe de serem óptimos.
Na realidade, continuam a existir franjas populacionais que são grupos “órfãos
terapêuticos” (Smith, 1977; Shirkey et al., 1983), para os quais a monitorização de
fármacos é um passo essencial para a optimização terapêutica, especialmente para
medicamentos que apresentam um índice terapêutico baixo (Weber et al., 1993).
Com a instituição da determinação de concentrações séricas de um medicamento no
sentido de se proceder à optimização do regime posológico de um indivíduo, nasceu a
chamada monitorização terapêutica de fármacos.
29
Introdução
Por monitorização sérica de fármacos entende-se, então, a utilização conjunta de
concentrações séricas e critérios farmacocinético-farmacodinâmicos, com o objectivo de
optimizar os regimes farmacoterapêuticos com vista à individualização posológica
(Maddox, 1987). De uma forma geral, a monitorização das concentrações séricas de um
fármaco e respectiva individualização posológica encontra-se favorecida quando se
conjugam factores que dificultam enormemente a uniformização dos regimes
farmacoterapêuticos, tais como, a existência de uma estreita margem terapêutica, elevada
variabilidade inter e/ou intra-individual nos processos de disposição, e condições
fisiopatológicas que possam estar na origem de alterações farmacocinéticas e/ou da
resposta farmacológica (Matzke et al., 1983; Maddox, 1987; Weber et al., 1993).
Assim, a utilização de regimes posológicos uniformizados capazes de originar
concentrações séricas situadas dentro das margens terapêuticas definidas para cada
fármaco e respectiva patologia associada, independentemente das características
demográficas e clínicas dos doentes, constituiria a situação ideal de um ponto de vista
prático. No entanto, para que tal acontecesse, seria necessário que não existissem fontes de
variabilidade inter e intra-individual, razão pela qual se verifica que na prática clínica um
determinado regime posológico que origina uma resposta adequada num grupo importante
de doentes, pode revelar-se insuficiente nalguns casos, sendo ainda responsável pelo
aparecimento de efeitos secundários indesejáveis noutros doentes (Bauer, 1983). Por este
motivo, para que se possa garantir a eficácia e a segurança de um qualquer regime
farmacoterapêutico
torna-se
fundamental
o
desenvolvimento
do
conceito
de
individualização posológica (McLeod et al., 1985).
Considerando que a concentração sérica de um fármaco reflecte a sua presença na biofase,
uma vez conhecida essa relação, facilmente se compreende como a utilização de critérios
farmacocinéticos capazes de caracterizar os processos de absorção, distribuição e
eliminação dos fármacos poderá contribuir para uma individualização terapêutica (Aranda
et al., 1980; Spector et al., 1988). Adicionalmente, a monitorização sérica de fármacos,
para além de permitir uma melhor definição de regimes posológicos adaptados às
especificidades de cada doente, contribui também para uma mais correcta documentação
de alterações fisiopatológicas inerentes ao próprio evoluir do tratamento (Gal, 1988;
Walson et al., 1989).
Por esse motivo, não basta apenas a determinação sérica de um fármaco, sendo igualmente
necessária a avaliação da funcionalidade orgânica do indivíduo e da terapêutica instituída
30
Introdução
(Gilman, 1990). Este aspecto é particularmente importante para os escalões etários mais
baixos, razão pela qual, a monitorização de fármacos e a farmacocinética clínica
constituem para a neonatologia um desafio constante face à maturação contínua que neste
grupo se opera, havendo alterações rápidas e diárias (Gilman, 1990; Notarianni, 1990).
A revisão das pautas posológicas em recém-nascidos internados em cuidados intensivos
mostrou que os bebés com menos de 1 kg recebem cerca de 15 a 20 medicamentos e os que
têm peso superior a 2,5 kg cerca de 4 a 10 medicamentos durante o seu período de
internamento. Obviamente que a monitorização terapêutica é extremamente necessária
nesta população (Soldin et al., 2002).
Não esquecer que no recém-nascido, a monitorização de fármacos, embora promissora e de
reconhecida utilidade para o clínico, é especialmente complicada devido ao facto de se
tratar de um escalão etário onde os indivíduos apresentam uma enorme instabilidade e
complexidade, diminuindo dessa forma, consideravelmente, a capacidade preditiva dos
regimes posológicos entretanto sugeridos. Assim sendo, subjacente à monitorização de
fármacos em neonatologia podemos encontrar vários motivos (Tabela I 1).
Tabela I 1 - Monitorização de fármacos em recém-nascidos.
•Avaliação da biodisponibilidade.
•Fármacos com estreita margem terapêutica.
•Variabilidade inter e intra-individual no comportamento
farmacocinético-farmacodinâmico dos fármacos.
•Identificação de interacções.
•Suspeita de toxicidade em consequência de alterações
fisiopatológicas.
•Insuficiência funcional (hepática ou renal).
•Avaliação da exposição do recém-nascido no período perinatal.
•Auditoria da Unidade de Monitorização de Fármacos.
(Adaptado a partir de Giacoia, 1990)
31
Introdução
1.2 - REQUISITOS PARA CORRECTA MONITORIZAÇÃO DE FÁRMACOS
Sempre que se proceda à monitorização de fármacos é essencial colocar em prática um
programa com uma metodologia e técnica analítica capazes de garantir a praticabilidade
(resultados em tempo útil de um ponto de vista clínico) e fiabilidade (exactidão, precisão,
especificidade e sensibilidade) dos resultados. Acresce a conveniência de que todo o
processo demonstre ser economicamente viável (Blackbourn et al., 1987; Ambrose et al.,
1988).
Para isso, é necessário existir protocolos de monitorização de fármacos que envolvam e
condicionem a actuação de todo o corpo clínico nesta área, aumentando-se a rentabilidade
associada ao uso deste meio de optimização da terapêutica. A obtenção de concentrações
séricas com significado clínico vai depender de diferentes factores, como (Levin et al.,
1981; Dominguez-Gil, 1987; Soldin et al., 2002):
1. Disponibilidade de técnicas analíticas que cumpram as exigências requeridas, ou seja,
os critérios de fiabilidade (exactidão, precisão, especificidade e sensibilidade), e critérios
de praticabilidade. No caso dos recém-nascidos, a principal limitação reside na obtenção
de amostras (fácil deterioração capilar, transfusões por recolhas múltiplas ou de volumes
superiores a 8 mL) (Aranda et al., 1980; Dominguez-Gil, 1987; Gilman, 1990)
2. Conhecimento da margem terapêutica do medicamento em análise. A sua utilização é
um aspecto absolutamente decisivo para que se possa proceder a uma programação
posológica, funcionando como se de um alvo se tratasse, devendo os cálculos respectivos
ser efectuados em função das concentrações séricas que são pretendidas. Importa realçar
que a distância que separa um tratamento óptimo da sobre/infradosificação pode ser
bastante curta, sendo ainda mais problemática nos recém-nascidos pela escassez de
informação existente a este respeito (Tange et al., 1994).
3. Plano de recolha de amostras elaborado de acordo com o fármaco em análise. Esta
informação deve chegar a toda a equipa clínica envolvida em suporte escrito para
consulta em caso de necessidade (Ambrose et al., 1998a; Gatta et al., 1989; Carroll et al.,
1992).
4. Informação suficientemente documentada relativamente às características do doente,
para que a determinação de parâmetros farmacocinéticos individuais e a posterior
32
Introdução
programação e/ou reajuste da posologia possa ser bem sucedida (Taylor et al., 1985;
Dominguez-Gil, 1987).
5. Informação relativa ao tratamento (duração, doses de choque, via, velocidade, tempo,
dose, local e frequência de administração, e medicação associada), e à situação clínica do
doente (diagnóstico, vómitos, diarreia, resíduos gástricos, outras patologias associadas,
início do tratamento, tempo de amostragem), para que os resultados obtidos por
monitorização de concentrações séricas possam ser adequadamente interpretados
(Dominguez-Gil, 1987; Walson et al., 1989).
6. Criação de uma base de dados, pois esta vai constituir uma importante fonte de
informação para estudos retrospectivos sobre a população analisada (Taylor et al., 1985;
Gatta et al., 1989; Weber et al., 1993). Ao mesmo tempo a comunicação dos valores das
concentrações séricas encontradas e os possíveis acertos posológicos devem ser
fornecidos à restante equipa de saúde por escrito (Burkle, 1990).
7. Eficácia na resposta, requisito fundamental para a aceitação de um serviço de
farmacocinética clínica (McLeod et al., 1985; Burkle, 1990).
1.3 - FARMACOCINÉTICA CLÍNICA
A aplicação de princípios farmacocinéticos na prática clínica através de uma abordagem
multidisciplinar é, actualmente, aceite pelos profissionais de saúde em geral. O seu
reconhecimento enquanto meio auxiliar de diagnóstico (é este normalmente o seu
enquadramento) constitui uma ferramenta adicional para o estabelecimento de regimes
farmacoterapêuticos apropriados. Contudo, a interpretação e utilidade das concentrações
séricas é bastante mais complexa quando comparada com as restantes provas analíticas. O
médico pode pedir determinações de níveis séricos sem uma base racional para a sua
utilização, analisar resultados de amostras extraídas incorrectamente e utiliza-los
inadequadamente nas suas decisões terapêuticas.
Surge assim a necessidade de existir um serviço especializado capaz de estabelecer
critérios de monitorização e farmacocinética clínica. Os resultados obtidos pelos Serviços
Farmacêuticos quando implementam estes serviços estão amplamente documentados como
sendo efectivos (Taylor et al., 1985). Isto deve-se principalmente a dois factores:
33
Introdução
1. Capacidade para reduzir o número de determinações inapropriadas de níveis séricos;
2. Excelente capacidade de correcção posológica baseada numa correcta avaliação dos
níveis séricos, o que se traduz numa redução de doentes infra ou sobredosificados e
consequentemente melhor resposta terapêutica (Calvo et al., 1992).
De um Serviço de Farmacocinética Clínica espera-se que:
1. Elabore pautas posológicas para diferentes fármacos em função de parâmetros
farmacocinéticos populacionais próprios ou recolhidos na bibliografia;
2. Proceda a correcções posológicas sempre que necessário;
3. Avalie as causas que conduzem, em certas ocasiões, a respostas inesperadas
(toxicidade ou ausência de resposta terapêutica);
4. Elabore pautas posológicas para tratamentos em situações especiais (doentes com
insuficiência renal, diálise, intoxicações medicamentosas, etc.);
5. Esteja apto a fornecer informação sobre todos os aspectos relacionados com a
farmacocinética;
6. Tenha capacidade de participação em estudos de investigação;
7. Realize actividade docente dirigida a qualquer um dos elementos da equipa de
saúde e até ao doente, tendo sempre presente a optimização da utilização dos
medicamentos.
Na prática clínica a monitorização farmacocinética torna-se assim um meio auxiliar na
optimização dos cuidados de saúde prestados ao doente. Por outro lado, será bom não
esquecer que os fármacos são substâncias exógenas cuja concentração num determinado
momento vai depender da dose e das taxas de incorporação e eliminação, sem esquecer que
o seu comportamento cinético é idade-dependente (Tabela I 2) (Uges et al., 1987; Calvo et
al., 1992). Contudo, é necessário ter presente que o valor de um nível sérico não representa
uma observação superior à clínica, apenas nos dá uma visão objectiva de um aspecto
concreto do tratamento (Uges et al., 1987; Calvo et al., 1992). No entanto, pode atingir um
valor diagnóstico muitas vezes ignorado, o que é uma pena, uma vez que a leitura atenta de
determinadas oscilações nos parâmetros farmacocinéticos individuais poderá permitir
detectar e/ou prever o aparecimento de certos processos patológicos.
34
Introdução
Tabela I 2 – Factores capazes de influenciar as concentrações séricas de um medicamento.
Factores de que dependem os níveis séricos
Geral
Neonatologia
Observações
Mesma dose diferentes níveis
séricos para via:
Via de
Administração
• Oral
• IV bolús
• IV infusão
• IM
• SC
Para além das anteriores
juntar:
• Volume muito
reduzido por via
IV.
(Gilman, 1990)
(Bauer et al., 1983)
Pauta posológica
Biodisponibilidade
Distribuição
tecidular
Dose e intervalo instituído.
Afectada pelas características físico-químicas, formulação,
interacções medicamentosas e pelas características
fisiopatológicas do doente.
(Bauer et al., 1983).
Afectada pelas características:
Modelos farmacocinéticos com múltiplas
variáveis: idade, peso, superfície corporal,
clearance e recentemente massa corporal
sem gordura.
(Morgan et al., 1994; Avent et al., 2002)
Atenção à fracção do medicamento que
chega à corrente sanguínea após
administração extravascular.
• farmacocinéticas do medicamento;
• fisiopatológicas do doente.
(Bauer et al., 1983)
Afectada pelas características:
Para além das anteriores
juntar:
• farmacocinéticas do
medicamento;
Clearance
• grande
imaturidade da
• fisiopatológicas do doente.
função renal.
(Bauer et al., 1983)
Os fármacos que comprovadamente são ritmo-dependentes,
vão reflectir este facto nas suas características cinéticas ou
de biodisponibilidade. (Gilman, 1990)
Características
Há estudos que mostram melhores respostas ao medicamento
circadíanas
quando este é administrado à noite, existindo
correspondência dessa eficácia com as concentrações séricas
encontradas. (Soldin et al., 2002).
Possível interferência
de substâncias
imunoreactivas na
Dependem do protocolo de
determinação sérica.
Metodologia
amostragem aplicado.
(Gilman, 1990)
aplicada
Número de amostras a
efectuar.
(Mahmood, 2003)
Uso do peso corporal,
Os parâmetros farmacocinéticos
ou combinado com o
são idade-dependentes.
coeficiente da
Variáveis genéticas ou tipo de
impedância para cálculo
Características
raça alteram o comportamento
da dose.
fisiológicas
cinético de um medicamento.
(Smythe et al., 1990;
(Matzke e tal., 1990)
Soldin et al., 2002;
Lingwood et al., 1999)
Para além das anteriores
Doenças que obrigam a
juntar:
alterações de dose são: IR, IH e
IC.
•
ducto arterioso,
Patologias
(Matzke e tal., 1990)
apneia de stress do
associadas
Mas também neoplasias,
recém-nascido,
infecções agudas graves.
enterocolite
(Gatta et al., 1993)
necrosante.
IR – insuficiência renal; IC – insuficiência cardíaca; IH – insuficiência hepática.
Resulta da relação das concentrações
séricas no estado de equilíbrio e da
posologia estabelecida para o medicamento.
(Bauer et al., 1983)
Estudos na área da cronofarmacocinética
mostraram que há medicamentos cujo o
comportamento cinético é afectado pelo
ritmo de alterações dos sistemas biológicos.
(Matzke e tal., 1990)
Erros metodológicos capazes de influenciar
o cálculo dos parâmetros farmacocinéticos:
inadequados tempos de amostragem,
presença de metabolitos activos, uso
inadequado de técnica analítica.
(Dominguez-Gil, 1987)
A clearance vai depender da função renal,
função hepática e ligação às proteínas
plasmáticas, enquanto o volume de
distribuição está dependente da frequência
cardíaca, sistema circulatório, peso corporal
seco que são todas elas covariáveis idade-dependentes.
(Schumacher, 1980; Soldin et al., 2002)
Os estudos de algumas destas situações
clínicas envolveram poucos doentes, e por
isso, necessitam de futuras investigações
nesta área.
(Matzke et al., 1990; Ordovás et al., 1994;
Romano et al., 1999)
35
Introdução
Sendo certo que uma criança não é um adulto em ponto pequeno, convirá ter sempre
presente que a relação dose-concentração-efeito não tem por que ser directamente
transposta dos adultos para as crianças (Gilman, 1990). Assim sendo, facilmente se
compreende a extrema importância dos estudos relativos ao comportamento cinético dos
fármacos em recém-nascidos (Uges et al., 1987).
Na verdade, estudos já efectuados vieram demonstrar que o intervalo de concentrações
séricas eficazes para o recém-nascido é muitas vezes diferente do estabelecido para o
adulto, devido a um conjunto de factores que vão desde os diferentes níveis de receptores,
perfil metabólico, ligação às proteínas plasmáticas, capacidade de eliminação, entre outros
factores (Gilman, 1990; Koren et al., 2003).
Caracterizando-se esta população pela contínua evolução do seu grau de maturação
fisiológica, o controlo de alterações farmacocinéticas atribuídas à idade é uma das
vantagens mais importantes na monitorização de fármacos em pediatria (Fonseca et al.,
1990; Soldin et al., 2002), como se constata relativamente à gentamicina e à vancomicina
(Tabela I 3). Ainda de acordo com alguns autores, os fármacos para os quais se exige a sua
monitorização em neonatologia por rotina são os que constam da Tabela I 4.
A instituição da monitorização de fármacos em neonatologia deve ter em consideração
todos os pontos já anteriormente mencionados e ainda o facto de estarmos perante um
grupo de doentes com características particulares. Quer do ponto de vista prático em que
existem dificuldades clínicas acrescidas, que incluem incerteza do diagnóstico, ausência de
sinais ou sintomas de doença, falta de comunicabilidade por parte do doente quanto à dor
ou ao efeito do medicamento, e ainda limitações de amostragem (Walson et al., 1989), quer
do ponto de vista legal onde se colocam questões éticas e de autorização parenteral para
realização desses protocolos (Long et al., 1987; Soldin et al., 2002)
36
Introdução
Tabela I 3 – Diferentes estimativas de parâmetros farmacocinéticos de aminoglicósidos e vancomicina em recém-nascidos.
Covariaveís estudadas para
Referências
N
Covariaveís estudadas para
Análise dos dados
CL
Tréluyer et al., 2000
Análise dos dados
CL
Vd
Vancomicina:
28
IPC
(Amicacina)
Vervelde et al., 1999
Nº
Vd
Aminoglicósidos:
Kenyon et al., 1990
Referências
34
IG, peso
Regressão linear
Monocompartimental aberto
Schaible et al., 1986
11
Populacional (NPEM)
Monocompartimental aberto
James et al., 1987
20
Cr, peso, IG, IPN, IPC
Populacional (LAGRAN)
Populacional (Nonlin)
Monocompartimental
IPC, Peso, Cr
124
IPN, peso, Cr,
Apgar
Não encontrado
Populacional (NPML)
Monocompartimental aberto
Kildoo et al., 1990
15
Crp, peso, IG, IPN, IPC
Populacional (Drug Model)
Bicompartimental
Bafalluy et al., 2001
117
Peso nascer,
Clcrea
Peso actual, IG
Populacional (NONMEM)
Seay et al., 1994
192
Ventilação, bicarbonato Na, dobutamina,
dopamina, aminoglicósidos, teofillina,
indometacina, IG, Apgar, peso, Cr
Populacional (NONMEM)
Mono e bicompartimental
Touw et al., 2001
24
Peso nascer, IG, PDA
Populacional (Kinpop)
Monocompartimental aberto
Pawlotsky et al., 1998
53
IPC, peso
IG, peso
Populacional (NPEM)
Monocompartimental aberto
Silva et al., 1998
44
PDA, ventilação,
peso, IPC
Populacional (NPEM)
Monocompartimental aberto
Grimsley et al., 1999
59
Infecção, deficiência cardíaca, ventilação,
tipo alimentação, peso, IPN, IG, Cr, sexo,
dopamina, Apgar 5
Populacional (NONMEM)
Mono e bicompartimental
Populacional (MW|PHARM e
NPEM)
Monocompartimental aberto
Hoog et al., 2000
108
Peso, IPC, IPN, corticóide antenatal
Populacional (NONMEM)
Monocompartimental
(Netilmicina)
Bleyzac et al., 2001
(Amicacina)
Hoog et al., 2002
(Tobramicina)
131
IG, corticóides
antenatal,
indometacina,
asfixia, Apgar,
206
Stolk et al., 2002
177
DiCenzo et al., 2003
139
Lanao et al., 2004
97
Peso, IG, Apgar 5,
indometacina
Peso nascer, IG,
indometacina,
Cr
IG
IG, IPN, IPC, peso nascer
Indometacina,
IPC, peso
Regressão multipla
Monocompartimental
Populacional (WinNonlin)
Monocompartimental aberto
Populacional (WINNONMIX)
Monocompartimental aberto
CL = Clearance; Vd = Volume de distribuição; IG = idade gestacional; IPN = idade pós-natal; IPC = idade pós-concepcional; Cr = creatinina sérica; Clcrea= clearance creatinina; PDA = presence de ducto arterioso;
NPEM = nonparametric estimation of maximisation method; NPML = nonparametric maximum likelihood method; NONMEM = nonlinear mixed effect model; MW|PHARM=iterative two-stage Bayesian fitting
procedure.
37
Introdução
Tabela I 4 – Fármacos a monitorizar por rotina em recém-nascidos.
Fármaco
Situação clínica
Amostragem após
infusão IV
Concentrações séricas
(μg/mL)
Margem
terapêutica
Valores
críticos
Aminoglicósidos:
-Gentamicina,
tobramicina,
netilmicina,
Suspeita ou tratamento
de sépsis
-Amicacina
Pico: 1h após
Vale: 0,5h antes da
próxima administração
Pico: 6 - 10
>12
Vale: 0,5 -2
>2
Pico: 20 – 30
>30
Vale: 2,5 - 10
>10
Suspeita ou tratamento
de sépsis
Pico: 1h após
Pico: 20 – 40
>50
Vale: 0,5h antes da
próxima administração
Vale: 5 - 10
>10
Teofilina
Apneia
Vale: 0,5h antes da
próxima administração
Vale: 5 - 10
>20
Cafeína
Apneia
Vale: 0,5h antes da
próxima administração
Vale: 5 - 30
>36
Digoxina
ICC, arritmia
Vale: 0,5h antes da
próxima administração
Vale: 0,5 – 2,0*
>2,4*
Vancomicina
Tonturas, encefalopatia Vale: 0,5h antes da Vale: 15 - 40
>60
isquémica
próxima administração
* ng/mL; ICC – insuficiência cardíaca congestiva. (Adaptado a partir de Koren, 1997 e Polsderfer, 2002)
Fenobarbital
38
Introdução
2 - NEONATOLOGIA
Em 1960 Alexander J. Schaffer fala pela primeira vez de “neonatologia” e
“neonatologistas” como uma arte e ciência de diagnóstico e tratamento de doenças no
recém-nascido. Nasce assim uma nova sub-especialidade pediátrica dedicada a prestar
cuidados aos recém-nascidos (Cone et al., 1980).
Os partos assistidos a nível hospitalar atingem percentagens cada vez mais elevadas nos
países desenvolvidos, atingindo-se os 90% dos bebés caucasianos em alguns destes países
em 1970 (por contraposição com os 60% que se verificavam em 1940). Este aumento de
partos a nível hospitalar permite aos médicos aumentar os seus conhecimentos e
experiência sobre os cuidados a prestar ao recém-nascido (Cone et al., 1980).
Rapidamente se redobraram esforços no sentido de se diminuirem as taxas de mortalidade
que eram muito elevadas nas primeiras décadas do século XX. Com o avanço dos cuidados
obstétricos e do conhecimento sobre o recém-nascido aumenta a capacidade de cuidar dos
prematuros com maior sucesso. Em 1948 foi adoptada, na primeira reunião da Assembleia
Geral de Saúde, a definição de prematuridade como todo o recém-nascido com peso ao
nascer ≤2500g. Uma década mais tarde a OMS propõe substituir esta definição por “baixo
peso ao nascer” ao verificar-se que o crescimento ao longo da gestação não é constante,
existindo muitos bebés de gestação de termo com peso ao nascer ≤2500g. Cedo se
percebeu que o conhecimento da idade gestacional em conjunto com o peso ao nascer era
de grande utilidade no prognóstico da sobrevida do bebé, uma vez que ambas estão
fortemente correlacionadas (Cone et al., 1980; Lorenz, 2001).
Os avanços ocorridos na última década a nível da perinatologia e neonatologia alterou
profundamente as taxas de sobrevida dos recém-nascidos, sobretudo no que diz respeito a
bebés com extrema prematuridade (≤26 semanas de idade gestacional e muitas vezes com
muito baixo peso ao nascer <1000g). Os registos indicam taxas de sobrevida para 22, 24 e
26 semanas de idade gestacional que atingem os 21, 59 e 93% respectivamente (Gortner,
1993; Bond et al., 1999; Lorenz, 2001).
A sobrevivência de bebés de grande prematuridade coloca aos neonatologistas problemas
no seu desenvolvimento, devido à sua elevada imaturidade orgânica. Por tudo isto, a
neonatologia caracteriza-se pelo uso de equipamento sofisticado nas Unidades de Cuidados
Intensivos de Recém-Nascidos (UCIRN), tratamentos médicos agressivos e aumento da
39
Introdução
sobrevida dos recém-nascidos prematuros enquanto índice de qualidade do próprio sistema
de saúde, ao mesmo tempo que permite um incremento dos conhecimentos a todos os
níveis (fisiologia, patologia e farmacologia) neste escalão etário (Guignard et al., 1986;
Paap et al., 1990).
Medidas sociais, avanços na obstetrícia e neonatologia, reduziram drasticamente a
mortalidade perinatal, confrontando-nos com uma população de características bem
definidas e que apresenta diferenças significativas nos processos de disposição dos
fármacos comparativamente aos restantes sub-grupos pediátricos (Tabela I 5) e,
especialmente, tendo o adulto normal como padrão de referência, para igual regime
farmacoterapêutico (Bleyer, 1977).
Tabela I 5 - Terminologia e limites de idade utilizados em pediatria.
Terminologia
• Recém-nascidos:
Limites de idade
Idade pós-natal de 0 – 28 dias
o Prematuro:
- Grande prematuro
- Extrema prematuridade
Idade gestacional ≤ 36 semanas
Idade gestacional 27-29 semanas
Idade gestacional ≤ 26 semanas
o Termo
Idade gestacional 37 - 42 semanas
(média 40 semanas)
• Lactentes
1 – 12 meses
• Crianças em idade pré-escolar
1 – 4 anos
• Crianças em idade escolar
5 – 12 anos
• Adolescentes
12 – 18 anos
• Adulto
> 18 anos
(Adaptado a partir de Stewart et al., 1987; Murray et al., 1989; Gortner et al., 1991 e Krauss, 2004)
As principais diferenças farmacológicas que podem ser encontradas entre o recém-nascido
e o adulto são fundamentalmente devidas à componente fisiológica com reflexo no grau de
maturidade funcional dos diferentes órgãos (Figura I 2). Em geral, no recém-nascido de
40
Introdução
termo e, mais ainda, no de pretermo ou prematuro, o desenvolvimento das diferentes
funções orgânicas ainda não está finalizado, sendo visível a existência de rápidas
alterações a esse nível no período pós-natal.
9 Volume distribuição aumentado;
9 Aumento permeabilidade da pele;
conjuntiva e barreira hemato-encefálica
Rápido crescimento
tecidular
9 Função renal diminuída;
9 Alteração na ligação às proteínas
plasmáticas; metabolismo hepático
e absorção
Figura I 2 – Multiplicidade de factores que condicionam a disposição dos
fármacos nos recém-nascidos.
Estas diferenças fisiológicas contribuem decisivamente para alterações farmacocinéticas
importantes, condicionando, inevitavelmente, os processos de absorção, distribuição,
metabolismo e excreção dos fármacos. Adicionalmente, alterações na sensibilidade aos
fármacos e/ou número de receptores existentes entre o recém-nascido (principalmente o
prematuro e grande prematuro) e o adulto, condicionam igualmente a relação entre a dose
administrada e a resposta farmacológica obtida, sendo esta susceptibilidade do recém-nascido explicada, genericamente, pela imaturidade dos mecanismos que governam a
natureza, a intensidade e a duração da acção dos fármacos (Bleyer, 1977; Murray et al.,
1989).
2.1 - FISIOLOGIA DO RECÉM-NASCIDO
No útero, o feto está imerso em água, os pulmões estão repletos de líquido, a pele é porosa
e tem falta de queratina, o fluxo urinário é elevado e a capacidade de concentração é
limitada. Após o nascimento, passa para um meio gasoso e de baixa humidade (Modi,
2004).
Logo, os primeiros momentos de vida extra-uterina caracterizam-se por uma profunda
adaptação do bebé às novas condições ambientais, o que provoca várias batalhas
41
Introdução
fisiológicas diárias levadas a cabo a nível das funções cardiorespiratória, renal e da
produção de energia e alimentação (Tabela I 6) (Nelson, 1980).
Tabela I 6 - Adaptação à vida extra-uterina.
• Estabelecimento da ventilação e manutenção da capacidade residual
do pulmão (absorção do líquido do pulmão).
• Conversão da circulação fetal em neonatal.
• Recuperação da asfixia do nascimento.
• Manutenção da temperatura corporal.
• Regulação do balanço hemodinâmico.
• Produção de energia.
(Adaptado a partir de Murray et al., 1989)
Cada uma destas adaptações é constituída por uma história rica dentro do desenvolvimento
puramente fisiológico e da própria medicina (Tabela I 7).
Tabela I 7 – Sinais vitais no recém-nascido.
0-7 dias
Respiratória
(respiração/min.)
1–3
semanas
25-30
> 18 anos
16-20
Cardíaca
(batimentos/min.)
91-166
Pressão arterial
(sistólica/diastólica)
♀= 76-105 / 67-68
Óptima: <120 / 80
♂= 87-105 / 68-69
Normal: <130 / 85
107-182
70-80
(Adaptado a partir de Krauss, 2004)
Assim, em termos fisiológicos um recém-nascido apresenta características próprias que são
idade-dependentes e vão determinar decisivamente a sua resposta farmacoterapêutica.
Destas características convirá salientar a imaturidade da maior parte dos seus órgãos e o
42
Introdução
balanço hidroelectrolítico muito acentuado nas primeiras semanas de vida, tendo presente a
interdependência que os caracteriza.
2.1.1 - Função protectora da pele
Foi no início do século XX que os primeiros estudos mostraram a importância para o
recém-nascido do stress térmico, e logo foi percebida a importância das perdas insensíveis
de água no balanço energético. É esta geração de investigadores que dá origem às
primeiras incubadoras, e reconhece a importância da roupa nas perdas de calor pelo
prematuro (Nelson, 1980).
A maturação da pele é acelerada pelo nascimento e idade-dependente. Verifica-se que às
26 semanas de idade gestacional a epiderme ainda tem uma espessura muito fina, e o
estrato córneo só às 34 semanas se encontra completamente desenvolvido (Tabela I 8). A
perda de água no bebé prematuro vai ser ainda mais elevada que no bebé de termo,
podendo atingir-se perdas transepidermicas 10 a 15 vezes maiores. Em qualquer dos casos,
as perdas de água vão ser mais elevadas nos primeiros dias após o nascimento (Mancini et
al., 1994; Pabst et al., 1999; Hartnoll, 2003; Modi, 2004; Puthoff, 2004).
Tabela I 8 – Perdas transepidérmicas de água.
IG
(semanas)
IPN
(dias)
Perda de água
(mL/kg/dia)
24 - 25
1–2
140
3
105
28
56
26 - 32
15 - 21
12
> 32
-
12
IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal
(Adaptado a partir de Modi, 2004)
43
Introdução
Estas perdas de água pela pele devem-se não só à sua imaturidade, mas também à grande
superfície corporal apresentada pelo recém-nascido. E é um dos factores que vai contribuir
para o aumento da morbilidade por desidratação, alterações electrolíticas e instabilidade
térmica (Fann, 1998; Gaylord et al., 2001).
2.1.2 - Função cardiorespiratória
Após o nascimento a redução da resistência vascular pulmonar é um passo essencial para a
transição entre a circulação fetal e neonatal, o mesmo acontecendo com o fecho do ducto
arterioso (Nelson, 1980). As alterações pulmonares têm consequências noutros órgãos,
pelo que, no período perinatal, a asfixia ou a hipóxia pós-natal produzem uma diminuição
da maturação da função renal e hepática, e da permeabilidade do sistema nervoso central
(Kelly, 1987).
As mudanças no volume hídrico do recém-nascido têm outro dos papéis fundamentais no
suporte cardiocirculatório destes bebés (Evans, 2003). É preciso não esquecer que o
volume sanguíneo no recém-nascido de termo é só cerca de 85–110 mL/kg, diminuindo
para 50 mL/kg no prematuro (Long et al., 1987; Lingwood et al., 1999). Isto vai ter
influência directa no débito cardíaco do bebé, que é idade-dependente (Zaritsky et al.,
1984).
A estabilidade cardiovascular é essencial para a sobrevida do recém-nascido, mas a
flutuação da pressão arterial, sobretudo, nos prematuros é frequente (Cordero et al., 2002;
Puthoff, 2004). A hipotensão é comum nestes doentes, principalmente nos primeiros dois
dias de vida, o que afecta a diurese. É pois, muito importante a sua correcta monitorização
e tratamento (uso de inotrópicos como a dobutamina e de dopamina) para evitar sequelas
futuras e a mortalidade do recém-nascido (Zaritsky et al., 1984).
2.1.3 - Função gastrointestinal
A alimentação de um recém-nascido é um outro aspecto que muito cedo se evidenciou
como essencial para a adaptação e sucesso na sobrevida do prematuro. A importância de
um leite com baixas proteínas mas rico em alguns aminoácidos essenciais, em conjunto
com o conhecimento do papel da tirosina, vitamina C e do tipo de gorduras nas fórmulas
de nutricionais foi um passo importante na alimentação destes bebés (Nelson, 1980). A
44
Introdução
taxa metabólica no bebé é superior à do adulto porque apresenta uma maior superfície
corporal em relação à massa tecidular activa e há uma maior actividade de crescimento.
Isto conduz a uma maior produção de calor, perdas insensíveis de água e a um aumento da
necessidade de água para eliminar produtos de metabolismo (Fann, 1998).
O
tempo
de
esvaziamento
gástrico
e
a
motilidade
intestinal
encontram-se
significativamente diminuídos à nascença, sendo os valores do adulto atingidos apenas aos
6 ou 8 meses de idade (Morselli, 1989; Rylance, 1992; Krauss, 2004).
Já o pH do tracto gastrointestinal varia ao longo da vida pós-natal e em função da idade
gestacional (Rylance, 1992). O pH à nascença é neutro (6-8) devido ao líquido amniótico
residual do estômago, descendo depois a valores de 1,5 – 3,0 no espaço de algumas horas
(no prematuro não ocorre esta descida), voltando a ser neutro num período de tempo que
rondará as 24 horas (Uges et al., 1987; Besunder et al., 1988a; Morselli, 1989; Kraus,
1998). Nos 10 a 15 dias subsequentes, quer o prematuro quer o bebé de termo mantém uma
certa acloridria (Brown et al., 1989; Rowland, et al., 1989; Morselli, 1989). Só entre os 3 e
7 anos de vida o pH atinge os valores do adulto (Milsap et al., 1992).
A função biliar e a flora microbiana apresentam alguma instabilidade (Bleyer, 1977;
Murray et al., 1989). Nas primeiras horas após o nascimento começa a colonização por
diferentes espécies de bactérias, o que vai depender da alimentação, meio ambiente que
envolve o bebé e a sua idade. Estas mudanças ao longo do tempo vão afectar o seu
metabolismo (Rylance, 1992; Millar et al., 2003).
O recém-nascido que inicia os seus primeiros dias de vida nos cuidados intensivos vai
desenvolver uma flora intestinal anormal quando comparada com a do bebé saudável. Vai-lhe faltar o contacto com a microflora materna e microorganismos comensais habituais,
entrando em contrapartida em contacto com demasiadas coisas desinfectadas e
esterilizadas, por isso, colonizadas com outro tipo de flora (maior percentagem de gram-negativos). Um sinal desta situação é a análise do material fecal de um adulto onde é
possível encontrar 400 espécies de bactérias e de um recém-nascido internado numa
unidade de cuidados intensivos que apresenta apenas 20. Isto contribui, por exemplo, para
o desenvolvimento nestes bebés de enterocolite necrosante (Hoy et al., 2000; Millar et al.,
2003). A quantidade de enzimas gastrointestinais também se encontra diminuída podendo
daí resultar alguma interferência ao nível da absorção de algumas moléculas (Stewart et al.,
1987).
45
Introdução
2.1.4 - Proteínas Plasmáticas
Na Tabela I 9 podemos observar a tendência geral apresentada por diferentes grupos
etários (por comparação com a população adulta) relativamente a um conjunto de
parâmetros fisiológicos envolvidos, directa ou indirectamente, na ligação dos fármacos às
proteínas plasmáticas (Notarianni, 1990).
Tabela I 9 - Variáveis fisiológicas com intervenção na ligação fármaco-proteína*.
Parâmetro
Recém-nascidos
Lactentes
Crianças
• Proteína total
Diminuída
Diminuída
Equivalente
• Albumina
Diminuída
Equivalente
Equivalente
Presente
Ausente
Ausente
• Globulina
Diminuída
Diminuída
Equivalente
• Bilirrubina livre
Aumentada
Equivalente
Equivalente
• Ácidos gordos livres
Aumentados
Equivalente
Equivalente
Baixo
Equivalente
Equivalente
• Albumina fetal
• pH sanguíneo
*Comparação relativa entre população pediátrica vs adultos.
A quantidade de proteínas apresentada pelo recém-nascido é baixa sendo ainda menor no
prematuro (Gordjani et al., 1988; Notarianni, 1990). Relativamente à proteína com maior
representatividade plasmática, a albumina, os seus níveis dependem da idade gestacional
(29% nos primeiros sete dias de vida), aumentando os seus valores de uma forma bastante
acentuada após o nascimento, atingindo os valores do adulto ao quinto mês de vida extra-uterina. Por outro lado, até aos 3 meses de idade, o bebé apresenta grandes quantidades de
α-fetoproteína (albumina fetal que apresenta baixa afinidade para os fármacos). No seu
rápido declínio é substituída por albumina, o que volta a contribuir para a alteração da
cinética dos fármacos com ligação às proteínas plasmáticas (Notarianni, 1990).
A produção de bilirrubina no recém-nascido é bastante maior que no adulto, ao mesmo
tempo que a função hepática e renal tem menos capacidade de promover a sua remoção
(Notarianni, 1990). E nos primeiros dias de vida os níveis de ácidos gordos também são
46
Introdução
elevados (Rylance, 1992), competindo com a bilirrubina na ligação às proteínas
plasmáticas (Notarianni, 1990)
2.1.5 - pH sanguíneo
O pH sanguíneo no recém-nascido é mais baixo que no adulto (7,30 a 7,35 vs 7,40),
podendo baixar ainda mais na presença de hipóxia (7,20 a 7,25) (Notarianni, 1990).
2.1.6 - Função hepática
O fígado no recém-nascido tem um tamanho e fluxo sanguíneo superior ao do adulto, mas
a imaturação dos sistemas enzimáticos acaba por condicionar a taxa metabólica deste órgão
(Tabela I 10) (Murray et al., 1989; Morselli, 1989; Rylance, 1992).
Tabela I 10 - Características das enzimas hepáticas no recém-nascido.
Prematuro
Termo
Esterase
Diminuída
Menos diminuída que no
prematuro
Citocromo P450
Mais diminuída que no de
termo
Metade da actividade do
adulto
Glucoronoconjugação
Pouco desenvolvida
Pouco desenvolvida
Sulfatoconjugação
Mais desenvolvida
Mais desenvolvida
(Adaptado a partir de Rylance, 1992)
Os estudos indicam que a Fase I da metabolização (actividade oxidativa e citocromo P450)
ao nascer é de 30% a 50% dos níveis do adulto. Acresce que algumas vias metabólicas
com pouca expressão no adulto assumem o papel principal à nascença, podendo o perfil
metabólico de um fármaco vir completamente alterado, originando situações imprevisíveis
do ponto de vista de entidades químicas circulantes (qualitativa e/ou quantitativamente). A
Fase II (conjugações) desenvolve-se a partir do nascimento da seguinte forma: primeiro
sulfatoconjugação depois metilação e acetilação e por fim síntese amídica (em regra, com a
glicina).
47
Introdução
2.1.7 - Função renal
Estudos da função renal foram desenvolvidos desde 1940, podendo nesta altura afirmar-se que após o nascimento a função renal não se encontra completamente desenvolvida,
devido ao facto de o rim, tanto de um ponto de vista anatómico como funcional, se
apresentar imaturo (Arant Jr, 1978; Arant Jr, 1981; Hartnoll, 2003). Já as evidências
clínicas desta imaturidade incluem natriuresis, hipostenúria, glicosúria, fosfatúria,
albuminúria, bicarbunatúria e urina alcalina nos primeiros dias de vida (normalmente,
primeiros 3 dias). É possível que esta situação se mantenha por algumas semanas após o
nascimento em bebés de baixo peso ao nascer, e daí a importância da fluidoterapia nestes
casos uma vez que a principal função do rim é regular o volume e composição do fluído
extracelular (Arant Jr, 1981; Leititis et al., 1991; Haycock, 2003).
A função renal é pois idade-dependente, verificando-se uma maturação rápida no período
pós-natal, embora dependente também da idade gestacional e/ou pós-concepcional (Leake
et al., 1977; Gallini et al., 2000; Hartnoll, 2003). Por esse motivo, os bebés de termo têm
uma maturação mais rápida da função renal no período pós-natal, uma vez que apenas
durante a 34ª-36ª semana de gestação o rim se apresenta morfologicamente apto de um
ponto de vista funcional (Leake et al., 1977; Stewart et al., 1987; Murray et al., 1989;
Bueva et al., 1994; Kraus, 1998).
Naturalmente que a taxa de filtração glomerular é muito baixa no recém-nascido em
comparação com o adulto e vai variar conforme se trata de bebés de termo ou prematuros
(Arant Jr, 1978; Krauss, 2004; Drukker et al., 2002; Hartnoll, 2003). Assim, um bebé
prematuro tem uma taxa de filtração glomerular ao nascer de aproximadamente
0,7-0,8 mL/min, ou seja, cerca de 0,5% do adulto. Já num bebé de termo a taxa de filtração
glomerular situa-se entre 2-4 mL/min (10-20 mL/min/1,73m2), e aumenta para
20-30 mL/min/1,73m2 ao fim de duas semanas de vida (Murray et al., 1989; Krauss, 2004;
EMEA, 2004). É importante ter presente que durante os primeiros dias de vida do bebé,
independentemente da sua idade gestacional, as taxas de filtração glomerular encontradas
vão reflectir o estado transitório da função renal, estando mais influenciada pelos processos
adaptativos em curso que pelo real potencial da função glomerular. Esses processos
adaptativos envolvem as alterações hemodinâmicas e de composição corporal que ocorrem
nos primeiros dias após o nascimento (Leake et al., 1977; Lorenz et al., 1995).
48
Introdução
A nível tubular a imaturidade é ainda maior que a glomerular (Besunder et al., 1988a;
Murray et al., 1989), quer para a secreção quer para a reabsorção. Vários investigadores
demonstram nos seus estudos a baixa capacidade da função tubular para o transporte de
muitas substâncias neste grupo etário. É necessário não esquecer que os recém-nascidos
têm um baixo gradiente de concentração o que conduz a uma diminuída capacidade de
reabsorção. O bebé de termo, em resposta à eliminação de água, é capaz de aumentar a
osmolalidade da urina até a um máximo de 600 – 700 mOsm/kg, enquanto no adulto esta
capacidade atinge os 1200 mOsm/kg. Embora seja baixa esta capacidade de concentração
demonstrada pelo recém-nascido, mostra que possui capacidade para excretar sobrecargas
mínimas de um soluto que lhe esteja a ser administrado (Arant Jr., 1982; Rice et al., 2004).
Por outro lado, esta população tem um pH urinário baixo o que também vai afectar a
reabsorção de algumas substâncias, incluindo medicamentos (Arant Jr., 1978; Krauss, 2004;
Drukker et al., 2002).
2.1.8 - Balanço hidroelectrolítico
Analisando as quantidades relativas de água, músculo e gordura, assim como a distribuição
da água corporal pelos diferentes compartimentos, constatamos que existem diferenças
importantes em função do escalão etário considerado (Tabela I 11).
Tabela I 11 - Evolução da distribuição da água corporal em função da idade.
(valores expressos em percentagem)
Água corporal
Composição corporal
Grupo
etário
Água
total
Fluído
EC
Fluído
IC
Cérebro
Músculo
esquelético
Coração
Gordura
Feto
85
50
35
13
20
6
5
RC
80
45
35
12
25
5
16
Adulto
60
20
40
2
40
4
25
EC = Extracelular; IC = Intracelular; RC = Recém-nascido.
(Adaptado a partir de Friis-Hansen, 1961 e Murray et al., 1989)
49
Introdução
Está demonstrado que o volume extracelular em recém-nascidos se encontra melhor
correlacionado com o peso corporal do que com a idade gestacional. Ao ano de idade, o
volume extracelular diminui aproximadamente 26 a 30% do peso corporal, e depois do
primeiro ano decresce lentamente para na puberdade ser 20% desse mesmo peso, valor
idêntico ao do adulto. O líquido intracelular, por seu lado, vai aumentando com a idade
para atingir os 40% do peso corporal (Friis-Hansen, 1961; Stewart et al., 1987; Reed,
1989).
De grande relevância clínica é o facto de após o nascimento ocorrer uma abrupta
contracção seguida então por uma redução gradual da água corporal. Nos primeiros dias
após o parto, a perda de água ocorre a partir do espaço intersticial, é uma eliminação
isotónica, clinicamente evidente pela redução do peso corporal do recém-nascido (5 - 10%
do peso ao nascer). No bebé com baixo peso ao nascer esta redução pode ir até 10 - 20%
do peso (Lorenz et al., 1982 e 1997; Fann, 1998; Hartnoll et al., 2000; Modi, 2003).
Estudos realizados por Lorenz et al. (1982, 1995) constatam que a primeira semana de vida
do recém-nascido é caracterizada por três fases do fluxo urinário:
- fase pré-diurética: corresponde ao primeiro dia de vida e há formação mínima de
urina,
- fase diurética: ocorre no segundo e terceiro dia de vida do bebé, com
diurese/natriuresis elevadas e independentes da fluidoterapia administrada
(balanço negativo de sódio),
- fase pós-diurética: ao quarto ou quinto dia pós-natal, em que o fluxo urinário é
influenciado pelas alterações na fluidoterapia.
No fundo, trata-se de mais uma das respostas de adaptação do recém-nascido às novas
condições ambientais, e um pré-requisito para uma sobrevida com sucesso. Sabendo isto, é
fácil perceber a importância de manter a homeostase hidroelectrolítica no recém-nascido e
como é fácil provocar o seu desequilíbrio (MaClaurin, 1966; Guignard et al., 1986; Fann,
1998; Hartnoll et al., 2000; Modi, 2003; Bell et al., 2004).
Torna-se pois fundamental a monitorização deste balanço, podendo usar-se como
indicadores as mudanças diárias do peso do bebé, diurese, natriuresis e as concentrações
séricas de sódio, potássio e creatinina (Tabela I 12) (Guignard et al., 1986; Lorenz, 1997;
Hartnoll et al., 2000; Hartnoll, 2003; Lorenz, 2004; Modi, 2004).
50
Introdução
Tabela I 12 – Guia de parâmetros monitorizados com frequência em neonatologia.
IG
Testes
≤ 25
26 – 30
30 – 34
Na+, K+, Cl-,
Ca2+, Cr,
tCO2, glicose
≥ 34 com IV
Frequência
Cada 8-12h até estabilizar, depois
diário.
Cada 12-24h até estabilizar,
depois diário.
Cada 18-24h até estabilizar,
depois diário ou suspeita.
Cada 18-24h até estabilizar,
depois diário ou suspeita.
Volume
1 tubo com 0,6 mL
Indicadores do balanço hidroelectrólitico no período pós-natal imediato
Alterações diárias de peso
Sódio sérico
Volume urinário
Neste período perdas ou ganhos de peso são indicativos de excesso de
fluído
Hiponatrémia – indica excesso de água
Hipernatrémia – indica défice de água
< 1mL/kg/dia – indicia necessidade de investigação
2 – 4mL/kg/dia – necessária hidratação normal
> 6 – 7mL/kg/dia – indicia incapacidade de concentração urinária ou
excesso de fluidoterapia
Cuidados neste período
Furosemida
(tem baixa clearance, e uma t1/2
> 24h nos recém-nascidos com
IPC < 31 semanas)
Não administrar com as transfusões de 3mL/kg/dia em prematuros, pois
esta não aumenta o volume intravascular.
Não dar repetidamente em bebés oligúricos, e nos não oligúricos deve
respeitar-se um intervalo de 24h.
Doses repetidas podem conduzir a acumulação, ototoxicidade, nefrite
intersticial e ducto arterioso.
Persistência de ducto arterioso
Não restringir por rotina a fluidoterapia (pois pode comprometer-se o
estado nutricional do bebé), só se reduz quando há sinais de
sobrecarga hídrica.
IG- idade gestacional (semanas); IPC – idade pós-concepcional; IV – administração intravenosa; t1/2 – semi-vida de eliminação; Cr – creatinina; Na+ - sódio; K+ - potássio; Cl- - cloro; Ca2+ - cálcio; tCO2 – dióxido de
carbono total. (Adaptado a partir de Lorenz, 1997 e Modi, 2004)
51
Introdução
2.2 - FARMACOCINÉTICA NO RECÉM-NASCIDO
O termo farmacocinética que descreve as concentrações do fármaco ao longo do tempo no
organismo humano foi usado em pediatria pela primeira vez por F. Dost em 1953 (Barger
et al., 2003).
A quantidade de informação sobre a biodisponibilidade de medicamentos em recém-nascidos tem aumentado nos últimos anos, tendo sido descritas diferenças importantes
entre recém-nascidos prematuros, de termo e lactentes. Contudo, para muitos dos
medicamentos frequentemente usados neste grupo populacional, a informação existente
continua a não ser suficiente e/ou a influência dos processos de maturação funcional não se
encontra perfeitamente caracterizada, o que realça a importância da sua monitorização na
prática clínica (Rylance, 1992).
Relativamente à população pediátrica e independentemente do fármaco considerado,
devemos dedicar especial atenção à origem e desenvolvimento dos diferentes órgãos
envolvidos nos processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, não
esquecendo que estamos a lidar com processos dependentes da maturação fisiológica
(idade-dependentes).
No caso dos estudos farmacocinéticos desenvolvidos em recém-nascidos, os benefícios
obtidos são ainda mais evidentes, incluindo a progressiva eliminação do conceito de “orfão
terapêutico” e o fim da extrapolação de resultados provenientes de trabalhos de
investigação efectuados em grupos de doentes pertencentes a outros escalões etários (Uges
et al., 1987).
Resumidamente, os factores fisiológicos, patológicos e/ou farmacológicos susceptíveis de
afectar o perfil cinético dos fármacos no período neonatal podem ser apreciados na
Tabela I 13.
Para além destes aspectos que podem afectar a cinética do fármaco, temos de conhecer
também as suas propriedades físico-químicas para que se proceda a uma correcta análise
dos fenómenos de incorporação e disposição do fármaco (Tabela I 14).
52
Introdução
Tabela I 13 - Factores capazes de condicionar a disposição dos fármacos em
neonatologia.
Fisiológicos
Absorção
Distribuição
Metabolismo
Excreção
Patológicos
Farmacológicos
pH gástrico e intestinal
Tempo de esvaziamento
gástrico
Motilidade intestinal
Flora microbiana
Superfície de absorção
Produção de enzimas
gastrointestinais
Enterocolite necrosante
Emese
Diarreia
Perfusão vascular
Composição do organismo
Características de ligação
tecidular
Extensão da ligação às
proteínas plasmáticas
Choque
SDR
Sépsis
Acidose
Gastroenterites
Febre
Anemia , neutropenias
Glicocorticóides
Surfactante
Fluidoterapia
Nutrição assistida
Choque
SDR
Sépsis
Apneia
Ducto arterioso
Ventilação ssistida
Glicocorticóides
Surfactante
AINEs
Anti-cicloxigenase II
Dopamina
Medicação nefrotóxica
Concentração enzimática e de
co-factores
Alteração do fluxo sanguíneo
hepático
Fluxo sanguíneo renal
Área e natureza das
membranas glomerular e
tubular
pH da urina
Tabela I 14 - Propriedades físico-químicas capazes de influenciar a incorporação e
disposição dos fármacos.
• Peso molecular
• Grau de ionização
• Grau de lipossolubilidade
• Características de solubilidade
• Características de formulação:
•• velocidade de dissolução (formulações convencionais)
•• velocidade de libertação (formulações de libertação prolongada)
(Adaptado a partir de Stewart et al., 1987; Reed, 1989)
53
Introdução
2.2.1 - Absorção
Independentemente da via de administração considerada (oral, rectal, intra-muscular ou
tópica), a entrada de fármacos na corrente sanguínea, que caracteriza o processo de
absorção, dependerá sempre das propriedades físico-químicas das substâncias envolvidas.
Assumindo que essas propriedades podem ser razoavelmente bem conhecidas e se mantêm
inalteradas, existe ainda um conjunto de limitações associadas às características individuais
dos doentes capazes de dificultar a avaliação da correlação entre maturação funcional e
absorção do fármaco, donde se destacam:
• o rápido desenvolvimento dos sistemas biológicos (principalmente nos primeiros
dias/semanas/meses de vida);
• o facto da idade cronológica nem sempre reflectir a idade funcional;
• a dificuldade de usar métodos não-invasivos para a avaliação dos fenómenos de
absorção;
• a existência de variáveis exógenas nem sempre susceptíveis de serem
controladas (alimentação, postura corporal e alterações fisiopatológicas).
Via oral - A absorção só é semelhante ao adulto a partir dos 3 anos de idade (Brown et al.,
1989). São vários os factores idade-dependentes capazes de alterar a absorção dos
fármacos: o pH gástrico e intestinal, o tempo de esvaziamento gástrico, a motilidade
intestinal, a flora microbiana, a superfície de absorção, a maturidade e a permeabilidade da
mucosa intestinal, a função biliar e a produção de enzimas gastrointestinais (Milsap et al.,
1992; Koren, 1997).
Assim, a acloridria para alguns fármacos é favorável à sua absorção (ex. penicilinas), mas
para outros acaba por diminui-la (ex. rifampicina, fenobarbital e fenitoína). (Uges et al.,
1987; Rylance, 1992; Koren, 1997; Krauss, 2004). Já no que diz respeito à diminuição da
motilidade gastrointestinal, alguns fármacos apresentam um melhor perfil de absorção (ex.
cloranfenicol e penicilinas) (Bleyer, 1977; Stewart et al., 1987; Rowland, et al., 1989;
Koren, 1997), enquanto outros têm a sua absorção diminuída devido à falta de transporte
activo ou permeabilidade alterada (ex. digoxina e o fenobarbital) (Krauss, 2004). Os
valores da motilidade intestinal do adulto só são atingidos por volta dos 6 ou 8 meses de
idade (Morselli, 1989).
54
Introdução
No seu conjunto todas estas características fisiológicas idade-dependentes vão condicionar
a absorção de um fármaco por via oral, podendo observar-se na Tabela I 15 um resumo da
sua influência na biodisponibilidade dos fármacos por comparação com a população adulta.
Tabela I 15 - Características fisiológicas idade-dependentes susceptíveis de influenciar a
biodisponibilidade dos fármacos.
Características
fisiológicas
pH gástrico
Esvaziamento gástrico e
motilidade intestinal
Flora microbiana e
enzimas gastrointestinais
Ácidos biliares
Situação
Aumentado
Diminuído
Grupo etário
Recém-nascidos
Lactentes
Crianças (<4 anos)
Recém-nascidos
Lactentes
Efeito na
biodisponibilidade
Aumentada
(fármacos básicos)
Diminuída
(fármacos ácidos)
Imprevisível
Aumentado
Crianças
Variável
Recém-nascidos
Lactentes
Imprevisível
Diminuído
Recém-nascidos
Diminuída
(Adaptado a partir de Kelly, 1987 e Milsap et al., 1992)
O desenvolvimento de algumas situações patológicas adicionado às características
fisiológicas do recém-nascido vem tornar a avaliação da absorção dos fármacos mais difícil.
A título de exemplo temos o regurgitamento e vómito tão frequentes neste escalão etário
(Uges et al., 1987), o mesmo acontecendo com a presença de sonda nasogástrica em bebés
internados nos cuidados intensivos (Krauss, 2004).
Via rectal - Esta via de administração, potencialmente importante em doentes adultos
impedidos de utilizar a via oral, adquire uma dimensão completamente diferente quando
nos referimos à população pediátrica. A absorção por via rectal ocorre por difusão passiva,
tal como acontece na parte superior do tubo digestivo, apresentando-se, no entanto,
bastante errática e imprevisível, quer devido ao tempo de contacto (bastante variável), à
menor área de superfície (bastante menor que o intestino) quer pelo facto de parte do
55
Introdução
fármaco (não determinável) poder sofrer o efeito de primeira passagem (Besunder et al.,
1988a; Rylance, 1992). A absorção rectal no recém-nascido pode, no entanto, ser bastante
eficiente (ex. ácido valpróico) (Morselli, 1989; Krauss, 2004), principalmente, quando se
usam enemas ou líquidos em pequeno volume (ex. as soluções orais de anti-convulsivantes,
como a de carbamazepina, valproato de sódio e algumas benzodiazepinas) e que são
inseridos por tubo ou seringa (Rylance, 1992; Buck, 2003a). Ainda assim, apesar da via
rectal ser uma via promissora em pediatria e constituir uma alternativa válida, não existem
actualmente dados disponíveis que claramente recomendem a sua utilização em recém-nascidos.
Via intra-muscular - Em pediatria esta via de administração funciona como alternativa à
via oral ou quando as características do fármaco assim o exigem (baixa biodisponibilidade
oral).
A absorção a partir da administração intra-muscular depende de uma série de factores de
diferente etiologia, capazes de, no seu conjunto, afectarem a entrada do fármaco na
circulação sistémica. Assim, a absorção depende da massa muscular, do fluxo sanguíneo
local (instável) e da facilidade de penetração (muita água, pouca gordura) do fármaco
(propriedades físico-químicas) (Morselli, 1989; Rylance, 1992).
As próprias situações patológicas (hipóxia, insuficiência cardiorespiratória) capazes de
desenvolver reduções no sistema de fluxo sanguíneo ou vasoconstrição periférica vão
condicionar a absorção de qualquer medicamento administrado por via intramuscular e/ou
sua distribuição sistémica após administração intravenosa (Morselli, 1989). Por tudo isto, a
via intra-muscular deve ser encarada como uma via alternativa à via endovenosa e não
como uma via de administração de eleição para os recém-nascidos (Morselli, 1989;
Rylance, 1992).
Via tópica - Apesar de a via tópica não ser considerada uma via usual para a administração
de fármacos com efeito sistémico, precauções acrescidas deverão ser tomadas em pediatria,
principalmente no grupo dos recém-nascidos.
Como já vimos do ponto de vista fisiológico, a barreira epidérmica do recém-nascido,
especialmente durante os primeiros dias de vida, apresenta-se pouco espessa e bastante
56
Introdução
hidratada (Rylance, 1992; Koren, 1997; Krauss, 2004). Por outro lado, a superfície por
peso corporal é muito maior que no adulto (Besunder et al., 1988a; Krauss, 2004),
apresentando muitas vezes um maior grau de permeabilidade devido à utilização de
agentes abrasivos (adesivos e outro material cirúrgico) e/ou presença de certas patologias
(queimaduras, inflamações, etc.) em doentes internados nos cuidados intensivos (Morselli,
1989).
Claro que as características fisiopatológicas referidas anteriormente fazem com que no
recém-nascido a absorção tópica se faça muito rapidamente e em muito maior grau (Bleyer,
1977; Stewart et al., 1987), podendo tal facto ser aproveitado para a administração
sistémica de fármacos (ex. teofilina/cafeína) (Evans et al., 1985; Micali et al., 1993) ou,
por oposição, representar uma fonte de perigo latente na farmacoterapia dos recém-nascidos (ex. hidrocortisona ou ácido salicilico) (Murray et al.; 1989; Krauss, 2004).
2.2.2 - Distribuição
Após a entrada do fármaco no sistema circulatório temos a sua distribuição pelos diferentes
tecidos e compartimentos corporais, facto que se encontra estreitamente correlacionado
com a resposta farmacológica.
A distribuição dos fármacos no organismo encontra expressão numérica através da
utilização de um parâmetro farmacocinético denominado volume aparente de distribuição
(Vd). Se bem que este parâmetro não corresponda a um volume fisiológico real (daí a
designação de aparente), a verdade é que é de extrema utilidade sempre que se pretende
analisar as características de distribuição dos diferentes fármacos no nosso organismo.
A quantidade e velocidade de distribuição do fármaco dependem de vários factores idade-dependentes que incluem o pH local, o fluxo sanguíneo regional, a percentagem de água
extracelular, a quantidade de tecido adiposo (constituído por uma percentagem de água
muito maior que no adulto) e o grau de ligação às proteínas plasmáticas e tecidulares, aos
quais se associam as propriedades físico-químicas da molécula em questão (Stewart et al.,
1987; Uges et al., 1987; Morselli, 1989; Krauss, 2004).
Decorre do parágrafo anterior que a monitorização cuidadosa do balanço hidroelectrólitico
do bebé é fundamental. Os indicadores utilizados na avaliação deste equilíbrio passa por
registos diários de:
57
Introdução
•
Peso do bebé (determinação da taxa de ganho de peso (Rice, 2004))
•
Valores séricos de sódio (Tabela I 16) (por vezes é um indicador tardio desta
situação (Hartnoll et al., 2000; Modi, 2003; Evans, 2003))
•
Medição da impedância bioeléctrica (Lingwood et al., 1999).
Tabela I 16– Caracterização das diferentes perdas de fluído.
% de
perda de
fluído
Causas possíveis
Sinais clínicos
Ligeira
1–5
Vómitos /diarreia
Mínimos no exame físico.
Moderada
6 – 10
Tipo de
desidratação
Perda de peso, olhos e fontanelas fundos,
ligeira letargia e secura das mucosas.
História de perda de
fluídos
Severa
11 – 15
Instabilidade cardiovascular (manchas na
pele, taquicardia, hipotensão) e neurológica
(irritabilidade e coma).
Tipo de défice de fluídos
Isotónico
Osmolalidade
Sódio sanguíneo
270 – 300
130 - 150
<130
Hipotónico
<270
+
(maior perda de Na que de água; há redução de água
extracelular)
>150
Hipertónico
>310
(hipernatrémia é uma evidência de grande perda de água,
requer especial atenção na reposição de fluídos por causa do
perigo de edema cerebral)
(Adaptado a partir de Rice et al., 2004)
Teoricamente, resulta óbvio que o Vd por unidade de peso será superior para os recém-nascidos quando comparado com o da população adulta, com especial incidência para
fármacos hidrossolúveis. No entanto, fármacos eminentemente lipossolúveis podem ver o
seu Vd diminuído, devido às diferenças em teor de tecido adiposo em função da idade
(Nahata et al., 1984; Besunder et al., 1988a; Murray et al., 1989; Brown et al., 1989).
A união às proteínas plasmáticas, associada à água corporal, é a característica fisiológica
idade-dependente que maior influência parece ter na distribuição dos fármacos no nosso
organismo. Na realidade, a ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas está
58
Introdução
condicionada por um conjunto de variáveis entre as quais se incluem não só a quantidade
de proteínas plasmáticas disponíveis em termos absolutos, mas também a composição
estrutural dessas mesmas proteínas, o número de locais de ligação disponíveis, a constante
de afinidade dos fármacos para as proteínas, a presença de substâncias endógenas (ex.
bilirrubina e ácidos gordos) capazes de alterar a interacção fármaco-proteína e o pH
sanguíneo. E para além disso, há as situações clínicas como a hipóxia, a febre, a hipotensão,
a acidose e a presença de gastroenterites com excessivas perdas de água e electrólitos, o
que vai produzir hemoconcentração, que reduzem a ligação às proteínas plasmáticas
(Morselli, 1989; Krauss, 2004).
Na Tabela I 17 podemos observar de forma resumida algumas características idade-dependentes que deverão ser equacionadas quando se pretende proceder à interpretação do
perfil de distribuição de fármaco em recém-nascidos.
Tabela I 17 - Características fisiológicas idade-dependentes susceptíveis de influenciar a
distribuição quando comparadas com a população adulta.
Características
fisiológicas
Situação
Água corporal
Grupo etário
Recém-nascidos
Aumentada
Água extracelular
Aumentado o volume de
distribuição
Lactentes
Albumina
Ligação proteínas
plasmáticas
Efeito farmacocinético
Recém-nascidos
Diminuída
Lactentes
Aumentado o volume de
distribuição e fracção livre de
fármaco
(Adaptado a partir de Milsap et al., 1992)
2.2.3 - Metabolismo
A biotransformação, cujo objectivo prioritário consiste em conferir às moléculas uma
maior polaridade de forma a facilitar a sua posterior excreção, ocorre predominantemente
no fígado e, apesar de no recém-nascido o tamanho e fluxo sanguíneo deste órgão ser
superior ao do adulto, a imaturação dos sistemas enzimáticos acaba por condicionar a taxa
metabólica para a maioria dos fármacos (Murray et al., 1989; Morselli, 1989; Rylance,
1992; Donato et al., 2003).
59
Introdução
Adicionalmente, são vários os factores fisiopatológicos capazes de afectar o metabolismo
hepático, sendo possível destacar o fluxo sanguíneo hepático, a capacidade de penetração
celular do fármaco, a capacidade metabólica do hepatócito, a concentração de fármaco
livre, a excreção biliar, a hipóxia, a insuficiência cardíaca, e a hiperbilirrubinémia (Stewart
et al., 1987; Besunder et al., 1988a).
Constata-se pois, que o rendimento da actividade metabólica no recém-nascido para a
maioria dos fármacos, vai aumentando até perto dos 5 anos de idade, altura em que começa
a sofrer uma ligeira diminuição até estabilizar por altura da puberdade aproximando-se
então dos valores normais para o adulto (Stewart et al., 1987). Todas estas alterações na
capacidade metabólica em função da idade pressupõem importantes implicações
terapêuticas, na medida em que existe um risco potencial de um determinado regime
posológico estabelecido poder passar de desejável a indesejável, em questão de dias.
2.2.4 - Excreção
O rim do recém-nascido, proporcionalmente, é duas vezes maior que o do adulto, contudo,
o fluxo sanguíneo renal e as funções glomerular e tubulares (secreção e reabsorção)
encontram-se diminuídos (Besunder et al., 1988a ; Murray et al., 1989).
Nos primeiros tempos de vida do recém-nascido temos uma elevada resistência vascular e
um baixo fluxo sanguíneo, o que vai afectar a taxa de filtração glomerular, a secreção e a
reabsorção tubular. Todos estes mecanismos inerentes à função renal são idade-dependentes, estando correlacionadas com a idade gestacional, pós-natal e pós-concepcional do recém-nascido (Stewart et al., 1987; Morselli, 1989; Vanpée et al., em
1992). Na realidade, Arant Jr (1978) confirmou através das suas observações que a
maturação renal durante a vida extra-uterina é semelhante para recém-nascidos com igual
idade pós-concepcional, verificando-se que a taxa de filtração glomerular é baixa até às 34
semanas, aumentando rapidamente a partir desse momento (Thomson et al., 1988; EMEA,
2004).
A presença de hipóxia, asfixia perinatal, síndrome de dificuldade respiratória (SDR),
apneia, choque, trauma, sépsis e persistência do ducto arterioso produzem alterações nos
reflexos hemodinâmicos (obstrução pulmonar, isquémia intestinal e renal e alterações da
microcirculação, redução do fluxo sanguíneo cerebral e tecidular, hipotensão sistémica e
acidose), o que a curto prazo conduz a mudanças na cinética do medicamento, e a médio e
60
Introdução
longo prazo alterações da maturação renal e do crescimento do bebé (Seri et al., 1984;
Costarino et al., 1985; Tulassay et al., 1986; Morselli, 1989; Galiana et al., 1996).
Ao mesmo tempo estes factores têm repercussões directas a nível renal. O rim é um órgão
muito sensível às privações de oxigénio, o que pode levar em situações de hipóxia
moderada a alterações transitórias da função tubular e nos casos de privação prolongada à
necrose cortical ou medular irreversível. Neste último caso produz-se oligúria por redução
da perfusão renal (Dauber et al., 1976; Guignard et al., 1976; Morselli, 1989), ocorrendo
em 80% dos bebés prematuros com peso <1000g (Gal, 2003).
Relativamente aos regimes farmacoterapêuticos, há alguns medicamentos frequentemente
usados em neonatologia capazes de alterar a função renal, tais como:
• Anti-inflamatórios não esteróides (AINEs),
• Anti-cicloxigenase II,
• Dopamina,
• Furosemida,
• Inibidores da enzima de conversão da angiotensina,
• Medicamentos nefrotóxicos.
Todos os medicamentos que inibem a síntese de prostaglandinas (ex.: aspirina,
indometacina, ibuprofeno, nimesulide, etc) são responsáveis pela diminuição da taxa de
filtração glomerular por desencadearem vasoconstrição renal, o que conduz a uma
hipoperfusão renal reversível no recém-nascido, em particular o prematuro (Gagliardi,
1985; Rodvold et al., 1997; Barrington, 2002).
A dependência da função renal para a eliminação de um conjunto importante de fármacos
utilizados frequentemente na prática clínica faz com que o estabelecimento e/ou reajuste de
um regime posológico deva resultar de uma adaptação às condições fisiopatológicas
apresentadas pelo doente relativamente ao desempenho da sua função renal (Traub et al.,
1980). Tradicionalmente, é aceite que a taxa de filtração glomerular constitui a melhor
forma de expressar o desempenho da função renal e pode ser medida pela clearance da
creatinina (CLcr).
A creatinina sérica (Crser) é muito usada como indicador na CLcr, e esta como marcador da
função renal. Mas para que a Crsér tenha algum valor tem que se encontrar no estado de
61
Introdução
equilíbrio (a diferença entre duas colheitas séricas não deve ser >0,2 mg/dL e o tempo
mínimo entre colheitas deve ser de 12 horas) (Cockcroft et al., 1976; Lott et al., 1978).
No recém-nascido o uso de Crsér para a determinação da CLcr apresenta algumas limitações
enquanto marcador da função renal, basicamente pelos seguintes motivos:
1. Por um lado, a utilização da urina é de difícil exequibilidade prática neste tipo de
doentes, inviabilizando a determinação directa da CLcr, sendo para o efeito necessário
proceder-se a uma avaliação indirecta mediante a aplicação de equações pré-definidas
que conjugam informação demográfica (peso, altura, idade, sexo) com o conhecimento
do valor da creatinina sérica do doente (Paap et al., 1995).
2. Embora se saiba que a Crsér é inversamente proporcional à taxa de filtração glomerular,
o seu valor no recém-nascido apresenta, porém, escassa capacidade preditiva. Num
estudo realizado por Gordjani et al. (1988) acerca da relação entre a Crsér e a CLcr em
recém-nascidos saudáveis, verificou-se que nas primeiras 48 horas de vida extra-uterina os valores de Crsér nos recém-nascidos eram semelhantes aos valores de Crsér
da mãe (75-88 μmol/L), diminuindo progressivamente ao longo da primeira semana de
vida, o que corresponde ao tempo de adaptação extra-uterina. Isto é confirmado noutros
estudos (Lui et al., 1991; Bueva et al., 1994; Lorenz, 1997).
3. A concentração plasmática da Crsér no recém-nascido é elevada ao nascer e diminui
rapidamente nos primeiros dias de vida atingindo níveis estáveis ao fim de 3 semanas.
No estudo realizado por Bueva et al. (1994) estes níveis de Crsér são ainda mais
elevados nos bebés de muito baixo peso ao nascer e inversamente proporcionais à
idade gestacional. Isto parece reflectir a sua dificuldade em eliminar o excesso de Crsér
transferida da mãe e/ou uma reabsorção por difusão através das células tubulares
imaturas. Isto marca negativamente a utilidade da Crsér como marcador da função renal
neste grupo etário (Rudd et al., 1983; Gordjani et al., 1988; Bueva et al., 1994; Lorenz,
1997).
62
Introdução
2.3 - FARMACOTERAPIA NO RECÉM-NASCIDO
Os recém-nascidos são o grupo populacional de desafio por excelência para qualquer
farmacoterapêuta. São várias as razões que contribuem para este facto, podendo ser
agrupadas da seguinte forma: fisiológicas (imaturidade funcional), farmacológicas
(comportamento
farmacocinético
e
farmacodinâmico
específico),
e
patológicas
(instabilidade multiorgânica). Todos estes factores acabam por ser geradores de múltiplas
fontes de variabilidade inter e intra-individual, transformando cada caso numa excepção.
Historicamente, é do conhecimento geral que os regimes posológicos instituídos nos
recém-nascidos se baseavam, frequentemente, nos conhecimentos farmacocinéticos e
farmacodinâmicos obtidos através de estudos efectuados na população adulta. Logicamente
que, com o aprofundar dos conhecimentos nesta área tão sensível das ciências da saúde,
cedo se chegou à conclusão de que as crianças não podem de forma alguma ser encaradas
como se de “adultos pequenos” se tratassem, na medida em que a interpretação dos níveis
séricos neste grupo etário oferece uma especificidade e complexidade não comparáveis à
realidade da população adulta (alterações importantes ao nível dos receptores, ligação às
proteínas plasmáticas, volume de água corporal, maturidade funcional e presença de
substâncias endógenas) (Gilman, 1990). Como resultado do escasso conhecimento do
efeito dos medicamentos nas crianças, este grupo é frequentemente referenciado como
“terapeuticamente orfão” (Shirkey, 1968; Stewart et al., 1987; Gilman et al., 1992; Milsap
et al., 1992).
Não é invulgar encontrar na literatura de referência de um fármaco cláusulas que assinalam
essa orfandade, como: “não deve ser usado em crianças”; “não se recomenda em crianças
até estudos a realizar neste grupo etário”; “estudos clínicos insuficientes para qualquer
recomendação em crianças” (Shirkey, 1968; Gilman et al., 1992). Cerca de 70 – 80% de
novos medicamentos continuam a não ser testados em crianças (Koren et al., 2003). Por
isso, a recomendação da EMEA (CPMP/PEG/35132/03 – Dezembro 2004) insiste na
necessidade de estudos farmacocinéticos/farmacodinâmicos em recém-nascidos. Segundo
os peritos desta agência qualquer desvio a este princípio deve ser discutido e justificado.
Defendem que os estudos farmacocinéticos permitem explorar a imaturidade funcional em
termos de distribuição e eliminação do fármaco nessas faixas etárias, estipulando como
ponto de “cut-off” as 33/34 semanas de idade gestacional/pós-concepcional. Os estudos
63
Introdução
farmacodinâmicos são igualmente importantes, pois já se verificou que nem sempre os
efeitos esperados e conhecidos são encontrados no recém-nascido (ex. diuréticos,
prostanóides, catecolaminas, etc.). Estas directrizes acabam por de alguma forma também
serem advogadas pela FDA (Buck, 2003; Koren et al., 2003).
Pelas razões já apontadas, o ajuste empírico dos regimes posológicos não só se apresenta
difícil como, na maioria das vezes, é inclusivamente inadequado, podendo originar
respostas terapêuticas completamente diversas das obtidas no adulto e cujas consequências
se poderão revelar imprevisíveis e, eventualmente, incontroláveis (Tabela I 18). A esta
situação não é alheia a aparente falta de percepção e aceitação social para a realização de
estudos de investigação clínica em pediatria e o manifesto desinteresse para os realizar por
parte da indústria farmacêutica (Reed, 1989; Gilman et al., 1992; Koren et al., 2003).
Compreende-se, portanto, o cuidado existente na definição de ensaios clínicos, havendo
limitações e constrangimentos óbvios no que diz respeito aos protocolos, tipo de análise
estatística adoptado, divisão correcta dos grupos populacionais dentro do estudo, funções a
analisar (ex. andar, graus de dor e desconforto são funções de difícil avaliação no bebé),
uso de placebo, já para não falar em componentes mais administrativas como os seguros e
as recompensas (Buck, 2003).
Tabela I 18 - Erros comuns relacionados com a falta de informação
farmacocinética/ /farmacodinâmica em pediatria.
• Extrapolação da informação obtida no adulto.
• Atribuição de margens terapêuticas e regimes de dosificação padronizados.
• Interpretação incorrecta dos processos de disposição dos fármacos (ex. ligação
às proteínas plasmáticas, vias metabólicas, etc.).
• Insuficiente amostragem para estudos farmacocinéticos e/ou farmacodinâmicos.
• Extrapolação dos dados farmacocinéticos pediátricos entre os seus diferentes
sub-grupos.
(Adaptado a partir de Gilman et al., 1992)
Importa, no entanto, referir que, nos últimos anos, a quantidade de informação disponível
relativamente
64
à
cinética
de
disposição
na
população
pediátrica
aumentou
Introdução
consideravelmente. O próprio acesso e difusão de informação a nível planetar em tempo
real também sofreram grandes alterações. É hoje incomparavelmente mais fácil aceder à
informação do que há uns anos atrás. Na realidade, actualmente, as maiores dificuldades
situam-se ao nível do esclarecimento da interacção farmacocinética/farmacodinâmica,
particularmente no que diz respeito ao efeito da idade sobre os aspectos farmacodinâmicos
e no conhecimento específico da utilização de fármacos em grandes prematuros (idade
gestacional <30 semanas) (Gortner et al., 1991; Avent et al., 2002), permanecendo esta
área de conhecimento bastante aquém do desejado (Besunder et al., 1988a).
Convém realçar a importância que tem a elaboração de uma correcta estratificação da
população pediátrica para que possa existir uniformidade na abordagem de temas
relacionados com os diferentes escalões etários, diminuindo-se dessa forma uma enorme
fonte de variabilidade resultante da análise conjunta de trabalhos de investigação que, ao
não adoptarem um critério comum de classificação, poderão originar equívocos acerca do
perfil farmacocinético de um determinado grupo de doentes.
A utilização racional dos fármacos na prevenção das doenças, aliado a um máximo de
eficácia e a um mínimo de toxicidade, constitui o objectivo prioritário da farmacoterapia.
Para que tal aconteça, torna-se indispensável diagnosticar a patologia, seleccionar o
fármaco apropriado, elaborar um regime posológico adequado e proceder à sua
implementação.
Em pediatria, a farmacoterapia mostra-se bastante mais complexa do que no adulto. As
crianças, especialmente os recém-nascidos e lactentes, apresentam dificuldades de
comunicação inultrapassáveis, dificultando o diagnóstico e, consequentemente, a própria
prescrição medicamentosa. Além disso, estão ainda por determinar os efeitos resultantes da
utilização prolongada de medicamentos na população pediátrica, situação agravada pelo
facto da maioria dos recém-nascidos internados em unidades de cuidados intensivos
acabarem por receber um grande número de fármacos diferentes nos primeiros dias de vida,
período em que justamente apresentam uma maior instabilidade fisiológica (Lesko et al.,
1990).
Os medicamentos mais utilizados nas primeiras semanas de vida de um recém-nascido
internado nos cuidados intensivos vão desde (Gortner et al., 1991):
• soluções para reposição de volumes intravenosos, bicarbonato de sódio e
catecolaminas devido a problemas circulatórios, e nutrição;
65
Introdução
• sedativos/analgésicos e relaxantes musculares muitas vezes associados a
problemas respiratórios;
• metilxantinas ligadas à apneia do prematuro;
• corticosteróides quando há displasia broncopulmonar;
• surfactante para reduzir a necessidade de O2 e pressão de ventilação, evitando o
aparecimento tardio de enfisema pulmonar e pneumotorax o que aumenta a
sobrevida do recém-nascido;
• antibióticos por suspeita de infecção congénita e/ou nosocomial.
No entanto, não podemos esquecer que estas unidades se caracterizam por mudanças
relativamente rápidas na farmacoterapia usada (Lesko et al., 1990).
Outros aspectos importantes em farmacoterapia pediátrica encontram-se relacionados com
as seguintes situações:
• exposição intra-uterina a fármacos e a drogas de abuso capazes de ultrapassar
a barreira placentária e, dessa forma, atingir a circulação fetal (Gortner, 1993);
• incorporação de fármacos através da ingestão de leite materno;
• interacções farmacológicas devido à politerapia e reacções adversas,
especialmente em doentes internados em unidades de cuidados intensivos
(Lesko et al., 1990).
Por último, não nos podemos alhear de um facto que contribui decisivamente para os
resultados finais obtidos através da farmacoterapia seleccionada; referimo-nos aos
inevitáveis erros associados a todo o processo de prescrição, dispensa e administração de
medicamentos (Koren et al., 1986; Litovitz, 1992).
2.3.1 - Antibioterapia
A suspeita da existência de um foco infeccioso no recém-nascido nem sempre é
comprovada, uma vez que os doentes com sinais e sintomas de sépsis acabam muitas vezes
por apresentar culturas negativas. No entanto, as complicações infecciosas reais durante o
período pós-natal são comuns e podem ser atribuídas a vários factores. Por um lado, os
recém-nascidos (em particular prematuros) apresentam um sistema imunitário ainda em
66
Introdução
fase de desenvolvimento, sofrendo, no entanto, uma exposição considerável a
microorganismos patogénicos durante o nascimento (18% - 30%) e período pós-parto, o
que proporciona o desenvolvimento de infecções (Paap et al., 1990; Gortner et al., 1991;
Spafford et al., 1994; Matrai-Kovalskir et al., 1998). Por outro lado, sofrem a acção de um
conjunto de procedimentos invasivos que favorecem o desenvolvimento da infecção e
hospitalizações prolongadas, aumentando dessa forma o risco de infecções nosocomiais
(Paap et al., 1990).
O sistema imunitário do recém-nascido apresenta uma deficiência em anticorpos
adquiridos passivamente e uma menor capacidade de síntese de novos anticorpos,
complemento e outra opsinas. O número e funções de fagócitos e neutrófilos encontram-se
diminuídos, contribuindo no seu conjunto para um aumento da susceptibilidade às
infecções (Wilson, 1986; Gal, 2003). Adicionalmente, a menor concentração de
imunoglobulinas, a imaturidade da pele e do tracto gastrointestinal quanto às suas funções
de protecção, acabam também para contribuir para o agravamento do quadro geral
(Craft et al., 2003).
Na prática, verifica-se que o risco de sépsis aumenta dramaticamente com a diminuição do
peso ao nascer, apresentando taxas na ordem dos 15-40% para recém-nascidos com peso
<1500g. A sépsis desenvolvida nos primeiros três dias de vida apresenta uma taxa de
mortalidade de 60% nos bebés de baixo peso ao nascer e de 40% nos de termo. Para além
do peso ao nascer também são factores de risco o tempo de ruptura das membranas (quanto
maior, mais elevado será o risco), o estado de saúde da mãe e a sua situação sócio-económica (Knight et al., 2003). As infecções tardias ou nosocomiais estão ligadas
sobretudo ao uso de cateteres, infecções resultantes de hiperalimentação, intubação para
ventilação mecânica, higiene nos cuidados de saúde, tempo prolongado de internamento
nos cuidados intensivos, etc. (Semchuk et al., 1993; Barefield, 1994; Rodvold et al., 1997;
Moller et al., 1997; Matrai-Kovalskis et al., 1998; Baier et al., 1998; Gal, 2003)
(Tabela I 19). Estando provado que o uso de incubadoras e sua humidificação se
encontram ligadas à proliferação de infecções por Pseudomonas (Gaylord et al., 2001).
67
Introdução
Tabela I 19 – Algoritmo do diagnóstico de infecção no recém-nascido.
Microorganismos
prováveis
Factores de risco
Sinais / Sintomas
clínicos
Dados laboratoriais
< 3 dias de IPN (Precoce ou Congénita)
• Estreptococos grupo B sp
• E.coli
• Listeria monocytogenes
• Haemophilus Influenza
• Enterococos sp
• S. aureus
• Dependentes da história
materna:
• Sífilis
• Gonococcus
• Clamídia
• Herpes
• HIV/SIDA
• Infecção aguda
• Ruptura prolongada das
membranas
• Febre
• SDR
• Temperatura instável
• Letargia/irritabilidade
• Apneia, Cianose
• Hipotensão/choque
• Feridas ou abrasões
• Distensão abdominal,
• ↑↓ glóbulos brancos (GB)
• ↑↓neutrófilos
• neutropenia (GB < 1000)
• plaquetas < 100 000
• Relação de GB imaturos
• Acidose
• ↑↓Glicose
• Convulsões
• ↑ da proteína C-reactiva
• ↑ da interleucina 6
intolerância oral à alimentação
• Culturas
positivas: sangue,
liquido cefalo-raquídeo, etc
≥ 3 dias de IPN (Tardia ou Nosocomial)
• S. coagulase- negativo
• Cândida sp
• Gram-negativos
• Neutropenia prolongada
• Cateter venoso central
• Procedimento invasivo
• Cirurgia
• Baixo peso ao nascer
• Ventilação prolongada
• Lesão da pele
• Nutrição parenteral
• Distensão abdominal
• Apneia
• Convulsões
• Febre ou ↓ temperatura
• Letargia/agitação
• Dificuldade respiratória
• ↑ secreções respiratórias ou
mudança de cor
• Colestase
• Choque / coagulopatia
• GB < 2 500 ou >25 000
• Neutrófilos <1 500 ou
>7 200
• plaquetas < 100 000
• Relação de GB imaturos e
totais >0,2
• Culturas positivas
• ↑ ou ↓ Glicose
• Acidose
IPN = Idade pós-natal, SDR – síndrome de dificuldade respiratória.
Nos últimos anos tem-se verificado uma alteração sensível na flora bacteriana responsável
pelas infecções nos recém-nascidos. Assim, nas primeiras 48 horas de vida os
microorganismos responsáveis pela infecção do bebé pertencem, na maioria dos casos, ao
grupo dos estreptococos e E.coli. Por esse motivo, numa situação em se suspeita haver um
foco infeccioso, recorre-se com frequência ao uso empírico de ampicilina ou penicilina
associada a um aminoglicósido (Thompson et al., 1992; Rodvold et al., 1997; Isaacs, 2000;
Machado et al., 2001). No caso da sépsis tardia (IPN ≥3 dias), o envolvimento de
estafilococos coagulase-negativo (Streptococcus grupo B, E. coli e Listeria monocytogenes
e Staphylococcus), muitas vezes meticilino-resistentes, leva à utilização de vancomicina
associada a uma cefalosporina (Leonard et al., 1989; Delgado et al., 1997; Langlass et al.,
1999; Knight et al., 2003; El-Desoky et al., 2003).
68
e
totais >0,2
Introdução
Na sequência destes números e do seu impacto na qualidade de vida dos doentes, não é de
estranhar que a antibioterapia desempenhe um importante papel tanto de um ponto de vista
profiláctico (ex. recém-nascido com insuficiência respiratória, utilização de cateteres, etc.),
como no tratamento efectivo de infecções documentadas (Lesko et al., 1990; Paap et al.,
1990; Semchuk et al., 1993 e 1995).
2.3.1.1 - Efeito pós-antibiótico
Um aspecto da maior relevância na antibioterapia é o efeito pós-antibiótico apresentado de
forma marcada por alguns antimicrobianos. Por definição este efeito não é mais do que um
período de contínua supressão do crescimento das bactérias mesmo após ter terminado a
sua curta exposição ao antibiótico activo. O que se verifica in vitro é que as concentrações
tecidulares são adequadas para manter o efeito bactericida do antibiótico, apesar das
concentrações séricas terem descido abaixo da concentração inibitória mínima (CIM) para
o microorganismo a tratar (Hammett-Stabler et al., 1998).
Os estudos mostram que o efeito pós-antibiótico depende da concentração máxima atingida
(no mínimo tem que ser ≥ CIM) e do tempo de exposição da bactéria a esse antibiótico
(Craig et al., 1987; Mattie et al., 1989; Nicolau et al., 1995; Elhanan et al., 1995). Estudos
in vitro permitiram concluir que o efeito pós-antibiótico máximo ocorre quando existe uma
exposição do microorganismo a níveis de antibiótico 5-10 vezes superiores aos da sua CIM
durante um período que deverá rondar as duas horas (Craig et al., 1987; Mattie et al., 1989).
Embora todos os antibióticos apresentem este efeito, nem sempre a sua durabilidade é
clinicamente relevante, caso da vancomicina com uma duração muito baixa para a maioria
das bactérias, por oposição à gentamicina cujo efeito pós-antibiótico é bastante prolongado
(aproximadamente 8h) (Craig et al., 1987; Chan, 1989; Jackson et al., 1990) (Tabela I 20).
Tabela I 20 - Efeito pós-antibiótico dos aminoglicósidos.
Efeito pós-antibiótico
S. aureus
E. coli
K. pneumoniae
P. aeruginosa
3 - 7 (horas)
2 – 7 (horas)
2 – 7 (horas)
2 – 7 (horas)
69
Introdução
2.3.1.2 - Resistência antimicrobiana
As resistências aos antibióticos têm aumentado progressivamente ao longo dos anos, tendo
dado origem ao desenvolvimento de protocolos destinados precisamente a controlar este
problema. É consensual que o uso adequado de antibióticos passa não só pela optimização
do binómio eficácia/segurança, mas também pela necessidade de evitar o desenvolvimento
de resistências microbianas (Owens et al., 2004).
O desenvolvimento de microorganismos multiresistentes (Tabela I 21) resulta directamente
da utilização desregrada dos antibióticos (Dancer, 2001; Carling et al., 2003; Bantar et al.,
2003; Madaras-Kelly, 2003; Tambyah et al., 2004).
Tabela I 21 – Microorganismos que frequentemente apresentam
multiresistências a nível hospitalar.
S. aureus meticilino-resistentes
Clostidium difficile
S. coagulase- negativos (S. epidermidis)
Acinetobacter baumanii
Stenotrophomonas maltophilia
E. faecalis
E. coli
E. Faecium
P. aeruginosa
Candida albicans
No caso dos aminoglicósidos e da vancomicina está bem documentado o aumento
significativo das resistências a estes antibióticos nos últimos anos (Tabela I 22)
(Matrai-Kovalskis et al., 1998; Tenover et al., 2004).
2.3.1.3 - Interacções
O uso de antibióticos em recém-nascidos, sobretudo no caso dos prematuros, enquadra-se
num esquema de politerapia potenciando o aparecimento de interacções medicamentosas
com significado clínico. Na Tabela I 23 são apresentadas algumas situações concretas
envolvendo a gentamicina e a vancomicina, derivado do facto de se tratarem do objecto de
estudo da presente dissertação.
70
Introdução
Tabela I 22 – Multiresistências aos aminoglicósidos e à vancomicina nos Hospitais
da Universidade de Coimbra (HUC).
Gentamicina
(% de estirpes resistentes)
S. aureus
S. epidermidis
S. haemolyticus
E. faecalis
E. faecium
P. aeruginosa
E. coli
Klebsiela sp
A. baumanii
Serratia sp
Vancomicina
(% de estirpes resistentes)
2001
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004
57
42
69
31
32
26
7
10
81
65
51
44
74
31
36
18
7
13
60
49
47
50
70
35
49
17
10
12
81
39
38
37
70
36
61
19
19
7
85
40
0
0
0
3
40
-
0
0
0
4
44
-
0
0
0
3
62
-
0
0
0
4
62
-
Tabela I 23 – Possíveis interacções com gentamicina e vancomicina.
Aminoglicósidos
Anfotericina B
Verapamil
Gentamicina
Vancomicina
-
↑ nefrotoxicidade
↑ nefrotoxicidade
↓ nefrotoxicidade
Observações
São os 2 nefrotóxicos.
São os 2 nefrotóxicos.
-
O verapamil parece ter uma
acção de protecção renal.
Cefalosporinas
↑ nefrotoxicidade
-
Excepto para a cefuroxima e
cefotaxima. Parece não ser
clinicamente significativa para a
ceftazidima e cefepime.
Clindamicina
↑ nefrotoxicidade
-
Com a lincomicina não se
verifica nefrotoxicidade.
Dopamina
Eventual ↓ dos níveis de gentamicina e de
vancomicina
Penicilinas
Inactivação dos 2
antibióticos
-
Imipenem/ciclastatina
↑ nefrotoxicidade
-
Furosemida
Indometacina
Possível ↑ de nefro e ototoxicidade
Eventual ↑ dos níveis de gentamicina e de
vancomicina
Dopamina parece ↑ a excreção
de água e Na+ no recém-nascido.
Necessidade de mais estudos.
Uso conjunto exige
monitorização apertada. Alguns
estudos mostram ↓ da CL da
gentamicina.
Indometacia ↓ a filtração
glomerular.
Magnésio, sulfato
↑ dos níveis de
magnésio
-
Ocorre com frequência
insuficiência respiratória em
recém-nascidos cuja mãe teve de
fazer sulfato de Mg.
Miconazol
↓ níveis de
aminoglicósido
-
-
71
Introdução
2.3.2 - Estabelecimento de regimes posológicos
A elaboração de um regime posológico caracteriza-se pela determinação da dose, intervalo
de dosificação e via de administração a utilizar. A sua concretização objectiva passa
necessariamente pela utilização de informação farmacocinética (conhecimento de
parâmetros que suportam o modelo utilizado) e farmacodinâmica (conhecimento da
margem terapêutica).
A dosagem terapêutica pode ser estabelecida através de três abordagens: (1) a empírica,
(2) a preditiva (nomogramas) e (3) a individualizada (farmacocinética). No caso dos
aminoglicósidos e vancomicina, tanto a abordagem empírica como a utilização de
nomogramas nem sempre apresentam resultados muito favoráveis em pediatria, embora
exista alguma informação disponível sobre este assunto (Kelman et al., 1984; Burton et al.,
1985; Rodvold et al., 1997; Begg et al., 1999). A abordagem empírica pela ausência de
critérios científicos e a utilização de nomogramas pelo facto de lidarem mal com a
variabilidade existente no comportamento cinéticos de ambos os fármacos, constituem
opções pouco interessantes de um ponto de vista terapêutico (Burton et al., 1989;
Jarret et al., 1993; Carvalho et al., 1996). Por exclusão de partes, a individualização
posológica proporcionada pela adopção de critérios farmacocinéticos constitui, portanto, a
alternativa mais válida e de aceitação universal devido ao envolvimento de um conjunto de
covariáveis capazes de caracterizar o desenvolvimento biológico do recém-nascido e a sua
influência e dinamismo nos processos ontogénicos de absorção, distribuição,
metabolização e excreção do fármaco (Besunder et al., 1988a).
Importa reconhecer, assim, que os regimes posológicos em recém-nascidos têm
características próprias que aconselham vivamente a utilização de uma abordagem
individualizada. E, por motivos óbvios e já anteriormente mencionados, estes regimes
deverão ter em consideração a maturação fisiológica do bebé, razão pela qual vários
investigadores propõem esquemas posológicos de acordo com variáveis como o “peso ao
nascer” e as “idades gestacional”, “pós-natal” e “pós-concepcional” (Tabela I 24)
(Koren et al., 1985; Kasik et al., 1985; Rastogi et al., 2002; Chattopadhyay, 2002).
72
Introdução
Tabela I 24 - Regimes posológicos para gentamicina e vancomicina.
Idade
(dose de manutenção)
Referência
Gentamicina
McCracken e
Nelson, 1977
Szefler et al., 1980
Miranda et al.,
1985
Rowe, 1987
Besunder et al.,
1988b
Faura, 1991a
Lopez-Samblas et
al., 1992
Skopnik et al.,
1992
Cos et al., 1992
Semchuck et al.,
1995
Delgado et al.,
1997
Avent, 2002
< 1 sem. IPN
>1 sem. IPN
2,5 mg/kg/q12h
2,5 mg/kg/q8h
< 35 sem. IG
≥35 sem. IG
2,5 mg/kg/q18h
2,5 mg/kg/q12h
< 34 sem. IPC
>34 sem. IPC
2,5 mg/kg/q18h
2,5 mg/kg/q12h
< 28 sem. IG, <7dias
28-34 sem. IG, <7dias
28-34 sem. IG
2,5 mg/kg/q24h
2,5 mg/kg/q18h
2,5 mg/kg/q12h
< 30 sem. IPC
30-40 sem. IPC
≥35 sem. IPC
2,5 mg/kg/q24h
2,5 mg/kg/q18h
2,5 mg/kg/q12h
< 37 sem. IG
> 37 sem. IG
< 7 dias
> 7 dias
< 7 dias
> 7 dias
3,8 mg/kg/q24h
6,0 mg/kg/q24h
4,4 mg/kg/q24h
7,0 mg/kg/q24h
< 30 sem. IPC
30-37 sem. IPC
3,0 mg/kg/q24h
2,5 mg/kg/q18h
Termo e < 7 dias
4mg/kg/dia
Termo
>32 sem. IG
≤ 32 sem. IG
> 7 dias
≤ 7 dias
3,5 mg/kg/q24h
2,5 mg/kg/q24h
3,5 mg/kg/q12h
2,5 mg/kg/q12h
< 34 sem. IG
>34 sem. IG
2,5 mg / kg / 18h
2,5 mg / kg / 12h
< 37 sem. IG; < 7 dias
2,5 mg/kg/q24h
< 1200 g: 5 mg/kg
≤ 7 dias
8-30 dias
>30 dias
48 h
36 h
24 h
> 37 sem. IG; > 7 dias
2,5 mg/kg/q12h
1200 – 2000 g: 5 mg/kg
≤ 7 dias
> 7 dias
36 h
24 h
> 2000 g: 5 mg/kg
≤ 7 dias
> 7 dias
36 h
24 h
Vancomicina
Schaad et al.,
1980 e 1981
Gross et al., 1985
Naqvi et al., 1986
< 1 sem.
15mg / kg / 2id
< 1kg (> 14 dias IPN)
15mg / kg / 2id
< 41 sem. IPC)
10mg / kg / 3id
Leonard et al.,
1989
Gabriel et al.,
1991 e Kildoo et
al., 1990
8 – 30 dias
10mg / kg / 3id
> 1kg (≥ 14 dias IPN)
10mg / kg / 2id
> 43 sem. IPC)
10mg / kg / 4id
< 1kg
15mg / kg / dia
10 mg / kg
15mg / kg / dia
< 30 sem. IG e ≤ 7 dias
12 h
8h
< 30 sem. IG, > 7 dias ≤ 1,2 Cr
30-36 sem. IG, ≤ 14
> 36 sem. IG, ≤ 7 dias
30-36 sem. IG, >14 dias; ≤ 0,6 Cr
> 36 sem. IG, > 7 dias ≤ 0,6 Cr
15mg/kg e intervalo IPC
Linder et al., 1993
> 34 sem ou > 1 sem.
IPN q8h
< 1 sem. IPN
> 1 sem. IPN
Tan et al., 2002
15mg / kg / 18h
15mg / kg / 12h
IG -Idade gestacional; IPN - Idade pós-natal; IPC - Idade pós-concepcional; Cr – creatinina sérica; q –cada;
sem. - semana.
< 30 sem q24h
30 – 33 sem. q18h
34 sem. q12h
73
Introdução
2.3.3 - Monitorização sérica de gentamicina e vancomicina
A incorporação de critérios farmacocinéticos na elaboração de regimes posológicos
contribui significativamente para a melhoria da eficácia e segurança dos tratamentos
farmacológicos.
A monitorização dos níveis séricos de gentamicina (aminoglicósidos em geral) e
vancomicina é consensual tendo em consideração os motivos que se encontram subjacentes
e que incluem:
¾ a sua estreita margem terapêutica (binómio eficácia/segurança);
¾ o facto da sua eliminação depender fundamentalmente da função renal (grande
variabilidade inter e intra-individual) (Noone et al., 1974; Schumacher, 1975;
Fattinger et al., 1991),
¾ o uso inapropriado de doses padronizadas e de parâmetros farmacocinéticos
populacionais em doentes com grandes alterações hemodinâmicas (situações
clinicamente graves) (Aronson et al., 1992; Cos et al., 1992; Romano et al.,
1998; Hammett-Stabler et al., 1998),
¾ o facto de o custo/benefício aconselhar este procedimento (Kimelblatt et al.,
1986; Destache et al., 1989).
Para além dos motivos já aduzidos para a população em geral, a monitorização revela-se
especialmente útil em neonatologia, uma vez que se trata de um sub-grupo caracterizado
pela sua grande imaturidade funcional. Com a individualização posológica pretende-se
optimizar o tratamento, promovendo regimes posológicos seguros e eficazes (Echeverria et
al., 1975; Aranda et al., 1980; Walson et al., 1989), assegurando assim terapêuticas
óptimas, com resistências mínimas e a custos controlados (Paap et al., 1990 e 1993;
Hammett-Stabler et al., 1998).
2.3.4 - Limitações na monitorização sérica de gentamicina e vancomicina
Independentemente do fármaco e das características do doente, a utilização da
monitorização de fármacos em pediatria apresenta uma série de vantagens que podem ser
resumidas da seguinte forma (Walson et al., 1989):
74
Introdução
¾ menor tempo de internamento;
¾ diminuição das doenças iatrogénicas;
¾ diminuição dos efeitos secundários;
¾ diminuição da morbilidade;
¾ diminuição de incertezas clínicas;
¾ correcção de erros de medicação;
¾ identificação de suspeitas de insuficiência orgânica;
¾ aumento da eficácia terapêutica;
¾ minimização da toxicidade individual;
¾ individualização posológica.
Algumas das vantagens apontadas à monitorização em pediatria são complementares entre
si e podem, retrospectiva e/ou prospectivamente, ser alvo de trabalhos de investigação que
permitam melhorar o caudal de informação relativamente à farmacoterapia neste escalão
etário. Intuitivamente, a individualização posológica arrastará consigo informação
adicional acerca das concentrações séricas necessárias para que a resposta terapêutica
óptima seja alcançada. Toda esta informação, se devidamente analisada (análise cinética
populacional), permitirá uma melhoria da informação pré-existente e, dessa forma,
aumenta a capacidade preditiva para os vindouros.
Apesar do futuro promissor, a monitorização de fármacos em pediatria não deixa de ser
encarada com alguma preocupação. Não falamos de desvantagens da monitorização, mas
antes dos factores que condicionam a obtenção de melhores resultados nesta área
(Tabela I 25).
Tabela I 25 – Limitações da monitorização terapêutica de fármacos
em neonatologia.
• Pouca informação no recém-nascido;
• Alterações fisiológicas muito rápidas;
• Recolha de amostras;
• Erros de medicação;
• Interacções.
75
Introdução
Relativamente às limitações que se enquadram na área da farmacocinética, já fizemos
referência à pouca informação que existe relativamente aos fenómenos relacionados com a
incorporação e disposição de fármacos em pediatria. A definição de margens terapêuticas,
como indicadores das respostas farmacológicas, é extremamente útil, mas a sua deficiente
caracterização na população pediátrica (por falta de estudos e/ou extrapolação de valores
utilizados para os adultos) tem um efeito perverso em todo o sistema. Estas limitações são
especialmente preocupantes para os escalões etários mais baixos, devido às constantes e
rápidas alterações fisiopatológicas de que são alvo, embora se tenha vindo a desenvolver
um grande esforço para obviar esta situação. No entanto, não podemos esquecer que as
rápidas alterações fisiológicas que ocorrem no bebé conduzem a dificuldades acrescidas na
obtenção de amostras no estado de equilíbrio estacionário para alguns fármacos
(Tange et al., 1994).
Na prática clínica de neonatologia a monitorização de fármacos como a gentamicina e a
vancomicina levanta algumas questões pertinentes relacionadas com o tempo de
amostragem e número e volume da amostra (Tabela I 26), devido à fragilidade
hemodinâmica destes bebés e aos intervalos posológicos praticados.
Para além destas questões os resultados da monitorização de fármacos podem igualmente
ser influenciados pela perícia técnica da equipa de saúde quanto à correcta prescrição,
preparação e administração do medicamento. É bom não esquecer que muitos dos
medicamentos e dispositivos médicos usados em neonatologia não foram concebidos a
pensar nesta população, o que predispõe ao aparecimento de erros associados a problemas
e dificuldades na manipulação/administração dos fármacos (Koren, 1997; Soldin et al.,
2002; Polsderfer, 2002), podendo no seu conjunto representar uma fonte de variabilidade
cuja influência na interpretação das concentrações séricas é completamente imprevisível
(Gilman, 1990; Koren, 1997).
Por último, importa referir que as análises farmacoeconómicas disponíveis apontam
claramente para a existência de uma boa relação custo/benefício associada à monitorização
de gentamicina (aminoglicósidos em geral) e vancomicina na prática clínica.
Adicionalmente, parece que o envolvimento activo do farmacêutico através de campanhas
de sensibilização junto dos restantes profissionais da área da saúde, incrementa
significativamente a eficácia da monitorização na população pediátrica, justificando com
maior facilidade os custos inerentes a esta actividade (Kimelblatt et al., 1986;
Destache et al., 1989).
76
Introdução
Tabela I 26 – Perguntas importantes na monitorização fármacos em neonatologia.
1. Qual o número e
volume de
amostras?
• Restrição quanto ao número e volume de amostras devido à
sua baixa volémia (85-100 mL/kg, no bebé de termo e
50 mL/kg no prematuro) (Notarianni, 1990; Koren, 1997).
Ex.: tentativa de utilizar só o vale de vancomicina para
prever o pico e fazer ajuste posológico (Schackley et al.,
1998; Fofah et al., 1999).
• Uso de métodos capazes de dar a máxima informação com
um baixo número de amostras e baixo volume sanguíneo:
método baeysiano e técnica analítica por imunoensaio
(Mahmood, 2003; Buck, 2003; EMEA, 2004).
2. Quando recolher a
amostra?
• Esperar ou não pelo estado de equilíbrio nos recém-nascidos: pode equivaler a esperar muito mais do que
48-72h, o que potencialmente pode atrasar o efeito
terapêutico (Murphy et al., 1998; Soldin et al., 2002).
• Colher ou não logo após a dose de carga? (Koup, 1982;
Soldin et al., 2002; Knight et al., 2003).
3. Como recolher a
amostra?
• Os resultados vão ser afectados se não se respeitar:
− Horário de colheitas,
− Horário de transporte e armazenamento (não esquecer
que os prematuros têm elevado hematócrito),
− Técnica analítica a utilizar (Koup, 1982; Burstein et al.,
1997; Hammett-Stabler et al., 1998; Tobin et al.,
2002).
4. Quando repetir a
amostragem?
• Após ajuste terapêutico quando se deve repetir a
monitorização?
• Ou então, após uma monitorização sem necessidade de
ajuste, quando verificar os níveis novamente? (Faura et al.,
1991).
77
Introdução
3 - FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS
3.1 - GENTAMICINA
A gentamicina é um antibiótico aminoglicósido obtido a partir das culturas do actinomicete
Micromonospora purpurea. Foi estudada e descrita pela primeira vez por Weinstein et al.
em 1963, tendo sido isolada, purificada e caracterizada por Rosselot et al. em 1964. É
usada para tratar infecções severas causadas por bactérias gram-negativas apresentando
uma actividade antimicrobiana semelhante, independentemente da estirpe envolvida
(Siegenthaler et al., 1986; Goodman e Gilman, 1989).
Este antibiótico é relativamente barato e constitui uma escolha de primeira linha, podendo
ser utilizado em monoterapia (situações pouco graves) ou em associação com
benzilpenicilinas, para o tratamento de recém-nascidos com sépsis, meningite e pneumonia
(Campbell et al., 1996; Hammett-Stabler et al., 1998). Em Portugal, as marcas comerciais
disponíveis de gentamicina IM/IV podem ser consultadas na Tabela I 27.
Tabela I 27 - Gentamicina (sulfato) comercializada em Portugal.
Dosagem
78
Laboratório
Nome comercial
B.Braun
10 mg
40 mg
80 mg
Gentamicina
Braun
;
;
Clintex Prod. Farm.
Gentamicina
Inject.
;
;
Farma-APS
Genta-Gobens
Labesfal
Gentamicina
Inject.
Lab. Atral SA
Rigaminol
Schering-Plough
Garalone
160 mg
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Introdução
3.1.1 - Estrutura química e estabilidade
A gentamicina, tal como os restantes aminoglicósidos, é formada por dois aminoaçucares
ligados por uniões glucosídicas a um núcleo aminociclitol, sendo por isso um aminociclitol
aminoglicósido (Mathews et al., 1987; Goodman e Gilman, 1989). Apresenta-se como um
policatião, cuja polaridade é em parte responsável pelas propriedades farmacocinéticas
comuns a todos os membros deste grupo.
Figura I 3 - Estrutura química da gentamicina.
A gentamicina (Figura I 3), apresenta-se comercialmente sob a forma de uma mistura de
sais de sulfato de gentamicina C1, C1A e C2, resultante das diferentes metilações do
aminoaçucar na posição 1. É um pó branco cristalino solúvel em água e insolúvel em
álcool, clorofórmio, éter e lípidos (Siegenthaler et al., 1986; Drug Information, 2005).
As ampolas para administração IM ou IV apresentam-se na forma de uma solução clara ou
levemente amarelada de pH = 3,5–5,5 (Drug Information, 2005), devendo ser armazenadas
a temperaturas entre os 2º e os 30º C. Após diluição em NaCl 0,9 % ou glicose 5% a
solução final apresenta-se estável durante 24 horas à temperatura ambiente (compatível
com o plástico e o vidro).
A gentamicina não deve ser misturada com outros fármacos a administrar, podendo daí
resultar uma interacção de carácter físico-químico com a consequente inactivação de um
ou mais dos compostos envolvidos (Trissel, 1994).
79
Introdução
3.1.2 - Mecanismo de acção
O mecanismo de acção da gentamicina passa pela inibição da síntese proteíca nas bactérias
sensíveis como resultado de uma ligação irreversível à sub-unidade ribossomal 30 S. Esta
união origina alterações ao nível do RNA mensageiro o que ocasiona uma leitura
incorrecta do código genético, formando-se peptídeos aberrantes e não funcionais, tendo
como resultado prático o bloqueio do crescimento e reprodução bacterianas (Bryan e Kwan,
1983; Siegenthaler et al., 1986), embora não exista ainda uma explicação convincente para
o facto da sua acção letal se manifestar de uma forma tão rápida como acontece na prática
clínica.
Na realidade, sabe-se que o efeito bactericida da gentamicina se expressa de uma forma
bifásica, com uma fase rapidamente bactericida que é concentração-dependente (Chan,
1989), e uma segunda fase no qual o efeito bactericida pouco depende da concentração do
antibiótico no meio (Mathews et al., 1987; Mattie et al., 1989; Jackson et al., 1990).
Para chegar ao local de acção, a gentamicina difunde-se rapidamente através dos canais
aquosos formados por proteínas purinas na membrana externa das bactérias gram-negativas,
entrando no espaço periplasmático (Nakea e Nakea, 1982). O transporte através da
membrana citoplasmática (interna) necessita de um gradiente eléctrico para haver
permeabilidade ao antibiótico, o que pode ser conseguido através da deslocação dos catiões
de Ca++ e Mg++.
A esta fase de transporte dependente de energia chama-se Fase I, podendo ser bloqueada
ou inibida por catiões bivalentes (por ex., Ca++ e Mg++), por uma hiperosmolaridade, por
uma redução do pH ou pela anaerobiose. Estas últimas condições diminuem a capacidade
bacteriana de manter a força impulsionadora necessária para o transporte (gradiente ou
potencial de membrana).
Assim, a actividade antimicrobiana da gentamicina encontra-se notavelmente reduzida, por
exemplo, no meio anaeróbio de um abcesso, ou numa urina ácida hiperosmolar (Goodman
e Gilman, 1989; Martindale, 1990; Jackson et al., 1990), ou pelos produtos de degradação
dos leucócitos (Chan, 1989).
Depois do transporte através da membrana citoplasmática, a gentamicina vai ligar-se aos
polissomas, principalmente à sub-unidade 30S do ribossoma, inibindo a síntese das
proteínas. Esta é a Fase II, igualmente dependente de energia (ATP) e que,
80
Introdução
sequencialmente, acaba por conduzir à morte da célula bacteriana, passando por alterações
que danificam a estrutura da membrana citoplasmática como parte do processo de
transporte (Fase I) e que não é susceptível de reparação devido à inibição da replicação do
DNA (Goodman e Gilman, 1989; Martindale, 1990; Jackson et al., 1990).
3.1.3 - Uso clínico
A gentamicina é um antibiótico usado há largos anos, normalmente na profilaxia e no
tratamento de infecções sistémicas graves, provocadas por gram-negativos sensíveis,
devido à sua eficácia e custo reduzido. No entanto, apresenta como desvantagem uma
estreita margem terapêutica e efeitos tóxicos, cujo principal é a nefrotoxicidade seguido da
ototoxicidade (Carvalho et al., 1996).
As infecções mencionadas no parágrafo anterior incluem o tracto biliar (colicistites e
colangites),
brucelose,
fibrose
quística,
endocardites,
gastroenterites,
listerioses,
meningites, otites, doença inflamatória pélvica, peritonites, pneumonia, septicémia,
problemas de pele (queimaduras, úlceras), infecções do tracto urinário (pielonefrites), do
osso, na profilaxia cirúrgica e no tratamento empírico de doentes neutropénicos
(Chan, 1989; Martindale, 1990).
Os aminoglicósidos também são utilizados no tratamento de infecções pediátricas em
várias situações clínicas específicas. Incluem-se neste grupo: infecções neonatais
comprovadas ou suspeitas como septicémia, meningite, pneumonia, infecção urinária e
algumas outras, na sua maioria produzidas por bactérias gram-negativas como
enterobacterias e enterococos.
81
Introdução
3.1.4 - Espectro de acção
A gentamicina apresenta uma ampla actividade antibacteriana que se exerce contra a
maioria dos bacilos gram-negativos aeróbios, onde se incluem enterobacterias,
pseudomonas e outros bacilos gram-negativos não fermentadores (Tabela I 28). Os bacilos
gram-positivos aeróbios e os cocos gram-positivos e negativos aeróbios também são
relativamente sensíveis, com excepção dos estreptococos, embora a combinação com um
β-lactâmico seja sinérgica resultando num tratamento eficaz.
Tabela I 28 - Espectro de acção da gentamicina
Microorganismo
Valores de CIM90 (μg/mL)
Gentamicina
Bactérias gram-negativas
Acinetobacter
Brucella
Calymmatobacterium
Campylobacter
Citrobacter
Enterobacter
Escherichia coli
Haemofilus
Klebsiella
Proteus mirabilis
Proteus (indol positivo)
Providencia
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella
Serratia
Shigella
Vibrio
Yersinia
6,2
4,0
1,3
1,25
1,6
4,0
4,0
1,2
8,0
6,3
0,25
6,3
Bactérias gram-positivas
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Listeria monocytogenes
(Adaptado a partir de Cunha, 1988).
82
12,5
0,78
Introdução
3.1.5 - Farmacocinética
3.1.5.1 - Absorção
A gentamicina é uma molécula policatiónica de elevada polaridade e peso molecular,
estando desaconselhada a sua administração por via oral (menos de 1% é absorvida por
esta via de administração) (Mathews et al., 1987; Goodman e Gilman, 1989). Por este
motivo, as vias parentéricas (IM e IV) são a forma natural para a administração de
gentamicina para o tratamento de infecções sistémicas (Goodman e Gilman, 1989).
A administração IV de gentamicina é normalmente efectuada por recurso a uma perfusão
lenta intermitente (20, 30 ou 60 minutos), que corresponde à forma mais segura e vantajosa
de utilização deste fármaco, por oposição à perfusão contínua devido ao seu elevado
potencial nefrotóxico (Giacoia et al., 1986). Por via IM a absorção é rápida e completa,
obtendo-se concentrações máximas 30 a 90 minutos após a administração, pelo que
constitui uma via alternativa em doentes com acesso venoso difícil, o que acontece com
grande frequência na população pediátrica, mais concretamente nos recém-nascidos.
3.1.5.2 - Distribuição
Devido à sua natureza polar, os aminoglicósidos distribuem-se rapidamente no fluído
extracelular e tecidos muito irrigados como o rim, o fígado e os pulmões. Também são
largamente distribuídos no fluído corporal incluindo ascítico, pericardial, pleural,
peritoneal, sinovial e abcessos. As concentrações alcançadas nos tecidos e secreções são
baixas. Só o córtex renal e a perilinfa vão ficando progressivamente saturados com
gentamicina ao longo do tratamento, atingindo-se aí concentrações altas, o que contribui
decisivamente para a sua conhecida nefrotoxicidade e ototoxicidade (Barza et al., 1977;
Mathews et al., 1987; El-Sayed, 1994; Drug Information, 2005).
A inflamação aumenta a penetração dos aminoglicósidos na cavidade peritoneal e
pericárdica. Atravessam a placenta e alcançam concentrações séricas no feto que são
16-50 % das concentrações séricas da mãe (Barza et al., 1977; Goodman e Gilman, 1989).
Apresentam dificuldade de penetração na bílis, secreções traqueobronquiais e fluído
cerebroespinal (Chan, 1989).
A gentamicina difunde-se com dificuldade através da membrana hemato-encefálica
atingindo concentrações no líquido cefalo-raquídio inferiores a 10% das atingidas no
83
Introdução
sangue na ausência de inflamação, podendo este valor chegar aos 20% na presença de
meningite. Estas concentrações não são suficientes para o tratamento de meningites por
gram-negativos, tendo por isso que se recorrer à via intratecal ou intraventricular
(Goodman e Gilman, 1989; Drug Information, 2005). No entanto, nos recém-nascidos o
tratamento com aminoglicósidos por via IV dá bons resultados, provavelmente devido à
imaturidade da barreira hemato-encefálica (McCraken et al., 1980).
Alguns compartimentos e tecidos, incluindo o ouvido e o rim, vão ficando
progressivamente saturados com gentamicina ao longo do tratamento, sendo de destacar
que a depuração a partir desses locais se faz de uma forma muito lenta, estando na origem
de um processo de acumulação responsável por múltiplas manifestações de toxicidade,
especialmente no caso de tratamentos agressivos e prolongados no tempo (Mathews et al.,
1987; El-Sayed, 1994; Drug Information, 2005).
A ligação às proteínas plasmáticas é negligenciável, sendo inferior a 10 % (Barza et al.,
1977; Mathews et al., 1987).
O volume de distribuição dos aminoglicósidos encontra-se notavelmente aumentado no
recém-nascido (Tabela I 29) (Semchuk et al., 1993; Hayani et al., 1997), apresentando um
valor próximo do volume do líquido extracelular e estando directamente relacionado com a
composição corporal. Os bebés prematuros estão praticamente isentos de gordura, no
recém-nascido a termo esse valor é aproximadamente 16% do peso corporal total, e tende a
aumentar entre os 5 e os 10 anos de vida, alcançando os valores do adulto na puberdade.
84
Introdução
Tabela I 29 - Volume de distribuição da gentamicina em recém-nascidos.
N
Idade
Vd (L/kg)
Referência
11
31
55
28-33 sem. IG
35-38 sem. IG
>38 sem. IG
0,94 (65,7%)
1,34 (35,6%)
1,66 (36,3%)
Izquierdo et al., 1992
82
<28 sem. IG
28-29 sem. IG
30-34 sem. IG
34-40 sem. IC
40-48 sem. IC
0,61 (49,2%)
0,66 (27,3%)
0,53 (30,2%)
0,51 (31,4%)
0,53 (20,8%)
Semchuk et al., 1993
13
13
≤34 sem. IG
>34 sem. IG
0,67 (19,4%)
0,52 (20,8%)
Semchuk et al., 1995
6
4
15
<7 dias IPN
<34 sem. IG
34-37 sem. IG
>37 sem. IG
>7 dias IPN
<34 sem. IG
34-37 sem. IG
>37 sem. IG
14
9
6
<31 sem. IG
31-34 sem. IG
34-37 sem. IG
0,59 (12,7%)
0,61 (16,8%)
0,60 (12,7%)
Vervelde et al., 1999
34
34
<30 sem. IG
30–34 sem. IG
0,464 (19,6%)
0,435 (21,6%)
Rocha et al., 2000
12
12
Com ducto arterioso
Sem ducto arterioso
0,64 (19,0%)
0,59 (24,6%)
Touw et al.,
2001
73
50
54
<30 sem. IG
30-34 sem. IG
>34 sem. IG
0,71 (30,8%)
0,56 (18,0%)
0,50 (32,4%)
Stolk et al.,
2002
32
49
58
<28 sem. IG
28-34 sem. IG
>34 sem. IG
0,50 (0,27-0,70)
0,49 (0,32-0,82)
0,46 (0,32-0,72)
DiCenzo et al.,
2003
27
31
≤34 sem. IG
>34 sem. IG
0,64 (6,3%)
0,41 (7,3%)
Ariano et al., 2003
21
22
21
0,50 (40,0%)
0,50 (20,0%)
0,40 (25,0%)
Delgado et al., 1997
0,30 (33,0%)
0,50 (20,0%)
0,40 (25,0%)
N – número de doentes; IG - Idade gestacional (semanas); IPN - Idade pós-natal (dias);
IC - Idade concepcional (semanas); Vd – volume de distribuição.
85
Introdução
3.1.5.3 - Eliminação
A eliminação da gentamicina efectua-se quase na sua totalidade na forma inalterada por
filtração glomerular nas primeiras 24 horas pós-dose. O seu perfil de eliminação pode ser
descrito de acordo com um modelo mono, bi e tricompartimental. Em geral, depois de uma
rápida fase de distribuição, há uma fase lenta de eliminação que se prolonga numa última
fase ainda mais lenta, condicionada pela eliminação do fármaco a partir dos tecidos
(Sawchuk et al., 1977; Assael et al., 1980; Schentag et al., 1983). Esta última fase foi
calculada de 51 a 110 horas para a gentamicina em prematuros, e 28 a 46 horas em
lactentes, encontrando-se relacionada com a acumulação de gentamicina em tecidos
profundos como o córtex e a medula renal, entre outros. Por esse motivo, a gentamicina
pode ainda ser detectada na urina ao fim de 10 a 20 dias após ter sido suspenso o
tratamento (Goodman e Gilman, 1989; Drug Information, 2005).
Entre os factores que podem afectar a eliminação da gentamicina destaca-se a idade.
Apesar da eliminação de gentamicina ser semelhante entre adultos e crianças com mais de
6 meses, a sua semi-vida pode prolongar-se consideravelmente no recém-nascido
(Tabela I 30), verificando-se uma diminuição deste parâmetro farmacocinético à medida
que aumenta a idade gestacional (Szefler et al., 1980; Semchuk et al., 1993).
3.1.6 - Factores que influenciam a cinética da gentamicina
Encontram-se perfeitamente identificados um conjunto de factores capazes de afectar ao
perfil cinético da gentamicina no recém-nascido: idade gestacional, idade pós-concepcional,
peso (actual e ao nascer), estado de hidratação, algumas patologias associadas e a
medicação (Edwards et al., 1986; Faura et al., 1991a; Ronchera-Oms et al., 1995;
Bezirtzoglou et al., 1996; Hammett-Stabler et al., 1998).
86
Introdução
Tabela I 30 - Parâmetros farmacocinéticos da gentamicina em recém-nascidos.
N
Idade
ke (h-1)
t1/2 (h)
CL (L/h/kg)
Referência
33
8
≤37 sem. IG
>37 sem. IG
__
__
0,8 (6,3%)*
1,16 (9,5%)*
Mulhall et al., 1983
104
≤30 sem. IPC
30-37 sem. IPC
≥ 37 sem. IPC
__
Kasik et al., 1985
11
31
55
28-33 sem. IG
35-38 sem. IG
>38 sem. IG
0,09 (71,1%)
0,18 (44,2%)
0,21 (33,2%)
Izquierdo et al.,
1992
82
<28 sem. IG
28-29 sem. IG
30-34 sem. IG
34-40 sem. IC
40-48 sem. IC
13
13
≤34 sem. IG
>34 sem. IG
__
0,096 (71,0%)
0,134 (44,2%)
0,127 (36,3%)
__
0,064 (34,0%)
0,092 (26,0%)
6
4
15
<7 dias IPN
<34 sem. IG
34-37 sem. IG
>37 sem. IG
>7 dias IPN
<34 sem. IG
34-37 sem. IG
>37 sem. IG
14
9
6
<31 sem. IG
31-33 sem. IG
34-37 sem. IG
0,077 (13,1%)
0,081 (127%)
0,086 (25,7%)
34
34
<30 sem IG
30–34 sem. IG
__
12
12
Com ducto arterioso
Sem ducto arterioso
0,058 (42,8%)
0,066 (38,8%)
73
50
54
<30 sem. IG
30-34 sem. IG
>34 sem. IG
0,049 (41,8%)
0,069 (28,5%)
0,105 (39,0%)
32
49
58
<28 sem. IG
28-34 sem. IG
>34 sem. IG
27
31
≤34 sem. IG
>34 sem. IG
21
22
21
__
8,6 (36,0%)
6,2 (32,3%)
5,2 (38,5%)
__
10,4
10,2
7,7
4,4
4,2
__
9,60 (44,0%)
6,80 (37,0%)
5,40 (37,0%)
__
__
__
Semchuk et al.,
1993
Semchuk et al.,
1995
Delgado et al, 1997
5,10 (39,0%)
5,60 (27,0%)
3,70 (43,0%)
__
0,070 (20,0%)
0,140 (17,9%)
0,046 (27,1%)
0,047 (16,7%)
0,062 (28,4%)
Vervelde et al.,
1999
11,17 (25,9%)
8,88 (31,6%)
0,029 (27,8%)
0,034 (27,6%)
Rocha et al., 2000
__
0,037 (37,8%)
0,039 (34,1%)
Touw et al.,
2001
__
__
Stolk et al.,
2002
10,16 (7,0-16,9)
8,89 (6,0-15,4)
6,98 (4,9-9,7)
0,032 (0,02-0,05)
0,037 (0,03-0,06)
0,047 (0,03-0,07)
DiCenzo et al.,
2003
10,5
5,0
0,045 (33,3%)
0,058 (27,6%)
Ariano et al., 2003
__
N – número de doentes; * - mL/min/kg; IG - Idade gestacional (semanas); IPC - Idade pós-concepcional
(semanas); IPN - Idade pós-natal (dias); IC - Idade concepcional; (semanas); ke – constante de eliminação;
t½ - semi-vida de eliminação; CL –clearance.
87
Introdução
3.1.7 - Toxicidade e efeitos adversos
Apesar da gentamicina ser altamente eficaz no tratamento de infecções provocadas por
bactérias aeróbias gram-negativas, é potencialmente tóxica para todos os grupos etários.
Apresenta nefrotoxicidade, ototoxicidade e, ocasionalmente, bloqueio neuromuscular e
hipersensibilidade. A nefrotoxicidade e a ototoxicidade parecem ter um certo grau de
independência uma da outra, embora estejam ambas relacionadas com o regime de
dosificação e duração do tratamento (Mathwes et al., 1987; Meunier et al., 1987;
Chan, 1989).
3.1.7.1 - Nefrotoxicidade
A nefrotoxicidade encontra-se bem referenciada, atingindo cerca de 5% a 15% dos doentes
(Elhanan et al., 1995). O período médio de tempo necessário para que se desenvolva
nefrotoxicidade induzida por este fármaco é de pelo menos 5 dias (Semchuk et al., 1995).
A nefrotoxicidade ocorre devido à acumulação dos aminoglicósidos nas células tubulares
aonde acedem por endocitose, especialmente ao nível do túbulo proximal. As vesículas
endocíticas fundem-se com os lisossomas, sequestrando os aminoglicósidos nos organelos
de forma inalterada. Tudo isto é um fenómeno contínuo que leva à acumulação extensa dos
aminoglicósidos no lisossoma. O aminoglicósido sequestrado no lisossoma vai inibir a
fosfolípase lisossomal e a spingomielase das células do túbulo proximal, resultando
fosfolipidoses dos lisossomas e formação de corpos mielóides. Este processo leva à perda
da integridade da membrana do lisossoma com libertação de grandes quantidades de
antibiótico, enzimas lisossomais e fosfolípidos no citoplasma. Caso este ciclo não seja
interrompido, o resultado final passa pela morte da célula e posterior necrose tubular
(Mattie et al., 1989; Chan, 1989; Skopnik et al., 1992; Marra et al., 1996; Miron, 2001). Na
Tabela I 31 pode ser observada uma gradação da gravidade associada à nefrotoxicidade e
respectivas definições.
88
Introdução
Tabela I 31 - Graus de nefrotoxicidade.
Gravidade
Definição
0
Sem necessidade de definição.
1
Aumento da Crsér em 0,1 mg/dL (10 μmol/L) ou 20% acima do
valor basal ou diminuição da CLcr 15 mL/min ou 15% do valor
basal.
2
Aumento da Crsér em 0,3 mg/dL (30 μmol/L) ou 25-40% acima do
valor basal ou diminuição da CLcr 30 mL/min ou 30% do valor
basal.
3
Aumento da Crsér em 0,5 mg/dL (50 μmol/L) ou 50-100% acima do
valor basal ou diminuição da CLcr 50% do valor basal.
CL –clearance; Crser – creatinina sérica. (Adaptado a partir de Kahlmeter e Dahlager, 1984)
A gentamicina acumula-se mais do que os outros aminoglicósidos a nível cortical,
apresentando uma eliminação prolongada o que explicaria a sua maior toxicidade. As
alterações renais normalmente são reversíveis, uma vez que as células do túbulo proximal
se podem regenerar, caso após os primeiros sinais de toxicidade o tratamento seja
descontinuado (Mathwes et al., 1987; Hammett-Stabler et al., 1998).
A nefrotoxicidade da gentamicina é atribuída à sua acumulação no rim, podendo progredir
até uma completa inactivação funcional, havendo nesta altura um marcado aumento da
Crsér. A nefrotoxicidade está documentada para vales >2 μg/mL (Meunier et al., 1987;
Cos et al., 1992; Semchuk et al., 1993; Murphy et al., 2005), e picos >10-12 μg/mL, por
longos períodos de tempo. Pensa-se que devido à destruição do fluxo sanguíneo no
nefrónio no recém-nascido, a nefrotoxicidade seja menor (Semchuk et al., 1993).
Os factores que concorrem para a nefrotoxicidade da gentamicina podem ser apreciados na
Tabela I 32 (Leititis et al., 1991; Hammett-Stabler et al., 1998), sendo de destacar que
estaremos sempre a falar de um efeito aditivo no que diz respeito à toxicidade
(Moore et al., 1984).
89
Introdução
Tabela I 32 - Factores de risco de nefrotoxicidade dos aminoglicósidos.
Relacionado-fármaco
Dose
duração
posologia
Tratamento anterior com
aminoglicósidos
Tipo de aminoglicósido
Fármacos associados
diuréticos
ciclofosfamida
cisplatino
anfotericina, etc.
Hiperalimentação
Relacionado-doente
Idade e sexo (♀ mais elevada)
Doentes em estado crítico (acidose
metabólica)
Insuficiência renal a priori
Insuficiência hepática
(vasoconstrição intrarenal)
Desidratação
Hiponatrémia, hipocalcémia,
hipomagnesémia
Taxas elevadas de CLcr (leva a uma
grande filtração de fármaco)
Hipotensão, choque
Os recém-nascidos parecem ser mais resistentes que os outros doentes à toxicidade pela
gentamicina e aminoglicósidos em geral, sugerindo-se que a imaturidade renal esteja
associada a este menor risco de toxicidade, devido à incapacidade de acumular o fármaco
nas células tubulares (Rajchgot et al., 1984). No entanto, estudos efectuados por diversos
autores permitiram verificar um aumento na excreção de N-acetilglicosaminidase,
indicador de lesão celular, a nível tubular (Rajchgot et al., 1984; Leititis et al., 1991;
Langhendries et al., 1993).
3.1.7.2 - Ototoxicidade
Os aminoglicósidos apresentam dois tipos de ototoxicidade: a vestibular (naúseas, tonturas,
vertingens, nistagmo) e a coclear (tinitus e vários graus de perda auditiva) (Mathews et al.,
1987; Martindale, 1990). As perdas auditivas ocorrem em cerca de 8% dos doentes e são
de carácter irreversível, enquanto a toxicidade vestibular se situa nos 3%, sendo geralmente
de carácter reversível (Mathews et al., 1987; Elhanan et al., 1995; Hammett-Stabler et al.,
1998).
O mecanismo exacto pelo qual os aminoglicósidos produzem ototoxicidade não é bem
conhecido, aceitando-se que se acumulam na perilinfa do ouvido interno e destroem as
90
Introdução
células cabeludas, ficando aí retidos durante algum tempo, já que a sua semi-vida de
eliminação a partir da perilinfa é 10 a 15 vezes mais prolongada que a sérica. Esta elevada
concentração local actua sobre os fosfolípidos na coclea do órgão de Corti e do órgão
vestibular, produzindo disfunção auditiva e vestibular, respectivamente (Whelton, 1987;
Meunier et al., 1987; El-Sayed, 1994).
Os aminoglicósidos apresentam ototoxicidade em diferentes graus (Tabela I 33), embora se
encontrem identificados alguns factores de risco: idade superior a 60 anos, longa duração
de tratamento, prévio ou simultâneo uso de fármacos ototóxicos, tratamento prévio com
aminoglicósidos, altas concentrações séricas de aminogicósidos (vales >2 μg/mL e
picos >10-12 μg/mL), pré-existência de insuficiência renal, febre, antecedentes familiares
de perda auditiva e exposição a ruído intenso (Mathews et al., 1987; Meunier et al., 1987;
Cos et al., 1992; Skopnik et al., 1992).
Tabela I 33 - Ototoxicidade dos aminoglicósidos.
Ototoxicidade
(%)
Coclear
Vestibular
Amicacina
12,2
2,8
Gentamicina
8,3
2,7
Tobramicina
5,2
2,2
Netilmicina
3,0
0,9
(Adaptado a partir de Mathews, 1987)
3.1.7.3 - Outras manifestações
O bloqueio neuromuscular é pouco frequente e ocorre em doentes com factores de risco
como: miastenia gravis, distrofia muscular, hipocalcémia, hipoxemia, administração
concomitante de anestésicos curarizantes ou outros agentes bloqueadores neuromusculares,
absorção
intraperitoneal
ou
intrapleural
massiva
(Mathews
et
al.,
1987;
Hammett-Stabler et al., 1998).
Após a absorção a partir das serosas (peritoneal, pleural) verifica-se o bloqueio
neuromuscular por inibição da libertação pré-sináptica de acetilcolina e redução da
91
Introdução
sensibilidade pós-sináptica. Manifestando-se com paralesia progressiva dos músculos
estriados o que leva a um enfraquecimento muscular, à depressão respiratória e à apneia
prolongada (Barza, 1977; Mathews et al., 1987; Martindale, 1990).
Reacções de hipersensibilidade local podem ocorrer, sendo as reacções de anafilaxia raras,
embora existam registos da sua ocorrência com a gentamicina (Barza, 1977; Martindale,
1990).
Há referências a outros efeitos raros relativamente à toxicidade da gentamicina, como
sejam discrasia sanguínea, púrpura, naúsea, vómitos, estomatites, disfunção hepática
(como o aumento dos valores de aminotransferase e bilirrubina), confusão, alucinações,
letargia, convulsões e depressão (Martindale, 1990).
92
Introdução
3.2 - VANCOMICINA
A vancomicina é um antibiótico glicopéptidico obtido a partir das culturas de Nocardia
orientalis (outrora Streptomyces orientalis), um actinomicete isolado de amostras de solo
da Indonésia e Índia.
Foi usado pela primeira vez em clínica no ano de 1958 e aprovado pela FDA em 1964. O
seu nome deriva da palavra inglesa vanquish, que significa vencer. O preparado inicial era
conhecido como o “lodo do Mississipi” pela sua cor castanha devido às impurezas,
responsáveis pela sua toxicidade, o que levou ao seu quase desuso. A obtenção de um
produto mais purificado e o aumento das infecções por estafilococos determinaram o seu
ressurgimento nos últimos anos (Griffth, 1984; Goodman e Gilman, 1989; Jonhson et al.,
1990; Wilheim, 1991; Drug Information, 2005). Em Portugal as marcas comerciais
disponíveis para uso parenteral podem ser consultadas na Tabela I 34.
Tabela I 34 - Vancomicina (cloridrato) comercializada em Portugal.
Laboratório
Nome comercial
Forma Farmacêutica
(Amp)
Dosagem
Lilly
Vancocina CP
10 mL
20 mL
500 mg
1000 mg
Farma-APS
Vancomicina APS
10 mL
20 mL
500 mg
1000 mg
Clintex Prod. Farm.
Vancomicina Clintex
10 mL
20 mL
500 mg
1000 mg
Labesfal
Vancomicina Labesfal
10 mL
20 mL
500 mg
1000 mg
Apresentando uma grande actividade contra bactérias gram-positivas, mas pouca ou
nenhuma contra bacilos gram-negativos aeróbios ou anaeróbios (Goodman e Gilman, 1989;
Wilheim, 1991), o uso deste antibiótico na prática clínica sofreu um incremento importante
nos últimos anos devido ao aumento das infecções nosocomiais (Galiana et al., 1996;
Wrishko et al., 2000).
93
Introdução
3.2.1 - Estrutura química e estabilidade
A vancomicina é um glicopéptido tricíclico complexo de elevado peso molecular
(Goodman e Gilman, 1989; Jonhson et al., 1990). Apresenta-se comercialmente sob a
forma de um sal de cloridrato de vancomicina (Figura I 4), um pó com uma cor
acastanhada, anfótera e sabor amargo, muito solúvel em água e insolúvel em álcool. As
soluções a 5% apresentam um pH de 2,5 – 4,5 (Drug Information, 2005).
Figura I 4 - Estrutura química da vancomicina.
As ampolas de vancomicina devem ser armazenadas a temperaturas entre os 15º e os 30º C;
após reconstituição com água estéril a sua estabilidade à temperatura ambiente é de duas
semanas e de 96 horas no frigorífico. As diluições de 5mg/mL em NaCl 0,9% ou
glicose 5% são estáveis por 17 dias à temperatura ambiente e 63 dias a 5ºC se guardados
em frascos de vidro ou PVC. As soluções orais preparadas a partir das ampolas para
injectável numa concentração de 1,66% tem estabilidade de duas semanas quando
guardadas no frigorífico ou 90 dias se guardado entre 0º-4ºC (Trissel, 1994;
Drug Information, 2005).
A vancomicina é fisicamente incompatível com vários medicamentos (especialmente
alcalinos), sendo desejável evitar associações de consequências imprevisíveis (Tabela I 35)
(Trissel, 1994; Drug Information, 2005).
94
Introdução
Tabela I 35 – Incompatibilidades da vancomicina.
• Aminofilina
• Fenobarbital
• Albumina
• Fenitoína
• Anfotericina B
• Penicilina
• Ceftazidima
• Piperacilina/Tazobactam
• Cefepime
• Varfarina
• Dexametasona
3.2.2 - Mecanismo de acção
A vancomicina é um antibiótico com acção bactericida, cujo a principal mecanismo de
acção é a inibição da síntese do peptidoglicano, embora também afecte a permeabilidade
das membranas citoplasmáticas e a síntese de RNA.
Pensa-se que se formam ligações de hidrogénio entre a vancomicina e as terminações
D-alanina-D-alanina do pentapeptideo percursor do peptidoglicano da membrana celular
(Jonhson et al., 1990). Este efeito ocorre em locais diferentes do correspondente à acção
das penicilinas, produzindo-se de imediato a inibição da síntese da parede celular, com
alterações secundárias na membrana citoplasmática.
Os iões de cálcio, magnésio, manganes e ferro reduzem o grau de adsorção da vancomicina
ao seu local de acção a nível da parede celular, mas são necessários mais estudos para
determinar com exactidão a importância dessa interacção (Drug Information, 2005). Talvez
devido a este mecanismo de acção as resistências não são muito comuns, embora hoje se
saiba que há algumas bactérias resistentes (Schaad et al., 1980; Gross et al., 1985;
Goodman e Gilman, 1989; Rodvold et al., 1997; Drug Information, 2005). A
insensibilidade das bactérias gram-negativas à vancomicina parece ficar a dever-se ao facto
dos canais aquosos formados por proteínas purinas na membrana externa destas bactérias,
não se adequarem em tamanho e volume a este fármaco (Jonhson et al., 1990).
95
Introdução
3.2.3 - Uso clínico
A principal indicação da vancomicina (nomeadamente em recém-nascidos) é o tratamento
de infecções graves por S. Coagulase-negativos, frequentemente meticilino-resistentes, ou
como alternativa em doentes alérgicos aos β-lactâmicos (Schaad et al., 1981; Barefield,
1994; Moller et al., 1997; Rodvold et al., 1997). Para além desta indicação específica
existem ainda outras situações em que o uso de vancomicina se encontra igualmente
recomendado (Tabela I 36).
Tabela I 36 – Indicações gerais para o uso de vancomicina.
1- Utilização profiláctica
• Hemodialisados
• Profilaxia cirúrgica em doentes alérgicos a β-lactâmicos
2- Terapia empírica
• Neutropénicos febris
• Doentes com próteses e cateteres, e em que há suspeita de infecção por
microorganismos sensíveis à vancomicina
• Endocardites, ostiomielites, peritonites (doentes em DPA)
• Meningites associadas a trauma
• Septicémia
3- Terapia específica
• Infecções graves por gram-positivos em doentes alérgicos a β-lactâmicos
• Infecções causadas por microorganismos sensíveis à vancomicina
(microorganismos resistentes aos β-lactâmicos; S. Coagulase-negativos e
meticilino-resistentes)
• Colites pseudomembranosa (via oral)
DPA – diálise peritoneal em ambulatório.
A utilização sinérgica da vancomicina com outros antibióticos é bastante frequente em
doentes com elevada probabilidade de desenvolverem infecções causadas por S. aureus
meticilino-resistentes (diabetes mellitus, doença vascular periférica, queimados e graves
úlceras de pressão) e por S. epidermidis (endocardites em doentes com válvulas,
neutropénicos). É o caso da combinação de vancomicina com um aminoglicósido no
tratamento de infecções por S. faecalis e bactérias meticilino-resistentes, não obstante a
96
Introdução
agressividade desta associação com eventuais repercussões toxicológicas (Goodman e
Gilman, 1989; CDCP, 1995; Hammett-Stabler et al., 1998).
Durante muitos anos não existiu referência a resistências à vancomicina. Recentemente
surgiram bactérias multiresistentes à vancomicina, o que levou ao aparecimento de
algumas recomendações gerais acordadas e seguidas por diferentes instituições
(Schwalbe et al., 1990; CDCP, 1995):
1. Situações em que o uso de vancomicina é apropriado ou aceitável:
¾ Tratamento de infecções graves por bactérias gram-positivas resistentes a
β-lactâmicos;
¾ Tratamento de infecções causadas por bactérias gram-positivas em doentes
alérgicos a β-lactâmicos;
¾ Como alternativa ao tratamento antibiótico habitual da colite quando este falha
ou a situação se agrava muito;
¾ Na profilaxia e tratamento de endocardite ou cirurgia com colocação de
próteses;
¾ Profilaxia em serviços com um elevado número de infecções por bactérias
meticilino-resistentes.
2. Situações em que o uso de vancomicina é desencorajado:
¾ Profilaxia por rotina em cirurgia;
¾ Terapia empírica de doentes neutrópenicos febris, a não ser que haja forte
indicação de infecção por gram-positivos e prevalência de infecções por
S. aureus meticilino-resistentes no serviço;
¾ Profilaxia sistémica ou local de infecções de cateteres sistémicos ou periféricos;
¾ Profilaxia de rotina de recém-nascidas com baixa peso ao nascer;
¾ Profilaxia de rotina de doentes em hemodiálise e diálise peritoneal;
¾ Uso tópico de vancomicina.
97
Introdução
3.2.4 - Espectro de acção
A vancomicina é principalmente activa contra bactérias gram-positivas aeróbias e algumas
anaeróbias, exercendo em geral um efeito bactericida para CIM inferiores a 5 μg/mL
(Tabela I 37) (Goodman e Gilman, 1989; Wilheim, 1991; Drug Information, 2005). Não é
activa contra gram-negativos, maioria de anaeróbios, vírus, Richettsia, Chlamydia e fungos.
Tabela I 37 - Espectro de acção da vancomicina.
Microorganismo
Estafilococos:
S. aureus (sensível à meticilina)
S. aureus (resistente à meticilina)
S. epidermidis (sensível à meticilina)
S. epidermidis (resistente à meticilina)
S. pyogenes (grupo A)
S. agalactiae (grupo B)
1
2
2
4
2
0,5
Estreptococos grupos C e G
S. mitis
S. sanguis
S. bovis
S. pneumoniae (sensível à penicilina)
S. pneumoniae (resistente à penicilina)
1
1
1
0,25
0,25
1
Enterococos:
E. faecalis (susceptível à gentamicina)
E. faecalis (resistente à gentamicina)
2
4
Espécies:
Actinomyces
Bacillus
Lactobacillus
5 a 10
2
2
Listeria monocytogenes
Corynobacterium jeikeium (difteroides JK)
Clostridium difficile
1
3
0,4 a 6
(Adaptado a partir de Cunha, 1988).
98
Valores de CIM90 (μg/mL)
Vancomicina
Introdução
3.2.5 - Farmacocinética
3.2.5.1 - Absorção
A vancomicina, devido às suas características físico-químicas, não é absorvida após
administração por via oral. A excepção a esta regra surge em doentes com colite, embora
nesse caso as concentrações séricas alcançadas não sejam clinicamente relevantes, a não
ser que o doente apresente simultaneamente insuficiência renal (Goodman e Gilman, 1989;
Rodvold et al., 1997; Drug Information, 2005).
A via endovenosa é a via de eleição para a administração deste fármaco (a administração
IM é muito dolorosa e localmente produz eritema e tumescência, podendo até originar
necrose). Após a administração IV de 1g de vancomicina num adulto o pico será atingido
ao fim de 2 horas (Goodman e Gilman, 1989; Rodvold et al., 1997; Drug Information,
2005). A administração deve ser feita por recurso a uma perfusão lenta (mínimo 1 hora)
intermitente, evitando-se assim alguns dos efeitos adversos da vancomicina.
3.2.5.2 - Distribuição
Após a sua administração, a vancomicina distribui-se largamente pelos tecidos corporais
atingindo os fluídos pericárdico, pleural, ascítico e sinovial. A inflamação das meninges
permite que pequenas quantidades de antibiótico sejam encontradas no líquido
cerebroespinal. A vancomicina tem capacidade de atravessar a placenta; no leite materno
ainda não se encontra bem caracterizada a sua presença (Schaad et al., 1980 e 1981;
Goodman e Gilman, 1989; Rodvold et al., 1997; Drug Information, 2005).
A sua ligação às proteínas plasmáticas atinge valores da ordem dos 52 - 60%. Na presença
de insuficiência renal com hipoalbuminémia estes valores diminuem consideravelmente.
Para o recém-nascido ainda não se encontra bem determinada qual a taxa de ligação da
vancomicina às proteínas plasmáticas, embora tudo aponte para que este aspecto não seja
clinicamente relevante (Rodvold et al., 1997).
O volume de distribuição da vancomicina no adulto normal varia entre 0,62 – 0,80 L/kg,
próximo do valor da à água corporal total ou até ligeiramente superior. O volume de
distribuição da vancomicina é relativamente semelhante em pediatria por comparação com
a população adulta (Tabela I 38) (Rodvold et al., 1997).
99
Introdução
Tabela I 38 - Volume de distribuição da vancomicina em recém-nascidos.
N
7
7
7
3
6
6a
5b
12
15
4
c
19d
192e
30f
29
16
15
13
15g
15h
35
25
72
59
108
IG
(semanas)
32
34
40
28,4
29
(24-35)
26
(25-28)
29,3
(23-41)
29,6
(22-42)
27,6
(22-40)
31,2
26,6
29,4
35,9
38,8
39,7
IPN
(dias)
3,3
4,7
2,6
29
(27-32)
40
(2-62)
7
15
21
29
(11-86)
18
(10-30)
34
(6-102)
14,5
(1-73)
16
(1-53)
18
18
23
24
13
8
25 - 40
__
29,4
(25-34)
29
(25-41)
28,9
(24-41)
26
(3-49)
19
(2-76)
14
(3-27)
__
__
IPC
(semanas)
__
30
(29-31)
32,7
(31-35)
29
32
31,4
33,2
(26-44)
28,5
(26,4-30,9)
34,2
(26,3–45,6)
__
33,4
27-30
31-36
≥37
__
≤ 32
> 32
32,9
(28-37)
32
(26-45)
__
PA
(g)
1230
1570
3070
≤ 1000
0,736
0,706
0,690
0,970 ± 0,426
> 1000
0,647 ± 0,362
Vd (L/kg)
1069
0,71 ± 0,36
0,48 ± 0,17
0,52 ± 0,1
1241±581
0,48 ± 0,09
810 ± 0,16
0,57 ± 0,06
1780 ± 1,08
0,52 ± 0,08
1480
(390-4350)
1305
(543–3738)
1860
972
1379
2616
3100
3400
0,764 (54,1%)
__
775 - 3740
1479 ± 809
1520
(570-4230)
1045
(510-4410)
0,496 (19,3%)
Referência
Schaad et al., 1980
Gross et al., 1985
Spivery et al., 1986
Reed et al., 1987
Kildoo et al., 1990
Asbury et al., 1993
Seay et al., 1994
0,551 ± 0,205
0,55 ± 0,02
0,56 ± 0,02
0,57 ± 0,02
0,45 ± 0,18
0,39 ± 0,12
0,562 (15%)
0,498 (16%)
Rodvold et al., 1995
0,65 ± 0,34
Fofah et al., 1999
0,669 (18%)
Grimsley et al., 1999
0,43 (25%)
Hoog et al., 2000
McDougal et al.,
1995
Buck et al., 1998
Silva et al., 1998
N – número de doentes; a) com ducto arterioso e indometacina; b) com ducto arterioso fechado; c) com
indometacina; d) sem indometacina; e) bicompartimental; f) monocompartimental; g) com membrana de
troca de oxigénio; h) sem membrana de troca de oxigénio; IG – Idade gestacional; IPN – Idade pós-natal;
IPC – Idade pós-concepcional; PA – Peso actual; Vd – volume de distribuição.
3.2.5.3 - Eliminação
De uma forma geral considera-se que a semi-vida da vancomicina ronda as 4 - 6 horas no
adulto com a função renal normal, tendo tendência a aumentar na presença de insuficiência
renal. Há estudos que falam em semi-vidas na ordem das 30 horas para doentes com
100
Introdução
valores de clearance da creatinina entre 10-60 mL/minuto, podendo ser atingidas as
150 horas quando esses valores se apresentam inferiores a 10 mL/minuto.
A principal via de eliminação da vancomicina é a filtração glomerular (excreção renal). Só
pequenas quantidades são eliminadas pela bílis (Zokufa et al., 1989). Quando a
administração é oral (acção tópica), a eliminação é feita sobretudo pelas fezes.
A eliminação da vancomicina por diálise vai depender do tipo de técnica e filtro utilizados
(Goodman e Gilman, 1989; Bailie et al., 1992; Rodvold et al., 1997; Drug Information,
2005). Após o período de diálise há um processo de redistribuição da vancomicina que
demora em média cerca de 6 horas (2-12 horas) (Leader et al., 1995). Em situações de
insuficiência hepática, embora se verifique uma diminuição da eliminação, não há no
entanto necessidade de se proceder a um reajuste da dose (Rodvold et al., 1988;
Zokufa et al., 1989).
A forma mais correcta de caracterizar a disposição corporal da vancomicina é através de
um modelo tricompartimental, com uma semi-vida na fase inicial de aproximadamente
7 minutos (fase α de rápida distribuição), seguindo-se uma fase β igualmente distributiva
(0,5–1 hora), havendo depois uma fase γ de eliminação (3–9 horas) em doentes com função
renal normal.
A monitorização de vancomicina na prática clínica encontra-se associada à utilização de
um modelo mono (fase γ) ou bicompartimental (fases α+ β, e fase γ), embora tenha sido já
demonstrada a equivalência entre ambos no que diz respeito à sua capacidade preditiva,
sempre e quando os tempos de amostragem e respectiva interpretação das concentrações
séricas seja apropriada.
Na verdade, o erro associado à adopção do modelo monocompartimental no cálculo dos
parâmetros cinéticos é baixo (especialmente em neonatologia), sendo clinicamente
aceitável e logisticamente preferível na rotina clínica (Gabriel et al., 1991; Gatta et al.,
1993; Rodvold et al., 1997; Wrishko et al., 2000).
A eliminação da vancomicina é um processo claramente idade-dependente (Koren et al.,
1987). O valor da semi-vida de eliminação varia entre as 6–11 horas no recém-nascido,
3–4,1 horas no lactente e 2,2–3 horas na infância (Tabela I 39).
101
Introdução
Tabela I 39 - Parâmetros farmacocinéticos da vancomicina em recém-nascidos.
N
7
7
7
3
6
a
6
5b
12
15
4
c
19d
29
16
15
13
15g
15h
35i
25j
72
108
IG
(semanas)
IPN
(dias)
IPC
(semanas)
32
34
40
3,3
4,7
2,6
__
__
29
(27-32)
40
(26-62)
(31-35)
28,4
29
7
15
21
29
29
32
31,4
33,2
(24-35)
26
(25-28)
29,3
(23-41)
31,2
26,6
29,4
35,9
38,8
39,7
(11-86)
18
(10-30)
34
(6-102)
18
18
23
24
13
8
(26-44)
28,5
(26,4-30,9)
34,2
(26,3–45,6)
33,4
27-30
31-36
≥ 37
25-40
__
__
30
(29-31)
32,7
PA
(g)
t1/2
(h)
1230
1570
3070
≤ 1000
9,8
5,9
6,7
9,92 ± 0,59
> 1000
5,35 ± 0,77
1069
24,6 ± 12,4
7,0 ± 1,8
6,6 ± 2,1
1241±581
5,6 ± 1,6
1,07 ± 0,34
810±160
11,9 ± 3,7
5,6 ± 1,6
0,6 ± 0,17
__
1780±1,08
1,2 ± 0,53
__
6,63 ± 0,35
5,59 ± 0,36
4,90 ± 0,39
8,29 ± 2,23
6,53 ± 2,05
28-45
775-3740
__
1479±809
1045
(510-4410)
29,4
26
32,9
(25-34)
(3-49)
(28-37)
28,9
(24-41)
14
(3-27)
__
Referência
Schaad et al., 1980
Gross et al., 1985
1,030 ±
0,223
0,38 ± 0,15
0,90 ± 0,37
1,16 ± 0,6
1860
972
1379
2616
3100
3400
__
CL
(mL/min/kg
)
15*
27*
30*
1,099 ±
0,239
Spivery et al., 1986
Reed et al., 1987
Kildoo et al., 1990
Asbury et al., 1993
1,01 ± 0,37
1,0 ± 0,07
1,17 ± 0,08
1,33 ± 0,08
0,65 ± 0,28
0,79 ± 0,41
0,07 (41%)
0,086 (35%)
Rodvold et al., 1995
6,9 ± 4,5
0,65 ± 0,34
Fofah et al., 1999
6,0 (34%)
0,95 (31%)
Hoog et al., 2000
McDougal et al.,
1995
Buck et al., 1998
Silva et al., 1998
n – número de doentes; * - mL/min/1,73m2; a) com ducto arterioso e indometacina; b) com ducto arterioso
fechado; c) com indometacina; d) sem indometacina; e) bicompartimental; f) monocompartimental; g) com
membrana de troca de oxigénio; h) sem membrana de troca de oxigénio; i) com indometacina e ventilação; j) sem
indometacina e ventilação; IG - Idade gestacional; IPN - Idade pós-natal; IPC - Idade pós-concepcional;
PA - peso actual; ke – constante de eliminação; CL – clearance.
3.2.6 - Factores que influenciam a cinética da vancomicina
Encontram-se perfeitamente identificados um conjunto de factores capazes de afectar ao
perfil cinético da vancomicina no recém-nascido: peso actual, função renal (Crsér) e idade
cronológica (idades gestacional, pós-natal e pós-concepcional) (Koren et al., 1987;
Rodvold et al., 1997; Caparelli et al., 2001; Tan et al., 2002). Outras covariáveis com
potencial interesse incluem o uso de indometacina, a ventilação mecânica, o Apgar e o uso
de membranas de oxigenação extracorpórea (Galiana et al., 1996; Caparelli et al., 2001).
102
Introdução
3.2.7 - Toxicidade e efeitos adversos
Apesar da vancomicina ser altamente eficaz no tratamento de infecções provocadas por
bactérias que lhe são sensíveis, é potencialmente tóxica para todos os grupos etários.
Apresenta nefrotoxicidade, ototoxicidade e, ocasionalmente, rash, síndrome do “pescoço
vermelho”, irritação local, tromboflebites, eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia,
arrepios e febre (Gross et al., 1985; Rodvold et al., 1997; Drug Information, 2005).
3.2.7.1 - Nefrotoxicidade
A nefrotoxicidade encontra-se perfeitamente correlacionada com as concentrações séricas
de vancomicina para a população adulta (Rodvold et al., 1997; Capparelli et al., 2001;
Tan et al., 2002; Drug Information, 2005). Embora não tão bem documentada, também
existem estudos que apontam no mesmo sentido em relação à população pediátrica, sendo
certo que existe um aumento desse mesmo risco quando se associam outros medicamentos
nefrotóxicos, como acontece com os aminoglicósidos (Nahata, 1987; Linder et al., 1993;
Rodvold et al., 1997).
A nefrotoxicidade encontra-se associada à existência de picos >50–80 mg/L (Zokufa et al.,
1089; Tan et al., 2002; Drug Information, 2005) e vales >10 mg/L (Burton et al., 1989;
Leader et al., 1995; Gabriel et al., 1991; Rodvold et al., 1997; Hammett-Stabler et al., 1998;
Nandi-Lozano et al., 2003). Atinge cerca de 5-7% dos doentes adultos e apresenta um
carácter de reversibilidade (Tan et al., 2002). No caso dos recém-nascidos, embora
documentada (Bhatt-Mehta et al., 1999), pode-se considerar que se trata de um fenómeno
raro.
3.2.7.2 - Ototoxicidade
A ototoxicidade parece ocorrer em 2-5,5% dos doentes submetidos à terapêutica com
vancomicina (Burton et al., 1989; Leader et al., 1995; Hammett-Stabler et al., 1998). O
mecanismo pelo qual ocorre a toxicidade a nível auricular permanece por esclarecer,
embora pareça haver danos irreversíveis causados pela vancomicina a nível do oitavo
nervo craniano, o que pode conduzir a uma surdez irreversível (Leader et al., 1995;
Drug Information, 2005).
A ototoxicidade encontra-se associada a valores de pico >50 mg/L (Gabriel et al., 1991),
estando surdez irreversível documentada para valores de pico >80 mg/L de vancomicina,
103
Introdução
especialmente quando utilizada em associação com outros fármacos ototóxicos
(Hammett-Stabler et al., 1998; Tan et al., 2002).
3.2.7.3 - Outras manifestações
A neutropenia está correlacionada com vales >10 mg/L (Leader et al., 1995) e aparece
aproximadamente 7 dias após o inicio do tratamento com vancomicina, sendo o seu efeito
reversível (Goodman e Gilman, 1989; Drug Information, 2005). Na origem da
trombocitopenia podem estar diferentes factores, como por exemplo, a sépsis, embora o
uso de vancomicina possa contribuir para o seu aparecimento, sobretudo se forem
utilizados tratamentos muito agressivos (Linder et al., 1993; Bhatt-Mehta et al., 1999).
A rápida administração de vancomicina conduz ao aparecimento de hipotensão e rash
maculopapular na face, no pescoço e tronco (síndrome do pescoço vermelho, desenvolve-se em 47% dos doentes). Hipersensibilidade com sinais de choque anafiláctico também
podem ocorrer, razão pela qual se recomenda a sua administração através de perfusões
lentas. Na maior parte dos casos uma preparação e administração de acordo com as
indicações não causam problema, não sendo necessário recorrer à profilaxia com anti-histamínicos (Goodman e Gilman, 1989; Hammett-Stabler et al., 1998; Drug Information,
2005).
Por último, a possibilidade de ocorrer irritação local com o aparecimento de tromboflebites,
dor no local de administração e até necrose tecidular é elevada. Este é, aliás, o motivo pelo
qual se encontra desaconselhada a administração intramuscular de vancomicina, sendo
igualmente importante que se exerça uma monitorização cuidada de possíveis
extravasamentos no local de administração.
104