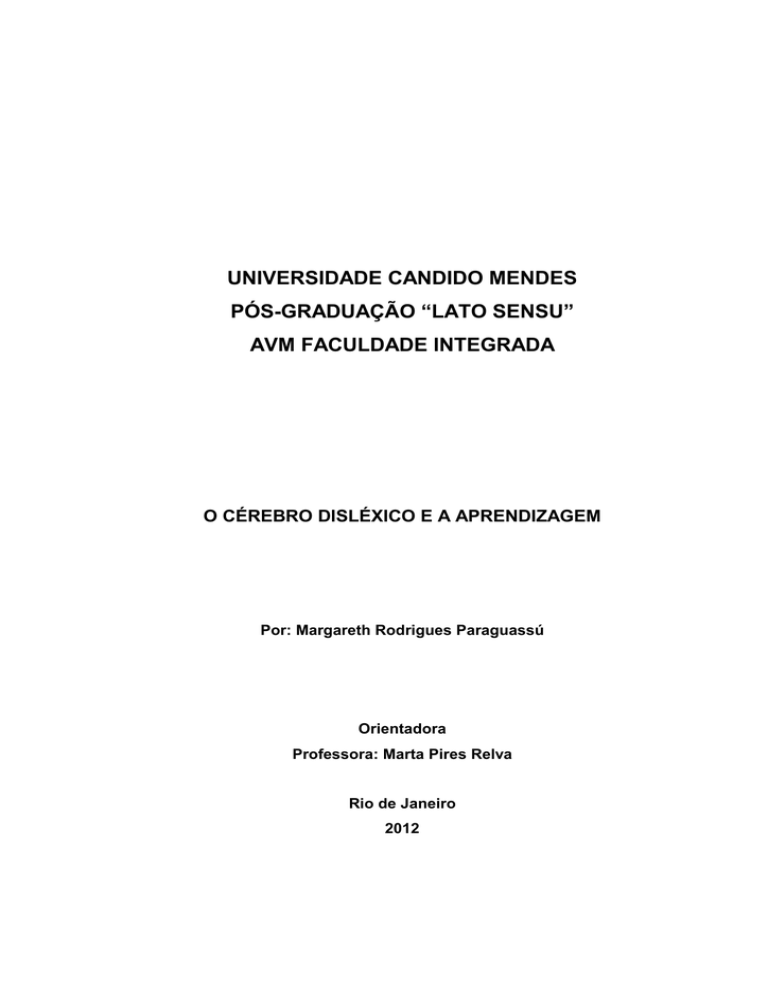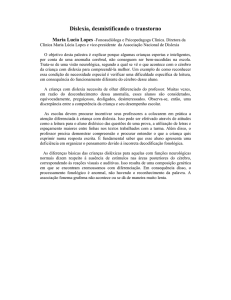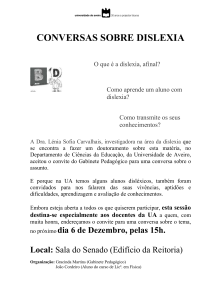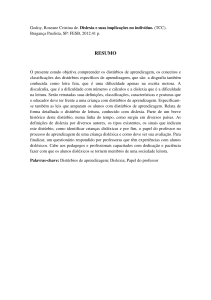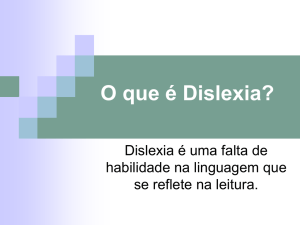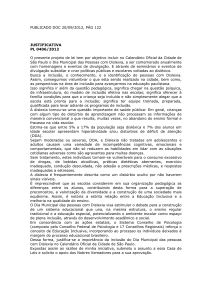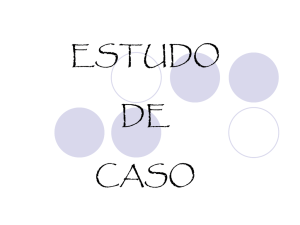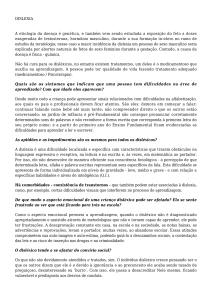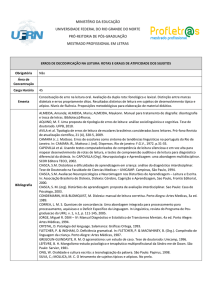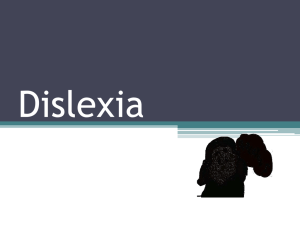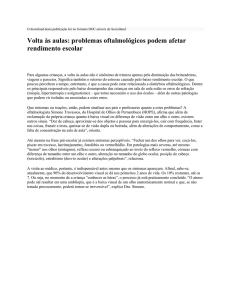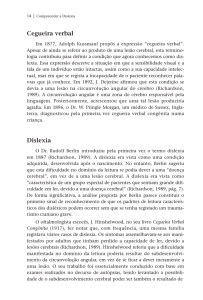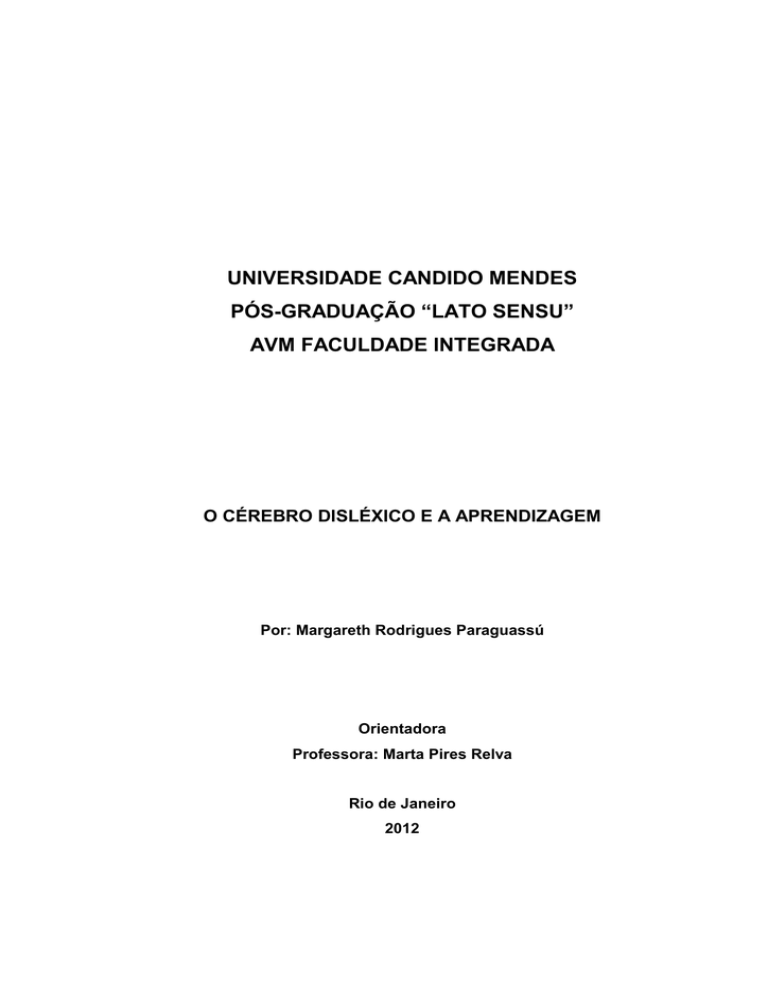
110
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
O CÉREBRO DISLÉXICO E A APRENDIZAGEM
Por: Margareth Rodrigues Paraguassú
Orientadora
Professora: Marta Pires Relva
Rio de Janeiro
2012
210
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
O CÉREBRO DISLÉXICO E A APRENDIZAGEM
Apresento a minha monografia à AVM Faculdade
Integrada como requisito parcial para obtenção do
grau de especialista em Neurociência Pedagógica.
Por: Margareth Rodrigues Paraguassú.
310
AGRADECIMENTOS
Aos
meus
filhos
e
marido
pela
paciência que sempre tiveram comigo
nos meus momentos de estudo e aula,
muitas vezes com privação de minha
companhia.
410
DEDICATÓRIA
Dedico ao meu primeiro filho que muito
sofreu ao longo dos anos escolares, por
ser um cérebro disléxico em uma época
que, ainda se entendia pouquíssimo, ou
quase nada, do assunto.
710
RESUMO
Constata-se que o sucesso de uma criança na aprendizagem de
leitura e escrita depende do amadurecimento neurofisiológico das células, bem
como, emocional e social no Sistema Nervoso Central, onde ocorrem as
modificações funcionais e de condutas, que são aprendizagens. O ato de
aprender é um ato de plasticidade cerebral, modulado por fatores intrínsecos
(genéticos) e extrínsecos (experiências). Sendo assim, como o cérebro do
disléxico se organiza para a aprendizagem? Quais são as suas limitações e
quais são suas potencialidades?
Segundo Miichael Gazzaniga, o delicado equilíbrio na comunicação
entre os neurônios do encéfalo produz aprendizagem, e, quando este equilíbrio
é perturbado por lesão ou doença, a percepção, o movimento e o pensamento
em si podem ser colocados em risco. Ao longo dos anos e dos estudos feitos,
um dos cérebros estudado foi o de Einstein, que morreu em 1955, com 76
anos de idade. Seu cérebro foi extraído e guardado. A primeira observação foi
que o cérebro de Einstein tinha uma fissura lateral (de Sylvius), que separa o
lobo temporal dos lobos frontal e parietal, com uma organização anatômica
incomum. O cérebro de Einstein apresentava uma confluência estranha da
fissura lateral com o sulco central na superfície lateral do hemisfério cerebral.
Einstein foi considerado um gênio, mas também se observou que apresentava
um cérebro disléxico.
A linguagem é, de fato, uma das mais complexas características do
cérebro humano. O significado das palavras, sua organização em sentenças,
como elas são produzidas na forma falada ou escrita e como são entendidas
por quem as ouve ou lê abrangem uma das mais fascinantes histórias de do
que a neurociência cognitiva vem mostrando. A fala e a linguagem simbólica,
sendo unicamente humanas, marcaram uma grande mudança entre cérebros
de macacos e cérebros humanos. Algumas regiões do cérebro têm sido
reconhecidas como fundamentais para a fala e a compreensão normais.
Como o cérebro lida com estímulos verbais falados ou escritos para
deles extrair um significado?
8
Como o cérebro armazena palavras, revisando dados obtidos a
partir de modelos teórico–experimentais e dados neurofisiológicos?
910
METODOLOGIA
Através de leituras de livros de autores importantes conhecedores
do assunto, sites sobre dislexia, desenvolvimento e aprendizagem cerebral e
observações de diferentes maneiras de aprender de cérebros variados, da
construção da compreensão sobre a aprendizagem e o cérebro disléxico para
a confecção e condução desta monografia. As aulas, palestras, filmes e
documentários que foram assistidos ao longo dessa jornada, também levaram
á reflexão e elaboração do assunto em pauta.
1010
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................. 07
CAPÍTULO I- A Aprendizagem ..........................Erro! Indicador não definido.0
CAPÍTULO II- Dificuldades para a aprendizagem2Erro!
definido.
Indicador
não
CAPITULO III – A Linguagem e o Cérebro ..................................................... 24
CAPÍTULO IV– Transtornos da Linguagem ..................................................... 27
CAPÍTULO V – Transtornos da Linguagem escrita – Dislexia ......................... 32
CAPÍTULO VI – Tipos de Dislexia ................................................................... 42
CONCLUSÃO .................................................................................................. 44
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ....................................................................... 45
7
INTRODUÇÃO
A ciência do encéfalo emergiu no século passado e apresentou o
conhecimento de que ele é feito de unidades distintas, os neurônios. Cajal uniu
a história sobre a importância de entidades distintas, neurônios funcionais, e
como eles devem interagir para produzir o comportamento, de que modo o
encéfalo, como um todo, era organizado. Surgiu a psicologia cognitiva,
estágios de processamento e atividade cognitiva podiam ser analisados
levando em consideração seus componentes interligados.
O delicado equilíbrio na comunicação entre os neurônios do
encéfalo produz aprendizagem e quando este equilíbrio é perturbado por lesão
ou doença, a percepção, o movimento e o pensamento em si podem ser
colocados em risco. A principal preocupação para os neuroanatomistas é
identificar os padrões de conectividade no sistema nervoso para poder
estabelecer as vias neurais que permitem que a informação vá de um lugar
para o outro.
O produto da percepção está intimamente ligado com a memória. O
reconhecimento ou identificação dos objetos é mais do que associar
características para formar um todo coerente.
Esse todo desencadeia
memórias. Há uma interação entre percepção e memória. A maioria dos
modelos das bases celulares da memória afirmam que a memória é o
resultado de mudanças da força das interações sinápticas entre os neurônios
nas redes neurais. Hebb em 1949, para responder ao questionamento de
como a força sináptica pode ser alterada para produzir aprendizado e
memória, propôs que uma sinapse está ativa quando um neurônio pós –
sináptico está ativo, e assim, a sinapse será reforçada. Por causa do papel da
formação da memória, tem-se sugerido que os neurônios no hipocampo devem
ser plásticos, capazes de mudar as interações sinápticas.
O aprendizado e a memória são definidos como a habilidade de
adquirir novas informações e de mantê-las com o tempo. As teorias cognitivas
e as evidências neurocientíficas sugerem que a memória é mantida por
múltiplos sistemas cognitivos e neurais.
8
As estruturas cerebrais que sustentam os vários processos de
memória, como o registro sensorial, a representação da percepção, a memória
de trabalho, a memória procedual, a memória semântica e a episódica diferem,
dependendo do tipo de informação a ser retida e de como ela é codificada e
evocada.
Os sistemas biológicos da memória incluem o lobo temporal medial,
que forma e consolida novas memórias episódicas e talvez as memórias
semânticas, o córtex pré- frontal,que está envolvido na consolidação e na
evocação da informação; o córtex temporal, que armazena o conhecimento
episódico e semântico, e os córtices sensoriais associativos para os efeitos de
priming de procedimento. Outras estruturas corticais e subcorticais participam
do aprendizado de habilidade e de hábitos, especialmente aqueles de
aprendizado motor implíncito.
O encéfalo não é equipotente no armazenamento de informações, e,
mesmo que várias áreas encefálicas cooperem no aprendizado e na memória,
estruturas individuais formam sistemas que sustentam e permitem processos
específicos de memória. Em nível celular, as mudanças na força das sinapses
entre neurônios em redes neurais no lobo temporal medial, no neocórtex e em
outras regiões compõem o mecanismo mais provável para o aprendizado e a
memória.
A linguagem é uma das mais complexas características do cérebro
humano. O significado das palavras, sua organização em sentenças, como
elas são produzidas na forma falada ou escrita, talvez o mais importante, como
são entendidas por quem as ouve ou lê abrangem uma das mais fascinantes
histórias na neurociência cognitiva.
A comunicação e a complexidade do cérebro deram um passo
monumental desde o mais inteligente dos primatas não humanos, para o qual
a comunicação inclui a linguagem. A fala e a linguagem simbólica, sendo
unicamente humanas, marcaram uma mudança dramática entre cós demais
cérebros e cérebros humanos.
O processo de aprendizagem se dá no Sistema Nervoso Central que
é uma estrutura complexa. Quando chega ao Sistema Nervoso Central uma
9
informação conhecida, ele gera uma lembrança que é uma memória. Mas ,
quando chega uma informação imediatamente nova,ela nada evoca, produz
uma mudança, isso é aprendizado, do ponto de vista neurobiológico.
Para que se entenda o processo de aprendizagem é imprecindível
dominar a sequência pela qual ocorrem os eventos neuromaturacionais da
criança, enquanto cresce se desenvolve e também aprende. As habilidades
escolares precisam ser ensinadas e aprendidas.
Nos transtornos de aprendizagem os padrões normais de aquisição
de
habilidades
estão
perturbados
desde
os
estágios
iniciais
do
desenvolvimento, ou seja, não são adquiridos decorrentes de falta de
estimulação adequada ou de qualquer forma de traumatismo ou doença
cerebral. Acredita-se na origem dos transtornos de aprendizagem, como sendo
a partir de distúrbios na interligação de informações em várias regiões do
cérebro. Qualquer fator que possa facilitar o surgimento de um quadro de
transtorno da aprendizagem. Mas, acredita-se que as lesões que aparecem
cedo e localizadas não afetam o desenvolvimento das funções cerebrais
superiores, já que existe a plasticidade cerebral, que permite a reorganização
do tecido nervoso; o distúrbio ocorreria mais tarde, na fase da histogênese. Na
gênese dos transtornos da aprendizagem, menciona-se a causa genética à
qual se atrubui à origem da dislexia. As alterações em vários genes levariam a
malformações cerebrais.
1010
CAPÍTULO I
A APRENDIZAGEM
O processo da aprendizagem se dá no Sistema Nervoso Central.
Quando chega ao Sistema Nervoso Central uma informação conhecida, esta
gera uma lembrança que é uma memória. Mas quando a informação é
inteiramente nova, ela nada evoca e produz uma mudança, o que é um
aprendizado do ponto de vista estritamente neurobiológico. Para que se
entenda o processo do aprendizado é também importante dominar a sequência
pela qual ocorrem os eventos neuromaturacionais da criança, enquanto cresce
se desenvolve e também aprende.
No nível histológico foram descritos dois tipos de células nervosas
que corresponderiam às duas unidades estruturais e també funcionais do
Sistema Nervoso Central: o neurônio e o gliócito, também chamado de célula
glial ou neuróglia. Sabe-se que as células gliais são 10 a 15 vezes mais
numerosas do que os neurônios, que podem modificar-se com a chegada de
novas informações no Sistema Nervoso Central e participam dos mecanismos
celulares do aprendizado. Outro conceito importante que tem sido muito
estudado diz respeito à capacidade de regeneração ou recuperação funcional
das células nervosas; a neuroplasticidade.
Atualmente estima-se que o número seja próximo de 88 bilhões de
neurônios em cada cérebro, com diferentes formatos e funções, além de uma
capacidade toda especial e específica dos neurônios, que é a capacidade de
aprender.
Cada neurônio tem potencial para fazer em torno de 60 mil
conexões ou sinapses; cada sinapse pode receber até 100 mil impulsos por
segundo. É uma complexa estrutura de funcionamento das redes neurais.
Não há a menor possibilidade de haver dois cérebros absolutamente
iguais, nem do ponto de vista neuroanatômico e nem do ponto de vista
neurofuncional.
Na comparação do cérebro com o cerebelo, pode-se dizer que a
citoarquitetura cerebelar é bem mais simples do que a cerebral e a capacidade
11
do cerebelo em estabelecer conexões é um pouco diferente, pois a
sinaptogênese cerebelar é muito mais intensa do que a cerebral. Os neurônios
do cerebelo podem fazer até 150 mil sinapses cada um, mais do que o dobro
dos cerebrais. Há um maior potencial neuroplástico do cerebelo, quando
comparado com o do cérebro.
Os neurônios são células altamente excitáveis que se comunicam
entre si e também com outras células efetuadoras, que são as musculares e
secretoras.
A linguagem da comunicação interneural é basicamente elétrica, por
meio da modificação do potencial de membrana.
Há dois tipos de neurotransmissão, a elétrica e a química. Elas
atuam praticamente ao mesmo tempo. A elétrica está mais relacionada ao
processo de desenvolvimento neuropsicomotor e a química está mais ligada ao
aprendizado em si. A neurotransmissão mais recente, dentro da visão
ontogenética é a química, que é unidirecional, está relacionada com o
aprendizado e envolve vários eventos, além de diferentes neurotransmissores.
Ao que se refere à comunicação entre neurônios, um impulso pode
iniciar elétrico, passar para o químico na fenda sinápticae seguir elétrico até o
final do axônio seguinte. Há casos mais complexos, como ocorre na audição:
uma quádrupla decodificação de informações.
As maiores alterações morfogenéticas do sistema Nervoso Central
dos humanos ocorrem durante os primeiros 3 a 4 meses de gestação,
resultantes de intensa proliferação e deslocamentos celulares nas estruturas
embrionárias precursoras. A organogênese que ocorre durante o primeiro
trimestre de gravidez e os insultos orgânicos pode trazer como consequência
uma malformação no feto.
Segundo Newra Tellechea Rotta, em todo o Sistema Nervoso
Central, e por extensão também nos hemisférios cerebrais, ocorrem sete
etapas, que se sucedem às vezes com parcial sobreposição: a determinação
da identidade neural no neuroectoderma, a proliferação celular controlada, a
migração das células precursoras, a diferenciação celular, para a forma e as
propriedades maduras, a formação dos circuitos neurais, a eliminação
12
programada de células e circuitos redundantes e a mielinização. Alguns destes
eventos iniciados na gestação, só se completam tempos após o nascimento,
como a mielinização. São como “janelas maturacionais” que se abrem e se
fecham em épocas predefinidas.
Numa
região
específica
do
embrião,
chamada
de
região
organizadora foram identificados alguns fatores indutores para a determinação
da identidade neural do ectoderma primitivo, tais como fotislatina, noguina e
cordina. A proliferação celular é um dos fenômenos mais comuns e espantosos
da embriogênese. A partir da célula-ovo surge todo um indivíduo com suas
individualidades e complexidades. No Sistema Nervoso Central, a proliferação
celular se intensifica após o fechamento do tubo neural no processo de
neurogênese.
Próximo a cessar a neurogênese inicia-se a migração das células
para seu sítio definitivo. As células gliais servem como “guias” para os
neurônios, durante a mudança de localização. Caso os neurônios não
consigam atingir os destinos, toda a citoarquitetura cortical fica anárquica.
Nos chamados distúrbios da migração neuronal, não se formam
redes neurais adequadas e as funções corticais, dentre elas ‘o aprendizado,
podem ficar muito prejudicadas.
A sinaptogênese, formação dos circuitos neurais é um processo um
pouco mais tardio na gestação. A maioria do processo se dá após o
nascimento, suscetível às influências ambientais que, somadas à bagagem
genética moldam os engramas.
A morte programada dos neurônios corticais; a apoptose começa no
terceiro trimestre da gestação e vai até o segundo ano da vida.
A mielinização marca o estágio final da maturação embrionária e
ontogenética do sistema nervoso. A mielina é uma espécie de gordura isolante
que diminui as perdas de informação entre os corpos neuronais.
A atividade nervosa é fundamental para o animal viver em equilíbrio
com o meio externo. Há três propriedades para os seres vivos se adaptarem
ao meio ambiente: a irritabilidade, a condutibilidade e a contrabilidade. Basta
13
haver ação e reação, pelo menos irritabilidade e condutibilidade para que haja
uma atividade nervosa.
Nos humanos existem vários tipos de receptores, cada um
especialzado em determinado tipo de sensação, como o tato, a pressão, a
temperatura, a dor, entre outros.
Todos os neurônios existentes no Sistema Nervoso Central, nos
humanos, podem ser classificados em três grandes grupos: neurônio aferente
ou sensitivo,é aquele que recebe as informações que recebe as informações;
neurônio eferente é conhecido como neurônio motor, encarregado de enviar as
informações ao meio externo, e neurônio de associação, que fica no interior do
Sistema Nervoso Central, e corresponde ao maior contingente de células. A
diferença entre os humanos e os demais mamíferos pode estar justamente nos
neurônios de associação, pois a diferença neurofuncional decorre do domínio
que os humanos têm da linguagem. As informações sensitivas entram, viajam
e são decodificadas na parte posterior do Sistema Nervoso Central. São
processadas e modificadas pelos neurônios de associação e finalmente saem
do Sistema Nervoso central pela parte anterior, tanto do cérebro como da
medula.
Os hemisférios cerebrais são como dois brotos telencefálicos que
crescem muito, a ponto de esconder as estruturas que ficaram na linha média.
Com o passar da gestação e do processo maturacional, os hemisférios
cerebrais, inicialmente lisos, vão se dobrando na superfície e ficando
enrrugados, formando inúmeros sulcos e giros, dando o aspecto do cérebro
maduro. O pregueamento dos hemisférios cerebrais que torna cheios de
sulcos e giros fica bem mais intenso no final da gestação, em torno do oitavo
mês.
Não são só os hemisférios cerebrais que participam do processo de
aprendizagem. A atenção, pré–requisito dos mais primordiais para que se dê
um aprendizado não depende só dos hemisférios, depende de uma complexa
interação entre estruturas do tronco encefálico e suas conexões com o córtex
frontal.
14
Do ponto de vista ontogenético, um dos primeiros sistemas a
completar o ciclo maturacional é justamente o da atenção.
Atualmente, o cerebelo é também admitido como participante dos
processos de mudança do foco da atenção, manutenção da atenção,
aprendizagem e linguagem, além de outras funções tidas como “superiores”.
Os hemisférios estão envolvidos naqueles aprendizados tidos como mais
elaborados.
O Sistema Nervoso pode ser dividido em dois grandes contingentes:
Sistema Nervoso Central, que consta de cérebro, cerebelo e medula; e sistema
Nervoso Periférico, representado por nervos, gânglios e terminações nervosas.
O Sistema Nervoso também pode ser dividido em dois grandes
grupos: Sistema Nervoso Somático, que corresponde àquele que inerva o
corpo e o Sistema Nervoso Visceral, que inerva as vísceras.
O cérebro funciona como um todo, no que se refere à cognição e
conduta do indivíduo. Segundo Lúria, haveria três sistemas funcionais. A
primeira unidade funcional de Lúria, a de vigíliamseria constituída por unidades
do tronco encefálico e suas conexões pré- frontais que regem o ciclo sono–
vigília.
Alterações
anatômicas
ou
funcionais
nessa
unidade
causam
desatenção.
A
segunda
unidade
funcional
tem
a
ver
com
recepção,
armazenamento e análise das informações. Corresponde a toda porção
posterior dos hemisférios cerebrais. É subdividida em áreas primárias,
secundárias e terciárias, que se relacionamcom a visão, audição e sensação
tátil–somestésica. As áreas primárias não interpretam as informações, apenas
as registram. As áreas secundárias estão junto das áreas primárias,
processam as informações e são responsáveis pelas gnosias. As áreas
terciárias são de associação multissensorial, sem localização precisa.
Possibilitam a noção de esquema corporal, espaço, tempo e cálculo, além da
linguagem.
A terceira unidade funcional é a responsável pela programação,
regulação e verificação continuada da atividade. Segundo rebollo (1991),
15
haveria uma quarta unidade funcional, não descrita por Lúria, que seria
responsável pelas emoções e estaria situada no Sistema Límbico.
A sequência das estruturas do Sistema Nervoso Central, de baixo
para cima vai aumentando de complexidade. São, basicamente, quatro
componentes: medula, tronco cerebral, diencéfalo e telencéfalo.
A medula é o órgão do Sistema Nervoso central que menos sofreu
modificações durante o desenvolvimento. Está inferiormente localizada e é
encarregada de transmitir os impulsos aferentes e eferentes do Sistema
Nervoso Central. O aprendizado, no nível medular, basicamente tem a ver com
a atividade motorareflexa, que é a mais primitiva das atividades motoras e a
primeira a surgir na ontologia da criança.
O tronco cerebral é uma estrutura bem mais complexa e está
localizado logo acima da medula. É constituído por três partes: bulbo, ponte e
mesencéfalo. O tronco cerebral é uma área de passagem das informações.
Nele funcionamáreas vitais, como o centro respiratório, a regulagem
automática de várias funções vitais e uma porção denominada sistema
reticular ativador ascendente, que tem muita importância no comando do ciclo
sono–vigília e também na atenção. Uma disfunção nessa área, que
corresponde à chamada primeira unidade funcional de Lúria e completa seu
ciclo maturacional, aproximadamente, 12 meses após a concepção, pode ter
como sistema desatenção ou até ser responsável pelo TDAH (transtorno de
déficit de atenção / hiperatividade), o que pode vir a prejudicar o aprendizado.
O diencéfalo é uma estrutura ímpar e mediana, situada logo acima
do tronco cerebral e, é quase que totalmente encoberto pelo crescimento do
telencéfalo, ficando escondiso entre os hemisférios cerebrais. Abriga o
hipotálamo, que é o ponto de partida da secreção da maioria dos hormônios.
O telencéfalo é uma estrutura que está sobre todas as demais, é a
última a amadurecer e compreende os dois hemisférios cerebrais. Grande
parte dos eventos relacionados com a aprendizagem ocorre no telencéfalo.
O cerebelo está localizado abaixo do encéfalo e, é encarregado do
equilíbrio, do tônus muscular, da marcha e da coordenação motora. Também é
importante na manutenção e na mudança do foco da atenção, bem como na
16
fala e no comportamento. O cerebelo é praticamente um pequeno cérebro e
tem muita participação nos eventos neurobiológicoa do aprendizado, tanto na
recepção das informações, quanto na modulação das respostas. Os
hemisférios direito e esquerdo estão separados e ao mesmo tempo unidos por
estruturas de conexão. A mais importante é o corpo caloso.
As funções mais complexas, tais como a linguagem, o que existe
não é uma pura e simples lateralização. Ambos os hemisférios atuam juntos,
mas existe o que é chamado de dominância hemisférica, ou seja, um trabalha
melhor com certos aspectos daquela função.
Na verdade, existem inúmeras conexões entre os lobos dos
hemisférios cerebrais, de tal forma que eles atuam juntos, apesar de nem
sempre’de forma simétrica.
Todo o aprendizado de conteúdo visual necessita passar pelo lobo
occipital. É um lobo eminentemente sensitivo. Vários aprendizados ocorrem no
lobbo
temporal,
aqueles
que
envolvem
olfato,
audição,
linguagem
compreensiva, comportamento, emoções e memória.
O lobo frontal tem várias funções. O planejamento da fala está na
área de Broca, localizada no giro frontal inferior esquerdo. Também é
responsável por todos os movimentos do corpo, no chamado homúnculo de
Penfield, na área frontal posterior, face lateral. Outras funções também estão
localizadas nos lobos frontais, tais como o controle do humor, dod impulsos e o
gerenciamento de todas as situações que envolvem a relação entre pessoa e o
ambiente.
No que se refere ao aprendizado pode–se afirmar que o lobo frontal
participa da linguagem falada, do controle do humor e dos impulsos, além de
todos os aprendizados que envolvam movimento do corpo.
Diferentes aprendizados se dão em diferentes locais, mas também
são consolidados em diferentes épocas, configurando verdadeiras janelas
maturacionais. Os aprendizados não são uniformes ou puros em seu conteúdo,
que podem ter componentes oriundos de diferentes áreas. Os que têm
conteúdo puramente visual ocorrem nas áreas de associação visual, próximas
do lobo occipital; os que têm conteúdo predominantemente auditivo ocorrem
17
nas proximidades da área auditiva do lobo temporal; os que têm maior
conteúdo práxico ocorrem nos quadrantes anteriores dos hemisférios cerebrais
e suas conexões com o cerebelo.
O aprendizado e a memória não estão confinados a um único local
no encéfalo. Neste evento ocorre, basicamente, uma modificação estrutural no
sistema nervoso, formando o que se denomina de engrama.
A compreensão da natureza das mudanças estruturais do encéfalo
no processo da aprendizagem passa pelo conhecimento das características
bioquímicas e funcionais dos neurônios, das sinapses e dos circuitos formados
por eles.
O conhecimento da transmissão sináptica é a chave para
compreender a base neural do aprendizado e da memória. As memórias são
estabelecidas por modificações na efetividade de sinapses químicas no
encéfalo. A aprendizagem é um evento sináptico e no seu transcurso são
produzidas modificações moleculares. Nela existe uma etapa de aquisição e
outra de consolidação. Quando um estímulo novo chega ao cérebro, se produz
um padrão diferente de descargas, provocando uma modificação que persiste.
A retenção dessa modificação se relaciona com a memória ou engramas. Na
etapa de aquisição de aprendizagens, ocorre o surgimento de novas sinapses,
mas provavelmente há uma modificação nas existentes, naqueles neurônios
com sinapses modificáveis.
Na etapa de consolidação, ocorrem modificações bioquímicas e
moleculares nos potenciais pós–sinápticos que se referem à memória.
A base da aprendizagem se localiza nas modificações estruturais e
funcionais do neurônio e suas conexões. As funções cerebrais são executadas
por um conjunto de neurônios formando sistemas funcionais. Luria, em 1976,
dividiu os sistemas funcionais em três. A primeira unidade funcional ou de
vigília tem como função manter o estado de alerta do córtex cerebral,
controlando o ciclo sono–vigília. Como se relaciona com a atenção, a
disfunção deste sistema leva à distratilidade. A segunda unidade funcional ou
de recepção, análise e armazenamento, localiza–se no córtex temporal,
parietal e occipital.
18
A terceira área funcional, de regulação e verificação da atividade
está representada pelos os lobos frontais, que possibilitam a intencionalidade,
a planificação e a organização da conduta em relação à percepção e ao
conhecimento do mundo.
As unidades funcionais de Luria se referem às funções cognitivas,
mas não se pode esquecer a afetividade, podendo se incorporar uma quarta
unidade funcional, localizada no sistema límbico.
As unidades funcionais do cérebro estão organizadas de forma
hierárquica. São divididas em cinco etapas. A primeira etapa corresponde ao
desenvolvimento da substância reticular ascendente. Ela já está em atividade
no nascimento, mas adquire ação plena aos 12 anos de idade. A lesão desta
área leva a distúrbios da atenção e hipercinesia. A segunda etapa se relaciona
com o desenvolvimento da área motora primária e das áreas sensitivas
primárias. Há uma conexão entre as duas, tornando possível uma atividade
sensório–motora, que se desenvolve nos dois primeiros anos de vida.
Corresponde ao período sensório–motor de Piaget. Inúmeras definições para
motivação. A terceira etapa corresponde à maturação funcional das áreas
secundárias. Esta etapa inicia com as anteriores, mas, principalmente aos dois
anos,
se
estendendo
até
os
cinco
anos.
Nesse
período,
inicia
o
desenvolvimento da linguagem e a lateralização dos hemisférios cerebrais, o
que explica o fato de que lesões cerebrais antes de dois anos de idade levam
o desenvolvimento da linguagem a localizar se no hemisfério não–dominante.
É o período de transição para o pensamento representativo de preparação
para as operações concretas da teoria de Piaget. A quarta etapa ocorre com o
desenvolvimento das áreas terciárias da segunda unidade funcional,
localizadas na região parietal, permitindo a produção de atividades mentais
complexas relacionadas com o nível simbólico e conceitual. Coincide com o
período das operações concretas de Piaget. Ocorre entre 5 e 12 anos de
idade. As alterações destas áreas podem levar a disfunções que vão desde
dificuldades na leitura e em matemática até o retardo mental. A quinta etapa
corresponde ao desenvolvimento das áreas da terceira unidade funcional, na
região pré–frontal, que do ponto de vista ontogenético e filogenético é a última
19
que se desenvolve. Esta área faz conexões com todas as áreas corticais, com
as estruturas subcorticais, o sistema límbico e o tronco encefálico. Esta etapa
corresponde ao período das operações formais de Piaget, que inicia aos doze
anos de idade.
Tanto os sistemas funcionais hierárquicos como os em paralelo
formam circuitos em diferentes partes do sistema nervoso de diferentes tipos,
os quais se conectam formando sistemas distribuídos de grande complexidade
funcional e permitem a consolidação do aprendizado.
A semiologia psicológica da aprendizagem normal baseia–se na
premissa de que o desenvolvimento psicológico se constrói a partir da
interação de fatores genéticos e biológicos, orgânicos e ambientais. Os fatores
biológicos moldam as tendências do indivíduo. Os fatores orgânicos
pressupõem um aparato orgânico e neurológico íntegro. Os fatores ambientais
compreendem um ambiente facilitador, representado na etapa inicial da vida
pela vinculação com a figura materna, ou representante desta, e pela sua
função de cuidadora e de parâmetro da realidade para o bebê. A partir dessas
premissas instala–se a capacidade de aprender (Ferreira, 1983).
A aprendizagem psicológica em sentido amplo já se observa nas
primeiras horas do nascimento, por meio da capacidade dos bebês de
identificar o tom de voz da mãe e o seu cheiro, A partir do nascimento, à
medida que os cuidados com o bebê são organizados de forma constante,
preferencialmente, por um mesmo cuidador, consolidam–se as vias de
memória. Estas cpermitirão ao bebê construir a constância objetal afetiva, a
sua capacidade de relacionamento e de interagir com o mundo, bem como o
seu modo de aprender. O modelo vincular e interacional aprendido na primeira
infância torna–se cada vez mais complexo. Os conhecimentos aprendidos vão
se acumulando e se integrando ao aparato psicológico de cada indivíduo,
moldando a sua maneira própria de aprender, até a velhice, quando se
observa um declínio normal da plasticidade psicológica e cerebral para
processar estímulos novos. A capacidade de aprender pressupõe uma base
vincular, isto é, capacidade de vinculações e de constância objetal afetiva.
20
CAPÍTULO II
DIFICULDADES PARA A APRENDIZAGEM
Um cérebro com estrutura normal, com condições funcionais e
neuroquímicas corretas e com um elenco genético adequado, não significa
100% de garantia de aprendizado normal. Há situações extra – Sistema
Nervoso central que interferem na aprendizagem.
Sara Paín, em 1973, comenta que, para o estabelecimento da
situação aprendizagem, é necessário que se encontrem situações adequadas
internas e externas. As primeiras estão relacionadas com as condições do
próprio corpo, com a integridade anatomofuncional, cognitiva, com a
estruturação e organização dos estímulos. Já as situações externas estão
relacionadas com o campo dos estímulos.
Estudiosos apontam a importância da aquisição de pré–requisitos,
relacionados com a capacitação das funções perceptivas e motoras da criança,
por meio de experiências que lhe permitam formar estruturas mentais
indispensáveis à aprendizagem posterior, possibilitando ao indivíduo relacionar
sua vivência correta com a situação abstrata a cada momento.
No
processo
intelectual,
há
estreita
relação
dos
aspectos
intelectuais e afetivos com os aspectos motores e com as experiências
corporais da criança.
Há, muitas vezes, uma distancia bastante considerável entre a
possibilidade da criança aprender e as técnicas de ensino utilizadas.
A definição das dificuldades para a aprendizagem passa primeiro
pelo conceito de aprendizagem. O ato de aprender se passa no Sistema
Nervoso Central, onde ocorrem modificaçòes funcionais e condutuais, que
dependem do contingente genético de cada indivíduo, associado ao ambiente
onde esse ser está inserido. O ambiente é responsável pelo aporte sensitivo–
sensorial, que vem pela substância reticular ativadora ascendente e é
modificado pelo Sistema Límbico, que contribui com os aspectos afetivo–
emocionais da aprendizagem. Na corticalidade cerebral, nas áreas do lobo
21
temporal
responsáveisc
pela
recepção,
interação
e
organização
das
percepções auditivas (áreasa 41,42 e 22 de Brodmann) e nas áreas do lobo
occipital responsáveis pela recepção, interação e organização das percepções
visuais (áreas 17, 18 e 19 de Brodmann). As áreas temporais e occipitais se
ligam com as áreas motoras do lobo frontal – área 44 de Brodmann, situada no
pé da terceira circunvolução frontal, responsável pela articulação da palavra e
a porção média da área 4 de Brodmann, situada na circunvolução frontal
ascendente, responsável pela expressão escrita, a grafia.
As alterações funcionais e neuroquímicas envolvidas produzem
modificações mais ou menos permanentes no Sistema Nervoso Central, e isto
é aprendizagem. O ato de aprender é um ato de plasticidade cerebral,
modulado por fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (experiência).
Independente dos fatores envolvidos, a aprendizagem se passa no Sistema
Nervoso Central. No entanto, nem sempre ele é o responsável real pelo
fracasso escolar. Dificuldades para a aprendizagem são o resultado de alguma
falha intrínseca ou extrínseca desse processo.
Os fatores envolvidos nas dificuldades para a aprendizagem podem
ser divididos em: fatores relacionados com a escola, fatores relacionados com
a família e fatores relacionados com a criança. Problemas físicos, em geral,
como as dificuldades sensoriais são responsáveis pela aferência perceptiva
adequada, seja ela visual ou auditiva. Essas dificuldades podem ser
hereditárias, congênitas ou adquiridas e agudas ou crônicas. Infecções de vias
aéreas são dificuldades de causa adquirida bastante frequentes, como as
otites crônicas, as aigdalites e as sinusites que, atrapalham a percepção
auditiva,
interferem
no
processo.
A
criança
que
não
escuta
bem,
frequentemente parece desatenta e inquieta.
Problemas
psicológicos
como
a
timidez,
a
insegurança,
a
ansiedade, a baixa auto–estima, a necessidade de afirmação e a falta de
motivação poderão se constituir em um fator agravante quando a criança entra
na idade escolar. Todos os transtornos psíquicos evolutivos tendem a se
agravar quando associados aos conflitos do ingresso na escola.
22
Para atender crianças com dificuldades para a aprendizagem é
necessário uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar que entenda a criança
como um ser global.
As dificuldades para a aprendizagem suportam múltiplos enfoques
e, consequentemente, múltiplos atendimentos, pois é necessário agir sob as
dificuldades predominantes em cada caso como nos sensitivos–sensoriais, que
devem ser atendidos pelo fonoaudiólogo, pelo otorrinolaringologista e pelo
oftalmologista
percepto–motoras,
atendidas
pelo
psicopedagogo,
pelo
psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; motoras, atendidas pelo
fisioterapeuta, pelo psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; emocionais
atendidas pelo psicólogo e pelo psiquiatra; sociais, atendidas pelo assistente
social, que procura entre os órgãos governamentais possibilidades de apoio à
família. O tratamento farmacológico das co–morbidades é realizado pelo
neuropediatra e ,ou, psiquiatra, dependendo da situação.
O profissional tem que lembrar sempre que não só a criança está
com dificuldade, mas que também a família está com a sua auto–estima
abalada ao perceber o fracasso do filho.
2310
CAPÍTULO III
A LINGUAGEM E O CÉREBRO
A linguagem é uma das mais complexas características do cérebro
humano. O significado das palavras, sua organização em sentenças, como
elas são produzidas na forma falada ou escrita e como são entendidas por
quem as ouve ou lê é algo fascinante. Um armazenamento mental dos
significados das palavras é crucial para a compreensão e a produçào normal
da linguagem. Estudos de neuroimagem funcional do cérebro e evidências
obtidas de pacientes com lesões cerebrais estão revelando como o léxico
mental e o conhecimento conceitual podem estar organizados. Pela
observação de déficits na capacidade de linguagem de pacientes, pode–se
inferir diversas hipóteses acerca da organizaçào funcional do léxico mental.
Diferentes tipos de problemas neurológicos levam a deficiências na
compreensão e na produção do significado apropriado de uma palavra de
conceito. Pacientes com afasia de Wernicke (uma deficiência de linguagem,
normalmente causada por lesões encefálicas nas partes posteriores do
hemisfério esquerdo) cometem erros na produção da fala que são conhecidos
como parafasias semânticas. Erros semelhantes são cometidos por pacientes
com dislexia profunda.
Damásio e colaboradores propuseram que as redes conceituais no
cérebro envolvem diversas estruturas neuronais nos hemisférios esquerdo e
direito. As redes conceituais estão conectadas às lexicais no lobo temporal
esquerdo e podem conter informações especializadas para pessoas, animais e
ferramentas. Essas áreas ativam a rede fonológica que alcança com precisão
os padrões de som necessários para produzir a palavra.
A compreensão das linguagens falada e escrita compartilha alguns
processos, mas há algumas diferenças marcantes na maneira como os sinais
de entrada falados e escritos são analisados. Quando tenta compreender
palavras faladas, a pessoa que escuta deve decodificar os sinais de entrada
acústicos. O resultado dessa análise acústica é traduzido em um código
24
fonológico, modo pelo qual as representações lexicais da forma auditiva das
palavras são armazenadas no léxico mental. Esses passos de processamento
são ambos, pré–lexicais e não envolvem o léxico mental. Após a tradução dos
sinais de entrada acústicos em um formato fonoaudiológico, a representação
lexical no léxico mental que melhor se enquadra ao sinal auditivo pode ser
selecionada (seleção léxica). A forma da palavra selecionada ativa o lema
(armazenamento de informação gramatical), a seguir, o significado da palavra.
O processo de leitura de palavras compartilha pelo menos os dois
últimos passos da análise lingüística com a compreensão auditiva (lema e
ativação do significado), mas difere nos primeiros passos do processamento
devido à modalidade diferente do sinal de aferência. O primeiro passo da
análise requer que o leitor identifique unidades ortográficas do sinal de
aferência visual. Essas unidades ortográficas podem ser diretamente
mapeadas nas formas ortográficas das palavras no léxico mental ou,
alternativamente, as unidades ortográficas identificadas podem ser traduzidas
em unidades fonológicas, as quais, por sua vez, ativam a forma fonológica da
palavra no léxico mental, como descrito para a compreensão auditiva.
Um outro ponto importante a ser percebido é que alguns modelos de
compreensão da linguagem não presumem que as palavras estejam
representadas de forma permanente no cérebro, mas que elas emergem como
um padrão de ativação em uma rede distribuída.
A primeira etapa que executa aquele que ouve ou lê é a
identificação de palavras individuais em um discurso falado ou em um texto
escrito.
É preciso analisar os sinais aferentes percebidos em um processo
pré–lexical que não envolve o léxico mental. A análise requerida por aquilo que
é percebido em sinais aferentes falados ou escritos é bastante diferente.
Enquanto para um leitor torna-se imediatamente claro que as letras em uma
página são os sinais físicos importantes, alguém que ouve é confrontado com
uma variedade de sons no ambiente e precisa identificar e distinguir os sinais
relevantes da fala de outros ruídos.
25
Os fonemas são importantes blocos constitutivos da linguagem
falada. São as menores unidades de som que fazem diferença para o
significado. Para descrever os fonemas na linguagem humana, utiliza-se o
alfabeto fonológico, que não é o mesmo que o alfabeto ortográfico.
Por sinais de entrada escritos, os leitores devem reconhecer um
padrão visual. Esses padrões variam ao longo de diferentes sistemas de
escrita. A falta de correspondência entre letra e som torna difícil a tarefa de
aprender a soletrar.
No próximo nível de organização estão o morfema, a menor unidade
de linguagem que se apresenta significado.
Estudos recentes em humanos começaram a esclarecer a questão
sobre em que região os humanos podem processar letras no cérebro. A
análise da percepção inicial dos símbolos escritos ativa bilateralmente áreas do
cérebro que são especializadas no processamento visual, como o córtex
estriado e áreas adjacentes do córtex visual extra–estriado.
Para processar sinais aferentes visuais, o cérebro precisa analisar
os aspectos característicos das letras.
A identificação real das unidades ortográficas pode ocorrer em
regiões occipito–temporais do hemisfério esquerdo.
Processamento de palavras ou processamento lexical é um
fenômeno muito investigativo na psicolinguística.
As vias de saída (output) da análise perceptiva provavelmente
projetam–se para as representações das formas das palavras no léxico mental.
O processo de acesso ao léxico resulta da ativação dessas representações,
que se estende para atributos semânticos e sintáticos das formas das
palavras.
Para a entrada de sinais escritos, há a questão de como se pode ler,
não apenas palavras, soletradas de modo que não seja traduzido em sons,
mas também, pseudopalavras que não apresentam formas de palavras
correspondentes. Pseudopalavras não podem ser lidas.
2610
CAPÍTULO IV
TRANSTORNOS DA LINGUAGEM
Os transtornos da Linguagem são problemas na infância, com uma
prevalência estimada entre 1 e 12%, com média de 5% das crianças préescolares e recém-entradas na escola,incindindo em 2 a 4 meninos para cada
menina. Das crianças com problemas de linguagem com menos de cinco anos,
60% terão algum grau de retardo mental ou distúrbio de aprendizagem aos
nove anos de idade, sendo a dislexia o principal deles, pois 85% dos disléxicos
têm ou tiveram comprometimento na linguagem oral. As pesquisas indicam que
essas crianças são de risco elevado para dificuldades residuais persistentes de
linguagem e alterações do comportamento e da conduta, entre as quais se
destaca o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH).
Critcheley, em 1975, expôs de forma clara que linguagem é a
expressão e a recepção de ideias e sentimentos. Em uma definição mais
ampla, pode-se dizer que linguagem é a capacidade que a espécie humana
tem de se comunicar por meio de um código simbólico adquirido, que permite
transmitir seus pensamentos, ideias, emoções, etc. Linguagem é a forma
peculiar que o homem tem de se comunicar com seus semelhantes por meio
de símbolos gestuais orais ou escritos.
Segundo Piaget, a linguagem é a expressào mais especializada e
diferenciada de uma função complexa que é a atividade simbólica.
Gall localizou a linguagem nas regiões anteriores do cérebro.
Bowilland situou a linguagem nos lobos anteriores do cérebro, que chamou de
“órgão legislador da palavra”. Aubert comprovou que havia uma localização
anatomofuncional da linguagem quando observou pacientes com lesão frontal.
Sugeriu que a região fosse responsável pela coordenação de diferentes
movimentos necessários para a comunicação, por meio da fala. Broca, com
base em dados anatômicos, situou o centro da imagem motora das palavras
na terceira circunvolução frontal, no hemisfério cerebral esquerdo. Atualmente,
sabe-se que o hemisfério esquerdo é, na maioria das vezes, o responsável
pelo controle da sequência temporal do ato de falar. A função do hemisfério
27
esquerdo seria mais lógica, procedendo a uma análise sequencial da
informação.
Wernicke,
estudando
pacientes
afásicos,
encontrou
mais
dificuldades na compreensão e menos na expressão, em casos de
compreensão do lobo temporal, e chamou esse fato de afasia receptiva. Hoje,
sabe-se que no hemisfério esquerdo, a área de Wernicke está relacionada, em
casos de lesão, com dificuldades para encontrar o significado da palavra e sua
relaçào com as outras palavras da frase. Já a região temporal, correspondente
no hemisfério direito é responsável pela compreensão da emoção contida no
ato de falar, ou seja, de compreender a carga afetiva da linguagem.
No adulto, a linguagem é controlada, na maior parte das vezes, pelo
hemisfério esquerdo.
A linguagem pode ser dividida em oral, gestual, escrita ou Braille.
Na criança os dois primeiros anos são propícios para a
aprendizagem de uma segunda língua, capacidade esta que vai diminuindo
com a maturação, pois ocorre a diminuição da plasticidade com o aumento da
especificidade funcional do córtex cerebral.
Além do transtorno específico da linguagem oral ou difasias,
também há as possibilidades de alterações da formação, ou disfonias; da
articulação da palavra, como as disartrias e dislalias; os distúrbios do ritmo; a
gagueira; e o retardo no desenvolvimento da fala.
Do ponto de vista neurológico, as difonias são secundárias ã lesão
de vias dos nervos cranianos que inervam as cordas vocais ou a região
chamada de sistema ressoador laringo-rino-bucal. Os distúrbios da formação
ocorrem por lesão X nervocraniano ou vagoespinhal, que interfere na
movimentação das cordas vocais e/ou do IX nervocraniano ou glosso faríngeo,
que compromete a movimentação da faringe e do véu palatino.
As disartrias são distúrbios articulatórios que podem ter etiologia
periférica ou central. Se for periférica ocorre devido ao comprometimento dos
nervos cranianos VII e XII, envolvidos, respectivamente, no movimento da face
e da língua.
28
As disartrias de causa central se diferenciam em comprometimento
cerebelar, extrapiramidal e pseudobulbar. Nas patologias cerebelares,
observam-se disartrias devido à dissinergia entre a musculatura antagonista
interessada na articulação da palavra. Desse transtorno, resulta uma fala
explosiva, com interrupções bruscas e sem precisão nos movimentos
articulatórios. Dos comprometimentos extrapiramidais, o que mais altera a
articulação da palavra é o que ocorre na rigidez parkinsoniana.
Entre os distúrbios do ritmo da fala, os que mais se destacam são a
gagueira, as alterações de velocidade de fala, como taquilalia e bradilalia, e o
clustter.
A gagueira é uma dificuldade na autonomatização da palavra, uma
interrupção do ritmo normal da fala. Interfere na comunicação, dificultando a
relação interpessoal tanto da pessoa que gagueja como de quem escuta,
causando um certo mal-estar. Costuma ser acompanhada de irregularidade
respiratória no momento da emissão da fala. Muitas vezes a criança apresenta
movimentos involuntários associados da face ou da cabeça. Pode também,
apresentar
alterações
psíquicas
devido
à
ansiedade
que
o
quadro
desencadeia. Há um componente familiar para a gagueira, e há uma
predominância no sexo masculino de 3 para 1 na infância e de 6 para 1 na
idade adulta. Existe uma forma de gagueira chamada fisiológica que ocorre em
torno do terceiro ano de vida, mas, na maioria dos casos, desaparece após os
quatro anos.
Existe um componente familiar para o retardo no desenvolvimento
da fala. O atraso na aquisição da fala pode fazer parte de um atraso geral do
desenvolvimento, ou pode constituir um atraso específico do desenvolvimento
da fala. O exame é normal, a não ser pelo fato de que em alguns casos existe
lateralidade mal estabelecida. História familiar em parentes próximos ocorre
em até 80% dos casos. Há predominância no sexo masculino. O retardo da
fala se caracteriza por um vocabulário pobre, dificuldades na articulação da
palavra, supresão, trocas e inversões de fonemas.
Outra situação que cursa com grave comprometimento da
comunicação é o autismo infantil, situação peculiar que não se deve ao
29
comprometimento de áreas específicas cerebrais, se relaciona ao transtorno
global do desenvolvimento, com maior comprometimento na comunicação.
Broca foi o primeiro cientista a descrever a impossibilidade ou
dificuldade da expressão da linguagem, quando havia lesão na área cortical
frontal, mas precisamente na área 44 de Brodmann, que se tornou conhecida
como a área de Broca. Chamou essa situação de afemia, termo mais tarde
substituído por Freud pela expressão afasia. A afasia é definida como
transtorno da comunicação, adquirida por lesão nas regiões cerebrais,
especificamente envolvidas no processo linguístico, após a sua estruturação.
Fazem parte desse processo funções como gnosias, praxias, memória e afeto.
As afasias podem ser de expressão, motora ou de Broca, que se
caracteriza por expressar em resposta a um questionamento. O vocabulário é
restrito e estereotipado. Muitas vezes, o paciente consegue dizer, de forma
repetitiva, uma ou duas palavras. A doença cerebrovascular é a forma mais
frequente no adulto. A afasia da percepção sensorial ou de Wernicke se
caracteriza por dificuldade parcial ou total no entendimento do que se escuta
ou lê. Ao contrário da afasia de expressão, o afásico de percepção pode falar
muito. A afasia de condução se pelo comprometimento na repetição e
nomeação. A afasia transcortical se caracteriza por dificuldade na elaboração
da resposta. Já a afasia de Pitres ou anônima se caracteriza por dificuldade
para nomeação. A afasia global se caracteriza pelo comprometimento de todas
as funções linguísticas.
A disfasia pode ser definida como a inabilidade para adquirir a
linguagem oral em uma criança com competência cognitiva adequada, sem
doença e/ou lesão cerebral importante, sem alterações sensitivo-motoras
significativas, sem distúrbios comportamentais e /ou psicoafetivos importantes
e que teve adequada oportunidade para a aprendizagem. É compreendida
como um transtorno do desenvolvimento, com evolução e com o tratamento.
As crianças disfásicas são portadors de transtornos bilaterai das estruturas
nervosas interessadas no desenvolvimento da linguagem.
Os transtornos da linguagem têm um componente genético
associado, em diferentes combinações, com fatores adquiridos. Atualmente
30
vários genes diferentes estão identificados e envolvidos nos transtornos da
linguagem, tanto oral, quanto escrita.
31
CAPÍTULO V
TRANSTORNO DA LINGUAGEM ESCRITA – DISLEXIA
Foi em Berlin, em 1872, que surgiu o termo dislexia. Em 1896,
Morgan publicou, no Britian Medical Journal, o interessante caso de um
adolescente com incapacidade para ler, embora, se avaliado cognitivamente,
deveria ter condições de fazê-lo. Chamou o caso de “cegueira verbal”.
Em 1907, Stevenson já aponta para o aspecto genético ao relatar
seus estudos em uma família com seis casos de “cegueira verbal”.
A expressão dislexia ressurge em 1917, onde um paciente foi
encontrado com inteligência normal e com dificuldade para aprender a ler e
escrever. Hinshelwood concluiu que a causa mais provável desse grave
distúrbio de leitura era um defeito congênito no cérebro, afetando a memória
visual de palavras e de letras. Os oftalmologistas foram os profissionais que
primeiro auxiliaram no reconhecimento da dislexia. Suas observações
mostraram que a dificuldade não estaria nos olhos, mas no funcionamento de
áreas de linguagem no cérebro.
Em 1937, Orton se dedicava ao estudo dos transtornos da
aprendizagem e, em 1928, publicou um trabalho clínico descrevendo as
distorções perceptivo-linguísticas específicas em crianças com graves
inabilidades de leitura. Muitas dessas crianças faziam inversões e imagens
espelhadas de letras e palavras. O autor sugeriu que o fenômeno era
provocado por imagens competitivas nos dois hemisférios cerebrais derivados
à falência em estabelecer dominância cerebral unilateral e consistência
perceptiva. Denominou essa condição de estrefossimbolia, símbolos invertidos,
denominação ainda aceita como um dos principais sinais de diagnóstico da
dislexia. Mais tarde, após um período de dez anos de estudo dos transtornos
da linguagem e da leitura, Orton concluiu que o único fator comum em tais
situações era a dificuldade de redesenhar ou reconstruir na ordem da
apresentação, sequências de letras, sons ou unidades de movimento. Estudou
32
famílias de disléxicos e encontrou algumas alterações, como escrita em
espelho, e chamou também a atenção para o aspecto genético.
Em 1924, Aspert e Poltz, com base na possível imaturidade
psiconeurológica, denominaram a dislexia da criança de dislexia de evolução.
Só em 1950, Hallgério publica o primeiro estudo clínico e genético
do que chamou de “dislexia específica”, em substituição à expressão “cegueira
verbal congênita”. Foram observadas alterações em outras funções cerebrais
superiores, tais como noção de espaço, de tempo e dificuldades visoespaciais,
tão importantes para o desenvolvimento da leitura e da escrita.
A década de 1990 foi pródiga em trabalhos que tentaram desvendar
os aspectos genéticos envolvidos na dislexia. Inúmeros autores utilizaram
exames complementares e provaram a possibilidade de malformações ou
alterações funcionais cerebrais em crianças disléxicas.
A leitura, de forma restrita refere-se à interpretação de sinais
gráficos que uma comunidade convencionou utilizar para substituir os sinais
linguísticos da fala; quando se trata de substituir pela fala ou mentalmente um
conjunto de sinais gráficos que formam palavras. A leitura é uma forma de dar
sentido ao que está escrito, e não de decodificar a palavra em sons.
Toucambert, em 1994, explica que, na leitura voluntária, o significado de um
texto escrito é principalmente dependente das informações da memória do
leitor. Freire, em 1995, relata que a leitura é a capacidade de tirar conclusões
utilizando mais do que as informações coletadas no texto,é a capacidade de
levantar hipóteses, de conceber novas ideias e soluções, a partir da
experiência da leitura. É uma forma complexa de aprendizagem simbólica, na
qual, mudanças relativamente triviais em uma palavra podem alterar
completamente sua pronúncia e significado. É um processo que envolve
linguagem escrita, atenção, habilidade motora, vários tipos de memória,
organização de texto e imagem mental.
O processo de leitura varia de indivíduo para indivíduo, dependendo
de fatores como idade, maturação, sexo, hereditariedade, tipo de língua,
instrução, prática e motivação.
33
Em 1987, Myklebust e Johnson definiram a dislexia como uma
síndrome complexa de disfunção psiconeurológicas associadas, tais como
perturbações em orientação, tempo, linguagem escrita, soletração, memória,
percvepção visuale auditiva, habilidades motoras e habilidades sensoriais
relacionadas. Dividiram a dislexia em auditiva e visual, com finalidades
educacionais. Na dislexia auditiva, são observadas dificuldades significativas
na discriminação de sons de letras e palvras compostas, além de falhas na
memorização de padrões de sons, sequências, palavras compostas,
ilustrações e histórias. Na dislexia visual há dificuldades em seguir e reter as
sequências visuais, na análise e integração visual de quebra-cabeças ou
tarefas similares. O disléxico visual confunde com facilidade palavras e letras.
O mais frequente é uma associação das duas formas.
Bryant e Bradley definiram as crianças disléxicas como aquelas que
apresentam problemas quando tentam aprender a ler e escrever, embora
sejam inteligentes, rápidas e atentas. Observaram que a única diferença na
leitura das crianças normais e das disléxicas éra a leitura de palavras
inventadas.
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM –
IV (1995) caracteriza a dislexia como comprometimento acentuado no
desenvolvimento das habilidades de reconhecimento das palavras e da
compreensão da leitura. A leitura oral no disléxico é caracterizada por
omissões, distorções e substituições de palavras e pela leitura lenta e
vacilante.
Giacheti e Capellini, em 2000, afirmaram que o distúrbio específico
da leitura; a dislexia do desenvolvimento é definido como um distúrbio
neurológico, de origem congêenita, que acomete com potencial intelectual
normal, sem déficits sensoriais, com suposta instrução educacional apropriada,
mas que não conseguem adquirir ou desempenhar satisfatoriamente a
habilidade para a leitura e/ou escrita.
Nico e colaboradores referiram que o momento no qual a dislexia se
torna mais evidente é o período de 6 a 7 anos. A leitura lenta, trabalhosa e
individual da palvra impede a habilidade da criança de compreender o que leu,
34
mesmo quando a compreensão da língua falada for normal. Há muita
dificuldade em transformar a solicitação em som. Deficiências no processo
fonológico que são fortes indicadores de futuras dificuldades na leitura e
escrita podem ser identificadas no início da formalização escolar.
Alguns autores classificam a dislexia tendo como base testes
diagnósticos, fonoaudiológicos, pedagógicos e psicológicos. Uma das formas
de classificar a dislexia é a que privilegia as percepções e as memórias visual
e auditiva. Também podem ocorrer com memória auditiva pobre e visual boa;
com memória visual boa e auditiva pobre; e com dificuldades em ambas.
Boder trouxe o enfoque para a classificação da dislexia, a qual
divide em disfonética, diseidética e mista. Na dislexia disfonética observa-se
dificuldade para realizar a análise e a síntese das palavras. Na dislexia
deseidética ocorre dificuldade para perceber tanto letras como palavras como
gestaltes visuais. Na dilexia mista observa-se a combinação de ambas as
formas, constituindo uma situação mais grave.
Para Colheart a dislexia se divide em fonológica, superficial e
profunda, considerando o modelo de acesso ao léxico. A dislexia fonológica se
dá por dificuldades na via indireta de acesso; a dislexia superficial, quando as
dificuldades ocorrem na via direta de acesso; e a dislexia profunda, quando
ocorrem dificuldades nessas duas vias.
Algumas teorias se baseiam no envolvimento das percepções
auditiva e visual. Acredita-se na possibilidade de que dificuldades no
processamento
auditivo
possam
levar
a
dificuldades
para
perceber
rapidamente sons semelhantes. Essa situação pressupõe desenvolvimento
deficiente, também, da linguagem oral. Orton (1937) observou que crianças
disléxicas que escreviam em espelhos apresentavam lateralidade mal
estabelecida ou até sinestrismo do que os leitores normais.
Em algumas famílias, a dislexia é transmitida de forma dominante. A
dislexia tem uma probabilidade de 100% em indivíduos do sexo masculino.
Todo indivíduo do sexo masculino que herda gene ou genes para dislexia
desenvolve o transtorno.
35
A leitura proficiente é caracterizada por dois conjuntos de processos
cognitivos, um deles concentrado na precisão da leitura e da escrita e o outro
concentrado na fluência ou automaticidade da leitura. Há herdabilidade
importante para escrita, memória de curto prazo, decodificação fonológica,
consciência dos fonemas e reconhecimento da palavra, enquanto a codificação
ortográfica e a compreensão da leitura parecem não ser herdáveis. A
herdabilidade para o reconhecimento da palavra tem sido estimada em cerca
de metade dos casos. A influência genética parece ser um pouco mais elevada
para a decodificação fonológica e a consciência do fonema do que para o
reconhecimento da palavra e a codificação ortográfica. O impacto do ambiente
parece ser importante para todos os processos relacionados com a leitura e
especialmente forte para o reconhecimento da palavra.
Parte-se do pressuposto que há um gene que afeta o curso normal
da aquisição de habilidades da leitura. Acredita-se que, embora esses genes
desorganizem a leitura, não necessariamente a controlem. A dislexia está
situada em alguma parte de um continuum normal, com diversos graus de
gravidade, com características comuns. As evidências atuais apóiam a
perspectiva de que a dislexia familiar, uma vez que cerca de 35 a 40% dos
parentes de primeiro grau são afetados, herdada em cerca de 50% dos casos,
é heterogênea em seu modo de transmissão. Ligada em algumas famílias a
marcadores genéticos no cromossomo 15 e possivelmente, em outras famílias,
a marcadores genéticos nos cromossomos 6 e 7.
Avanços de neuroimagem possibilitaram a investigação das regiões
corticais e dos padrões de ativação das regiões corticais e dos padrões de
ativação associados com o desempenho de tarefas cognitivas complexas,
entre elas a leitura em indivíduos com dislexia.
Os estudos dos cérebros de indivíduos normais sugerem que muitas
áreas do cérebro estão envolvidas durante o processo de leitura. Várias
regiões. Tanto unilaterais quanto bilaterais, são ativadas pelo hemisfério
esquerdo, além das áreas temporais, reagem aos processos relacionados à
leitura, como visualização das palavras, leitura de pseudopalvras e avaliação
de rima. Algumas dessas tarefas também ativam as regiões do hemisfério
36
direito ou regiões bilaterais, demonstrando que o hemisfério esquerdo não está
sozinho no processamento dos estímulos relacionados com a linguagem.
Os estudos da anatomia do cérebro, em autópsia de indivíduos com
histórias de problemas de linguagem e de leitura, mostraram anomalias nas
áreas temporais esquerdas e no tálamo posterior. As diferenças estruturais
entre o cérebro das pessoas com dislexia e o das pessoas sem dislexia
concentram-se fundamentalmente no plano temporal. Nos leitores normais, o
plano esquerdo é caracteristicamente maior que o direito; quanto maior é o
plano esquerdo em relação ao direito, melhores as habilidades linguísticas da
pessoa. Nos leitores com dislexia, o plano esquerdo é caracteristicamente mais
ou menos do mesmo tamanho que o direito. A descoberta inicial da simetria
dos planos esquerdo e direito, ou assimetria reversa, em indivíduos com
dislexia tem sido confirmada pelas técnicas de medição mais precisa, como a
ressonância magnética nuclear. O cérebro de leitores disléxicos tem alterações
na citoarquitetura e alterações do cerebelo e de suas vias. Isso ocorre
provavelmente porque houve algum tipo de agressão nos primeiros estágios do
desenvolvimento.
Os neurônios do tecido cerebral dos leitores disléxicos parecem ser
menores que a média, pelo menos em algumas áreas do cérebro (por
exemplo, o tálamo). O tamanho menor dos neurônios talâmicos pode muito
bem estar ligado às anormalidades tanto no sistema visual quanto no sistema
auditivo do indivíduo com dislexia. Galaburda e colaboradores fizeram um
estudo em 2001 que demonstrou experimentalmente que as alterações na
citoarquitetura
do
córtex
temporal
e
dos
tálamos
determinam
um
processamento lento dos sons.
O mais comum é que a família se queixe de dificuldades para a
alfabetização, comentando que a criança parece não ter interesse na leitura
e/ou na escrita, uma vez que para outras atividades se mostra capaz. A criança
perde o interesse. São crianças de risco que devem ser seguidas com uma
orientação pedagógica ativa. Ao lado das queixas específicas para ler e
escrever, muitas vezes toma um vulto maior a repercussão comportamental
que esses fracassos produzem na criança em idade escolar. Muitas vezes as
37
queixas de ansiedade, agressividade, depressão, ou hiperatividade e
desatenção. Junto com essas queixas, frequentemente está imbutido o medo
que os pais carregam de que o filho tenha algum grau de deficiência mental. A
história do relacionamento da criança com cada membro da família, com os
colegas e com os amigos é fundamental para que se conheça um pouco mais
como ela consegue vivenciar suas dificuldades.
Segundo Galifret e Ajuriaguerra, entre os disléxicos não há um
percentual maior de canhotos, mas sim, de crianças com lateralidade mal
estabelecida. Há também importância a noção de esquema corporal, no caso a
noção de direita e esquerda, que, quando comprometida, pode levar o uso de
inversões de letra ou sílabas. Todas as funções corticais superiores devem ser
pesquisadas pelo exame neurológico evolutivo, considerando, principalmente
gnosias, praxias, atenção e memória.
Pensa-se em dislexia disfonética quando a criança tem dificuldade
para ler palavras desconhecidas. Começa a ler e em seguida passa a adivinhar
algumas palavras, considerando partes delas. Comete erros na leitura e na
escrita, como inversões, omissões, ou agregação de fonemas ou de sílabas.
Já a dislexia diseidética é quando a criança lê de forma muito lenta,
decompondo a palavra em suas partes, por ter dificuldade de ler globalmente.
Assim como a leitura, também a escrita é pobre. Os erros mais frequentes na
escrita são as inversões e as falhas na acentuação.
A
dislexia
mista
se
apresenta
quando
ocorrem
alterações
associadas das duas formas já citadas, em diferentes combinações e
intensidades.
Embora
o
diagnóstico
da
dislexia seja clínico neurológico,
psicopedagógico e fonoaudiológico, muitas vezes é necessário lançar mão de
exames complementares para maiores informações e observações de
comorbidades.
São
necessários
estudos
neurofisiológicos
como
eletrencefalograma, potenciais evocados de longa latência auditivos e visuais;
e testes psicológicos que contemplem os aspectos cognitivos e afetivos.
O tratamento está centrado na reeducação da linguagem escrita,
abordando todos os aspectos envolvidos. Segundo a International dyslexia
38
Society, na dislexia deve ser sempre observado que as diferenças são
pessoais, o diagnóstico é clínico, o entendimento é científico e o tratamento é
educacional.
Desde o momento em que a alfabetização passou a ser um dos
grandes objetivos da sociedade, a preocupaçào da comunidade científica temse
centrado no desenvolvimento de estudos sobre o processo da
aprendizagem e da não-aprendizagem. O termo dislexia, na atualidade, tem
despertado muito interesse pela discrepância existente entre o conceito de
inteligência e o desempenho escolar. Uma pequena parcela de disléxicos,
rompendo com todas as barreiras impostas, está entrando na universidade e
requerendo o direito de promoção acadêmica. O tema tem gerado
questionamentos e atenção de muitos especialistas, que ao mesmo tempo
trazem significativos aportes diferenciados, criando nomenclaturas variadas e
abrangências diferentes ao termo.
Tallal e colaboradores (1997) referem que 20% da população
mundial têm dislexia. A Associação Brasileira de Dislexia lança dados entre 10
e 15% da população mundial. Alvarez e colaboradores (1999) apontam 10% da
população e, desses, 60 a 80% seriam do sexo masculino. Morris (2000)
reconhece que, nos Estados Unidos, cerca de 5 a 6% dos alunos de escolas
públicas têm transtorno da aprendizagem, dos quais 80% desses teriam
dislexia. Outros estudos falam que cerca de 20% da população pode ter
“algum grau de dislexia”. Toro (1999), na Espanha, estima que cerca de 5% da
população seja disléxica.
A dislexia do desenvolvimento é um transtorno específico das
operações implicadas no reconhecimento das palavras ( precisão e rapidez0
que compromete, em maior ou menor grau, a compreensão da leitura. As
habilidades de escrita ortográfica e de produção textual também estão
gravemente comprometidas. Normalmente, segundo Pavlidis (1990), os
disléxicos estão atrasados na leitura e na escrita, com relação a seus pares,
em dois anos no mínimo ( se a criança tem mais de 10 anos) e em um ano e
meio( se tem menos de 10 anos). Essa consideração é importante, pois
condiciona a época do diagnóstico para o final da segunda ou terceira série. É
39
um problema persistente até a vida adulta ( com atenuações), mesmo com
tratamento adequado, o que torna o prognóstico reservado. Os disléxicos
podem chegar até a universidade, mas isso exige um considerável esforço
próprio. Margie Bruck , em 1990, em um estudo compartilhado entre disléxicos
universitários e alunos da sétimo ano (não disléxicos), constatou que os
disléxicos são mais lentos para ler palavras e pseudopalavras, beneficiando-se
mais do contexto ao ler, enquanto os alunos de sétimo ano evidenciam rapidez
igual para a leitura de palavras isoladas e em contexto. Os disléxicos não
automatizam plenamente as operações relacionadas ao reconhecimento de
palavras, empregando mais tempo e energia. Os leitores hábeis automatizam o
reconhecimento das palavras, e os disléxicos, não. O transtorno está presente
desde os primeiros anos de escolaridade. Nos casos em que surge mais tarde
e em decorrência de uma lesão cerebral, configura-se uma dislexia adquirida.É
um distúrbio com evidências genéticas que surge por estar associado a
diferenças funcionais no hemisfério esquerdo.
Em investigações, cuja população estudada foi a de famílias com
importante número de disléxicos, os resultados encontrados definiram dois
marcadores, no cromossomo 15 (Smith et al., 1983) e no cromossomo 6 (
Cardo et al., 1994). Segundo Grigorenko e colaboradores (1997), o fenótipo de
dislexia que está ligada à inabilidade para a leitura global da palavra (uso da
rota lexical) se relacionaria com a alteração do cromossomo 15, enquanto a
disfunção fonológica estaria ligada ao cromossomo 6. Outro importante
pesquisador da neurogenética, Galaburda (1999), em seus estudos de
anatomia, demonstrou uma simetria no plano temporal como suporte
anatômico da dislexia. É identificada em indivíduos com capacidade intelectual
normal. Ocorre em sujeitos que têm visão e audição normal ou corrigida e que
não são portadores de problemas psíquicos ou neurológicos graves que
possam justificar, por si, as dificuldades escolares. Pode estar presente
mesmo em indivíduos que tiveram escolarização adequada, ou seja, não
trocaram de escola (língua materna) mais de duas vezes nos três primeiros
anos escolares e não faltaram mais de 10% de aulas nessa época,
considerando também que estejam submetidos à metodologia de ensino
40
adequada (Rueda, 2003). O comprometimento da linguagem dos disléxicos é
específico do processo fonológico. Toda língua alfabética é fundamentada na
relação
fonema-grafema,
os
disléxicos,
ao
exibirem
representações
fonológicas mal especificadas, adotam um modelo diferente de decodificar ou
representar os atributos falados da palavra. A falta de sensibilidade fonológica
inibe a aprendizagem dos padrões de codificação alfabética subjacentes ao
reconhecimento fluente de palavras. Os problemas na representação
fonológica têm como consequência a limitação da capacidade de armazenar
informações verbais na memória de curto prazo. Os disléxicos demonstram
deficiência para mapear sequências de fonemas e letras de palavras e
dificuldades de nomeação, para encontrar palavras que requerem um acesso
rápido a um rótulo verbal, usando, muitas vezes por tentativa de adivinhação,
palavras ligeiramente inadequadas. É importante salientar que os disléxicos
não diferem qualitativamente dos sujeitos normo- leitores.
41
CAPÍTULO VI
TIPOS DE DISLEXIA
Há duas vias independentes que possibilitam o reconhecimento de
uma palavra escrita. A via léxica, ou direta, na ual se estabelece uma conexão
direta entre a forma visual da palavra, a pronúncia e o significado na memória
lexical (como se fosse uma fotografia da palavra). Ocorre diante de palavras
familiares. A via fonológica, indireta, pré-léxica ou de subpalavras é um
processo de recodificação fonológica que envolve a aplicação de um conjunto
de regras de conversão letra-som. Ocorre diante de palavras desconhecidas.
Um leitor experiente e fluente deve utilizar independentemente as duas vias.
Ao depender exclusivamente de uma ou de outra, estará sinalizando pouca
destreza leitora, o que poderá ou não fazer parte de um quadro de dislexia.
A
dislexia
pode
ser
fonológica
(sublexical
ou
disfonética),
caracterizada por uma dificuldade seletiva para operar a rota fonológica
durante a leitura, apresentando um funcionamento aceitável da rota lexical.
Com frequência, os problemas residem no conversor fonema-grafema e/ou no
momento de juntar os sons parciais em uma palavra completa. Sendo assim,
as dificuldades fundamentais residem na leitura de palavras não-familiares,
sílabas sem sentido ou pseudopalavras, mostrando melhor desempenho na
leitura de palavras já familiarizadas. Subjacente a essa via, encontra-se
dificuldade em tarefas de memória e consciência fonológica. Os disléxicos
fazem grande esforço para reconhecer as palavras, para manter uma
informação na memória de trabalho, são obrigados a repetir os sons para não
perdê-los definitivamente. Como consequência, essa concentração despendida
no reconhecimento das palavras acarreta em dificuldades na compreensão do
que foi dito.
Na dislexia lexical (de superfície), as dificuldades residem na
operação da rota lexical (preservada ou relativamente preservada a rota
fonológica), afetando fortemente a leitura de palavras irregulares. Nesses
casos, os disléxicos lêem lentamente, vacilando e errando com frequência,
42
pois ficam presos à rota fonológica, que é morosa em seu funcionamento.
Assim sendo, os erros habituais são silabações, repetições e retificações, e ,
quando
pressionados
a
ler
rapidamente,
cometem
substituições
e
lexicalizações; às vezes situam incorretamente o acento prosódico das
palavras.
Na dislexia mista, os disléxicos apresentam problemas para operar
tanto com a rota fonológica quanto com a lexical. São situações mais graves e
exigem um esforço ainda maior para atenuar o comprometimento das vias de
acesso ao léxico.
43
CONCLUSÃO
Os estudos têm demonstrado que os transtornos da leitura e escrita
estão correlacionados com possíveis disfunções de áreas corticais específicas.
Tem-se comprovado que o investimento na criança com tal transtorno ainda é
falho nos dias de hoje, desprezando-se características individuais em favor de
procedimentos acadêmicos nem sempre eficientes, gerando novos e difíceis
rótulos, em que não só a criança é sacrificada, mas também a família e a
escola, criando cicatrizes dentro do sistema de ensino.
Com certeza, muito ainda deve ser investigado, particularmente nas
questões neurológicas pertinentes à dislexia. Além disso, a escola tem de
entender melhor o quadro e organizar adaptações que façam justiça às
necessidades do disléxico, não o discriminando e promovendo sua autoestima.
Ao analisar as políticas de educação, os disléxicos acabam se
enquadrando no que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
descreve como portadores de necessidades especiais. A situação requer
pareceres específicos com o intuito de justificar recursos materiais e humanos
para implementar uma inclusão escolar eficaz. Recursos tecnológicos também
devem ser incrementados, para que possam auxiliar no desempenho da leitura
e escrita por meio do incentivo ao desenvolvimento de pesquisas na área.
Muitos disléxicos não perdem a vontade de aprender e, por isso
mesmo, estão entrando nas universidades, embora com enorme esforço
pessoal. A sociedade reconhece que a leitura e a escrita são habilidades
importantes para o sucesso profissional. Mas, por outro lado, portadores de
dislexia poderão desenvolver outras habilidades e terem sucesso profissional e
social, sobretudo se forem diagnosticados precocemente e receberem
orientação adequada.
Cada vez mais é preciso mudar, não só currículos, mas reciclar o
trabalho dos professores, atualizar métodos, para que novos avanços cheguem
a ser divulgados.
4410
BILIOGRAFIA
AJURIAGUERRA, de J. A Dislexia em Questão. Trad: Iria Renault de Castro
Silva, Porto Alegre: Arte Médicas, 1990.
COLOMER, Teresa, CAMPS, Anna. Ensinar a Ler, Ensinar a Compreender.
Tradução de Fátima Murad. Porto Alegre: Artes Médicas,2002.
DAVIS,Ronaldo D. O Dom da Dislexia. Rio de Janeiro. Rocco, 2004
FONSECA, Vítor. Uma Introdução às Dificuldades de Aprendizagem. Lisboa:
Editorial Notícias, 1985.
FONSECA, Vítor. Insucesso Escolar – Abordagem Psicopedagógica das
Dificuldades de Aprendizagem. Lisboa: Âncora Editora,1985.
GAZZANIGA, Michael, IVRY, Richard B, MANGUN, George R. Neurociência
Cognitiva – A Biologia da Mente, Porto Alegre, Artes Médicas , 2002.
IANHEZ, Maria Eugênia. Nem Sempre é o que Parece – Como Enfrentar a
Dislexia e os Fracassos Escolares. Rio de Janeiro, Elsevier, 2002
LENT,
R.
Cem
Bilhões
de
Neurônios? Conceitos Fundamentais de
Neurociências. São Paulo , Editora Atheneu, 2010.
NUNES, Teresinha. Dificuldades na Aprendizagem da Leitura: Teoria e Prática,
São Paulo, Cortez, 2003.
ROTTA, Newra Tellechea, OHLWEILER, Lygia, RIESGO, Rudimar dos Santos,
Transtornos da Aprendizagem – Abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar,
Porto Alegre, Artmed, 2007
45
Internet
ABD (Associação Brasileira de Dislexia). Disponível no site www.dislexia.org.br,
acesso em 2/3/2012.
ANB (Associação Nacional de Dislexia).Disponível no site www.dislexia.com.br,
acesso em 3/3/2012.
4610
ÍNDICE
FOLHA DE ROSTO ......................................................................................... 02
AGRADECIMENTO ......................................................................................... 03
RESUMO ......................................................................................................... 04
METODOLOGIA .............................................................................................. 05
SUMÁRIO ........................................................................................................ 06
INTRODUÇÃO ................................................................................................. 07
CAPÍTULO I- A Aprendizagem ..........................Erro! Indicador não definido.0
CAPÍTULO II- Dificuldades para a aprendizagem2Erro!
definido.
Indicador
não
CAPITULO III – A Linguagem e o Cérebro ..................................................... 24
CAPÍTULO IV– Transtornos da Linguagem ..................................................... 27
CAPÍTULO V – Transtornos da Linguagem escrita – Dislexia ......................... 32
CAPÍTULO VI – Tipos de Dislexia ................................................................... 42
CONCLUSÃO .................................................................................................. 44
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ....................................................................... 45
ÍNDICE
......................................................................................................... 46