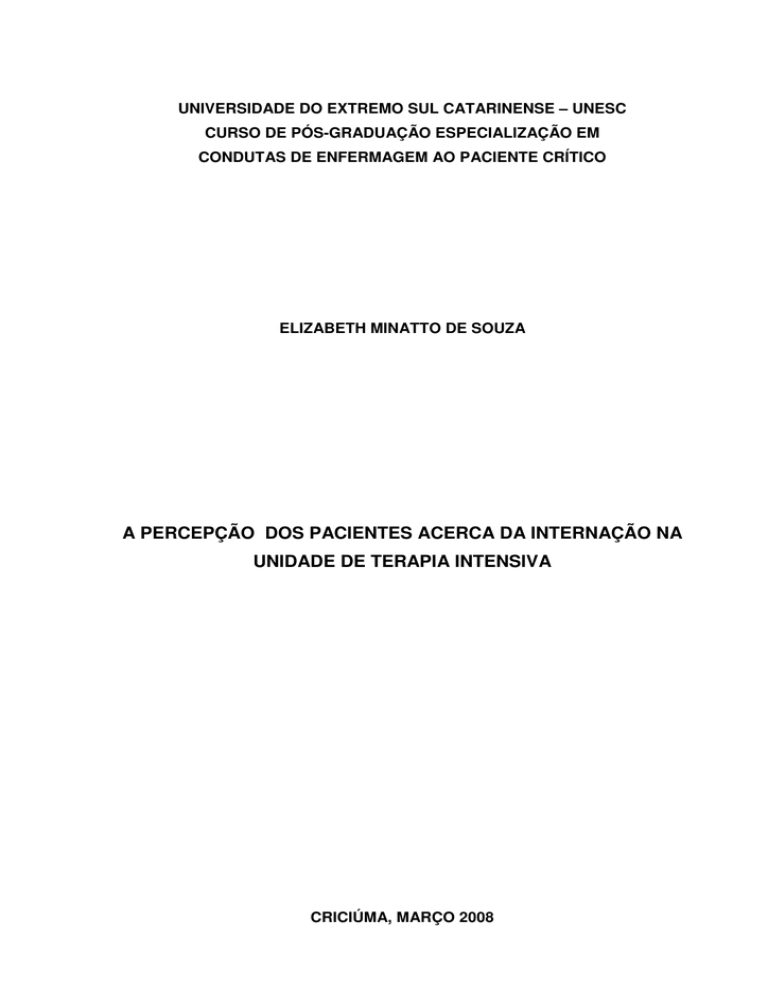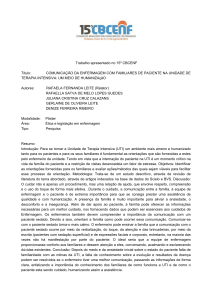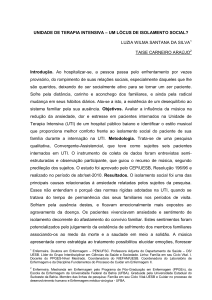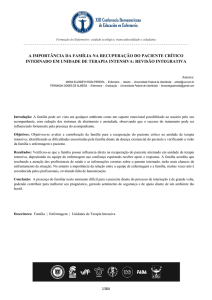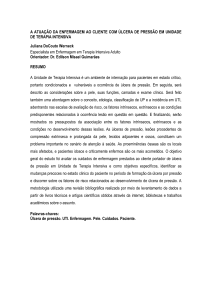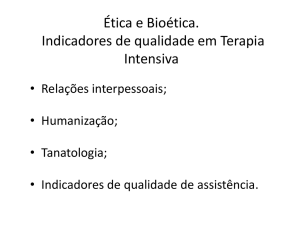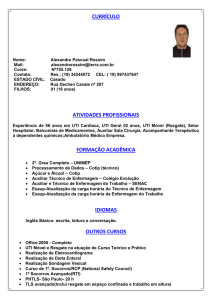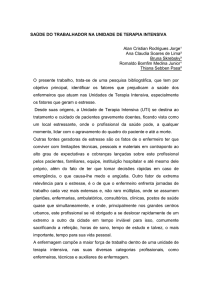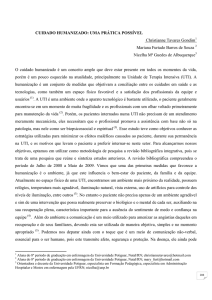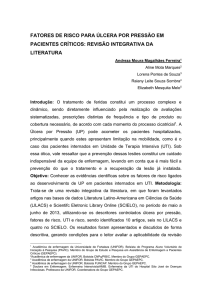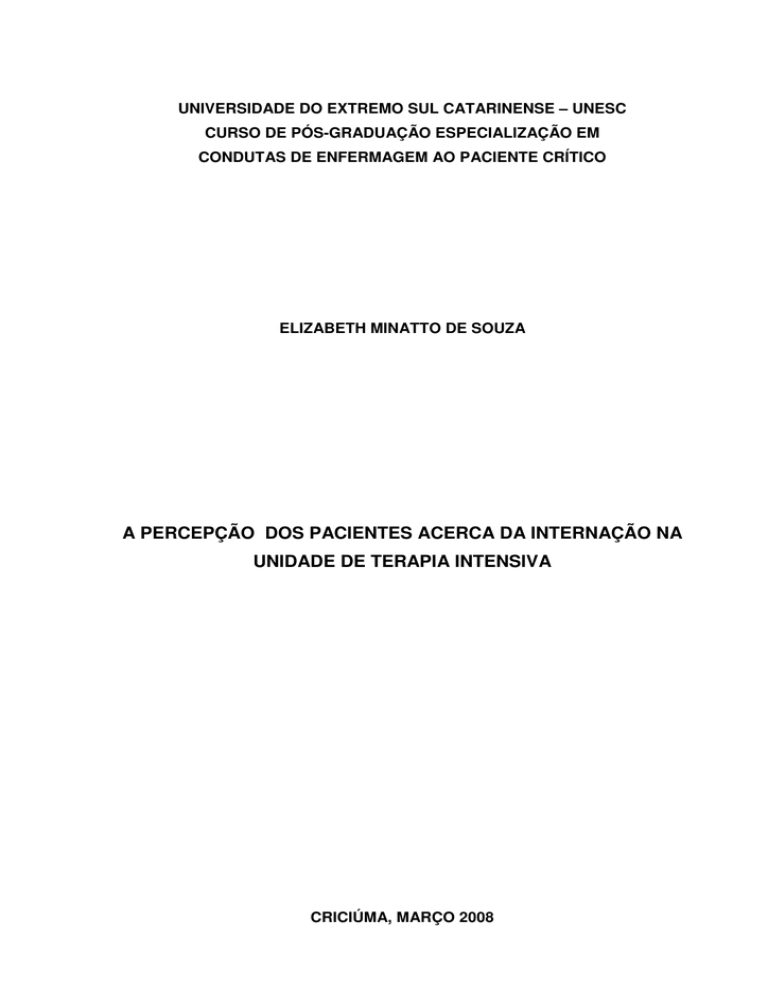
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM
CONDUTAS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO
ELIZABETH MINATTO DE SOUZA
A PERCEPÇÃO DOS PACIENTES ACERCA DA INTERNAÇÃO NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
CRICIÚMA, MARÇO 2008
ELIZABETH MINATTO DE SOUZA
A PERCEPÇÃO DOS PACIENTES ACERCA DA INTERNAÇÃO NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Projeto de Pesquisa do Curso de Especialização
Conduta de Enfermagem no Paciente Crítico da USC
Centro Educacional São Camilo – SUL e UNESC
Universidade
do Extremo
Sul Catarinense,
apresentado ao CEP da para parecer e aprovação
Orientadora:.Profª Enfª MsC. Maria Augusta da
Fonte
CRICIÚMA, MARÇO 2008
RESUMO
Há algum tempo passamos a refletir sobre como o paciente sente-se ao internar em
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tendo como pessoas mais próximas, os
também desconhecidos membros da equipe de enfermagem. Acredito que um
estudo comparativo entre as abordagens realizadas com pacientes, quanto à
maneira de perceber a UTI e a internação nesta unidade, permite-nos reavaliar a
prática da enfermagem, pois a qualidade da assistência somente ocorre com a
correta identificação dos problemas sentidos pelos pacientes e equipe de
enfermagem. O presente estudo tem caráter qualitativo, descritivo, exploratório e de
campo cujo objetivo é identificar a percepção dos pacientes acerca da internação na
Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Regional de Araranguá. Para obtenção
dos dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada. Participaram deste trabalho
como sujeitos treze pacientes de primeira internação em UTI, lúcidos e orientados,
de ambos os sexos e faixa etária de 15 a 80 anos. A coleta das informações foi
realizada, individualmente, dentro do quarto do paciente, após alta da UTI. Na fase
de análise dos conteúdos, utilizou-se a categorização de dados por melhor se
adequar à investigação qualitativa do material sobre saúde, embasados em Minayo
(2002).Os resultados apontaram um emaranhado de sentimentos com os quais os
pacientes internados na UTI convivem desde o momento da admissão até a sua alta.
As principais percepções quanto à internação foram de aceitação, recuperação,
segurança, bom atendimento e acolhimento em relação à equipe de trabalho, uma
vez que os indivíduos estavam vivendo um momento único e desconhecido à sua
realidade.
Palavras-Chave: Unidade de Terapia Intensiva, Pacientes Internados, Equipe de
Enfermagem.
ABSTRACT
It has some time we start to reflect on as the patient feels it interning in a Unit of
Intensive Therapy having as nearest people, also the unknown members of the
nursing team. I believe that a comparative study between approaches accomplished
with patients, how much to the way to perceive the Unit of Intensive Therapy and the
internment in this unit, allow us to reevaluate the practical of the nursing, therefore
the quality of the assistance only occurs with the correct identification of the problems
felt for the patients and team of nursing. The present study it has qualitative,
descriptive, exploratory character and work on field whose objective is to identify the
perception of the patients concerning the internment in the Unit of Intensive Therapy,
in the “Hospital Regional de Araranguá”. For attainment of the data the halfstructuralized interview was used. Thirteen patients of first internment in Unit of
Intensive Therapy, discerning and guided had participated of this work as citizens, of
both the genders and age group from 15 to 80 years. The collection of the
information was carried through, individually, inside of the room of the patient, after it
left the Unit of Intensive Therapy. In the phase of analysis of the contents, it was
used better categorization of data for adjusting it to the qualitative inquiry of the
material on health, based in Minayo (2002). The results had pointed a confusion of
feelings which the patients interned in the Unit of Intensive Therapy coexist since the
moment of the admission until they let. The main perceptions about to the internment
it had been of acceptance, recovery, security, good attendance and shelter in relation
to the work team, once that the individuals were living a single and unknown moment
of its reality.
Keyword: Unit of Intensive Therapy, Interned Patients, Team of Nursing.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................03
2REVISÃO TEÓRICA................................................................................................06
2.1CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA ....................................................................06
2.1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA .................................................................................06
2.1.2 POPULAÇÃO ATENDIDA ................................................................................08
2.1.3 EQUIPE DE TRABALHO..................................................................................09
21.45 ASPECTOS PSICOLÓGICOS EVIDENCIADOS NO C.T.I ............................. 11
2.1.5 CONDIÇÕES ESTRESSANTES OBSERVADAS NO C.T.I .............................13
3 METODOLOGIA ....................................................................................................21
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO .....................................................................21
3.2 LOCAL DO ESTUDO ..........................................................................................22
3.2.1 Caracterização da UTI do Hospital Regional de Araranguá .......................22
3.3 SUJEITOS...........................................................................................................23
3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETAS DE INFORMAÇÕES ...................................23
3.5 ASPECTOS ÉTICOS...........................................................................................25
3.6 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES ..........................................26
4 CRONOGRAMA ....................................................................................................27
REFERÊNCIAS.........................................................................................................28
APÊNDICES .............................................................................................................31
APENDICE A - Termo de Consentimento Institucional .............................................32
APÊNDICE B Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Participante ............. 33
APÊNDICE C Instrumento de coleta de dados .....................................................34
1 INTRODUÇÃO
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é tida, atualmente, como um local
onde é prestada assistência qualificada e especializada, independentemente de os
mecanismos tecnológicos utilizados serem cada vez mais avançados, capazes de
tornar mais eficiente o cuidado prestado ao paciente em estado crítico. Segundo o
Regulamento técnico do Ministério da Saúde (1998), este setor é constituído de um
conjunto de elementos funcionalmente agrupados, destinado ao atendimento de
pacientes graves ou de risco que exijam assistência médica e de enfermagem e
recursos humanos especializados.
A UTI é um dos ambientes mais agressivos, tensos e traumatizantes, uma
vez que ali se desenvolve tratamento intensivo, hostil pela própria natureza, pois
além da situação crítica em que o paciente se encontra, existem outros fatores
altamente prejudiciais a sua estrutura psicológica, como falta de condições
favoráveis ao sono, intercorrências terapêuticas freqüentes, isolamento, suposição
da gravidade da doença e até mesmo risco de morte.
A estrutura física dessa unidade tem algumas características próprias que
alteram o emocional das pessoas nelas tratadas, entre as quais podemos destacar:
área física restrita; planta física comum – o que faz com que o paciente visualize e
ouça tudo o que ocorre ao seu redor; presença de equipamentos sofisticados;
dinâmica ininterrupta de trabalho da equipe; sons monótonos e constates dos
monitores e respiradores; iluminação e aeração artificiais permanentes; ausência de
janelas para visualização do meio externo, entre outros.
Tudo isso altera sua auto-estima, sua auto-imagem e sua própria
capacidade de recuperação.
O estudo nasceu de experiências durante os estágios de enfermagem em
UTI, onde os pacientes questionam e buscam estabelecer diálogos, visando à
aproximação com a equipe multidisciplinar, tentando superar seus receios e diminuir
a carência em relação aos familiares ou até mesmo esclarecer seu estado de saúde.
Nesse momento, diversos tipos de informações são obtidos, repassados e ocorrem
confissões do tipo: “estou me sentindo um inútil; nunca havia passado tanto tempo
em cima de uma cama e, ao ver todos trabalhando, gostaria de ajudá-los, tornar-me
útil”.
Para os acadêmicos de Enfermagem e futuros profissional enfermeiro,
faz-se necessário compreender as expectativas e, de certa forma, buscar um modo
melhor de tratar esses pacientes que não estão alheios ao ambiente onde estão
internados.
Pelo senso comum, acredita-se que os pacientes internados em uma UTI
sentem, possivelmente de forma mais intensa, certos problemas peculiares ao
ambiente. Portanto, na assistência de enfermagem em UTI, é fundamental a
identificação e o atendimento das necessidades que eles têm, bem como das suas
expectativas quanto aos cuidados.
Daí surgiu o interesse em desenvolver um estudo com o objetivo de
investigar a percepção dos pacientes acerca da internação em uma UTI. através dos
seguintes objetivos específicos:
•
Determinar o perfil dos pacientes que receberam alta da UTI;
•
Identificar a percepção dos pacientes sobre a UTI em relação ao ambiente de
internação.
•
Identificar a percepção dos pacientes em relação ao cuidado dispensado pela
equipe multiprofissional.
•
Investigar as expectativas dos pacientes sobre a UTI em relação ao ambiente
de internação.
•
Investigar as expectativas dos pacientes em relação ao cuidado dispensado
pela equipe multiprofissional.
Nesse contexto, temos como pergunta de pesquisa: Qual a percepção
dos pacientes acerca da internação, no ambiente da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Regional de Araranguá (HRA)?
Os pressupostos do estudo em questão consideraram se
estes pacientes sentiram ou não insegurança, medo, ansiedade ou solidão. Também
se eles se sentiram seguros ou não em relação ao ambiente da UTI e à equipe
multiprofissional.
Nos estágios curriculares e trajetória acadêmica do curso de Enfermagem
surge a necessidade de compreender os sentimentos vivenciados pelos pacientes
durante sua internação na Unidade de Terapia Intensiva. O acompanhamento de
relatos e vivências despertaram o interesse sobre o tema.
A importância e o significado dessa internação para o paciente, segundo
Andrade (2002, p.12), é que “permanência de um indivíduo em uma unidade de
cuidados intensivos pode ser, para ele e para a sua família, a experiência mais
importante da sua vida”.
A internação hospitalar geralmente é cercada de mitos, tabus,
preconceitos. Se esta internação ocorre na UTI, reforça os sentimentos de medo,
melancolia, desconforto, o que resulta em desconfiança e gera dúvidas para os
pacientes e seus familiares que participam e vivenciam a internação.
Dessa forma, o presente estudo tem sua justificativa na relevância do
tema e a necessidade de estudar a percepção do paciente internado em UTI, para
diminuir suas angústias, medos e inseguranças. Assim favorecerá a efetiva prática
assistencial mais humanizada e voltada para o ser humano holístico, referendando
os legados teóricos de Paterson e Zderad.
2 REVISÃO TEÓRICA
2.1 CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA
2.1.1 Evolução Histórica
Segundo
Gomes
(1988),
alguns
fatores
contribuíram
para
o
desenvolvimento de métodos especiais no atendimento ao paciente hospitalizado.
Entre eles, a procura do melhor meio de cuidado a ser dispensado ao paciente
crítico, não só para a sua sobrevida, mas para sua reintegração a uma existência
normal, com o mínimo de desconforto.
As moléstias que acometem hoje os pacientes são similares àquelas do
passado, exceto pelo trauma, que é possivelmente maior.
Com a preocupação de providenciar uma observação efetiva e dirigida a
pacientes mais graves, muitas instituições procuraram agrupá-los em uma área
comum. Já Florence Nightingale, na guerra da Criméia, providenciou um método
para a observação contínua de muitos pacientes, com poucas enfermeiras, de tal
maneira que os mais graves ficassem junto à área de trabalho das mesmas, e
estabelecia observação e atendimento contínuos. O critério assim estabelecido e
baseado no grau de dependência do paciente é conhecido como “Vigilância
Nightingale”, e persiste hoje, com algumas modificações (DI BIAGGI, 2001).
De acordo com Gomes (1988), durante muito tempo, os hospitais criaram
áreas com vários leitos, ocupados por pacientes com níveis diferentes de
necessidade, atenção e assistência, o que ocasionava algumas dificuldades. Havia
muita demanda na assistência a alguns pacientes, em detrimento de outros. Em tais
áreas, ocasionalmente eram colocados equipamentos como respiradores, monitor
cardíaco e aparelho portátil de Raios-X, que reduziam acentuadamente o espaço
físico e, ao mesmo tempo, aterrorizavam pacientes que tinham pouca necessidade
de saúde afetada.
Em outros centros, algumas modificações foram introduzidas com o
objetivo de melhorar as áreas destinadas a pacientes carentes de observação: “ uma
diminuição no número de leitos e a criação de espaço físico para abrigar um
equipamento mínimo e permitir uma circulação mais livre da equipe de trabalho”
(GOMES,1988,p.03).
Com o aparecimento dessas “áreas” e a colocação do paciente sob
vigilância constante, iniciou-se um período de caracterização dos cuidados a serem
ali dispensados.
A forma de atendimento aos pacientes nessas áreas, ainda não muito
específica, procurava trazer um grande benefício, mas tornava-se altamente
onerosa. Mais de uma área era criada em cada hospital e o equipamento era
distribuído em vários lugares. O trabalho da equipe de enfermagem tornava-se difícil
pela falta de especialização e disponibilidade do profissional para dedicar um tempo
significativo de cuidado ao paciente. Muitas críticas foram feitas a esse tipo de
atendimento, embora parecesse a melhor solução para o cuidado dispensado ao
paciente.
O meio encontrado para o atendimento ao paciente crítico foi à criação de
um serviço no hospital que fosse ao encontro de suas necessidades. Esse serviço
proporcionou recursos para o Cuidado Intensivo, pois aliou o conhecimento da
doença e a precisão de equipamentos ao desenvolvimento de métodos assistenciais
e a uma vigilância contínua. Favoreceram, ainda, a predominância dos fatores
conhecimento e aparelhagem sobre o fator dedicação.
De acordo com Gomes(1988), não há dúvida de que o Cuidado Intensivo
dispensado a pacientes críticos torna-se mais eficaz quando desenvolvido em
unidades específicas, que propiciam recursos e facilidades para a sua progressiva
recuperação. Tais unidades são denominadas Unidades de Cuidado Intensivo ou
Unidades de Tratamento Intensivo.
Pastore (1995) afirma que as UTIs salvam três em cada quatro doentes
que recebem, mas funcionam num mundo sombrio: tubos, lâminas, agulhas e
gemidos. Nesse ambiente, muitos outros problemas acometem os pacientes agudos
recuperáveis.
Sob a ressalva de Barreto (2001), o preciso papel das Unidades de
Cuidado Intensivo ou Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está na combinação do
cuidado intensivo de enfermagem com a constante atenção médica, no atendimento
dispensado ao paciente crítico.
Alguns quesitos são essenciais para o cuidado intensivo, segundo
Barreto(2001):
•
Serviço de enfermagem permanente com treinamento específico
completo, desenvolvendo um serviço contínuo;
•
pronta avaliação médica e complementação científica;
•
padronização técnica de investigação e tratamento;
•
definição de área e facilidades;
•
atitudes novas para o cuidado intensivo.
O sucesso no atendimento ao paciente crítico está relacionado à rápida
avaliação das mudanças que se operam nas suas condições clínicas e ao
envolvimento da equipe com as práticas terapêuticas. Uma atuação sistematizada é
sempre mais eficiente e reduz ao mínimo as frustrações experimentadas nas ações
improvisadas.
Silva (2000) afirma que no CTI o paciente tem privação sensorial,
barreiras corpóreas para tocar o próprio corpo, não tem o mesmo contato diário que
tem com a família e se vê diante de barreiras para sua comunicação verbal.
O cuidado intensivo pode ser dispensado a três tipos de pacientes:
“aqueles que especificamente necessitam de cuidados de enfermagem rigorosos;
aqueles que requerem contínua e freqüente observação ou investigação; aqueles
que dependem de tratamento complexos e de equipamentos de apoio (respiradores,
monitores etc)”(GOMES,1988,p.06).
De maneira geral, o paciente classificado como crítico em medicina,
automaticamente o é para enfermagem. Em alguns casos, o que é crítico para a
enfermagem nem sempre o é do ponto de vista médico. Essa é uma afirmação ainda
não muito aceita, mas que tende a definir algumas condutas em relação à
permanência ou não de um paciente na Unidade de Cuidado Intensivo.
O objetivo do CTI é reduzir a mortalidade pela provisão de cuidados e
observação individualizada contínua e integral, de acordo com as necessidades do
paciente.
O CTI é um serviço que reúne profissionais da área médica e de
enfermagem, técnicos e administradores treinados para a assistência, o
ensino e a pesquisa em terapia intensiva e está integrado aos demais
serviço do hospital. Possui uma dinâmica operacional e um ambiente
bastante diferenciado de outros serviços hospitalares, e esta diferenciação
influi tanto no comportamento da equipe de trabalho como no modo de
encarar a doença por parte do paciente e seus familiares (BARRETO,2001,
p.01).
Caracterizada como a área hospitalar que concentra recursos humanos e
materiais especializados, visando à recuperação do doente grave e de alto risco, o
CTI acaba por reunir um conjunto de fatores que a levam a ser considerada como
um local mais tenso e traumatizante do hospital,
O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva, como suas particularidades
referentes à área física restrita, à presença de equipamentos sofisticados e
a própria dinâmica de trabalho ininterrupto da equipe podem representar
para o paciente um inconveniente do trabalho intensivo, apesar de inúmeros
pacientes se terem beneficiado com o atendimento nessas
“unidade”.(PADILHA,1987, p.39).
Conforme Marx e Morita (1998), a disposição do CTI deve propiciar o
acesso rápido ao serviço de emergência, ao bloco operatório, às unidades clínicas e
cirúrgicas, bem como, à central de diagnósticos, pois o CTI é um setor que
possibilita o atendimento ao paciente grave e não de um indivíduo que esteja em
fase final. Em virtude disso, a facilidade de acesso as demais áreas da instituição
são de grande importância. Marx e Motira (1998, p.33) enfatizam que “a interação e
a proximidade coopera na rapidez de atendimento e na economia de tempo, de
material e de pessoal”.
2.1.2 População Atendida
São internados no CTI pacientes adultos em sistema de vigilância
contínua, considerados recuperáveis graves e de alto risco, que apresentarem
instabilidade grave do sistema fisiológico principal e que necessitem de atenção
clínica constante e técnicas especiais próprias do local. Podem ser considerados
graves aqueles pacientes que apresentarem comprometimento de um ou mais
órgãos ou sistemas e de alto risco, aqueles potencialmente graves, isto é, cuja
doença de base ou intercorrências possam levar a esses comprometimentos
(GOMES, 1988).
A vigilância contínua é fundamental e constitui-se na essência do
atendimento da UTI, pois os pacientes apresentam mudanças rápidas dos
parâmetros clínicos, necessitando de ações imediatas e de baixa tolerância a erros
diagnósticos e terapêuticos.
Atualmente, “o CTI é visto como uma unidade que tem por objetivo
prevenir futuras complicações de pacientes vulneráveis e não mais só como local
para o tratamento do paciente grave ou sem prognóstico” (CASAGRANDE et.al,
1997, p.143).
A figura central desse serviço é assistência à saúde do paciente que
chega não só com um ou mais problemas de saúde, mas também chega como uma
pessoa, um membro da família e um cidadão da comunidade.
Segundo Barreto (2001) o CTI é considerado um ambiente bastante
diferenciado de outros serviços hospitalares, tanto no comportamento da equipe,
como no modo de encarar a doença pelo paciente e sua família. Lida principalmente
com condutas imediatas (cuidados intensivos) em situações limítrofes e com uma
possível reversibilidade da situação. Decisões que envolvem conflitos éticos são
tomadas, continuamente, com base na experiência, no consenso da equipe, na
estrutura técnica (sólida) e num embasamento teórico e de reflexão permanente.
Segundo Hayashi e Gisi (2000, p.826):
Os familiares, em geral, estão tensos, inseguros e com medo do que poderá
ocorrer com o paciente. Existe o medo do próprio ambiente, dos aparelhos e
o medo de como chegar até o paciente de forma a não prejudica-lo. O
médico esclarece sobre o diagnóstico médico, mas os familiares têm
necessidade de falar sobre o diagnóstico e pedir maior esclarecimento sobre
tudo aquilo que diz respeito ao paciente.
2.1.3 Equipe de trabalho
A equipe multiprofissional do CTI deve ser composta por médicos,
enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicóloga e
pessoal de apoio. Esses profissionais devem ser altamente competentes, envolvidos
com o bom funcionamento da Unidade e devem se interessar em melhorar cada vez
mais a assistência prestada ao paciente. Acredita-se que é de vital importância
manter a equipe multiprofissional motivada, em número adequado, em constante
treinamento e atualização, possibilitando aprimoramento técnico-científico, afirmando
residir aí o segredo do êxito e a qualidade do trabalho desenvolvido.
Para Hudak e Gallo (1997), o grupo de enfermeiros deve ter uma grande
preocupação em manter-se coeso nas condutas que a enfermagem desenvolve,
reavaliando periodicamente os problemas internos da unidade. As atividades dos
enfermeiros podem ser de chefia, prescrição, evolução, procedimentos técnicos a
que elas competem, organização da equipe, escala de plantões, entre outras
atividades. A autoridade da enfermeira está na sua postura de líder e de
gerenciadora da assistência.
A equipe ainda conta com os técnicos de enfermagem, que prestam
assistência integral aos pacientes, executando os cuidados individualizados, objeto
das prescrições médicas e de enfermagem. As atividades dos técnicos de
enfermagem são a de administração de medicamentos, auxílio à enfermeira e ao
médico, procedimentos de técnicas que lhe competem, bom atendimento ao cliente,
entre outras tarefas.
O pessoal de apoio é constituído por secretárias responsáveis por toda
parte de cobrança e solicitações dos itens necessários aos tratamentos especiais.
Além delas, e não menos importante, aparece o pessoal responsável pela limpeza
do setor, montagem dos equipamentos e os responsáveis pela alimentação dos
pacientes. Sem seus serviços seria praticamente impossível manter um Centro de
Terapia Intensiva em condições de trabalho.
Segundo James e James (1983, p.26), no C.T.I a enfermeira tem, entre
outras funções, a
supervisão e a
orientação dos funcionários que cuidam dos
pacientes (técnicos de enfermagem, mensageiros e escriturários), colaborando
decisivamente para o bom funcionamento e desenvolvimento do setor. As
enfermeiras ficam responsáveis, também, pela checagem do controle do histórico do
paciente e a prescrição médica, pela supervisão de administração de medicamentos
aos pacientes (horários certos), pela verificação da evolução dos doentes, os quais,
devido a sua patologia, podem ter alterações constantes em seu estado de saúde.
Auxiliar os médicos também é uma das funções das enfermeiras, além de checar o
preparo dos pacientes para cirurgias, verificar o funcionamento dos equipamentos
aos quais os pacientes estão ligados e orientar os familiares durante as visitas.
Enfim, os enfermeiros são o elo de ligação entre a equipe e os médicos e recai sobre
eles toda a responsabilidade pelos cuidados dos pacientes.
A meta principal da assistência de enfermagem é atingir o pronto
restabelecimento das funções vitais do paciente, dentro de um sistema que lhe
proporcione o máximo de segurança.
Ao mesmo tempo em que favorece as possibilidades de recuperação
orgânica, traz toda uma gama de situações, desestabilizantes do equilíbrio
emocional,
incluindo
alterações
psicológicas
e
psiquiátricas
–
também
desencadeadas por situações ambientais.
2.1.4 Aspectos Psicológicos evidenciados no C.T.I
Sampaio (1998) afirma que quando uma pessoa adoece gravemente, algo
em seu sentimento de inviolabilidade se rompe, constituindo um estreitamento de
horizonte pessoal, uma ruptura em muitas das suas ligações com o seu meio, sua
vida real e uma distorção do seu relacionamento com os demais, frente a essa nova
condição. Corpo físico e referencial emocional estão frágeis. Perceber que por causa
da doença grave se pode ou se está provavelmente incapaz para os projetos de
futuro, constitui um sério golpe.
A internação em uma Unidade de Cuidados Intensivos, invariavelmente se
associa a uma situação de grande risco.
Em termos psíquicos e emocionais, mobilizam-se sentimentos extremos
como o medo insuportável, manifestações ansiógenas como a agitação psicomotora
ou a grave depressão. O clima da Unidade, por características bastante específicas,
acentua sensações e sentimentos de desvinculação, ressentimento, desamparo.
Halm e Alpen (1993) consideram que a contínua evolução da
superespecialização na medicina e a maneira tecnológica de providenciar o cuidado
na Unidade de Terapia Intensiva têm, potencialmente, efeitos perigosos nos estados
físico e psicológico de pacientes e familiares. O ambiente da Unidade possui
características indesejáveis que predispõem os pacientes e seus familiares a
seqüelas emocionais. O impacto da “Bedside Technology”- ou a tecnologia de
cabeceira - está associado a um grande número de seqüelas psicológicas adquiridas
no “setting” da Unidade. O estranho maquinário, as constantes privações,
interrupções e privação de sono, a superestimulação sensorial, sede, dores,
abstinência de alimentos comuns, a alimentação endovenosa ou naso-enteral, a
respiração por ventiladores, a monitorização cardíaca e a sua sinalização, os
catéteres, os procedimentos invasivos, a imobilização do paciente e ainda a
superlotação de equipamentos no local, é equivalente de desencadeantes para
situações que propiciam alterações psicopatológicas para o paciente, sua família e
para a equipe de saúde.
Eisendrath (1994) considera que muitos pacientes, na tentativa de
manejar o estresse de sua estadia, com mecanismos primitivos de enfrentamento,
favorecem a regressão, manifesta como uma dependência extrema. Os pacientes
experienciam estressores como o medo real da morte, a forçada dependência, as
potenciais e permanentes perdas de função. A separação da família e a perda de
autonomia, freqüentemente, encabeçam e promovem a regressão psicológica.
Outros pacientes podem tentar enfrentar ou lidar com os estressores por supressão
de seus sentimentos, com prejuízos graves para suas condições emocionais. Outros
podem desencadear reações, insatisfatórias para a equipe como a agitação,
desespero, choro convulsivo, agressões à enfermagem, manobras. Enfim, atuam
como poderosos estressores também para o ”staff”, visto esses pacientes estarem
conscientes e emocionalmente frágeis. Ainda aponta que os dois sentimentos,
ansiedade e
medo, são sensações muito ruins e associadas a uma não
compreensão do estímulo interno além da proporção dos estímulos ambientais da
U.T.I, apreendidos como uma ameaça.
Esses aspectos são de difícil distinção e devem ser discutidos com a
equipe para se obter melhores referenciais para tomada de decisões. Eisendrath
(1994) considera que o medo é extremamente percebido quando o paciente é
admitido na U.T.I, com a consciência do substancial tratamento que irá fazer, e que
a continuação de sua existência resulta desta admissão. Nesse sentido, o paciente
pode reagir existencialmente, com sentimentos reais de desamparo, ao se ver
“abandonado” pela família, exatamente neste momento delicado, pois não há uma
compreensão pelo paciente da gravidade do seu próprio estado, e nem um
esclarecimento a ele sobre as características da internação, no momento da
admissão, já que esta é, normalmente, abrupta. Podem superficializar sentimentos
de revolta por pressupor que foram omitidos dados reais, pelo seu estado ter piorado
tanto, ou a real natureza do seu problema orgânico. Nesse sentido, o medo e a
ansiedade são sensações de importante significado, pois podem produzir mudanças
fisiológicas, piorando o quadro do paciente. Eisendrath ainda refere que os níveis de
catecolaminas e corticosteróides podem variar de forma impressionante durante os
altos níveis de ansiedade e pânico, alterando inclusive programações no tratamento
(aumento de pressão, aumento da glicemia, aumento dos batimentos cardíacos).
Boucher e Clifton (1996) também apontam a dor e sua conseqüente reação e a
extrema ansiedade, como condições insuportáveis pelos pacientes no contexto da
U.T.I
Como conseqüência direta dos traumas ocasionados por acidentes (ou
condições abruptas), dos procedimentos cirúrgicos, dos procedimentos invasivos,
dos grandes e custosos curativos e da longa permanência em U.T.I, a dor que
acompanha esses momentos é uma instância a ser especialmente considerada. Em
casos extremos, a dor, as dificuldades do tratamento, as alterações de sono, mais o
acúmulo dessas sensações incontroláveis, podem evoluir para a Síndrome de U.T.I
– alteração psiquiátrica que pode levar à psicose. Nesse sentido, é imperativo
pensar ações adequadas para a diminuição da dor, o manejo da ansiedade e o
rápido conforto dos pacientes, como prevenção de sua Saúde Mental (BOUCHER e
CLIFTON, 1996).
Drubach e Peralta (1996) referem que a administração dos traumas em
pacientes críticos é uma exigente tarefa. A adição de comportamentos alterados
(psiquiátricos ou emocionais exacerbados) significam problema grave. Referem-se
às anomalias na função psicológica, incluindo perturbações no comportamento, no
humor, no afeto, na percepção e no pensamento. Consideram que severos fatores
afetam o paciente, aumentando a incidência de fatores para os sintomas tornaremse proeminentes. Primeiro, a premorbidade para sintomas são considerados na
população admitida em uma Unidade Cuidados Intensivos, principalmente, em uma
unidade de trauma. Em segundo momento, a “dano cerebral” (cerebral injury),
causada pelo trauma, são causas freqüentes para as alterações psiquiátricas.
Terceiro, as reações psicológicas são inerentes às severíssimas condições médicas
que causaram a hospitalização e também o meio ambiente da U.T.I.
Os sintomas psiquiátricos também podem ser fonte importante de
estresse para a equipe e a família. Sintomas como agitação, psicose e a depressão
podem complicar seriamente o curso da hospitalização e a compreensão do evento
que ameaça a vida, gerando seqüelas de longa permanência. Os autores também
sugerem que os médicos na Unidade saibam reconhecer as complicações
psiquiátricas de seus pacientes para providenciar benefícios para essas condições.
Referem que os sintomas psiquiátricos também podem estar associados a
complicações
orgânicas
(encefalopatias)
decorrentes
de
disfunções
renais,
hepáticas, metabólicas, cerebrais. Mas com certa freqüência são reativos, estão
associados
às
excessivas
respostas
psicológicas
e
são
potencialmente
desorganizadores. Alguns sintomas -como ansiedade exacerbada, agitação
psicomotora, ilusão, alucinação, até a depressão acentuada - são reações
emocionais do paciente à doença e dependem da severidade da patologia, do
impacto também do tratamento e da hospitalização, do “estar na UTI”. Daí a
importância do caráter realmente humanizador da tarefa.
2.1.5 Condições estressantes observadas no CTI
De acordo com Paes (2000), o paciente consciente passa por mudanças
comportamentais contínuas dentro de um CTI; indiretamente participa, percebendo
tudo o que acontece. Ao entrar em CTI passa pelo primeiro impasse: o fato de não
conhecer o funcionamento da unidade, fantasia situações sobre um local que por
vezes determina a morte. Esse conceito é mudado quando o mesmo participa da
rotina do setor. Percebe que suas fantasias pelo local, por vezes, são sem
fundamentos. Muitas vezes este paciente consciente permanece por inúmeros dias
dentro do setor e se defronta com conflitos interiores e pessoais, sente-se mal, não
gosta do local, o barulho lhe incomoda, não gosta da comida, do atendimento, do
ambiente, entre outros e, ao mesmo tempo, acaba entrando em um quadro de
estresse que pode prejudicar seu estado de saúde. Muitas são as hipóteses de
fatores que podem aumentar o estresse do paciente e inúmeras são as condutas
que podem ser tomadas pela equipe a fim de diminuir os agravos desses fatores.
Em vista desses cuidados e controles, geralmente faz-se do CTI um local
onde as atividades são contínuas durante as vinte e quatro horas do dia, acrescidas
do barulho monótono e constante dos monitores e dos respiradores, às vezes
interrompidas pelo soar dos respectivos alarmes de segurança. Nesse aspecto,
Paes (2000) afirma que na UTI não existem sons e sim apenas ruídos
desagradáveis e silêncio pesado nos raros momentos em que cessam as conversas
e os alarmes não disparam.
Além disso, outros elementos presentes na CTI, como iluminação e ar
condicionado permanentes, podem ser prejudiciais, sobretudo por dificultarem ou,
até mesmo, impossibilitarem o sono e o repouso necessário a sua recuperação.
As poucas janelas e a ausência de relógio são responsáveis por reações
psicológicas indesejáveis, que de certa forma podem comprometer ainda mais o já
debilitado estado do paciente. A esse respeito, o que se fala sobre estresse até o
momento, permanece, ainda hoje, indefinido. Sua definição e prevenção ainda são
alvos de inúmeros estudos na área da fisiologia, psicologia e sociologia. Estudos
recentes, oriundos da psiconeuroimunologia, oferecem suporte sobre a complexa
relação entre conhecimentos de domínio
da psicologia (a mente, as emoções),
neurologia (o cérebro e o SNC) e imunologia (defesas celulares do corpo contra
invasores internos e externos). Para Brunner e Suddarth (2006), esses estudos
demonstram os modos pelos quais a mente e as emoções podem afetar a saúde
física, acarretando um aprofundamento no entendimento dos efeitos do estresse
sobre o corpo.
Sabe-se, hoje, que o estresse é produzido através de mudanças no
ambiente e que pode ser percebido com características de desafiador, ameaçador
ou perigoso para o equilíbrio da pessoa. A incapacidade do indivíduo em suportar as
demandas da nova situação provoca um desequilíbrio real ou percebido. Para
Brunner e Suddarth (2006), essa mudança desperta o estressor que pode ser
caracterizado como um evento que produzirá estresse em um momento e lugar para
uma pessoa e será neutro para outra, e um evento que pode produzir estresse em
um momento ou lugar. A pessoa avalia e enfrenta as situações de desafio. O que se
deseja com isso é adaptação à mudança, de modo que a pessoa recupere o
equilíbrio e tenha capacidade e energia para as novas demandas. Isso pode ser
definido como o processo de enfrentamento, um processo compensatório com
componentes fisiológicos e psicológicos.
As fontes de estresse podem ser consideradas inúmeras. Cada indivíduo
adapta-se através de um processo contínuo a essas mudanças, as quais mudanças
podem ser previsíveis, contribuindo para o crescimento e a melhoria da vida.
Entretanto os estressores podem perturbar o equilíbrio. Um estressor pode ser
definido como eventos internos e externos, condições, situações e/ou insinuação
que têm como característica ser potente causar ou ativar reações físicas ou
psicossociais significativas, conforme Sebastiani (1995). Esse mesmo autor acredita
que a mente influencia as respostas imunes com conseqüências que podem ser
prejudiciais ao portador.
Existem, hoje, inúmeros indicadores de estresse e de resposta a ele.
Entre eles é possível citar, conforme Di Biaggi (2001):
irritabilidade geral, hiperexcitação ou depressão;
garganta e boca seca;
fadiga fácil, perda do interesse;
ansiedades flutuantes, não sabe o porquê;
hipermotilidade;
sinais e sintomas de gastrointerite;
perda do apetite;
distúrbios comportamentais;
palpitação cardíaca;
comportamento impulsivo, instabilidade emocional;
fraqueza ou torpor;
tensão, alerta;
tremores, tiques nervosos;
insônia;
aumento da freqüência urinária;
tensão muscular ou enxaqueca;
dor no pescoço e costas;
pesadelos.
Esses sinais e sintomas podem ser observados diretamente ou
registrados
pela
pessoa.
Alguns
tendem
a
ser
psicológicos,
fisiológicos,
comportamentais; outros refletem comportamentos sociais e processos de reflexão.
Algumas dessas reações podem ser comportamento de enfretamento. Em outros
momentos, cada pessoa tende a desenvolver um padrão de comportamento
característico do estresse, advertindo que o sistema está em desequilíbrio.
Koizumi et al (1979) referem que o paciente de Centro de Terapia
Intensiva julga-se no direito de ser o centro das atenções da equipe, por temer que
as suas funções vitais possam paralisar-se a qualquer instante. Essa afirmação só
vem reforçar que o paciente de terapia intensiva, em conseqüência à situação em
que está submetido, considera-se o alvo da atenção da equipe. Esta, por sua vez,
adaptada muitas vezes ao ambiente, caracteriza-o como um lugar rotineiro. Envolvese demais com o arsenal tecnológico, com as manifestações clínicas da doença e
com a terapêutica instituída que, por vezes, esquece que, atados aos equipamentos,
estão pessoas que sofrem com os cruéis tratamentos. Esse ser humano passa então
por uma experiência singular, com conseqüências traumatizantes (seus receios e
temores, fantasias e crenças, preocupado com seu trabalho, com fantasmas que o
cercam – custo, dinheiro,...). Isso vem questionar a intensa necessidade de intervir
diretamente nos problemas sentidos e identificados, necessitando de uma
assistência de enfermagem mais expressiva do que técnica, atendimento mais
humanizado por parte da equipe médica e, principalmente de enfermagem.
O autor refere também que
retirado do seu meio em condições adversas, afastado à força da sua
realidade e transferido para um lugar ameaçador e desconhecido, o
paciente, retrai-se e perde transitoriamente a sua identidade psicossocial,
não acostumado sequer a expressar os seus medos e suas dúvidas, com
receio de, com isso, questionar a competência das pessoas envolvidas no
seu tratamento (KOIZUMI et al, 1979, p.139).
Isso significa que o paciente, diante da situação, sente-se desamparado,
sozinho, sem alguém de seu convívio diário que o compreenda, que compartilhe as
inquietudes, preocupações. Muitas vezes esse paciente se encontra solitário, à
mercê de sua ignorância, sofrendo com as dúvidas sobre sua patologia, a evolução
de seu tratamento, os procedimentos realizados que, em várias situações, são
dolorosos e fazem com que acredite que está sendo maltratado, passando a temer
por isso.
Em vista disso, o enfermeiro deve procurar identificar percepções e
sentimentos apresentados nos pacientes conscientes, internados em UTI com o
objetivo de implementar o plano de cuidados que tenha, como resultado uma estadia
tranqüila, sem agravos para o paciente.
2.2 Enfermagem Humanística
É uma teoria prática, pois, para as teóricas, a Enfermagem desenvolve-se a partir
das experiências vividas pelo enfermeiro e pelo paciente, obtendo um maior
conhecimento/entendimento sobre o ser humano.
Na prática de enfermagem humanística, o ser humano deve ser visto
através de sua estrutura existencialista, pois, segundo Paterson e Zderad (apud
GEORGE, 2000, p. 43):
O homem é um ser individual necessariamente relacionado com os outros
homens no tempo e no espaço como todos os homens dependem de outros
para seu nascimento e seu desenvolvimento, a interdependência é inerente
à situação humana ... [e] a existência é a coexistência.
Por meio da interação equipe de enfermagem/paciente é que se inicia a
prática do cuidado humanizado.
Acredita-se que a prática é que nos fornecerá subsídios para entender
melhor o que é ser enfermeiro. A enfermagem humanística de Paterson e Zderad
conforme Praeger (apud GEORGE, 2000, p. 241). “...tenta obter uma visão mais
ampla do potencial do ser humano procurando compreendê-lo a partir do contexto
de sua experiência de vida no mundo”.
A enfermagem humanística visa à experiência fenomenológica do ser
humano, ou seja, enfocando sempre suas experiências e fenômenos de vida.
Segundo o autor, não existe uma forma simples para definir a essência da
enfermagem
humanística,
porque
ela
preocupa-se
com
as
experiências
fenomenológicas dos indivíduos, a exploração das experiências humanas.
“A enfermagem é um evento humano, ela está relacionada com uma
situação de trocas entre a pessoa do enfermeiro e a pessoa que está sendo
assistida pelo enfermeiro, de modo que a característica essencial do processo é a
nutrição” (PATERSON E ZDERAD apud LEOPARDI, 1999, p. 134).
A prática da enfermagem humanística está enraizada no pensamento
existencial.
O existencialismo é uma abordagem filosófica para a compreensão da vida.
Os indivíduos enfrentam possibilidades ao fazerem escolhas. Essas
escolhas determinam a direção e o significado da vida, o existencialismo foi
uma resposta às filosofias dominantes do positivismo e do determinismo
(GEORGE, 2000, p.242).
“Os seres humanos vivem num processo existencial de vir a ser, através
de escolhas, necessariamente relacionados com outros seres humanos, no tempo e
no espaço”(PATERSON E ZDERAD apud LEOPARDI, 2002, p. 134).
O ser humano pode errar ou acertar, conseguir expressar ou não
expressar suas emoções, mas é por meio dos erros e acertos que vai construindo as
suas próprias experiências.
Conforme Paterson e Zderad (apud LEOPARDI, 2002, p. 133),“os
enfermeiros experimentam importantes eventos da vida com os outros seres
humanos, tais como nascimento, solidão, perdas, separação, desenvolvimento,
morte, através de relações empáticas, e sua própria história faz a mediação numa
situação singular”.
Paterson e Zderad, citadas por Leopardi (2002) ressaltam que a
enfermagem humanística permite o reconhecimento de:
•
perspectiva e respostas de um enfermeiro singular;
•
sua resposta ao reconhecimento do outro;
•
as recíprocas demandas e respostas, ou seja, a mediação, tal qual
ocorrem na situação de enfermagem.
A enfermagem sempre vai fazer parte do contexto social, pois enquanto
existirem seres humanos necessitando de cuidados e isso sempre vai existir, o
enfermeiro se fará presente em algum momento da vida do ser humano.
Para as teóricas, a enfermagem adquire conhecimento e se desenvolve a
partir das experiências vivenciadas. Além disso faz uso de uma metodologia na qual
foram envolvidas através da experiência com o outro. Ambas tem que andar sempre
juntas para dar sentido ao cuidado de enfermagem humanizado.
A ansiedade, a angústia, a impotência, a insegurança e a negação dos
pacientes internados no ambiente da UTI precisam ser reconhecidas pela equipe
multiprofissional para fornecer um enfrentamento adequado ao paciente. O estudo
terá como objetivo, identificar a percepção e o sentimento dos pacientes acerca da
internação em uma Unidade de Terapia Intensiva.
2.3 Fenomenologia
De acordo com Leopardi (2002), na atualidade, principalmente na área da
saúde, a fenomenologia vem sendo abordada desde uma perspectiva qualitativa, o
que torna possível a avaliação de percepções sobre a doença, o sofrimento, as
expectativas e outras condições ligadas à subjetividade de quem passa pela
experiência da enfermidade.
Segundo Schneider (1992), a fenomenologia não foi “fundada”, mas
surgiu e cresceu, tendo suas origens no pensamento de Edmund Husserl. A idéia
da fenomenologia como um novo método desenvolveu-se gradualmente e continua
a transformar-se de maneira contínua.
A fenomenologia de Husserl se sustenta na idéia de que, quando se
pensa, pensa-se em algo, sendo que essa característica implica a noção de
intencionalidade, ou seja, a relação entre aquilo que se pensa e a maneira como se
pensa.
A análise fenomenológica ultrapassa a análise psicológica, pois o método
fenomenológico procura saber “qual o significado daquilo que se passa na
consciência, quando alguém julga, sonha, afirma, vive” (LEOPARDI, 2002)
A compreensão fenomenológica, como toda a compreensão, envolve
sempre uma interpretação , espreitando-a . A compreensão surge sempre em
conjunto com a interpretação. Num sentido geral, esse momento é uma tentativa de
especificar “significado” que é essencial na descrição e na redução como uma forma
de investigação da experiência.
Para Polit e Hungler (2004), o foco da indagação fenomenológica é aquilo
que as pessoas vivenciam, relativamente a alguns fenômenos e à forma como elas
interpretam essas vivências.
Segundo Schneider (1992), desde a sua origem, a enfermagem visa à
ministrar cuidados indispensáveis aos enfermos, bem como a promoção da saúde
das pessoas. Ela busca ver o homem situado no mundo em sua totalidade de vida.
A enfermagem busca um repensar a sua função assistencial em conexão íntima com
o da promoção da saúde e na busca de alternativas para a pesquisa. Dentre essas
alternativas, o método fenomenológico tem se mostrado adequado para a pesquisa
em enfermagem.
Taylor, citado por Schneider (1992), coloca que compreender pessoas na
enfermagem, através da perspectiva fenomenológica, significa apreender os
significados que essas pessoas dão a suas experiências com doenças e ao
relacionamento enfermeiro/paciente. Assim,achando caminhos para cuidar do que é
particular para a experiência da pessoa, acaba enriquecendo a base de
conhecimentos na prática de enfermagem.
Enfermagem e metodologia fenomenológica compartilham crenças e
valores de que as pessoas são um todo e criam seus significados particulares.
Ambas consideram tudo que está acessível na experiência em estudo, tanto
subjetivo como objetivo, e esforçam-se para entender o significado total que a
experiência teve para os participantes.
Segundo Minayo (2002, p.61), os fenomenólogos consideram que a “cura
se baseia em valores, símbolos e sistemas de significados, compartilhados nos seus
grupos de referência. Advogam uma reforma no sistema de saúde que leve em
conta os valores culturais dos grupos, seus mediadores e seus ecossistemas”.
Segundo Capalbo (apud PILLOTTO, 2002, p. 72): “as idéias principais da
fenomenologia centram-se na preocupação em mostrar e não demonstrar, em
explicar as estruturas em que a experiência se verifica, em deixar transparecer na
descrição da experiência as suas estruturas universais”.
3 METODOLOGIA
A proposta dessa pesquisa é identificar a percepção dos pacientes acerca
da internação na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Araranguá.
Para isso foi utilizado como referencial teórico os conceitos de Josephine E.
Paterson e Loretta T. Zderad que fundamentam a enfermagem humanística.
Foi utilizado como referencial filosófico da pesquisa a Fenomenologia, que
pressupõe a exploração das experiências humanas: os valores, os preconceitos, os
mitos e as expectativas do homem.
3.1 Caracterização do Estudo
O presente estudo tem caráter qualitativo, descritivo, exploratório e de
campo. A pesquisa aprofunda-se no mundo das ações e relações humanas, o que
não é perceptível e captável em equações, médias e estatísticas.
Na pesquisa qualitativa há uma tentativa de capturar dos entrevistados
as perspectivas sobre as questões focalizadas, descrevendo determinada realidade
(CERVO E BERVIAN, 2002).
Uma pesquisa qualitativa é baseada nas informações, sem instrumentos
formais e tenta compreender e interpretar as experiências pessoais, bem como
analisar as informações de forma intuitiva (LEFÉVRE, 2000).
A pesquisa qualitativa não tem qualquer utilidade na mensuração de
fenômenos em grandes grupos, sendo basicamente útil para quem busca entender o
contexto onde algum fenômeno ocorre. Umas das principais características do
método qualitativo é o fato de que as pesquisas são formuladas para fornecerem
uma visão de dentro do grupo pesquisado (CERVO E BERVIAN, 2002).
Descritiva porque procura interpretar e analisar as exposições verbais dos
entrevistados, relacionando-as à literatura e, exploratório, à medida que busca o
fenômeno ou obter nova percepção, em um contexto específico.
A metodologia qualitativa, pelo fato de trabalhar em profundidade,
possibilita que se compreenda a forma de vida das pessoas, não sendo apenas um
inventário sobre a vida de um grupo (LEFÉVRE, 2000). As técnicas utilizadas
permitem, entre outras coisas, o registro do comportamento não-verbal e o
recebimento de informações não esperadas, porque não seguem necessariamente
um roteiro fechado, percebendo como bem-vindos os dados novos, não previstos
anteriormente (CERVO E BERVIAN, 2002).
A
pesquisa
exploratória
“permite
ao
investigador
aumentar
sua
experiência em torno de um determinado problema. Consiste em explorar
tipicamente a primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em
relação a um fato ou fenômeno”(LEOPARDI, 2002, p.119).
3.2 Local do Estudo
O presente estudo foi realizado no Hospital Regional de Araranguá,
situado na cidade de Araranguá (SC), no período de 01/10 à 20/10 de 2007. A
pesquisa foi realizada com o paciente pós-alta da UTI.
3.2.1 Caracterização da UTI do Hospital Regional de Araranguá
O presente estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do
Hospital Regional de Araranguá (HRA), localizado na rua Castro Alves , Município de
Araranguá – Santa Catarina, sendo referência para os municípios da Associação
dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina (AMESC).
A UTI foi inaugurada em 10/03/1994 e permaneceu em funcionamento por
quatro anos. Foi desativada, em 21/08/98 para reforma com o objetivo de melhorar a
assistência e fornecer um atendimento com qualidade. A nova UTI foi reinaugurada
em 29/08/2001, sendo ampliada de seis para dez leitos: onde oito são monitorizados
e dois leitos não. Desses dez, um é isolamento. Todos os leitos são visualizados do
Posto de Enfermagem e separados por divisórias acrílicas.
Hoje, fornece melhor condição para as pessoas que necessitam de
cuidados integrais durante 24 horas, todos os dias, em um espaço físico adequado
e planejado, contando com uma equipe multidisciplinar preparada para prestar
cuidados de alta complexidade . A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital
Regional de Araranguá (HRA), está localizada próxima ao Pronto Socorro, ao Centro
Cirúrgico, e a Central de Material Esterilizado (CME).
Os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); vêm do
Pronto Socorro, de transferência externa (se tiver leito disponível, com a autorização
do médico de plantão) e de transferência interna. A alta hospitalar é por
transferência interna ou por óbito do paciente.
A visita da UTI realiza-se nos horários das 15h `as 16h e, após a visita
dos familiares o médico de plantão conversa com dois familiares de cada paciente,
informando-lhes as condições - quadro clínico - do paciente Das 20h às 21h é
permitida a entrada de quatro pessoas, individualmente, para cada paciente
internado.
A equipe de enfermagem segue uma escala de atividades diárias e a
passagem de plantão é realizada no início de cada turno, à beira do leito do
paciente. A equipe multiprofissional é composta por quatro enfermeiros, três
auxiliares de enfermagem, onze técnicos de enfermagem, cinco médico plantonistas,
uma fisioterapeuta e serviços de centro cirúrgico, hemodinâmica, laboratório,
radiologia e nutrição.
Conforme informações obtidas na unidade, as patologias que mais
ocorrem na UTI são:
Neurológicos: acidente vascular encefálico (isquêmico e hemorrágico),
mal convulsivo e meningite;
Politraumatismos: traumatismo crânio-encefálico, trauma torácico e
trauma abdominal;
Gastro: hemorragia digestiva, cirrose hepática, cefalopatia hepática e
pancreatite aguda;
Renal: insuficiência renal aguda;
Infecciosas: broncopneumonia e septicemia;
Cardiovascular: emergência hipertensiva, síndrome coronariana, infarto
agudo do miocárdio, angina, arritmias e insuficiência cardíaca;
Metabólica: cetoacidose diabética e coma hiperosmolar.
3.3 Sujeitos
Participaram deste trabalho como sujeitos, 13 pacientes lúcidos e
orientados, de ambos os sexos, na faixa etária de 15 a 80 anos e que tenham
passado pela internação em UTI uma única vez.
3.4 Procedimentos de Coleta de Informações
A técnica utilizada nesta pesquisa, para obtenção dos dados em função
de ser de cunho qualitativo, foi à entrevista semi-estruturada (Apêndice 1). Segundo
Lefévre (2000), a entrevista permite que as pessoas exponham naturalmente o que
pensam, dando acesso a dados da realidade, de caráter subjetivo, isto é, idéias,
crenças, maneiras de pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de atuar, conduta ou
comportamentos. A modalidade de entrevista semi-estruturada ao mesmo tempo em
que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis
para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias,
enriquecendo a investigação (LEFÉVRE, 2000).
A entrevista foi realizada após a alta do paciente individualmente, que foi
consultado quanto a sua disponibilidade em participar da pesquisa. Tal aceite foi
oficializado mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
(Apêndice 2 ). Antes da assinatura do termo, o pesquisador esclareceu os objetivos
da investigação e a importância dos depoimentos para o estudo, e de que as
identidades serão mantidas em sigilo.
A coleta de dados foi desenvolvida nos seguintes momentos:
1º Momento – Reconhecimento do campo de estágio e da equipe multiprofissional
que estava envolvida no trabalho.
2º Momento – Realizou-se observação assistemática dos pacientes a partir da alta
da UTI.
“A observação assistemática – chamada também de “ocasional”,
“simples”, “não-estruturada” – é a que se realiza sem planejamento e sem controle
anteriormente elaborados, com decorrência de fenômenos que surgem de
imprevistos”(RUDIO, 2003, p. 41).
Já para Leopardi (2002), a principal vantagem dessa técnica é que ela é
realizada através de acontecimentos que serão percebidos, não havendo nenhum
tipo de intermediação, colocando o pesquisador diante da situação estudada,
fazendo com que ele a veja naturalmente.
3º Momento – Seleção os pacientes de acordo com os critérios:
- Idade entre 15 e 80 anos;
- Internado pela primeira vez na UTI;
- Após Alta da UTI;
- Paciente lúcido e orientado.
De acordo com Gil (2002):
o mais recomendável nas pesquisas deste tipo é a utilização da amostras
não probabilísticas, selecionadas pelo critério de intencionalidade. Uma
amostra intencional, em que os indivíduos são selecionados a partir de
certas características tidas como relevantes pelos pesquisadores e
participantes, mostra-se mais adequada para a obtenção de dados de
natureza qualitativa; o que é o caso da pesquisa-ação.
4º Momento – Realização da entrevista semi-estruturada com os pacientes
selecionados.
Segundo Minayo (2002, p.108):
A entrevista semi-estruturada combina com perguntas fechadas (ou
estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer
o tema proposta, sem resposta ou condições pré-fixadas pelo pesquisador
pelo pesquisador, mediante a entrevista pode se obter desde dados que de
referem diretamente ao indivíduo entrevistado, isto é, suas atitudes, valores
e opiniões.
O diário de campo foi utilizado para anotações sobre os fatos ocorridos
durante o estágio como: angústia, questionamento, percepção e informação que não
são obtidas através da utilização de outras técnicas (MINAYO, 2002, p.63).
3.5. Aspectos Éticos
O Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 196/96, aprova
algumas normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres
humanos.
A resolução incorpora quatro referenciais básicos da bioética: autonomia,
não maleficência e justiça. Visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito
à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e do estado. Dentre os aspectos
éticos o consentimento livre e esclarecido prevê a anuência do sujeito da pesquisa
após a explicação completa sobre a natureza da mesma, seus objetivos, métodos,
benefícios previstos e potenciais riscos que possam acarretar, formulada em termo
de consentimento, autorizando sua participação na pesquisa.
Aspectos éticos do estudo como a confidencialidade, a privacidade, o
anonimato, a proteção de imagem devem ser assegurados aos participantes no
decorrer de todo o processo de pesquisa.
A pesquisa em seres humanos deverá sempre tratá-los com dignidade,
respeito e defendê-los em sua vulnerabilidade. Na pesquisa será utilizado um termo
de consentimento livre e esclarecido, informando aos participantes da pesquisa os
objetivos, métodos, direito de desistir da mesma e sigilo. (apêndice 2 ).
Os pesquisadores de enfermagem devem ter o compromisso de defender
os princípios morais da vida, o respeito e a dignidade humana com base no respeito
profissional e pessoa cuidada.
O projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital
Regional de Araranguá (Apêndice 3), para análise e posteriormente autorização da
realização da pesquisa embasada nos preceitos éticos da Resolução 196/96.
3.6 Organização e Análise das Informações
Na fase de análise dos conteúdos, utilizou-se a categorização de dados
por melhor se adequar à investigação qualitativa do material sobre saúde,
embasados em Minayo (2002).
Para Minayo (2002), as categorias são empregadas para estabelecer
classificações. Significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um
conceito capaz de abranger tudo isso que pode ser utilizado em qualquer tipo de
análise em pesquisa qualitativa.
Segundo a autora, para a operacionalização da análise e interpretação
dos dados é necessário passar pelos seguintes passos: ordenação dos dados,
classificação dos dados e interpretação.
Sendo assim, na etapa de ordenação dos dados realizou- se uma préanálise; através da leitura e releitura dos resultados da entrevista semi-estruturada ,
buscando permear o pensamento geral dos entrevistados, relacionando, a partir daí,
as categorias chave.
Na etapa de classificação, após a identificação das categorias, buscou- se
estabelecer os pressupostos referentes à percepção do paciente acerca da
internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Finalmente, realizou-se a interpretação dos dados coletados, articulandoos com as questões que nortearam toda a pesquisa: seus pressupostos, objetivos e
referências teóricos.
4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Neste capítulo serão apresentados os resultados dos dados obtidos neste
estudo. Inicialmente apresentou-se ao enfermeiro supervisor do estágio o projeto e
posteriormente para a equipe de trabalho da UTI e para os demais enfermeiros
indiretamente ligados ao estudo.
Na identificação da percepção dos pacientes na UTI em relação ao
ambiente de internação e o cuidado dispensado pela equipe multiprofissional, foram
utilizados as seguintes categorias norteadoras da pesquisa, a partir de entrevista
semi-estruturada com os pacientes:
•
Situações que mais impressionaram os pacientes na UTI durante o período
de internação;
•
Sentimentos em relação à internação na UTI.
Na apresentação dos resultados, utilizou-se a letra “P” para identificar os
pacientes entrevistados, no sentido de preservar o sigilo e anonimato dos sujeitos,
como recomenda a Resolução 196/96.
4.1 Perfil dos Pacientes Internados na UTI
Foram entrevistados treze (13) pacientes: dez (10) do sexo masculino e
três (03) do feminino. Quanto à religião, onze (11) freqüentam a Igreja Católica, um a
Testemunha de Jeová e um a Assembléia de Deus.
No que diz respeito à escolaridade, um concluiu o Ensino Médio; três, o
Ensino Fundamental; nove têm o Ensino Fundamental incompleto.
Profissionalmente seis são aposentados, um é chapeador; um, pedreiro;
um, mecânico; um, lavrador; um, vendedor; um, auxiliar de cozinha e apenas uma
das pacientes é do lar.
A maioria dos pacientes são de Araranguá, (11), no entanto dois pacientes
são da região de Criciúma. Isso comprova que a UTI do HRA atende pacientes do
município e da região do extremo sul catarinense.
Na tabela 01, apresentou-se o perfil dos pacientes internados na UTI,
referente à idade e à patologia.
Tabela 1 – Perfil dos pacientes internados na UTI segundo idade e patologia
Idade
Nº de pacientes
Patologia
Identificação
20-30
1
Asma
P4
40-50
3
IAM
P6;P9;P11
51-60
4
3 IAM, 1 Angina
P5;P7;P12;P13
61-70
4
3 IAM, 1 Bronquite
P1;P2;P3;P10
71-80
1
PCR
P8
Fonte: Dados da Pesquisa
O presente estudo apresentou uma amostra: 54% dos pacientes
entrevistados foram acometidos por IAM. Por se tratar de uma UTI geral, os casos
de doenças cardiológicas são de índices altos de internação, seguidos pelas
doenças do tipo neurológicas além dos politraumatizados.
Segundo Zilberstein (2000), a criação das Unidades de Terapia Intensiva
surgiu da necessidade de prestar melhor assistência a pacientes em estado grave,
passíveis de recuperação, concentrando recursos humanos e materiais, capazes de
possibilitar rapidez e eficiência no atendimento prestado.
4.1.1 Situações que mais impressionaram os pacientes na UTI durante o
período de internação.
Todos os pacientes referiram o bom atendimento na UTI, dado pela equipe
de enfermagem e médicos. Sentiram-se bem acolhidos no ambiente, sendo possível
destacar em todas as falas termos significativos do entendimento dos pacientes
quanto à permanência na UTI: atendimento muito bom, atenção, tratamento
especial, respeito.
“Me senti muito bem, o atendimento foi muito bom, o pessoal é muito
atencioso” (P1).
“Nada tenho que falar, se for para dar nota, a nota é 1000, o atendimento
foi perfeito, o problema é meu, sou muito estressado, eu tenho que me controlar,
tratamento é especial” (P2).
“... não tenho nada para reclamar dos funcionários, só para agradecer”
(P7).
Koizumi, Kamiyama e Freitas (1979) comentam que, ao passarem por
tratamento intensivo, as pessoas parecem desenvolver considerável sensibilidade ao
que ocorre ao seu redor, dada a situação de estresse enfrentada na UTI.
Consideram ainda essencial o reconhecimento e o controle dos fatores que
desencadeiam esse estresse.
Apesar do grau de estresse todos os pacientes entrevistados disseram ter
aceitação diante da internação ou só verbalizaram aspectos positivos relacionados à
sua permanência neste local.
É importante ressaltar o bom atendimento, inclusive com orientação de
enfermagem e de médicos, oferecido no ambiente da UTI do HRA, como podemos
perceber nas seguintes falas:
“... quando acordei, as enfermeiras me orientaram bem” (P3).
“O tratamento, todos me atenderam bem, gostei do médico, ele também
me atendeu bem, muito respeitada, logo me recuperei ...” (P8).
“O que me impressionou foi o atendimento, foi muito bom, o atendimento
dos médicos e enfermeiros foi ótimo...” (P11).
“... os enfermeiros me trataram muito bem” (P13).
Do mesmo modo Mocavero et al apud CAR (1999), em estudo realizado
com pacientes também internados em Unidade de Terapia Intensiva, constataram,
após a alta hospitalar, que a maioria deles percebeu essas unidades como locais
seguros, sobretudo pela presença constante de médicos e enfermeiros.
É possível fazer uma suposição de que esses sentimentos sejam
diretamente proporcionais à assistência prestada pela equipe da unidade,
configurando fator importante para a ausência de momentos críticos, ou seja, um
bom cuidado, além da terapêutica medicamentosa, favorece a manifestação de
sentimentos positivos, apesar do ambiente típico da UTI.
Para a enfermagem e demais profissionais de saúde a importância da
orientação “representa a possibilidade de ir além da execução de
procedimentos técnicos que fragmentam e reduzem o ser humano a um
receptáculo de suas ações. Esta possibilidade diz respeito à humanização
dos atos profissionais permitindo que os sentimentos, as emoções e a
história de cada um tragam uma compreensão da totalidade que este ser
humano representa.” (SOUZA e PADILHA, 2002, p.27).
A UTI, como ambiente propício para a melhora da saúde, foi citado por
dois pacientes, conforme as falas abaixo descritas.
“... eles somaram bastante, senti que estava sendo bem cuidada, eles se
preocupam com a gente, me senti viva, que ia melhorar, porque cada dia me sentia
melhor” (P4).
“O atendimento ali é muito bom, aquilo ali são uns “anjo”, não tem nenhum
ali que eu posso falar alguma coisa de mal, todos são especial. “Pra ti vê” quando
me falaram que ia pra UTI eu fiquei tranqüilo, porque nessas horas tu só “pensa” em
viver e era o que eu queria” (P6).
Em duas das falas, os pacientes ficaram impressionados com a rapidez
no atendimento:
“Preocupação da saúde, mas o atendimento me chamou muito atenção,
foi coisa muito boa. Eu moro em Içara e quando começou aquela dor, oh coisinha
forte, procurei socorro. Eles me atenderam e logo me mandaram pra lá. Quando
cheguei, me levaram direto para UTI, porque já tinham ligado. Meu Deus, vieram uns
cinco pra cima de mim e ali eles ficaram...” (P10).
“...gostei do lugar, não me senti incomodado. Quando cheguei me
atenderam bem rápido. Foi atendimento de primeira, tanto que estou aqui falando
contigo” (P12).
Para Gomes (1988, p.17), a Unidade de Terapia Intensiva é “uma área
onde os pacientes em estado grave podem ser tratados por uma equipe qualificada,
sob melhores condições possíveis: centralização de esforços e coordenação de
atividades”.
A vergonha para o banho de leito foi relatado por um paciente, conforme a
fala abaixo descrita.
“Foi o atendimento. Lá o atendimento é coisa séria. É 199%. São gente
muito boa, as coisas mais queridas do mundo, dão banho na gente, mas eu fiquei
com vergonha e não quis” (P5).
Sobre privacidade, Souza, Possari e Mugaiar (1985, p.77), afirmam que
“os pacientes não são separados por sexo, idade e gravidade da doença. Cria-se,
assim, um clima de ansiedade por quebra da privacidade do paciente. Ele vivencia
não apenas a sua doença, mas vê e ouve as internações que se processam ao
redor”.
No entanto, cabe ressaltar que o capítulo IV – Dos Deveres do Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem, preconiza que o enfermeiro deve: “Art. 27 –
Respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu
tratamento e seu bem-estar. Art. 28 - “Respeitar o natural pudor, a privacidade e a
intimidade do cliente”. Ao mesmo tempo, o enfermeiro tem que reconhecer que o
paciente possui: “o direito a atendimento humano, atencioso e respeitoso, por parte
de todos os profissionais de saúde. Tem o direito a um local digno e adequado para
seu atendimento, o direito a manter sua privacidade para satisfazer suas
necessidades fisiológicas, inclusive alimentação e higiênicas, quer quando atendido
no leito, no ambiente onde está internado ou aguardando atendimento.” (COREN,
1993).
A UTI, como um ambiente assustador e por ter paciente em estado crítico,
foi comentada por um paciente, conforme a fala abaixo descrita.
“O que mais me impressionou foi o bom atendimento e o que mais me
deixou chocado foi ver as pessoas lá muito mal” (P9).
A literatura em terapia intensiva aponta que o ambiente físico da UTI é um
forte desencadeador de desconforto ao paciente, por tratar-se de um local inóspito,
com grande circulação de pessoas, ruídos, presença de pacientes graves, falta de
atividades de recreação. (GOMES, 1998).
A UTI é um dos ambientes hospitalares mais agressivos, tensos e
traumatizantes, uma vez que ali se desenvolve tratamento intensivo, hostil
pela própria natureza, pois além da situação crítica em que o paciente se
encontra, existem outros fatores altamente prejudiciais à sua estrutura
psicológica, como falta de condições favoráveis ao sono, intercorrências
terapêuticas freqüentes, isolamento, suposição da gravidade da doença e
até mesmo risco de vida. (NASCIMENTO e CAETANO, 2003, p.12).
O paciente na UTI pode perceber muito próximos os limites entre a vida e
a morte, assiste ao sofrimento humano e freqüentemente passa pelo processo de
medo da morte do outro, identificado por Kovács (1992) apud Seidler e Moritz
(1998), como o medo da separação da finitude humana ao deparar-se com a dor
alheia e refletir sobre o seu próprio fim.
A percepção do sofrimento alheio pode desencadear uma grande dor ao
paciente, que pode projetar-se, enfrentando este processo, ou recordar o sofrimento
de entes queridos, tornando mais difícil a aceitação do sofrimento do outro, conforme
foi evidenciado no relato acima citado.
Um paciente exteriorizou o sentimento de saudade, vontade de estar
perto, de retornar ao convívio familiar, pois o lar e os componentes familiares são de
maior importância e não são esquecidos durante o tempo de permanência na UTI.
Diante dessa problemática, a visita é um momento oportuno para reduzir esse
sentimento. Jones e Cols apud Seidler e Moritiz (1998), enfatizam a importância e a
necessidade de esses pacientes receberem visitas, enquanto Simpsom e Ballard
apud Seidler e Moritz (1998), consideram a separação da família como fonte de
estresse e consideram a visita como fator de amenização desse fato.
A ruptura do convívio social e familiar incomoda os pacientes internados
em uma UTI, exatamente por se verem sozinhos em um ambiente desconhecido,
com pessoas alheias ao seu cotidiano e, ainda, sem contato maior com seus entes
queridos, os quais, na maioria das vezes, são fontes de apoio para superar as
dificuldades que a vida lhes impõe, como nos mostra a fala a seguir:
“...mas o que mais me impressionou foi ter que deixar a minha mãe de 81
anos, porque eu moro com ela, ela precisa de mim. Pra você “vê,” agora que estou
no hospital ela está no asilo” (P5).
4.1.2 Sentimentos em relação à internação na UTI
Os sentimentos mais despertados nos pacientes internados na UTI foi o
medo e a experiência dolorosa, conforme as falas abaixo descritas.
“... dentro da UTI fui bem cuidado. No começo até fiquei com medo que
percebi que estava na UTI, mas depois fui me acostumando e até era necessário
né... foi uma experiência muito ruim, se for para passar de novo, “senti” toda aquela
dor, eu prefiro morrer” (P5).
“Eu posso te dizer que meu maior pavor foi a dor. É inexplicável. Começou
no estômago e depois começou a subir e daí veio muito forte, mas quando
começaram a me tratar, fiquei mais tranqüilo” (P6).
“Quando o médico falou que eu ia para UTI, me agitei, fiquei com medo,
pensei: nossa estou mal e agora?” (P13).
A rejeição do paciente à internação deve ser compreendida pelos
enfermeiros e estes, na medida do possível, devem tentar minimizar o desconforto e
os sentimentos negativos que venham a ser manifestados pelos pacientes.
Conforme relatam Novaes, Romano e Lage (1996, p. 100) “a ansiedade pode ser
compreendida como uma resposta do ser humano ao desconhecido”.
Stedeford (1986) apud Seidler e Moritz (1998), consideram o medo do que
não é familiar como o medo da morte, e argumentam que todas as pessoas têm
medo do desconhecido, e, devido a isso, é natural temer a própria morte. O autor
citado relata que a ansiedade pode ocorrer como resposta a uma dificuldade de
ajustamento, apresentando-se com queixas de sofrimento emocional, variando
desde a sensação de incômodo, até manifestações relatadas nas falas acima.
A dor é um fato real a ser considerado pelos profissionais de saúde, a
quem compete buscar formas para resolver, de modo temporário ou definitivo, tal
incômodo. Koizumi et al (1979, p.141), destacam que “os problemas sentidos pelos
pacientes internados em CTI recaem mais na área expressiva do que na
instrumental”.
No entanto, a assistência com vista ao alívio da dor é uma forte aliada,
capaz de diminuir o sofrimento do doente, proporcionando conforto diante de uma
necessidade afetada.
Outro aspecto relevante foi citado por um paciente que, apesar da
experiência de dor e medo, sentiu-se amparado, protegido e cuidado pela equipe da
UTI:
“... só queria saber se ia escapar. Escapei. Agora estou aqui, mas não
pronto pra outra, porque foi muita dor, mas o que eu senti mesmo foi proteção, eles
cuidaram de mim” (P10).
... a valorização de tudo aquilo que nos é dito pelos clientes e o respeito
pelos próprios “limites”podem propiciar o estabelecimento de uma
ambiência mais segura, mais confortável, onde o cliente não sente sua
individualidade ameaçada, já que o enfermeiro aceita e valoriza o que o
cliente diz... torna-se implícita a necessidade da enfermeira estar alerta à
contínua comunicação, manifesta de forma não-verbal, permeando o
cuidado, que pode ser em muito influenciado, criando pontes ou barreiras
para a aproximação. (BARBOSA, 1999, p. 92-93).
A morte foi um dos sentimentos citados por um paciente internado na UTI,
conforme a fala abaixo descrita.
“Desde que saí de casa eu pensei que fosse morrer pelo jeito que eu
estava. Eu me abençoei, me peguei com Deus, pedi que ele olhasse por mim” (P8).
A recuperação proporcionada no ambiente da UTI, após o sentimento de
medo, foi expresso na fala de um paciente, conforme abaixo descrito:
“Quando me falaram que ia para UTI, pensei que fosse morrer, mas
cheguei lá e foi tudo diferente. Cheguei lá muito mal, enfartado, mas me recuperei,
porque lá é para se recuperar” (P1).
Em uma UTI, o objetivo é a recuperação do paciente em tempo hábil,
dentro de ambientes físico e psicológico adequados, onde cada membro que ali
trabalha deve estar orientado para o aproveitamento das facilidades técnicas
existentes, aliados a um bom relacionamento humano. (KAMADA,1978).
O medo da morte e da dor como experiência incentivadora de mudanças
na forma de pensar, valorização de vida e no estilo de vida, foi comentado por um
paciente:
“Foi a melhora, o tratamento. Agora o problema é viver mais aliviado, ser mais calmo.
Talvez a gente “da” valor só depois que “acontece” as coisas. Então agora vou mudar de vida. Mas
senti medo de morrer, porque a dor é terrível” (P12).
A dor é uma experiência solitária que é difícil de ser comunicada para outra
pessoa. A experiência da dor é única para cada pessoa, de modo que a
enfermeira precisa estar atenta aos modos de expressão da pessoa,
oferecendo ajuda em momentos de maior tensão e sofrimento.
(RODRIGUES, 2000, p.33).
De acordo com Dethlefsen &Dahkke (1983) “a cura sempre está associada
a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento pessoal”.
Um paciente relatou sintomas físicos e a orientação oferecida à família foi
um fator importante para tranqüilizá-lo:
“Única coisa ruim que senti foi a falta de ar. O resto foi só coisa boa. Lá
tem várias moças, senhoras, sei lá, rapazes que são gente muito boa. O
atendimento foi bom. A minha família foi muito bem informada pelo médico. Foi
muito bom. Não sei se com os outros pacientes é assim, mas para mim foi tudo bom”
(P3).
“A internação em UTI sempre se configura como uma situação
traumatizante para o paciente e sua família, porém informações claras, precisas e
em linguagem simples podem contribuir para tranqüilidade da família nessa
situação.” (BALDINI, 2001 apud BARBOSA, 2005, p.158).
Leopardi (2002, p.45), refere que a “tarefa de explicar aos familiares sobre
a doença, tratamento e prognóstico, informar a eminência de morte e consolar fazem
parte de um conjunto de ações assimiladas para compor o cuidado de enfermagem”.
A característica do ambiente da UTI como lugar fechado e com muita
aparelhagem e tecnologia foi citado por um paciente, mas em contrapartida a equipe
lhe transmitiu segurança:
“Me senti um pouco presa, não gosto muito de ficar em ambiente fechado,
era um lugar muito fechado, só via aparelhos. Me senti segura com os
trabalhadores, eles são bem legais, me falaram para eu me cuidar” (P4).
Área física restrita; planta física comum – o que faz com que o
paciente visualize e ouça tudo o que ocorre ao seu redor;
presença de equipamentos sofisticados; dinâmica ininterrupta de
trabalho da equipe; sons monótonos e constantes dos monitores
e respiradores; iluminação e aeração artificiais permanentes;
falta de janelas para visualização do meio externo; e ausência
de relógio, o que impossibilita o paciente se localizar no tempo.
(NASCIMENTO e CAETANO, 2003, p.12).
Um paciente referiu a UTI como um lugar seguro, apesar da preocupação
em relação à internação:
“Tem muita gente que não gosta da UTI, mas se fosse para ficar internado
mais uma vez eu prefiro ficar na UTI, pela segurança, atenção. Claro que se for
analisar o melhor mesmo seria não precisar, mas como precisei, me senti bem. É
claro que ficamos preocupados, mas é normal”(P7).
Em estudos com clientes coronariopatas internados em Unidade Intensiva
Coronariana, Barbato et al (1982), comentam que grande parte desses clientes
percebia a unidade como um elemento tranqüilizador, em virtude da atenção
contínua recebida e da tecnologia ali existente.
As vantagens são os equipamentos e materiais centralizados e alta
tecnologia e monitorização por 24 horas. A UTI é caracterizada pelo
atendimento qualificado e especializado é uma área do hospital destinado a
receber clientes em estado crítico com um ou vários comprometimentos de
órgãos ou sistemas. (RABELO et al, 2002, p.124).
Foi referido por um paciente que a fé e a oração também fazem parte da
recuperação:
“É uma experiência que ninguém gosta, mas a gente sabe que tem que
passar por várias situações na vida que ninguém escapa. Mas orei muito e saí de lá.
Agora quero ir pra casa” (P11).
Talvez por não ter conhecimento da gravidade do caso foi citado por um
paciente que a sua situação não era tão difícil:
“Pois agora, dentro de uma UTI se sente o quê? Às vezes sente, ou sai
bom ou não sai, mas como meu caso eu não achei uma coisa tão difícil. Eu nem me
assustei muito não” (P9.)
Apenas um dos pacientes entrevistado citou que não sentiu nada:
“Sentimento nenhum, são coisas obrigatórias que têm que fazer. As coisas
aparecem e têm que ser “feito”, não senti nada” (P2).
O conjunto de todas as falas permite desmistificar o que freqüentemente é
encontrado na bibliografia e no imaginário coletivo sobre “estar na UTI”.
É freqüente encontrarmos, por exemplo, segundo Bessuti (2002), que a
situação de internação em uma UTI é marcada fortemente por emoções
perturbadoras, o paciente sente-se ameaçado, é afastado de tudo o que o
caracteriza como indivíduo, perde sua identidade. Além disso, é identificado por um
número ou patologia, permanece longe das pessoas amadas, cercada por aparelho,
pessoas estranhas, que falam de seu estado de saúde através de uma linguagem
desconhecida, assustadora, muitas vezes sente dor, e esta é intensificada pela
preocupação com seu estado de saúde, com a situação financeira, com o trabalho,
com as pessoas que lhe são queridas. Enfim, com tudo aquilo que lhe caracteriza
como indivíduo e de alguma forma foi abalado pela situação de internação na UTI.
Frente aos estressores físicos, o que mais tem perturbado o paciente em uma UTI é
a dor, que desencadeia a intensificação dos estressores psicossociais como o medo
da morte, e a insegurança devido à ausência de familiares ou a incerteza de um
diagnóstico.
Diante dessa realidade, percebe-se a necessidade do conhecimento, pela
comunidade em geral, do funcionamento da UTI. Durante as entrevistas muitos
parentes e pacientes que não participaram da entrevista por não fazerem parte dos
critérios de inclusão comentaram que antes de conhecer a UTI tinham impressão
totalmente diferente da que estavam presenciando, ficaram impressionados com o
atendimento. Até mencionaram que se fossem para ser internados em algum lugar
escolheriam a UTI, pois sabiam que ali estariam seguros e que não iria lhes faltar
nada.
Portanto, se observado o coletivo das falas é possível afirmar que a maior
parte dos aspectos positivos são decorrentes da forma da equipe atuar: preparada
tecnicamente, segura, preocupada, interessada pelo cuidado. Da mesma forma, as
fontes de estressores podem ser minimizadas pela equipe, desde que se proponha a
ouvir o paciente sobre os fatores que lhes causam desconforto e insegurança. A
escuta cuidadosa é, sem dúvida, uma ferramenta de trabalho que pode ajudar na
identificação e no controle de tais fatores.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interesse despertado em desnudar a percepção do paciente, vendo-o
não apenas como um ser submetido aos cuidados de enfermagem, fizeram perceber
os conflitos, as necessidades, as angústias, as expectativas e as sensações que
permeiam o dia-a-dia de um paciente, durante sua internação em uma UTI.
Compartilhou-se, por alguns momentos, do seu mundo-vida, uma vez que, a partir
do instante em que o paciente se propõe a colaborar, passa a se mostrar para o
interlocutor, e este, por sua vez, para o paciente, inserindo-se ambos em uma
realidade comum.
Os resultados apontaram um emaranhado de sentimentos com os quais
os pacientes internados na UTI convivem desde o momento da admissão até a sua
internação. As principais percepções quanto à internação foi de aceitação,
recuperação, segurança, bom atendimento e acolhimento em relação a equipe de
trabalho e ao próprio ambiente de internação, uma vez que os indivíduos estavam
vivendo um momento único e desconhecido à sua realidade.
Entretanto, o período de internação foi uma oportunidade que gerou
concomitantemente, satisfação e insatisfação, mostrando que, no convívio dentro de
uma UTI, podem ser experienciados sentimentos de satisfação, proporcionando ao
paciente maior aceitação da dinâmica da unidade, como também sentimentos de
insatisfação, que variam de acordo com as vivências e as informações recebidas
anteriormente de amigos, de familiares e da equipe de saúde.
Assim, fica clara a necessidade de manter o paciente informado e de estar
atento as suas crenças e percepções. O que para a equipe é normal, familiar e
cotidiano, para ele pode ser um universo totalmente desconhecido, como o qual
nunca teve percepção real e prévia. (GUIRARDELLO, 1999).
Os resultados deste estudo sugerem que o indivíduo, ao internar-se em
uma UTI, sente-se ameaçado diante desta nova realidade que vivencia. A ansiedade
por ele vivida tende a diminuir após a internação, porém, para a maioria dos
pacientes, as dificuldades impostas por este ambiente continuam a expressar-se na
dificuldade de lidar com o sofrimento, com o desconforto causado pelos artefatos
terapêuticos que trazem maiores preocupações aos pacientes, que, isolados dos
familiares, sentem-se sós, apesar de estarem acompanhados pelos profissionais de
saúde. Acredita-se que os pacientes internados na UTI sentem, possivelmente, de
forma ainda mais intensa, certos problemas peculiares ao ambiente. O repasse de
orientações sobre a rotina da unidade e sobre dúvidas porventura existentes
também é uma maneira de diminuir os anseios desenvolvidos em função da causa
da internação e ao ambiente.
A percepção da UTI como um ambiente hostil é minimizada quando o
cuidado é realizado de forma humanizada, porém os cuidadores necessitam sentirse bem neste ambiente para perceber as necessidades dos pacientes. Como
podemos ver através dos resultados do estudo os pacientes entrevistados ficaram
muito satisfeitos com o cuidado a eles disponibilizado. Muitos elogiaram os serviços
prestados pela equipe de enfermagem, pelos médicos e pelos técnicos. Pois a
qualidade no serviço está no equilíbrio entre as tarefas e cuidado direto ao paciente,
onde o profissional, além de competência técnica, demonstra interesse ao ser
humano a quem presta seus cuidados. Quando o trabalho é reconhecido pelos
usuários dos serviços de saúde, o profissional de saúde compreende a sua
importância como cidadão e como profissional. Percebe o quanto é grandioso e
importante seu trabalho. Reconhece a importância da energia despendida
cotidianamente.
Apesar da freqüência com que hoje se discute a importância e a
necessidade do cuidado direto ao cliente, percebe-se relutância por parte de alguns
profissionais na aceitação dessa assistência. Sem dúvida, assistir o paciente
significa compreender o fato de que toda ação tem uma reação, por vezes favoráveis
(aumentando o empenho do profissional no desenvolvimento de sua assistência),
por vezes frustrantes (conduzindo o profissional a refletir) na busca do equilíbrio e do
aperfeiçoamento, como diretrizes fundamentais no desempenho de sua profissão.
A hospitalização para muitas pessoas representa a separação da família,
de tudo àquilo que se conhece e se compreende. Significa estar em um ambiente
hostil e ser cuidado por pessoas desconhecidas e, para muitos, um mundo
amedrontador. Se o profissional não tiver essa questão bem esclarecida, limita a sua
assistência ao cliente, a sua família, aos cuidados técnicos necessários e à
manutenção das funções vitais. É importante que o profissional que atua em uma
UTI defina uma filosofia para prestar essa assistência baseada na visão holística.
O plano de cuidados deve considerar as necessidades do cliente,
(emocionais, ou não). Muitas vezes ações simples podem resolver grandes
problemas. Saber avaliar e ter criatividade nas ações são a essência do
atendimento. Assim, a sistematização da assistência de enfermagem vem ao
encontro dos princípios fundamentais do exercício da profissão, permitindo aos
profissionais exercerem sua atividade com competência e responsabilidade em toda
sua plenitude.
A sensação de perceber o reconhecimento do trabalho dos profissionais
enfermeiros e equipe em cada olhar dos pacientes entrevistados, bem como a
identificação de sentimentos positivos, ainda que em paralelo com os negativos,
mostrou que o desempenho desses profissionais, no momento em que lhes é dado
prestarem uma assistência intensiva de qualidade, será sempre reconhecido por
aqueles que viveram nesse ambiente de cuidado, que compreenderam não ser tão
agressivo e frio quanto à literatura costuma referir ficar em uma Unidade de Terapia
Intensiva.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, Maria Teresa Soy. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: McGraw – Hill,
2002.
BARBOSA, Pedro Marco Karan et al. Necessidade de orientação a visitantes de
pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Enfermagem Brasil.
Florianópolis, maio/junh. 2005.
BARBOSA, Sayonara de Fátima Faria. A Transcendência do Emaranhado
Tecnológico em Cuidados Intensivos – A (Re) Invenção Possível. Blumenau:
Nova Letra, 1999.
BARBATO, M.G. et al. Problemas psico-socios-espirituais dos coronarianos
internados em unidades coronarianas. Rev. Bras. Enf. Brasília, 35 (1): 7-16,
janeiro./mar.1982.
BARRETO, Sérgio Menna et al. Rotinas em Terapia Intensiva. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1993.
BESSUTI. I. Internação em Unidade de Terapia Intensiva: como pacientes e
equipe de enfermagem percebem esta realidade. Caxias do Sul, 2002. Monografia
– Universidade de Caxias do Sul.
BOUCHER, B.A; CLIFTON, G.D. Critical care Therapy in Drug and Disease
Management. Herfindal e Gourley (eds.). USA, 1996.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Regulamento técnico para o funcionamento dos
serviços de tratamento intensivo. Diário Oficial. n. 106 – E, p 9-18, jun. 1998.
BRUNNER, L.S e SUDDART, D.S. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico. 9.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
CAR, M.R. Identificação de problemas de enfermagem da esfera física em pacientes
de unidade de tratamento intensivo. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, 21 (1): 23-36,
abril.1999.
CASAGRANDE et al. Manual de rotinas em terapia intensiva. Porto Alegre:
Hospital Moinhos de Vento, 1997.
CERVO, Amado L, BERVIAN, Pedro A. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2002.
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (RJ). Código de ética dos profissionais
de enfermagem. Rio de Janeiro, 1993.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisa envolvendo seres humanos. Resolução 196/96. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/HCPA/gppg/res196/96.htm>. Acesso em: 28 mar. 2007.
DETHLEFSEN, Thorwald e DAHKKE, Rüdiger. A Doença como Caminho. São
Paulo: Cultrix, 1983.
DI BIAGGI, T.M. Relação Médico família em UTI: a visão do médico intensivista.
Tese de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001.
DRUBACH, D.A.; PERALTA, L.M. Psychiatric Complications, em Maciel, K.I.;
Rodrigues, A.; Wiles C.E. (orgs.) Complications in Trauma and Critical care.
W.B.Saunders, Philadelphia, 1996.
EISENDRATH, S.J. Psychiatric Problems in Critical Care, em Diagnoses e
Treatment. Sue,D.Y.; Bongard, F.S. (orgs), Prentice & Hall Int. USA,1994.
GEORGE, Julia B. Teorias de Enfermagem: os fundamentos à prática
profissional. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas,
1995.
___________. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.
GOMES, A. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 2. ed. São Paulo: EPU,
1988.
GUIRARDELLO E. de B.et al. A Percepção do paciente sobre sua permanência na
Unidade de Terapia Intensiva. Rev. Esc. Enf. USP. v.33, n. 2, p. 123 – 9, jun. 1999.
HAYASHI, Alda Aparecida Mastelano e GISI, Maria Lourdes. O Cuidado de
Enfermagem no CTI: da Ação-Reflexão à Conscientização. Texto e Contexto.
Enfermagem, Florianópolis, v.9, n.2, p. 824-837, mai./ago., 2000.
HALM, M.A.; ALPEN, M.A. The Impact of Technology on Patients and Families.
Nurs Clin North.Am. Jun. 28, 1993.
HUDAK, C. e GALLO, B. Cuidados intensivos de enfermagem: uma Abordagem
Holística. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
JAMES, L. B; JAMES, E. S. Manual de tratamento intensivo. 2. ed. Rio de Janeiro:
Medsi, 1983.
KAMADA, C. e Cols. Equipe multiprofissional em unidade de terapia intensiva.
Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, v.31, p. 60-67, 1978.
KOIZUMI, M. S; KAMIYAMA, Y; FREITAS, L.A. Percepção dos Pacientes de Unidade
de Terapia Intensiva – Problemas sentidos e expectativas em relação à assistência de
enfermagem. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, v. 2, n. 13 p.135-145, 1979.
LEFÉVRE, F. et al. O discurso do sujeito coletivo: uma nova abordagem
metodológica em pesquisa qualitativa. Caxias do Sul: EDUCS, 2000.
LEOPARDI, Maria Tereza. Teorias em Enfermagem: instrumentos para a prática.
Florianópolis: Papa-Livros, 1999.
_________. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Florianópolis: UFSC, 2002.
MARX, Lore C. e MORITA, Luiza C. Manual de Gerenciamento de Enfermagem.
São Paulo: Rufo, 1998.
MINAYO, Maria Cecília Santos & SANCHES, Odécio. Quantitativo-Qualitativo:
oposição ou complementaridade? Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 9 (3),
p. 239-248, jul/set, 1993.
________. O Desafio do Conhecimento – Pesquisa Qualitativa em Saúde. Rio de
Janeiro: HICITEC- ABRASCO, 1993.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org). Pesquisa Social: teoria, método e
criatividade. Petrópolis: Vozes, 2002.
_________ . Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1999.
NASCIMENTO, Adriana R. & CAETANO, Jocelany
A. Pacientes de UTI:
Perspectivas e Sentimentos Revelados. Revista Nursing, v. 57, n. 7, fev. 2003.
NOVAES, M.A.F.P.; ROMANO, B.W.; LAGE, S.G. Internações em UTI: variáveis que
interferem na resposta emocional. Arq. Bras. Cardiol., v. 67, n. 2, p. 99-105, 1996.
PADILHA, Kátia Grillo. O coronariopata e o ambiente da unidade de terapia intensiva:
estudo da influência dos procedimentos invasivos. Revista Escola de Enfermagem
USP, São Paulo, 21(1): 37-46, abril, 1987.
PAES, M.J. Reflexões sobre a importância da mente na recuperação do paciente
em coma. in Ver. O mundo da Saúde 24 (4), p 249-254, São Paulo, 2000.
PASTORE, K. Uma jornada no infermo. Rev. Veja, São Paulo, n. 19, ano 28, ed.
1391, p. 72-79, mai. 1995.
PILLOTTO, Silvia Sell Duarte. A Pesquisa sob Enfoque Fenomenológico.
Joinville: Univille, v. 7, n.1, p. 72, 2002.
POLIT, Denise F. & HUNGLER, Bernadette P. Fundamentos da Pesquisa em
Enfermagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
RABELO, Maria Suzana da Silva et al. Riscos Biológicos e Ergonômicos em Unidade
de Terapia Intensiva. Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.11, n.1, p.
121-137, jan./abr. 2002.
RODRIGUES, Maristela Silveira. A Visita de Familiares como Terapêutica no
Processo de Assistência de Enfermagem. Florianópolis, 2000. Dissertação
(Mestrado na Área de Assistência de Enfermagem). Programa de Pós Graduação
em Enfermagem, UFSC.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. Petrópolis:
Vozes, 2002.
SAMPAIO, A. Patologias Psiquiátricas mais freqüentes em U.T.I. Psiquiatria e
Medicina Interna; HCFMUSP, São Paulo, 1998.
SCHNEIDER, J.F. O Que é Fenomenologia? São Paulo: Moraes, 1992.
SEBASTIANI, R.W. O atendimento Psicológico no Centro de Terapia Intensiva.
Psicologia Hospitalar – Teoria e Prática. São Paulo: Pioneira, 1995.
SEIDLER, H.B.K.; MORITZ, R.D. Recordações dos principais fatores que causam
desconforto nos pacientes durante a sua internação em uma unidade de terapia
intensiva. Revista Brasileira Terapia Intensiva, v. 10, n. 3, p. 112-119, jul./set. 1998.
SILVA, M.J.P. Humanização em UTI. In CINTRA, E.A.; HISHIDE, V.M; NUNES, W.A.
Assistência de enfermagem ao paciente crítico. São Paulo: Atheneu, 2000. p. 111.
SOUZA, Lúcia Nazareth Amante; PADILHA, Maria Itayra Coelho. A Comunicação e
o Processo de Trabalho em Enfermagem. Texto e Contexto Enfermagem, v.11, n.
1, p. 11-30, jan/abr. 2002.
SOUZA, M. POSSARI, J.F.; MUGAIAR, K.H.B. Humanização da abordagem nas
unidades de terapia intensiva. Rev. Brás. Enf., São Paulo, v. 5, n. 2. p. 77-79, abr/jun.
1985.
ZILBERSTEIN, Bruno et al. Manual de Terapia Intensiva – procedimentos
práticos. São Paulo: Robe Editorial, 2000.
APÊNDICES
APENDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Ilmo. (a) Sr.(a): Enfº Saulo Fábio Ramos
Hospital Regional de Araranguá
Venho respeitosamente, através do presente solicitar sua autorização para
coleta de dados na instituição que irá subsidiar a construção de minha monografia
de conclusão de curso. Sou aluna regular do Curso de Pós Graduação Condutas de
Enfermagem ao Paciente Crítico da UNESC.
O objetivo do trabalho é que através de entrevistas com Pacientes Conscientes pós
alta da
Unidade de Terapia Intensiva, possa colher informações para o meu estudo, cujo
tema é “A Percepção e o Sentimento dos pacientes acerca da internação na
Unidade de Terapia Intensiva”.
Asseguro o compromisso com a ética e o sigilo neste trabalho, respeitando
a privacidade e valores de cada paciente.
Anexo cópia do projeto de pesquisa.
Elizabeth Minatto de Souza
Enfermeira/ UNESC
APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Pelo presente termo de consentimento, declaro minha concordância em participar
nesta pesquisa, que tem como título “A Percepção e o sentimento dos Pacientes acerca da
internação na Unidade de Terapia Intensiva com objetivo de” identificar a percepção e o
sentimento dos pacientes acerca da internação na Unidade de Terapia Intensiva, com a
finalidade de fornecer subsídios para realização do trabalho de conclusão de curso
(monografia), e também para que a enfermagem possa interagir no bem estar e conforto do
paciente. Estando também ciente de que será mantido sigilo, o anonimato, e que não há
qualquer tipo de risco, pois as entrevistas repassadas por escrito sem uso de fotografias ou
filmagens e na apresentação do trabalho os pacientes serão identificados por códigos,
mantendo a ética profissional e o respeito ao ser humano. Também fui informado (a) que
tenho o direito de interromper a pesquisa se for de minha vontade. Neste sentido, pelo
presente consentimento, também autorizo a divulgação dos resultados desta pesquisa.
Responsável pela pesquisa
Elizabeth Minatto de Souza
Enfermeira/ UNESC
Local e Data:
Assinatura do entrevistado:
,
de
2007.
APENDICE C
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Identificação
Idade:
Sexo:
Religião:
Escolaridade:
Naturalidade:
Profissão:
Motivo da Internação:
Data da internação:
Pergunta específica:
•
Fale as situações que mais lhe impressionaram durante o período de
internação na UTI?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
•
Fale de seus sentimentos quanto a esta experiência?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.