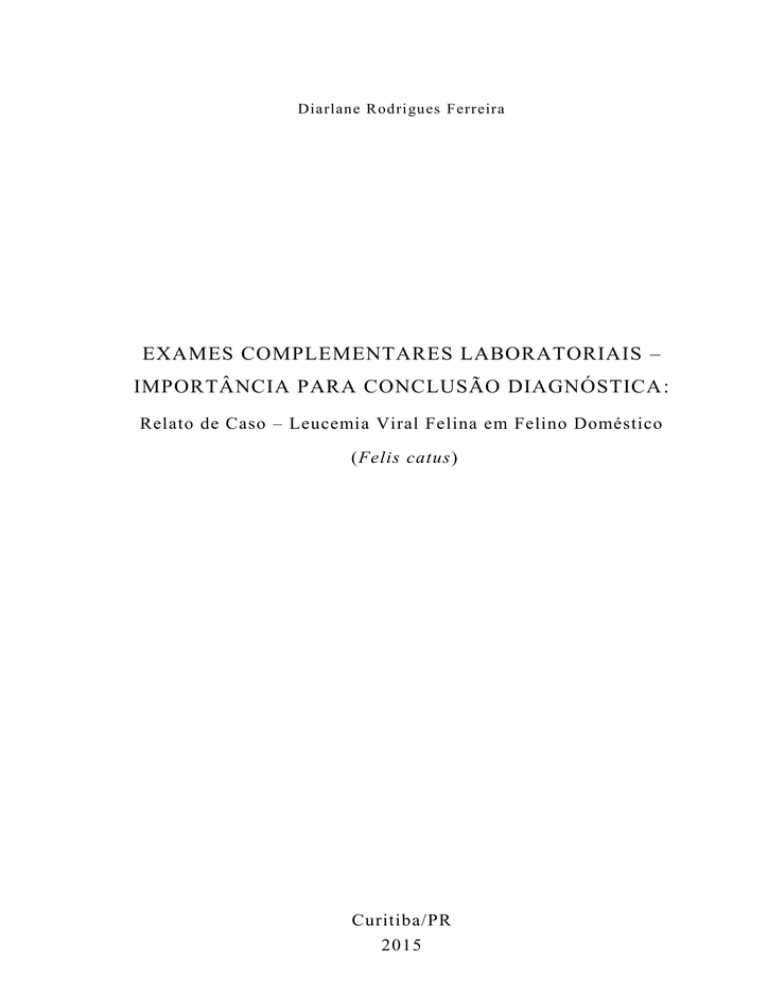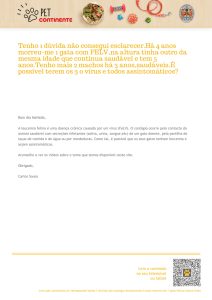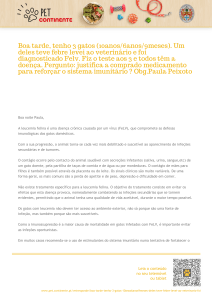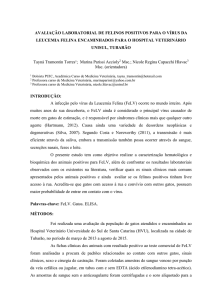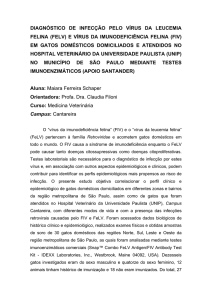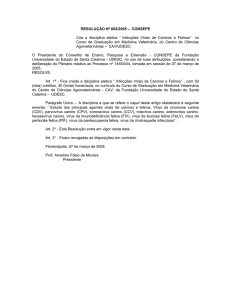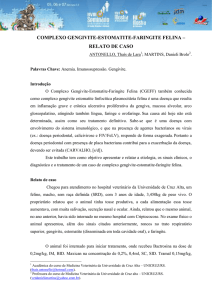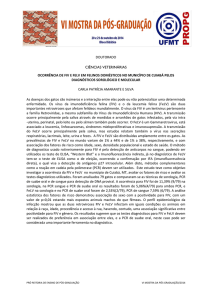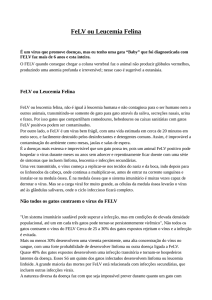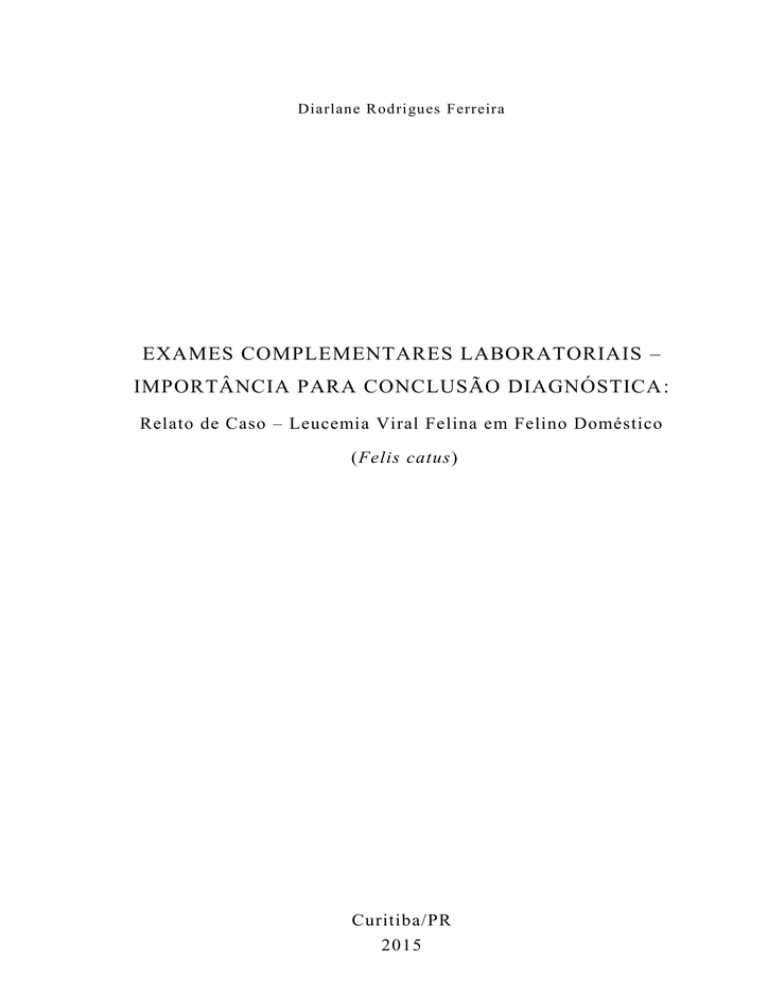
Diarlane Rodrigues Ferreira
EXAMES COMPLEMENTARES LABORATORIAIS –
IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DIAGNÓSTICA :
Relato de Caso – Leucemia Viral Felina em Felino Doméstico
(Felis catus)
Curitiba/PR
2015
Diarlane Rodrigues Ferreira
EXAMES COMPLEMENTARES LABORATORIAI S –
IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DIAGNÓSTICA :
Relato de Caso – Leucemia Viral Felina em Felino Doméstico
(Felis catus)
Monografia apresentada como requisito para
conclusão do Curso de Pós-Graduação,
Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica
de Pequenos Animais, do Centro de Estudos
Superiores de Maceió, da Fundação
Educacional Jayme de Altavila, orientada pelo
Profo. Me. Jacques de Lima Ferreira.
Curitiba/PR
2015
Diarlane Rodrigues Ferreira
EXAMES COMPLEMENTARES LABORATORIAI S –
IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DIAGNÓSTICA :
Relato de Caso – Leucemia Viral Felina em Felino Doméstico
(Felis catus)
Monografia apresentada como requisito para
conclusão do Curso de Pós-Graduação,
Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica
de Pequenos Animais, do Centro de Estudos
Superiores de Maceió, da Fundação
Educacional Jayme de Altavila, orientada pelo
Profo. Me. Jacques de Lima Ferreira.
Curitiba/PR, _______ de __________________ de 20___
– Orientador –
Curitiba/PR
2015
Dedicatória
Dedico este trabalho ao s magníficos e notáveis felinos,
que nos seduzem e encantam por sua exuberância e estilo único.
São seres enigmáticos, misteriosos, indecifráveis.
Jamais se descobrirá todos os segredos que se escondem
por detrás dos olhos ávidos e cheios de vida.
Eles roubam nosso tempo e o coração, nosso apego a eles se torna inevitável ,
mesmo os mais relutantes se entregam, disto tenho provas!!
Encaram-nos de frente, é um ser discreto, demonstrando amor nos pequenos
gestos,
gestos tão simples e despretensiosos.
O amor deles se vê pelo olhar, pelo roçar e pelo seu ronronar.
Depois que se tem um gato, aprende -se muitas coisas .
Não nos permitem invad ir seu espaço, nos ensinam a respeitá -lo,
amá-los e a compreendê-los. Só quem tem um gato sabe do amor tão
grandioso
que sentimos sem esperar nada em troca.
Apenas o nobre olhar e a escapada de nossos abraços
valem-nos. O amor que se tem por um gato é uma mistura de
fascinação e admiração !
Agradecimentos
Primeiramente a Deus, po r me conceder o privilégio de chegar até aqui, meu
amado pai Joaquim Antonio Rodrigues, minha querida mãe Teresa de Brito
Rodrigues, e minha irmã preferida Débora de Brito Rodrigues, pelo apoio e
incentivo. À minha cunhada Noêmia Welupek .
Aos meus filhos amados, Elisa Rodrigues Ferreira , Sarah Rodrigues Ferreira e
Heitor Rodrigues Ferreira . Ao meu esposo, Sérgio Costa Ferreira, pelo
estimulo e parceria. Ao Centro Médico Veterinário – VETSAN, e em especial
ao Laboratório Clínico Veterinário – LABSAN pertencente a Dra. C ynthia
Cristina Venâncio da Silva que prontamente se dispôs a compartilhar seus
conhecimentos e experiências, com muito carinho, atenção, paciência .
E ao meu Orientad or Dr. Jacques de Lima Ferreira que se dispôs prontamente
a me orientar, a todos minha Gratidão !
“Gatos são criaturas gloriosas – que não podem, de modo algum
serem subestimados . Seus olhos são profundezas inexpugnáveis dos
mistérios felinos”
(Lesley Ann Ivory)
Resumo
Exames de sangue começaram a ser utilizados em animais muito mais para
pesquisas humanas do que para conhecer a fisiologia animal. Em animais os exames
laboratoriais começaram a ser utilizados em cães e gatos com o propósito de diagnosticar
doenças e avaliar o sucesso no tratamento de algumas enfermidades. A necessidade do
Médico Veterinário em obter exames complementares para o auxilio no diagnóstico de uma
suspeita clínica está cada dia mais presente, através deles confirma-se e complementa-se essa
suspeita. Muitas clínicas e hospitais veterinários possuem seu próprio laboratório, outros
ainda, dependem de laboratórios veterinários terceirizados para a realização de exames. Os
principais tipos de exames feitos em clínicas, tanto para check-up, pré-operatório ou
realmente para diagnóstico de alguma doença são: hemograma, urinálise, bioquímicos
sanguíneos, dosagens hormonais, coproparasitológicos, microbiológicos, citológicos, líquidos
cavitários, imunológicos, histopatológicos. A análise de sangue tornou-se muito importante,
com o avanço nas pesquisas e da medicina veterinária, foi possível aprender que um simples
hemograma pode dar muito mais informações do que se espera. Através dos exames
laboratoriais possibilita analisar se um animal possui anemia e qual é a sua causa; se há uma
infecção bacteriana, viral ou fúngica; se o prognóstico de algumas doenças é bom ou ruim; se
há desidratação; se é crônico, como uma neoplasia; entre outros. Com as informações
resultantes dos exames, faz-se o diagnóstico preciso e o tratamento específico à afecção do
animal, o que em muitos casos é o principal quesito para o sucesso de sua recuperação. Esta
monografia descreverá os principais exames realizados em laboratório clínico veterinário,
relatando um caso clínico de Leucemia Viral Felina em felino doméstico (Felis catus) na
cidade de Curitiba onde pelos sinais clínicos, dentre elas alterações oftálmicas, suspeitou-se
da doença, foram solicitados exames e através destes foi confirmada a existência da
enfermidade. A FeLV é uma dessas doenças sendo possível ser confirmada através dos
exames laboratoriais, onde em muitos casos sua confirmação e o motivo de sua descoberta
baseia-se no histórico clínico e na detecção da proteína do núcleo capsídeo do FeLV nos
leucócitos, plasma, soro, saliva ou lágrima dos animais suspeitos. O diagnóstico de animais
infectados, isolando-os e impedindo seu contato com animais susceptíveis é a forma mais
efetiva de controle. O tratamento sintomático e contra as infecções secundárias deve ser
realizado para melhorar o quadro clínico do animal. Concluiu-se uma doença grave, presente
em muitos animais o qual a vacinação não é totalmente eficaz.
Palavra-chave: laboratório, oftálmica, diagnóstico.
Lista de Tabelas e Ilustrações
Lista de Tabelas
Tabela 1 - Painel PCR para avaliação de pacientes com diarréia, ............................................ 22
Tabela 2- Painel PCR para avaliação de pacientes com anemia e suspeita de doenças
transmitidas............................................................................................................................... 23
Tabela 3 - Painel PCR para avaliação de pacientes com suspeita de micoses sistêmicas ........ 24
Tabela 4 – Resultado do Hemograma da paciente Isis, felina, ................................................. 33
Tabela 5 - Resultado da Urinálise da paciente Isis, felina, ....................................................... 34
Tabela 6 – Resultado dos Bioquímicos sanguíneos da paciente Isis, felina, ............................ 35
Tabela 7 - Resultado da relação Proteína/Creatinina urinária .................................................. 36
Tabela 8 - Resultado do PCR neurológico FeLV/FIV da paciente Isis, felina, ........................ 37
Tabela 9 - Resultado do PCR Micoplasmas hemotrópicos ...................................................... 37
Lista de Ilustrações
Figura 1 – Contador CELM CC - 530 e Diluidor DA - 500, para diluição do sangue e
contagem de células sanguíneas. .............................................................................................. 13
Figura 2 - Centrífuga e cartela de leitura para determinação do microhematócrito..................13
Figura 3 - Contador manual de células para auxiliar na contagem diferencial de leucócitos e
microscópio óptico. .................................................................................................................. 14
Figura 4 - Esfregaço sanguíneo corado indicando ................................................................... 14
Figura 5 - Refratômetro utilizado para a determinação ............................................................ 16
Figura 6 - Analisador bioquímico semi-automático BioPlus - Bio 2000. ................................ 17
Figura 7 - Amostra de soro diluído em reagente próprio para determinação de glicemia. ...... 17
Figura 8 - Diluição de fezes para realização dos métodos de Faust e Willis, para exame
coproparasitológico. ................................................................................................................. 18
Figura 9- Paciente Isis, felina, em consulta oftalmológica.... ................................................... 32
Figura 10 - Paciente Isis, felina, observação de neovasos (seta azul), hipópio (seta vermelha) e
iris Bombée (seta preta). ........................................................................................................... 32
Lista de Abreviaturas
ACTH
Hormônio Adrenocorticotrófico
ALT
Alanina Amino Transferase
CAAF
Citologia Aspirativa por Agulha Fina
CHGM
Concentração de Hemoglobina Globular Média
DNA
Ácido Desoxirribonucleico
EDTA
Ácido Etileno Diamino Tetra Acético
ELISA
Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay
FA
Fosfatase alcalina
FeLV
Feline Leukemia Virus - Vírus da Leucemia Felina
FIV
Feline Immunodeficiency Virus - Imunodeficiência Viral Felina
GGT
Gama Glutamil Transferase
HGM
Hemoglobina Globular Média
IFI
Imunofluorescência Indireta
NaCl
Cloreto de sódio
PCR
Reação em Cadeia de Polimerase
pH
Potencial de Hidrogênio
PIF
Peritonite Infecciosa Felina
RIE
Radio imuno Ensaio
RNA
Ácido Ribonucléico
RPM
Rotações por minuto
SRD
Sem Raça Definida
TGO
Transaminase Glutâmico Pirúvico
TSH
Thyroid-Stimulating Hormone - Hormônio Estimulante da Tiroide
VGM
Volume Globular Médio
Sumário
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 11
1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 12
1.1 Hematologia ................................................................................................................ 12
1.3 Bioquímica Sérica ....................................................................................................... 16
1.4 Coproparasitológico .................................................................................................... 17
1.5 Microbiológico ............................................................................................................ 18
1.6 Citológico .................................................................................................................... 18
1.7 Líquidos Cavitários ..................................................................................................... 19
1.8 Dosagens Hormonais................................................................................................... 19
1.9 Testes Imunológicos .................................................................................................... 20
1.10
PCR .......................................................................................................................... 20
2 LEUCEMIA VIRAL FELINA .......................................................................................... 25
2.1 Descrição do Caso Clínico .......................................................................................... 30
2.2 Discussão..................................................................................................................... 38
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 42
11
INTRODUÇÃO
A especificidade dos exames e a confiabilidade nos resultados pelos valores de
referencias específicos a cada espécie animal tem-se ampla segurança, sendo indispensáveis
para a conclusão diagnóstica. Os exames vão além dos habituais para cães e gatos, se
estendendo a ruminantes, equinos, mamíferos silvestres, aves e répteis, onde cada uma delas
tem as suas particularidades desde a coleta, até o processamento e interpretação. O preparo e
separação de amostras que podem ser de sangue, urina, líquido cavitário, fezes e outros
materiais biológicos. Esses materiais passam por processos de homogeneização,
centrifugação, separação por pipetagem, bioquímicos, realização, coloração e leitura de
esfregaços sanguíneos, citologia, sedimentoscopia urinária e coproparasitológico. Nesta
monografia com abordagens quantitativas e de estudo de caso como instrumento de
investigação de pesquisa e análise de modo detalhado deste caso explica à dinâmica e a
patologia da doença, identificando os elementos constituintes do objeto estudado,
estabelecendo a estrutura e a evolução. No diagnóstico das infecções por FeLV por associação
do exame clínico, com exames laboratoriais complementares, onde os testes sorológicos para
detecção de anticorpos específicos ou antígenos virais são os mais utilizados; como o teste de
ELISA e o PCR, são eficientes para a detecção do DNA pro viral.
12
1
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1 Hematologia
O hemograma é um dos exames mais solicitados na rotina laboratorial. Para a
realização do mesmo utiliza-se sangue total coletado e armazenado em frasco com
anticoagulante ácido etileno diamino tetra acético (EDTA). O hemograma é dividido em
eritrograma, leucograma, contagem de plaquetas e proteína plasmática. Fazem parte do
eritrograma: a contagem total de eritrócitos, a hemoglobina, o hematócrito, e o cálculo dos
índices hematimétricos (CHCM, HCM, VCM). A contagem total de eritrócitos, hemoglobina
e a contagem total de leucócitos são determinadas pelo contador automático de células
sanguíneas de uso veterinário, (CELM – CC 530) (Figura 1) (THRALL, 2007).
Para a realização da contagem diferencial de células e da avaliação
morfocolorimétrica é realizada a confecção do esfregaço sanguíneo com coloração de
Romanowsky (Panótico Rápido). Na avaliação microscópica do esfregaço sanguíneo é
possível analisar os eritrócitos e suas alterações morfocolorimétricas (VELOZ, 2015).
O hematócrito é determinado pela técnica do microhematócrito, essa técnica
consiste na separação do sangue em três partes: eritrócitos (volume globular ou hematócrito),
leucócitos, plaquetas e plasma. O hematócrito refere-se à porcentagem de eritrócitos no
volume total de sangue, e é obtido após centrifugação do sangue em tubo capilar a 11.500 rpm
por 5 minutos. A leitura do hematócrito é feita em cartão de leitura próprio (Figura 2)
(GALARÇA, 2012).
Fazem parte do leucograma: a contagem total e diferencial de leucócitos. Na
avaliação microscópica do esfregaço sanguíneo também podemos analisar as alterações
morfocolorimétricas, e a contagem diferencial dos leucócitos (Figura 3). Os leucócitos dos
mamíferos são divididos em: neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos, essa
contagem diferencial é obtida através do contador manual diferencial de células, conta-se um
total de 100 células, entre os leucócitos presentes, determinando campos e orientações
adequadas para a leitura em microscopia óptica (Figura 4). Também é realizada a estimativa
de plaquetas no esfregaço sanguíneo. A proteína plasmática é determinada por refratometria,
quebrando-se um tubo capilar de microhematócrito, centrifugado, acima da camada de
leucócitos, colocando-se 1 gota do plasma no refratômetro, o resultado é dado em g/dL
(Figura 5) (BICHARD, 2008).
13
Figura 1 – Contador CELM CC - 530 e Diluidor DA - 500,
para diluição do sangue e contagem de células sanguíneas.
Fonte: Acervo particular
Figura 2 - Centrífuga e cartela de leitura para determinação do
microhematócrito.
Fonte: Acervo particular
14
Figura 3 - Contador manual de células para auxiliar na contagem diferencial de leucócitos e
microscópio óptico.
Fonte: Acervo particular.
Figura 4 - Esfregaço sanguíneo corado indicando
os leucócitos dos mamíferos.
Fonte: labmedvet.com.br
15
1.2
Urinálise
Segundo Dalmolin (2011) a amostra de urina pode ser obtida por micção
espontânea, sondagem uretral ou cistocentese, sendo a cistocentese o método de obtenção
mais adequado para animais de pequeno porte, pela facilidade, baixo custo e confiabilidade no
resultado do exame e representa a amostra mais adequada para urocultura. É necessário
manter a urina em frasco estéril, refrigerado, não excedendo 4 horas de armazenamento até o
momento da análise, retornando a temperatura ambiente previamente ao exame. A realização
do exame de urina se dá em três etapas: o exame físico, químico e de sedimentos. O exame
físico analisará (volume, cor, odor, aspecto e densidade):
Volume – o laboratório registra o volume total de urina recebido para análise;
Cor – a variação pode ser do amarelo claro ao escuro. Qualquer alteração na cor
pode indicar uma patologia;
Odor – é característico, mas pode apresentar alterações (pútrido, adocicado);
Aspecto – indica a transparência, pode variar de límpido a turvo;
Densidade – avalia a concentração de solutos na urina. É estimada por
refratometria (Figura 5).
O exame químico é realizado através de fitas reagentes de química seca e avalia
pH, glicose, proteínas, bilirrubina, urobilinogênio, corpos cetônicos, sangue oculto, leucócitos
e hemoglobina. O sedimento é avaliado após a centrifugação de 10 mL de urina a 1600 rpm
por 10 minutos; transfere-se 1 gota do sedimento para lâmina de microscopia, cobre-se com
lamínula. O sedimento será observado sob microscopia em objetiva de 10x e 40x. Pode ser
observado: cristais, eritrócitos, leucócitos, células de descamação, cilindros, bactérias, muco,
ovos de parasitas, espermatozoides (THRALL, 2007).
16
Figura 5 - Refratômetro utilizado para a determinação
da densidade urinária e das proteínas plasmáticas.
Fonte: sonambra.com.br
1.3 Bioquímica Sérica
Para a realização dos exames bioquímicos sanguíneos, o sangue deve ser
armazenado em tubo sem anticoagulante e centrifugado a 3600 rpm por 10 minutos, obtendose assim o soro que será utilizado para efetuar os exames. Alguns exames bioquímicos
poderão ser realizados em amostras de plasma como glicemia. São realizados os seguintes
exames: sódio, potássio,e cálcio ionizado em dosador de eletrólitos por íon seletivo. Ureia,
creatinina, cálcio, fósforo, alanina amino transferase (ALT), aspartato amino transferase
(AST), fosfatase alcalina (FA), gama glutamil transferase (GGT), proteínas totais, albumina,
globulinas, bilirrubina, amilase, lipase, glicose, triglicerídeos e colesterol. Esses exames são
realizados com amostra de soro ou plasma por espectrofotometria pelo analisador semiautomático Bio Plus – Bio 2000 (Figura 6). As amostras de soro ou plasma são diluídas em
reagentes de trabalho específicos para cada teste. Calibra-se o aparelho conforme a bula do
fabricante, com o reagente padrão específico ou através de soro controle, e do branco que é a
leitura do reagente de trabalho puro (Figura 7) (ETTINGER, 2008).
17
Figura 6 - Analisador bioquímico semiautomático BioPlus - Bio 2000.
Fonte: Acervo particular
Figura 7 - Amostra de soro diluído
em reagente próprio para
determinação de glicemia.
Fonte: Acervo particular
1.4 Coproparasitológico
O exame parasitológico de fezes compreende primeiramente o exame
macroscópico e, em seguida, o microscópico. Na análise macroscópica, observa-se
consistência, odor, cor, presença ou ausência de sangue, muco, presença de proglotes ou
parasitos adultos e outras condições anormais. Na análise microscópica, separa-se cerca de 4
gramas de fezes para a análise, utilizando dois métodos: Faust (solução de sulfato de zinco) e
Willis (solução hipersaturada de NaCl). Para cada método é necessário aproximadamente 2
gramas de fezes, que será homogeneizada em 20 mL de cada solução, e filtrada para outro
recipiente, que será coberto por lâmina de microscopia por 15 minutos (Figura 8); após esse
período retira-se a lâmina e observa-se em microscopia (objetiva de 40x), (NAVONE, 2005).
18
Figura 8 - Diluição de fezes para realização dos métodos de
Faust e Willis, para exame coproparasitológico.
Fonte: Acervo particular
1.5 Microbiológico
As amostras para análise microbiológica são coletadas e preparadas, em alguns
laboratórios, e geralmente são encaminhadas para laboratório terceirizado. São realizados
raspados superficiais de pele, pelos e crostas, swab de pele, ouvido, mucosa oral e ocular,
urina e qualquer outro material biológico que necessite de cultura bacteriana e antibiograma
ou cultura fúngica (ROCHA, 2008).
1.6 Citológico
O exame citológico é indicado para diagnósticos rápidos, sem risco anestésico,
além de ser acessível financeiramente. As informações determinadas por esse método podem
direcionar conduta clínica, quimioterápica, radioterápica e cirúrgica. É indicado para
avaliação de hiperplasia e tumores, que podem ser de pele e subcutâneo, ouvido, mucosas ou
outro local onde seja possível e necessária a coleta. As amostras podem obtidas por citologia
aspirativa por agulha fina (CAAF), imprint ou swab. O material obtido será estendido em
lâmina de microscopia seguido de coloração de Romanowsky (Panótico rápido) e observado
em objetiva de imersão (100x). Deve-se observar a presença e morfologia de células
19
epiteliais, eritrócitos, leucócitos, macrófagos, agentes infecciosos como bactérias, hifas
fúngicas e alterações neoplásicas (ROSOLEM, 2013).
1.7 Líquidos Cavitários
As vísceras são protegidas por uma pequena quantidade de líquido para a
lubrificação dos órgãos. A análise dos líquidos cavitários tem grande valor para a
classificação do distúrbio básico, e também podem ser detectados por ultrassonografia ou
radiologia. A analise dos líquidos cavitários compreende na avaliação de: volume, cor,
aspecto, densidade e odor; exame químico realizado por tiras reativas para obter pH,
proteínas, glicose e sangue oculto, contagem de células (hemácias e leucócitos) que é
realizada em Câmara de Neübauer. A contagem diferencial de células do líquido é feita em
esfregaço corado por coloração de Romanowsky (Panótico Rápido) e observação
microscópica em objetiva de imersão (100x). (BACIC, 2011)
1.8 Dosagens Hormonais
As dosagens hormonais em grande maioria são realizadas por laboratórios
terceirizados. O método utilizado é o de radioimunoensaio (RIE) e os mais comumente
solicitados são: os hormônios tireoidianos (T4 total, T4 livre, T3 total e TSH); hormônios da
glândula adrenal (cortisol, pré e pós estimulação com dexametasona ou supressão com
ACTH). As amostras de sangue total são centrifugadas, o soro é separado e armazenado em
eppendorf, onde são encaminhadas a laboratório terceirizado devidamente armazenado em
isopor com gelo reciclável. Os hormônios atuam para manter a estabilidade, a secreção dos
hormônios ocorre em resposta a uma mudança no meio, o que mantém a homeostasia
(CARDOSO, 2014).
20
1.9 Testes Imunológicos
Os testes imunológicos disponíveis em laboratórios veterinários compreendem
testes rápidos de ELISA e imunocromatografia. Por afinidade e especificidade anticorpo
reconhece o antígeno. (LENZ, 2004). O ELISA é uma técnica de Imunoensaio enzimático
(EIA) heterogêneo, muito utilizada para diagnostico por detectar quantidades extremamente
pequenas de antígenos ou anticorpos. Esse exame se baseia na detecção de anticorpos ou de
antígenos específicos, através da reação anticorpo-antígeno. Esse método diagnostico pode ser
feito, basicamente, de duas formas as quais são realizadas a partir de amostras sorológicas do
paciente:
ELISA Direto: técnica utilizada para a detecção de antígeno presente na amostra
analisada.
ELISA Indireto: técnica utilizada para a detecção de anticorpos presente na
amostra analisada. Sendo que a eficiência desse exame é limitada pela reação de
anticorpos de longa duração, presente em indivíduos que apresentaram a infecção
e se encontram curados. (MONDESIRE,2007)
Os principais agentes testados são:
Parvovirose – Antígeno por ELISA ou Imunocromatografia
Cinomose – Antígeno ou anticorpo por Imunocromatografia
Giárdia – Antígeno por ELISA
Ehrlichia canis, anticorpo, Anaplasma phagocitophilum, anticorpo, Dirofilaria imitis,
antígeno, Borrelia burgdorferi ,anticorpo por ELISA
FIV/ FeLV – Antígeno (FeLV), Anticorpo (FIV) por ELISA
Lipase pancreática especifica canina ou felina – por ELISA
1.10 PCR
Reação em cadeia da polimerase (PCR) é um processo que permite a produção de
cópias virtualmente ilimitadas de material genético no laboratório. Teste de PCR identifica
um patógeno com base na presença de DNA do agente patogênico ou de RNA nas amostras
dos pacientes, antes de anticorpo pode ser detectado, tornando-o uma ferramenta de
diagnóstico útil para a detecção precoce de doença em animais.. São oferecidos exames de
21
PCR em tempo real, em “Painéis” que pesquisam os principais agentes causadores de doenças
em sistemas específicos de caninos e felinos. Os principais painéis são: diarréia, doença
respiratória, anemia, neurológico, doenças transmitidas por vetores e carrapatos e doador
sanguíneo. O PCR em tempo real é um processo simples que permite a produção de cópias
virtualmente ilimitadas de material genético em laboratório. Esta técnica permite a
identificação de um agente patogênico com base na presença do seu DNA ou RNA na amostra
do paciente (FIGUEIREDO, 2011).
Esses exames são encaminhados a laboratório terceirizado. Nas Tabela 1, Tabela 2
e Tabela 3 estão descritos os agentes pesquisados em cada painel.
22
Tabela 1 - Painel PCR para avaliação de pacientes com diarréia, doença respiratória e anemia.
PAINEL
AGENTES PESQUISADOS
PCR
CANINOS
Vírus da Cinomose Canina (VCC),
Coronavírus entérico canino (CECoV),
Parvovírus
canino
2,
Clostridium perfringes enterotoxina A,
Cryptosporidium
spp.,
Giárdia
spp.
e
Salmonella spp.
Diarréia
Bordetella
bronchiseptica,
Adenovírus
canino
tipo
2,
Vírus da Cinomose Canina (VCC),
Herpesvírus canino tipo 1 (CHV-1),
Vírus da Influenza canina (H3N8),
Vírus
da
Parainfluenza
canina,
Coronavírus respiratório canino (CRCoV),
Vírus
da
influenza
H1N1,
Mycoplasma
cynos
e
Streptococcus equi subsp. Zooepidemicus
Doença
Respiratória
Anemia
ELISA
FIV/FeLV
com
para
Fonte: IDEXX Laboratories
_
FELINOS
Clostridium
perfringens
enterotoxina
A,Cryptosporidium
spp.,
Coronavírus
felino
(FCoV),
Vírus
da
Panleucopenia
felina,
Giárdia
spp.,
Salmonella
spp.,
Toxoplasma
gondii
e
Tritrichomonas foetus
Bordetella
bronchiseptica,
Chlamydophila
felis,
Calicivírus
felino,
Herpesvírus felino tipo 1 (FHV-1),
Vírus
da
influenza
H1N1
e
Mycoplasma
felis
Anaplasma
spp.,
Bartonella
spp.,
Cytauxzoon
felis,
Ehrlichia
spp.,
Micoplasmas
Hemotrópicos
Felinos
(Mycoplasma
haemofelis,
‘Candidatus
Mycoplasma
haemominutum’
e
‘Candidatus Mycoplasma turicensis’),
FIV/FeLV,
e
ELISA para antígeno de FeLV e anticorpo
para FIV
23
Tabela 2 - Painel PCR para avaliação de pacientes com anemia e suspeita de doenças transmitidas por
vetores/carrapatos.
PAINEL
AGENTES PESQUISADOS
PCR
Anemia
Doenças
Transmitidas
por
Vetores/Carrap
ato
Teste
quantitativo C6
para Doença de
Lyme
Doenças
Transmitidas
por
Vetores/Carrap
ato
CANINOS
FELINOS
Anaplasma
spp.,
Babesia
spp.,
Micoplasmas
Hemotrópicos
Caninos
(Mycoplasma
haemocanis e ‘Candidatus Mycoplasma
haematoparvum’),
Ehrlichia
spp.,
Hepatozoon
spp.,
Leptospira
spp.,
Febre
Maculosa
e,
Lab 4Dx® (Snap 4Dx®: antígeno de
Dirofilaria immitis e anticorpos antiAnaplasma phagocitophylum, anti-Borrelia
burgdoferi e anti-Ehrlichia canis)
Micoplasmas
Hemotrópicos
Caninos
(Mycoplasma haemocanis e ‘Candidatus
Mycoplasma
haematoparvum’),Ehrlichia
spp.,Hepatozoon
spp.,Leishmania
spp.,Neorickettsia risticii,Febre Maculosa
e,Lab 4Dx® (Snap 4Dx®: antígeno de
Dirofilaria
immitis
eanticorpos
antiAnaplasma
phagocitophylum,
antiBorreliaburgdoferi e anti-Ehrlichia canis).
Anaplasma
Babesia
Bartonella
Micoplasmas
(Mycoplasma
haemocanis
Mycoplasma
Ehrlichia
Hepatozoon
Leishmania
Neorickettsia
Febre Maculosa
Painel Doenças
Transmitidas
por
Vetores/Carrap
ato
Fonte: IDEXX Laboratories
Hemotrópicos
e
_
_
_
spp.,
spp.,
spp.,
Caninos
‘Candidatus
haematoparvum’),
spp.,
spp.,
spp.,
risticii,
_
Anaplasma
spp.,
Bartonella
spp.,
Cytauxzoon
felis,
Ehrlichia
spp.,
Micoplasmas
Hemotrópicos
Felinos
(Mycoplasma
haemofelis,
‘Candidatus
Mycoplasma haemominutum’ e
‘Candidatus
Mycoplasma
turicensis’)
24
Tabela 3 - Painel PCR para avaliação de pacientes com suspeita de micoses sistêmicas, sinais neurológicos, para
doador de sangue e suspeita de Micoplasmose.
PAINEL
AGENTES PESQUISADOS
PCR
Micoses
Sistêmicas
CANINOS
Blastomyces
Coccidioides
Cryptococcus
Histoplasma capsulatum
dermatitidis, Blastomyces
dermatitidis,
spp., Coccidioides
spp.,
spp., Cryptococcus
spp.,
Histoplasma capsulatum
Bartonella
spp.,
Cryptococcus
spp.,
Coronavírus
felino
(FCoV),
FeLV,
FIV,
Toxoplasma
gondii,
ELISA para antígeno de FeLV e
anticorpo para FIV
_
Painel
Neurológico PCR
com
ELISA
FIV/FeLV
Bartonella
Borrelia
Blastomyces
Vírus da Cinomose
Neurológico
Coccidioides
quantitativo para Cryptococcus
Doença de Lyme Histoplasma
Neospora
Toxoplasma
Vírus do Oeste do Nilo
Doador
Sanguíneo
FELINOS
spp.,
burgdorferi,
dermatitidis,
Canina (VCC),
spp.,
spp.,
capsulatum,
spp.,
gondii,
Anaplasma
spp.,
Babesia
spp.,
Bartonella
spp,
Brucella
canis,
Micoplasmas
Hemotrópicos
Caninos
(Mycoplasma
haemocanis
e
‘Candidatus
Mycoplasma
haematoparvum’),
Ehrlichia
spp.,
Leishmania
spp.,
Lab
4Dx®
(Snap 4Dx®: antígeno de Dirofilaria
immitis
e
anticorpos
anti-Anaplasma
phagocitophylum,
anti-Borrelia
burgdoferi
e
anti-Ehrlichia canis).
Teste
para
Micoplasmas
Hemotrópicos
Fonte: IDEXX Laboratories
_
_
Anaplasma
spp.,
Babesia
spp.,
Bartonella
spp,
Brucella
canis,
Micoplasmas Hemotrópicos Caninos
(Mycoplasma
haemocanis
e
‘Candidatus
Mycoplasma
haematoparvum’),
Ehrlichia
spp.,
Leishmania
spp.,
(Snap
4Dx®:
antígeno
de
Dirofilaria
immitis
e
anticorpos
anti-Anaplasma phagocitophylum,
anti-Borrelia
burgdoferi
e
anti-Ehrlichia canis).
Mycoplasma
haemofelis,
‘Candidatus
Mycoplasma
haemominutum’
e
‘Candidatus Mycoplasma turicensis’
25
2
LEUCEMIA VIRAL FELINA
O vírus da FeLV, é um retrovírus ácido ribonucleico (RNA), transmitido na via
vertical e horizontal. É uma infecção cosmopolita, causando linfoma, leucemia, supressão da
medula óssea, imunodeficiência e outras síndromes clínicas (SHERDING, 2008). É capaz de
induzir uma perda progressiva de linfócitos CD4+ e CD8+, devido ao tropismo por linfócitos
e macrófagos. Desta forma, pode permitir a ocorrência de infecções crônicas e recorrentes,
causas significativas de morbidade e mortalidade nos felinos (SOBRINHO et al, 2011).
O agente infeccioso da FeLV é um gammaretrovírus, que é capaz de se integrar ao
DNA do hospedeiro, causando o aparecimento de diferentes condições citoproliferativas ou
degenerativas, além de imunossupressão, ao alterar os mecanismos de defesa imune do
hospedeiro (GONSALES, 2008).
O FeLV é classificado em quatro subgrupos (FeLV-A, B, C e T), identificados
geneticamente de acordo com diferenças no gene e funcionalmente, pela utilização de
diferentes receptores para entrada na célula hospedeira. Somente o subgrupo A é transmissível
entre felinos. A proteína de membrana hospedeira utilizada como receptor é a Feline
highaffinity thiamine transporter 1 (feTHTR1), encontrada em tecidos de absorção como
intestino delgado, fígado e rins, e também em células do sistema linfóide, essa ampla
distribuição é consistente com o fato de que o vírus é encontrado nesses diversos tecidos e
células (FIGUEIREDO e JUNIOR, 2011).
Após a infecção com o subgrupo A do FeLV, ocorrem recombinações virais com
o retrovírus endógeno felino, levando ao surgimento do subgrupo B, associado com
imunossupressão e malignidade, depleção de linfócitos T CD4+ e T CD8+ formação de
imunocomplexos e redução dos componentes do sistema complemento são algumas das
disfunções citadas (GONSALES, 2011).
Uma proteína do envelope viral (glicoproteína 70 - gp70) assume papel
importante na manutenção da FeLV por mediar imunossupressão e anemia arregenerativa,
promovendo a depleção de linfócitos T CD4+. A redução dos linfócitos T CD4+ resulta em
um decréscimo da relação linfócitos T CD4+/CD8+ na fase inicial da infecção. Com a
progressão da doença, há também redução dos linfócitos CD8+. Em felinos, a redução dos
linfócitos T CD4+ pode ser indicativa da persistência da infecção e de prognóstico reservado.
Assim, a avaliação do perfil de linfócitos CD4+ e de CD8+ em felinos persistentemente
infectados, aliada às alterações clínicas pode fornecer subsídios para a formulação do
26
prognóstico bem como para a avaliação do tratamento e resposta dos felinos persistentemente
infectados (GONSALES, 2011).
Os felinos são capazes de produzir anticorpos neutralizantes contra a gp70 em níveis
significativos, após a infecção inicial, então podem eliminar completamente o agente
infeccioso (WARDINI, 2009).
Para Grotti (2007) a infecção pelo FeLV pode ser classificada em quatro categorias:
regressiva com infecção extinta (viremia transitória); progressiva (viremia persistente com
progressão para os seis estágios); regressiva com latência e a forma atípica. Na infecção
regressiva ocorre uma viremia transitória e o vírus é eliminado entre 4 e 8 semanas.
Aproximadamente 40% dos felinos infectados tem capacidade de produzir anticorpos contra a
gp70 que em níveis adequados restringe a replicação e expressão do vírus, o que extingue a
infecção e tornará o felino resistente a infecções futuras. A infecção progressiva ocorre
quando o vírus progride para todos os seis estágios e a viremia, persiste 4 a 6 semanas após a
infecção. Isto ocorre devido a uma resposta imune não efetiva, com produção inadequada de
anticorpos neutralizantes, tornando o felino persistentemente virêmico. Nesta condição o vírus
é liberado constantemente e o felino desenvolve doenças associadas ao FeLV o que predispõe
a morte entre dois e cinco anos após a infecção.
A infecção regressiva com latência acontece quando o felino infectado é capaz de
inativar o vírus, mas não eliminá-lo, podendo haver reativação da infecção caso haja
imunodepressão e ocorre em cerca de 28% dos gatos infectado. O vírus e mantido na forma de
pró-vírus integrado no genoma das células da medula óssea e linfonodos por semanas, meses
a anos. Nesta fase os animais não são capazes de transmitir o vírus e os resultados dos testes
diagnósticos são não reagentes até que ocorra reativação. A maioria dos felinos com infecção
latente progride para infecção extinta e raramente revertem para infecção produtiva (GROTTI
2007).
O FeLV-B é comumente associado a linfomas, essa variante surge da recombinação
entre FeLV-A e sequências retrovirais endógenas. O subgrupo C é o mais patogênico, causa
anemia aplásica e surge a partir de mutações na sequência da glicoproteina SU do FeLV-A. O
FeLV-T foi originalmente isolado de um felino com FeLV induced immunodeficiency
(FAIDS) (FIGUEIREDO e JUNIOR, 2011).
Os felinos persistentemente infectados eliminam partículas virais em menor
quantidade nas secreções respiratórias, lágrima, fezes, urina, sêmen e leite. Todavia, a via de
transmissão efetiva ocorre na saliva, através de lambedura e compartilhamento de recipientes
de água ou alimento. O vírus induz várias doenças proliferativas, como linfomas e leucemias,
27
e muitas enfermidades degenerativas associadas às propriedades imunossupressoras do vírus
(SOBRINHO et al, 2011).
Casos de linfossarcoma e leucemia linfocítica foram observados em felinos jovens
durante muito tempo, até a descoberta em 1964 de partículas de retrovírus em um gato
leucêmico. Com o passar do tempo o agente denominado Vírus da Leucemia Felina, foi
isolado e demonstrou ser capaz de transmitir neoplasia linfocítica entre os felinos (LEVY,
2008). Para HAGIWARA (2007), o FeLV, está presente em 1 a 8 % entre os felinos sadios e
mais de 30% entre os felinos doentes ou em grupos de animais nos quais a infecção foi
recentemente introduzida. A incidência da infecção é significativamente maior em gatos que
tem acesso à rua do que entre os animais confinados.
O linfoma é a neoplasia mais frequentemente associada à infecção pelo vírus e
ocorre em cerca de 20% dos animais infectados, apresentado risco 62 vezes maior do que
felinos não infectados de desenvolver qualquer uma das formas anatômicas de linfoma.
Neoplasias hematopoiéticas, mesmo menos frequentes, também podem ser observadas nos
felinos infectados. A anemia não regenerativa, resultante de hipoplásica medular, é uma das
consequências mais graves da infecção e pode ser complicada pela infecção por Mycoplasma
haemofelis (HAGIWARA et al, 2007).
Após a inoculação oronasal ou percutânea, o vírus se replica nos tecido linfoides,
se progredir o vírus infecta a medula óssea induzindo a liberação de plaquetas e leucócitos
infectados (viremia celular), que atingirá outros tecidos, como: glândulas salivares, glândulas
lacrimais, glândulas mamária e mucosas, tornando os felinos infectados, fontes de
contaminação (SHERDING, 2008).
Os sinais clínicos mais comuns são mucosas pálidas, dispneia, letargia, anorexia,
emagrecimento progressivo, febre, gengivite/estomatite, alterações intraoculares, diarreia,
linfadenomegalia e abscessos recidivantes. Durante o exame físico é comum encontrar massas
intra-abdominais palpáveis e organomegalia (baço, fígado e rins) e evidências de efusão
pleural. As doenças proliferativas mais comuns associadas ao FeLV são linfoma, sarcoma,
leucemia mielóide, leucemia linfóide e leucemia eritroide (GROTTI, 2007). De um modo
geral os sinais clínicos em felinos virêmicos variam dependendo do tipo de doença e dos
órgãos afetados (WARDINI 2009).
Discretos tumores linfossarcomatosos da úvea anterior induzidos pelo FeLV são
usualmente acompanhados por uveíte localizada. A inflamação imunomediada em resposta à
deposição de imunocomplexos pode estar envolvida na patogenia, e a uveíte crônica pode
ocorrer como resultado da infiltração uveal por células neoplásicas. A síndrome da pupila
28
espástica tem sido vista em alguns felinos positivos para FeLV, e é caracterizada por
anisocoria ou discoria causada pela infiltração viral nos gânglios e nervos ciliares ou pelos
efeitos neurológicos causados pelo FeLV (PONTES et al, 2006).
A diminuição da visão, hifema, hipópio, alteração na coloração da íris
(usualmente escurece), precipitados ceráticos, miose, dor, efusão coroidiana, granulomas,
neurite óptica, descolamento de retina, hemorragia retiniana e opacidades vítreas também
podem ocorrer na FeLV. A dor pode ser decorrente do espasmo muscular da íris e do corpo
ciliar. O aumento de tamanho da íris com o espasmo muscular irá promover uma miose
constante. (PONTES et al, 2006).
Achados laboratoriais comuns incluem anemia arregenerativa, azotemia, enzimas
hepáticas elevadas e hiperbilirrubinemia séricas. A leucometria é bastante variada podendo
estar muito aumentada ou diminuída, com presença ou não de células jovens na circulação
(SOUZA et al, 2002).
Os neutrófilos são células da resposta imune inata e desempenham um papel
importante na eliminação de diversos micro-organismos. Vários estudos com
neutrófilos felinos infectados pelo FeLV demonstraram uma deficiência na capacidade
fagocítica e microbicida dessas células. Animais persistentemente infectados se tornam
imunossuprimidos e assim, estão mais suscetíveis a infecções oportunistas (WARDINI,
2009).
O FeLV tem o potencial de desencadear reação imunológica com deposição de
complexos do tipo antigeno-anticorpo (imuno complexos) na membrana basal glomerular,
conduzindo a perda das suas funções de permeabilidade seletiva e a glomerulonefrite.
Podendo ocorrer destruição tubular progressiva e subsequente Insuficiência Renal Crônica
(IRC) (FRANCEY e SCHWEIGHAUSER, 2009). Segundo BICHARD (2003), distúrbios
infecciosos e inflamatórios podem causar danos glomerulares ou tubulointersticiais que
progridem para doença renal crônica. Uma lesão glomerular imunomediada como, por
exemplo, uma glomerulonefrite, secundária a doenças inflamatórias ou infecciosas progride
frequentemente para doença renal crônica.
O diagnóstico da infecção é baseado na detecção de antígenos ou partículas virais,
pelo método de ELISA ou por PCR. (HAGIWARA, 2007).
O ELISA baseia-se na detecção da proteína de capsídeo p27 no soro ou plasma,
onde é encontrada em abundancia em animais infectados, constituindo-se bom marcador para
detecção da infecção. O teste detecta animais positivos a partir da quarta semana após
infecção é recomendado como teste de triagem. Já a técnica da imunofluorecência indireta
29
(IFI) detecta a p27 presente em leucócitos e plaquetas, comprovando o comprometimento da
medula óssea. Para este tipo de teste usa-se esfregaço de sangue periférico ou de medula óssea
(ALMEIDA, 2009).
Podem ocorrer falsos não reagentes para o FeLV caso o animal encontre-se no
primeiro estágio da infecção (2 a 12 dias), em que a replicação ocorre fora da circulação e no
caso de infecções latentes, quando o vírus pode ficar sequestrado na medula óssea ou em
linfonodos por semanas. Frente a um resultado reagente para FeLV, o ideal e que esse exame
seja repetido quatro a oito semanas após, pois o animal pode estar com infecção transitória
(GROTTI, 2007).
Alguns parâmetros devem ser avaliados em relação aos testes diagnósticos, como
a sensibilidade, especificidade, praticidade e custo. O teste ELISA apresenta alta
sensibilidade, detectando o vírus nos primeiros dias de infecção detectando o antígeno p27 na
lágrima e na saliva, apesar de serem considerados métodos pouco invasivos, somente
apresentarão positividade quando o animal estiver nos últimos estágios da infecção, por este
mesmo motivo, podem ocorrer resultados falso-positivos. Uma amostra positiva para a IFI
indica que o animal apresenta viremia persistente e está liberando constantemente o vírus.
Resultados falso-negativos podem ocorrer devido a uma leucopenia e/ou trombocitopenia e
falso-positivos devido à eosinofilia e/ou má confecção do esfregaço sanguíneo (esfregaços
espessos) (ALMEIDA, 2009).
Para Junqueira-Jorge, (2005), o teste ELISA e IFI apresentam concordância de,
aproximadamente, 100% para as amostras com resultados negativos, que decresce porém para
90%, quando se trata de resultados positivos. Isto pode ser explicado pelo fato do ELISA
detectar precocemente o vírus, quando ainda está ocorrendo a viremia primária, não havendo
ainda comprometimento de medula óssea .
A PCR detecta o ácido desoxirribonucléico (DNA) pro-viral na medula óssea ou
em células de sangue periférico de gatos infectados pelo FeLV, e é indicado em casos de
suspeita de infecção latente, onde o ELISA e a IFI apresentaram resultados negativos. O
método apresenta alta sensibilidade e especificidade e vem sendo empregado atualmente no
diagnóstico de infecção pelo FeLV (ALMEIDA, 2009).
A prevenção e o controle da FeLV são facilitados pela fragilidade do vírus fora do
organismo do hospedeiro, pois o vírus perde a viabilidade se exposto a superfícies seca, e é
inativado em duas a três horas. Após a detecção de felinos contaminados, se estes forem
afastados, a contaminação ambiental será facilmente inativada por meio de desinfecção de
rotina, com o uso de alvejante diluído. Do mesmo modo em feiras ou clínicas veterinárias, a
30
exposição indireta entre felinos não representa risco, se estes não tiverem contato direto
(LEVY, 2008).
Não há um tratamento comprovadamente efetivo para infecção por FeLV, embora
tenha se usado vários moduladores imunes e medicamentos antivirais, a qualidade e a
longevidade dos felinos infectados são obtidas com cuidados gerais de saúde, terapia paliativa
e tratamento das infecções secundárias (SHERDING, 2008).
Para Ramsey (2010), vários tratamentos experimentais foram testados em felinos
persistentemente virêmicos para FeLV, porém sadios, como a combinação de zidovudina,
interferon-alfa e transferência de linfócitos T ativados, mostraram-se efetivos em 4 de 9
felinos. No entanto nenhum foi comprovadamente prático e bem-sucedido.
Segundo Sherding (2008) para a prevenção da infecção por FeLV, há
disponibilidade de vacinas inativadas, com ou sem adjuvante de uso parenteral,que é
recomendada para felinos com risco potencial de exposição ao FeLV, especialmente filhotes,
deve-se incluir felinos que vivem em ambiente externo e em domicílios com vários animais
ou que convivem com animais infectados, bem como aqueles expostos a outros felinos com
estado sanitário desconhecido.
Os felinos são mais sensíveis ao desenvolvimento de viremia persistente após
contato com FeLV entre 6 a 16 semanas, isto é, quando há diminuição do teor de anticorpos
maternos e ainda houve desenvolvimento de resistência relacionada á idade, a época mais
apropriada para vacinar é no inicio da vida, porem pode ser recomendada em qualquer idade
(RAMSEY, 2010).
2.1 Descrição do Caso Clínico
Paciente Isis, espécie felina, sem raça definida (SRD), fêmea, com 1 ano e 4
meses de idade, peso: 4,100 kg. Foi encaminhada de outra Clínica Veterinária para consulta
oftálmica já com histórico laboratorial de anemia. No dia 03 de Maio de 2012, o Médico
Veterinário especialista em oftalmologia, observou miose, pupila com margens irregulares,
uveíte com íris bombée, superfície da íris demonstrando crescimento de neovasos e hipópio
(Figura 9 e Figura 10).
Suspeitou que as seguintes patologias: Peritonite Infecciosa Felina (PIF), Vírus da
Imunodeficiência Felina (FIV), Leucemia Viral Felina (FeLV), Toxoplasmose e Mycoplasma
haemofelis, solicitou-se então exame de PCR para diagnóstico.
31
No dia 07 de Maio de 2012, o animal retornou, pois houve piora no quadro
clínico, apresentava inapetência, vômito e apatia. Na consulta clínica apresentou temperatura
de 37ºC, taquicardia, desidratação, linfonodo submandibular infartado, mucosa hipocorada, e
não caminhava. Realizou-se exame radiográfico da região tóraco-lombar e lombar em
projeções ventro-dorsal e látero-lateral direito. Não foram observadas alterações radiográficas
em coluna tóraco-lombar e lombar; comprimento dos rins superior a três vezes o comprimento
da segunda vértebra lombar, com medida de aproximadamente 6,4 cm em rim direito e 7,0 cm
em rim esquerdo, presença de conteúdo heterogêneo (fecal) em segmentos de alças intestinais,
cólon descendente e reto.
Após a constatação de alterações renais por meio da radiografia, foi solicitado
hemograma, urinálise e bioquímica sanguínea (ALT, FA, uréia, creatinina, proteínas totais e
frações) (Tabela 4,Tabela 5,Tabela 6 e Tabela 7).
Foi administrado doxiciclina 5mg/kg, omeprazol 1 ½ comprimido ao dia,
tramadol 2mg/kg quatro vezes ao dia, Osteocart® ¼ comprimido ao dia, e Meloxivet® 0,1
mg/kg.
No dia 10 de maio solicitou-se novo exame ultrassonográfico, o qual foi descrito:
vesícula urinária sem alterações, rim direito medindo 5,7 cm e esquerdo 5,8 cm de
comprimento com arquitetura extremamente alterada, diferenciação córtico medular
diminuída, ecogenicidade do parênquima aumentada e contornos irregulares. Presença de
áreas
ecogênicas
em
junção
córtico
medular
(fibrose),
sugerindo
nefropatia
crônica/pielonefrite. Baço com parênquima homogêneo, ecogenicidade mista com padrão
rendilhado, contornos regulares, tamanho e volume preservado, a alteração sugere
inflamação/infecção sistêmica. Fígado e vesícula biliar sem alterações. Em topografia do
duodeno/jejuno observou-se parede intestinal com até 1,03 cm de espessura e sem
diferenciação correta de camadas, peristaltismo evolutivo preservado. Achados em trato
intestinal sugerem linfoma intestinal, inflamação crônica ou corpo estranho. A presença de
conteúdo gasoso dificultou detalhes da visualização.
No dia 15 de maio, o resultado do PCR comprovou a suspeita de doença infecciosa
sendo positivo para FeLV (Tabela 8) e negativo para Micoplasmas hematópricos felino
conforme (Tabela 9). A paciente foi internada no dia 16 de maio do decorrente ano, por
apresentar apatia, inapetência, anorexia, mucosas pálidas e no dia 17 veio a óbito.
32
Figura 9- Paciente Isis, felina, em consulta
oftalmológica, 03/05/2012.
Fonte: Acervo particular
Figura 10 - Paciente Isis, felina, observação de
neovasos (seta azul), hipópio (seta vermelha) e iris
Bombée (seta preta).
Fonte: Acervo particular
33
Tabela 4 – Resultado do Hemograma da paciente Isis, felina, realizado em 03/05/2012 – LABSAN
HEMOGRAMA
VALORES DE
RESULTADO REFERÊNCIA ADULTO
Felinos
UNIDADE
ERITROGRAMA
Eritrócitos
4,90
5,0 a 10,0
milhões/mm³
Hemoglobina
9,2
8,0 a 15,0
g/dL
Hematócrito
28
24 a 45
%
VGM
57,1
39 a 55
fL
HGM
18,8
12,5 a 17,5
pg
CHGM
32,9
31 a 35
%
13.200
5500 a 19500
/mm³
LEUCOGRAMA
Leucócitos
Eosinófilos
2%
264
100 a 1500
/mm³
Linfócitos
6%
792
1500 a 7000
/mm³
Linfócitos atípicos
0%
0
0
/mm³
Monócitos
4%
528
100 a 850
/mm³
Basófilos
0%
0
raros
/mm³
Metamielócitos
0%
0
0
/mm³
Bastonete
0%
0
0 a 300
/mm³
Neutrófilos
88%
11.616
2500 a 12800
/mm³
Segmentados
88%
11.616
2500 a 12500
/mm³
PLAQUETAS
PROTEÍNA
PLASMÁTICA
320.000
250 a 330
mil/mm³
7,2
5,8 a 8,0
g/dL
OBSERVAÇÕES: Anisocitose intensa, Policromatofilia moderada, Corpúsculos de HowellJolly 2(+), Corpúsculos de Dohle 1(+), Linfócitos reativos 1(+), Monócitos ativados 1(+),
Eritroblastos 1/100 leucócitos.
Fonte: Laboratório Clínico Veterinário – LABSAN
34
Tabela 5 - Resultado da Urinálise da paciente Isis, felina, realizado em 09/05/2012 – LABSAN
Urinálise Felina
EXAME FÍSICO:
Volume/Coleta
Cor
Resultado
12 ml / Cistocentese
Amarela
Aspecto
Valores de Referência
Felinos
Amarela
Discretamente turva
Límpida
Precipitado
Positivo
Negativo ou ausente
Densidade
1030
1035 a 1045
EXAME QUÍMICO
Urobilinogênio
Negativo
Até 1,0 mg/dl
Cetonas
Negativo
Negativo ou ausente
Proteínas
3(+) ou 300 mg/dl
Negativo a traços
6,5
5,5 a 7,5
pH
Sangue oculto
1(+)
Negativo ou ausente
Glicose
Negativo
Negativo ou ausente
Bilirrubina
Negativo
Negativo ou ausente
Nitrito
Negativo
Negativo ou ausente
Ausentes
0 a 3 células/campo em 40x
SEDIMENTOSCOPIA
Queratinizadas
Transicionais redondas
Transicionais ovais
2 a 4 / campo
raras a 1 / campo
Transicionais caudadas
Raras
Renais
raras a 1 / campo
Muco
1(+)
Eritrócitos
1 a 2 / campo
Leucócitos
1 a 2 / campo
0 a 1 células/campo em 40x
Positivo
0 a 1 cilindro/campo em 40x
Cilindros
Tipos de cilindros
Microrganismos
Cristais
Tipos de cristais
0 a 3 células/campo em 40x
Granulosos raros e Epiteliais raros
Bactérias: cocos 1(+)
Negativo ou ausente
Ausentes
Negativo ou ausente
Ausentes
Outros / Observações: Gotículas de gordura 1(+).
Fonte: Laboratório Clínico Veterinário – LABSAN
35
Tabela 6 – Resultado dos Bioquímicos sanguíneos da paciente Isis, felina, realizado em 09/05/2012 – LABSAN
BIOQUÍMICA
TGP/ALT
Fosfatase alcalina
RESULTADO
36
24
Uréia
123
Creatinina
1,9
Proteína Total
5,4
Albumina
1,95
Globulina
3,45
Observações: Soro com hemólise e lipemia 1(+).
Fonte: Laboratório Clínico Veterinário – LABSAN
REFERÊNCIA
FELINOS
06 a 83 UI/L
25 a 93 UI/L
30 a 60 mg/dL
0,5 a 1,9 mg/dL
5,4 a 7,8 g/dL
2,1 a 3,3 g/dL
2,6 a 5,1 g/dL
36
Tabela 7 - Resultado da relação Proteína/Creatinina urinária da paciente Isis, felina, realizado em 07/05/2012.
RELAÇÃO
PROTEÍNA/CREATININA
URINÁRIA
RESULTADO
Proteína Urinária
181,2 mg/dL
Creatinina Urinária
175 mg/dL
Relação PrU/CrU
1,03
Fonte: LABSAN
Interpretação:
· Menor que 0,5 = Normal
· Maior que 0,5 e menor que 1,0 = Suspeito
37
Tabela 8 - Resultado do PCR neurológico FeLV/FIV da paciente Isis, felina, solicitado em 07/05/2012.
REAL PCR NEUROLÓGICO FELINO
COM FELV/FIV
RESULTADO
Método: PCR em Tempo Real/ELISA
PCR em Tempo Real Neurológico felino
Bartonella spp.
NEGATIVO
Cryptococcus spp.
NEGATIVO
Coronavirus felino (FCoV)
NEGATIVO
FeLV
POSITIVO
FIV
NEGATIVO
Toxoplasma gondii
NEGATIVO
ELISA
FeLV Ag
FIV Ac
POSITIVO
NEGATIVO
Fonte: IDEXX Laboratories
Tabela 9 - Resultado do PCR Micoplasmas hemotrópicos da paciente Isis, felina, solicitado em 07/05/2012.
MICOPLASMAS HEMOTRÓPICOS
FELINOS REALPCR
RESULTADO
Método PCR em Tempo Real
Micoplasma haemofelis
NEGATIVO
Candidatus M. haemominutum
NEGATIVO
Candidatus M. turicensis
Fonte: IDEXX Laboratories
NEGATIVO
38
2.2 Discussão
Segundo Rosenthal (2004) o prognóstico para um felino persistentemente
infectado, depende de vários fatores, sendo que a idade é um indicador prognóstico
importante, os felinos infectados com menos de um ano apresentam um mau prognóstico, se
infectados adultos podem apresentar um melhor prognóstico. Embora alguns animais possam
parecer assintomáticos, quando um felino FeLV positivo adoece, independentemente de qual
apresentação, o prognóstico não é favorável. No caso aqui descrito a paciente apresentou
evolução rápida, após o aparecimento dos sintomas, confirmação da patologia e o óbito.
Para Sykes (2009) a produção deficiente de eritrócitos decorrente da FeLV reflete
uma alteração da função da medula óssea, normalmente causando uma anemia normocítica e
normocrômica, não regenerativa. A paciente Isis apresentava uma anemia regenerativa por
apresentar anisocitose intensa, policromatofilia moderada, corpúsculos de Howell-Jolly que
indicam uma resposta regenerativa da medula óssea.
Segundo Tatibana (2009) a ocorrência de anemia é comum em felinos infectados
pelo FeLV, sendo esta na maioria das vezes de caráter não regenerativo, causada por doenças
inflamatórias ou desordem primária da medula óssea. Uma anemia hemolítica imunomediada
também pode estar presente em razão dos imunocomplexos na circulação que podem se
depositar na membrana basal glomerular, levando a uma glomerulonefrite consequentemente
a diminuição da secreção de eritropoietina levará a anemia ou em decorrência do parasito
Mycoplasma haemofelis, que gera uma anemia regenerativa, mas conforme exames realizados
da paciente em questão, o resultado foi negativo para o hematozoário.
A baixa densidade da urina pode ser indicativo de insuficiência renal aguda ou
crônica. A proteinúria pode indicar uma patologia tubular ou glomerular com perda funcional
(LANIS, 2003). No caso da paciente Isis devido ao aumento do volume renal em radiografia e
ultrassonografia, suspeitou-se de doença renal. O aumento da ureia e creatinina (azotemia),
associada com a baixa densidade urinária e aumento da relação PrU/CrU, e a
hipoalbuminemia, sugerem uma doença renal, como glomerulonefrite, e segundo CHEW et al
(2012), agentes infecciosos como o vírus da FelV podem causar glomerulonefrite.
Segundo Tizard, (2008) o FeLV é profundamente imunossupressivo. A infecção
com o vírus persistente se associa com duas lesões imunopatológicas principais, sendo a
destruição dos linfócitos e a supressão da sua função, levando a imunodeficiência, e a
produção de uma grande quantidade de imunocomplexos, levando a uma glomerulonefrite
39
severa. Alguns felinos persistentes infectados pelo FeLV sofrem uma linfopenia severa,
neutropenia ou ambas, corroborando com o resultado da paciente Isis (792 linfócitos/mm3).
O motivo pelo qual a paciente Isis realizou consulta, foi pelas alterações oculares
(miose, pupila com margens irregulares, uveíte com íris bombée, superfície da íris
demonstrando rubeosis iridis, hipópio na câmara anterior). Em conhecimento às causas da
patologia foi investigado a possibilidade de ser uma consequência à infecção pelo FeLV.
AZEVEDO (2008) cita que alterações oculares estão associadas à infecção pelo FeLV
principalmente devido à capacidade do vírus em induzir imunodepressão, alterações
hematológicas e formação de tumores.
A uveíte secundária ao vírus da FeLV que pode manifestar-se através de
iridociclite, hipópio, precipitados de lípidos na córnea, glaucoma secundário, coriorretinite,
descolamento da retina ou massas coriorretiniárias. Pode ainda existir ceratite, massas orbitais
ou palpebrais, massas subconjuntivais e da membrana nictitante, tumores anteriores da úvea e
da câmara anterior do olho. A infecção por FeLV pode levar a linfossarcoma infiltrativo da
úvea, da conjuntiva, da córnea ou da órbita. Pode ainda haver restrição da motilidade da íris
devido à infiltração da úvea anterior pelo tumor. A discoria e a anisocoria podem resultar dos
efeitos neurológicos sobre os nervos ciliares provocados pelo vírus. A anemia induzida pelo
FeLV pode ainda ocasionar uma hemorragia da retina (AZEVEDO, 2008).
Na paciente Isis, observou-se, como já descrito: miose, pupila com margens
irregulares, uveíte com íris bombée, sendo o corpo da íris deslocado anteriormente, superfície
da íris demonstrando crescimento de neovasos (rubeosis iridis), hipópio na câmara anterior.
Sempre que houver uveíte grave com hipópio em felinos sendo uni ou bilateral deve-se
suspeitar de doenças sistêmicas, particularmente infecção por PIF, FeLV, FIV ou
Toxoplasmose, isto na nossa casuística vernacular. Essas doenças infecciosas podem causar
uveíte. Não é raro que a manifestação ocular seja o primeiro sinal clínico, senão o único delas,
assim, o diagnóstico da uveíte torna-se importante também na descoberta da doença
infecciosa que está acometendo o paciente.
Pontes et al (2006) afirmam que a aderência da íris na face anterior da lente forma
a chamada sinéquia posterior, que, se ocorrer em 360º, leva à obstrução da pupila, impedindo
a passagem do fluido aquoso da câmara posterior para a anterior, formando a íris bombeé,
caracterizado pelo deslocamento anterior da íris. Isso causa aumento de pressão levando ao
glaucoma. A luxação de cristalino também pode ocorrer devido à degeneração inflamatória da
zona lenticular ou ao aumento do globo, a neovascularização pode ser vista com frequência
40
nas camadas profundas da córnea, como vasos sanguíneos que se estendem da esclera, na
região do corpo ciliar, sendo conhecida como congestão dos vasos circuncorneanos.
O hifema e o hipópio correspondem, respectivamente, à hemorragia intra-ocular e
ao extravasamento de células brancas que ultrapassam a barreira hematoaquosa, e se
depositam na porção ventral da câmara anterior. A síndrome da pupila espástica tem sido vista
em alguns gatos positivos para FeLV, e é caracterizada por anisocoria ou discoria causada
pela infiltração viral nos gânglios e nervos ciliares ou pelos efeitos neurológicos causados
pelo FeLV (PONTES et al, 2006). Portanto a uveíte pode ser a primeira indicação de que o
animal é portador de doença infecciosa, sendo muitas vezes a única alteração encontrada. O
Médico Veterinário deve estar atento e pesquisar essa possível associação, evitando
complicações oftálmicas e sistêmicas para o paciente.
Para Ramsey et al (2010) por não haver consenso entre os protocolos utilizados
em vários experimentos sobre a vacina da FeLV, não se sabe qual propicia melhor proteção; a
de vírus inativo, a recombinante e de subunidade. A vacina ideal contra a FeLV deve induzir a
produção de anticorpos neutralizantes contra a FeLV-A e nenhuma atualmente propicia isso.
Sherding (2008) evidencia o protocolo de vacinação para felinos sob alto risco de
exposição ao FeLV, quando perambula livremente, com risco de brigas, contato com outros
felinos de origem desconhecida, adotantes, sendo opcional acima dos 3 anos. Não recomenda
para felinos adultos com o mínimo ou nenhum risco de exposição, e sem infecção pela FeLV.
Segundo Ramsey (2010) a época mais apropriada para vacinar um felino é no
início da vida, porém pode ser recomendada em qualquer idade. O teste para vacinação é
altamente desejável, evitando a vacinação de felinos com infecção latente ou viremia
persistente, não causará prejuízo nem benefício ao animal, mas prejudicando o controle da
FeLV, já que animais nessas condições são potenciais fontes de infecção para outros felinos.
A paciente Isis não recebeu protocolo de vacinação contra a FeLV, conforme
pesquisas a vacina para a prevenção do FeLV.
41
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença do Médico Veterinário patologista laboratorial, é de fundamental
essencialidade para complementar, o diagnóstico e prognóstico dos pacientes e o
compromisso com a sociedade. Ter essa ferramenta em mãos nos dignifica e valoriza nossa
profissão, nos proporcionando maiores e melhores resultados a que se está proposto.
Para a Leucemia viral felina o
emprego de técnicas de amplificação e
quantificação de ácidos nucléicos, perrmitiram um refinamento da análise e classificação da
evolução patológica desencadeada pela infecção do FeLV por serem mais sensíveis que as
técnicas de detecção de antígeno e isolamento viral. Considerava-se anteriormente que gatos
jovens e adultos eram capazes de eliminar a infecção pelo FeLV por não apresentarem
antígeno viral circulante, intracelular ou por não ser possível o isolamento viral. Entretanto,
foi possível detectar DNA pro viral e RNA viral nesses animais. O impacto desses animais na
disseminação do vírus ou mesmo para compreender a evolução da infecção permanece um
desafio, pode-se sugerir que o diagnóstico da infecção deve ser realizado em duas ou mais
etapas, sendo preferível utilizar a PCR.
Entretanto as vacinas não impedem a integração e a mínima replicação viral, pois
os animais vacinados apresentam DNA pro viral e RNA após desafio e, portanto, as técnicas
sensíveis de detecção viral ajudarão nos estudos de eficácia de vacinas.
42
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, N. R., Ocorrência da infecção pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV) em
gatos domésticos do município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense e análise dos
fatores
de
risco
para
a
infecção.
2009.
Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp081065.pdf. Acesso em: 11/06/2015.
AZEVEDO. V. L. N., Lesões de reabsorção odontoclástica felina e a sua associação a
gatos positivos aos vírus da leucemia (felv) e da imunodeficiência (fiv) felinas. 2008.
Disponível
em:
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/859/1/Azevedo.pdf.
Acesso:10/06/2015.
BACIC, A. Avaliação laboratorial dos líquidos cavitários - revisão Revista Clínica
Veterinária – Edição n.93 julho/agosto, 2011. Disponível em:
http://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/edicao/2011/julho-agosto.html.
Acesso
em:
30/07/2015.
BICHARD, J S. Manual Saunders – Clínica de Pequenos Animais: 2. ed. São Paulo:
Roca, 2008, p.117, 244.
CARDOSO, M. J. L. et al , Atividade sérica da creatina quinase no hipertireoidismo
felino. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010384782014001202236&lang=pt. Acesso em: 10/07/2015
CHEW, D. J., DiBARTOLA, S. P., SCHENCK, P. A., Urologia e Nefrologia do cão e do
gato. 2. ed. São Paulo. Elsevier, 2009. Cap. 7.
DALMOLIN, M. L., Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre de 2011. Disponível
em: http://www.ufrgs.br/lacvet/restrito/pdf/magnus_urinalise.pdf Acesso em:02/08/2015.
ETTINGER, S. J., FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária Doenças
do Cão e do Gato. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2008. 5ª. Edição, v.2 p.1272
FIGUEIREDO, A. S., ARAUJO JUNIOR, J. P. Vírus da leucemia felina: análise da
classificação da infecção, das técnicas de diagnóstico e da eficácia da vacinação com o
emprego de técnicas sensíveis de detecção viral. Cienc. Rural, Santa Maria, v. 41, n. 11,
Nov. 2011. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010384782011001100017&lng=en&nrm=iso>.
Acesso
em:
06
Junho
2015.
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782011001100017.
FRANCEY, T., SCHWEIGHAUSER, A. Epidemiologia clínica das doenças renais no
gato.
Veterinary
Focus
p.2-7
2009.
Disponível
em:
http://conteudo.royalcanin.com.br/upload/FOCUS%2018.2.pdf. Acesso em: 28/05/2012.
43
GALARÇA, L. L. et al, Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão;
UNIPAMPA - Realizando a Técnica de Microhematocrito, v.4, n1 (2012). Disponível em:
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe/article/view/915. Acesso em: 25/07/2015
GONSALES, F. F., Avaliação da relação CD4:CD8 em felinos infectados pelo vírus da
leucemia felina. 2008. Disponível em: http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/60792/avaliacaorelacao-cd4-cd8-felinos/ Acesso em: 29/05/2012.
GROTTI, C. C. B., Frequência de leucemia e imunodeficiência viral felina em uma
população
hospitalar.
2007.
Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp057889.pdf Acesso em: 15/06/2014.
HAGIWARA, M. K., JUNQUEIRA-J. J., STRICAGNOLO, C. Infecções pelo vírus da
leucemia felina em gatos de diversas cidades do Brasil. Clínica Médica Veterinária, n.66,
p. 44-50, 2007.
IDEXX Laboratories, New: IDEXX RealPCR™ Feline Hemotropic Mycoplasma (FHM)
Test (formerly Haemobartonella), from IDEXX Reference Laboratories 2007. Disponível
em:
http://www.idexx.com/pubwebresources/pdf/en_us/smallanimal/referencelaboratories/diagnostic-updates/realpcr-fhm-test.pdf
Acesso em: 10/07/2013.
JUNQUEIRA-JORGE, J. Estudo dos fatores de risco da leucemia viral felina no
município de São Paulo. Universidade de São Paulo,43p. (Dissertação de Mestrado).
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo.
2005. p. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../Juliana_Junqueira_jorge.pdf
LANIS, A. B., et al, Avaliação laboratorial das doenças renais em pequenos animais.
PUBVET, Londrina, V. 2, N. 28, Ed. 39, Art. 29, 2008. Disponível em:
http://www.pubvet.com.br/artigos_det.asp?artigo=29. Acesso em: 19/06/2012. ISSN 19821263, 2008.
LEVY, J. K., VLF e doença não neoplásica relacionada. In: ETTINGER, S. J. e FELDMAN,
E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária – Doenças do Cão e do Gato. 5ª. Ed.: Rio
de Janeiro – RJ 2008. V.1 447 - 455.
MONDESIRE, R.R in Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. São Paulo – SP
2007 Editora Roca Ltda, cap. 4, p. 54
NAVONE G. T. et al , Estudio comparativo de recuperación de formas parasitarias por
tres
diferentes
métodos
de
enriquecimiento
coproparasitológico
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-77122005000200014&script=sci_arttext&tlng=en
NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Insuficiência renal. Medicina interna de pequenos
animais. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, cap.44. v.2. p. 487- 499, 2001.
44
PONTES, K. C. S., VIANA. J. A., DUARTE, T. S. Etiopatogenia da uveíte associada a
doenças infecciosas em pequenos animais. Revista Ceres – 2006. Disponível em:
http://www.ceres.ufv.br/CERES/revistas/V53N309P07506.pdf. Acesso em 28/05/2013.
RAMSEY, I. K., TENNANT, B. J., Sistemas Hematopoiético e linforreticular – Manual
de Doenças Infecciosas em Cães e Gatos. 1ª. ed. São Paulo – SP, Roca, 2010 p. 69 – 82.
ROCHA, N. S., Exame citológico no diagnóstico de lesões da pele e subcutâneo, Revista
Clínica Veterinária – Edição n. 76, setembro/outubro, 2008. Disponível em:
http://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/edicao/2008/setembro-outubro.html.
Acesso:
15/07/2015.
ROSENTHAL, R. C., Segredos em Oncologia Veterinária. Porto Alegre – RS, Artmed,
2004 p. 275 – 278.
ROSOLEM M. C. et al Estudo retrospectivo de exames citológicos realizados em um
Hospital Veterinário Escola em um período de cinco anos - 2013 Disponível em;
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-09352013000300019&script=sci_arttext Acesso
em: 15/07/2015.
SHERING, R.G., Vírus da Leucemia Felina in BICHARD, S. J., Manual Saunders – Clínica
de Pequenos Animais. 3ª. Ed. São Paulo – SP, Roca, 2008, p. 117 – 127
SOBRINHO, L. S. V. et al . Sorofrequência de infecção pelo vírus da imunodeficiência
felina e vírus da leucemia felina em gatos do município de Araçatuba, São Paulo. Braz. J.
Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, v. 48, n. 5, out. 2011 Disponível em:
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=S141395962011000500004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 06 jun. 2013.
SOUZA, G. A., MARTINS, N. L., SANTOS, Z. M. Diagnóstico radiográfico em
insuficiência renal de cães e gatos. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária.
ano VIII – número 15 – julho de 2010 – ISSN: 1679-7353.
SOUZA, H.J.M.; TEIXEIRA, C.H.R.; GRACA, R.F.S. Estudo epidemiológico de infecções
pelo vírus da leucemia e/ou imunodeficiência felina, em gatos domésticos do município
do Rio de Janeiro. Clínica Veterinária, n. 36, p. 14-21, 2002.
SOUZA, H.J.M.; TEIXEIRA, C.H.R. In: SOUZA, H.J.M. Leucemia viral felina In:
Coletâneas em medicina e cirurgia felina. Rio de Janeiro: L.F. Livros de Veterinária,
cap.22, p. 251-271, 2003.
SYKES, J. Causas infecciosas de anemia em gatos. Veterinary Focus, Vol 19 n° 2 – 2009 p.
31 – 38. Disponível em: http://conteudo.royalcanin.com.br/biblioteca.php?id=2. Acesso em:
10/06/2013.
45
TATIBANA, L. S., COSTA-VAL, A. P., Leucemia Viral Felina – Revisão de Literatura.
Revista Veterinária e Zootecnia em Minas. Jul/Ago/Set 2009 Ano XXVIII #102. Disponível
em: http://www.crmvmg.org.br/RevistaVZ/Revista02.pdf#page=16 Acesso em: 30/05/2013.
THRALL, M. A. et al Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. São Paulo: Editora
Roca Ltda, cap.01, p.03.
TIZARD, I. R., Imunologia Veterinária. São Paulo: Elsevier Editora Ltda, 8ª. Ed. 2008.
Cap. 35, p 476.
VELOZ, R. E. y ROGET, M. O. , Propuesta de una técnica citológica de coloración
rápida.
Disponível
em:
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/2472/000370440.pdf?sequence=1 Acesso
em 23/07/2015.
WARDINI, A. B., Avaliação da resposta de neutrófilos em gatos naturalmente infectados
pelo vírus da leucemia felina (FeLV) e caracterização de redes extracelulares de
neutrófilos
(NETs)
em
felinos.
2009.
Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp081236.pdf. Acesso em: 10/06/2013.