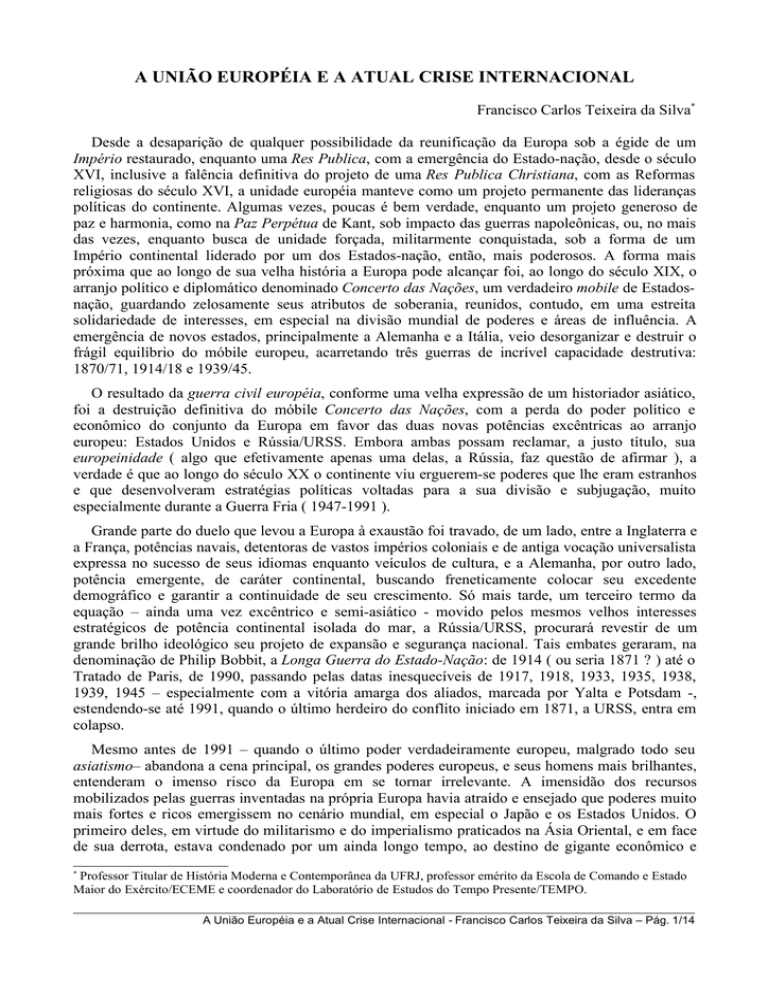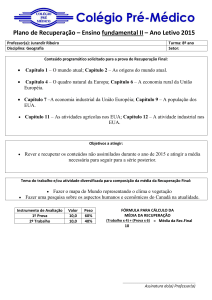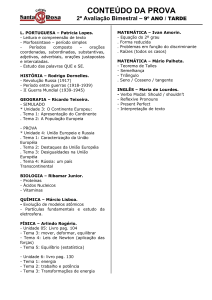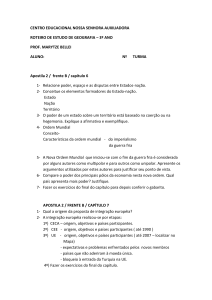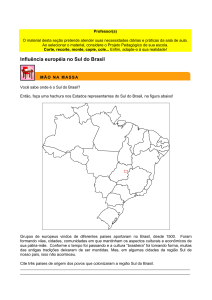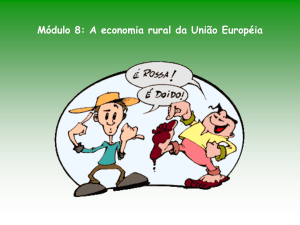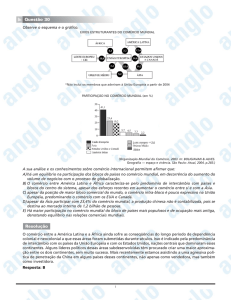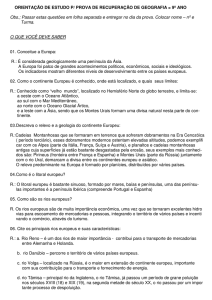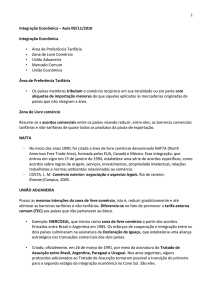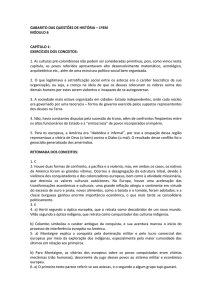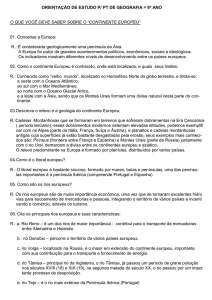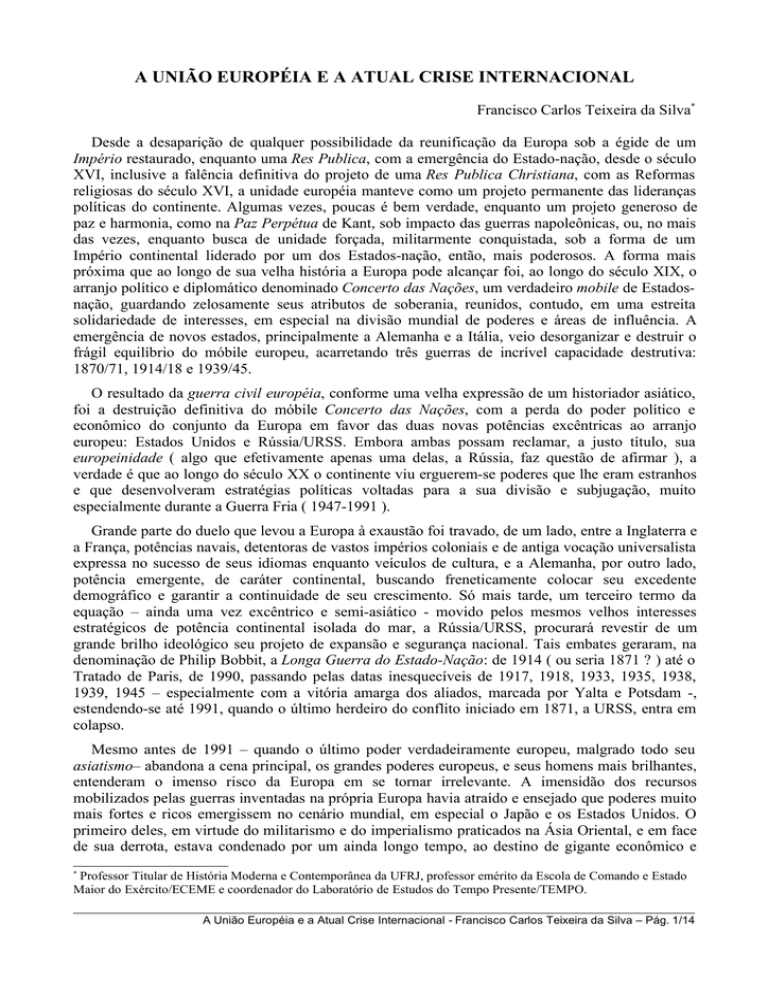
A UNIÃO EUROPÉIA E A ATUAL CRISE INTERNACIONAL
Francisco Carlos Teixeira da Silva*
Desde a desaparição de qualquer possibilidade da reunificação da Europa sob a égide de um
Império restaurado, enquanto uma Res Publica, com a emergência do Estado-nação, desde o século
XVI, inclusive a falência definitiva do projeto de uma Res Publica Christiana, com as Reformas
religiosas do século XVI, a unidade européia manteve como um projeto permanente das lideranças
políticas do continente. Algumas vezes, poucas é bem verdade, enquanto um projeto generoso de
paz e harmonia, como na Paz Perpétua de Kant, sob impacto das guerras napoleônicas, ou, no mais
das vezes, enquanto busca de unidade forçada, militarmente conquistada, sob a forma de um
Império continental liderado por um dos Estados-nação, então, mais poderosos. A forma mais
próxima que ao longo de sua velha história a Europa pode alcançar foi, ao longo do século XIX, o
arranjo político e diplomático denominado Concerto das Nações, um verdadeiro mobile de Estadosnação, guardando zelosamente seus atributos de soberania, reunidos, contudo, em uma estreita
solidariedade de interesses, em especial na divisão mundial de poderes e áreas de influência. A
emergência de novos estados, principalmente a Alemanha e a Itália, veio desorganizar e destruir o
frágil equilíbrio do móbile europeu, acarretando três guerras de incrível capacidade destrutiva:
1870/71, 1914/18 e 1939/45.
O resultado da guerra civil européia, conforme uma velha expressão de um historiador asiático,
foi a destruição definitiva do móbile Concerto das Nações, com a perda do poder político e
econômico do conjunto da Europa em favor das duas novas potências excêntricas ao arranjo
europeu: Estados Unidos e Rússia/URSS. Embora ambas possam reclamar, a justo título, sua
europeinidade ( algo que efetivamente apenas uma delas, a Rússia, faz questão de afirmar ), a
verdade é que ao longo do século XX o continente viu erguerem-se poderes que lhe eram estranhos
e que desenvolveram estratégias políticas voltadas para a sua divisão e subjugação, muito
especialmente durante a Guerra Fria ( 1947-1991 ).
Grande parte do duelo que levou a Europa à exaustão foi travado, de um lado, entre a Inglaterra e
a França, potências navais, detentoras de vastos impérios coloniais e de antiga vocação universalista
expressa no sucesso de seus idiomas enquanto veículos de cultura, e a Alemanha, por outro lado,
potência emergente, de caráter continental, buscando freneticamente colocar seu excedente
demográfico e garantir a continuidade de seu crescimento. Só mais tarde, um terceiro termo da
equação – ainda uma vez excêntrico e semi-asiático - movido pelos mesmos velhos interesses
estratégicos de potência continental isolada do mar, a Rússia/URSS, procurará revestir de um
grande brilho ideológico seu projeto de expansão e segurança nacional. Tais embates geraram, na
denominação de Philip Bobbit, a Longa Guerra do Estado-Nação: de 1914 ( ou seria 1871 ? ) até o
Tratado de Paris, de 1990, passando pelas datas inesquecíveis de 1917, 1918, 1933, 1935, 1938,
1939, 1945 – especialmente com a vitória amarga dos aliados, marcada por Yalta e Potsdam -,
estendendo-se até 1991, quando o último herdeiro do conflito iniciado em 1871, a URSS, entra em
colapso.
Mesmo antes de 1991 – quando o último poder verdadeiramente europeu, malgrado todo seu
asiatismo– abandona a cena principal, os grandes poderes europeus, e seus homens mais brilhantes,
entenderam o imenso risco da Europa em se tornar irrelevante. A imensidão dos recursos
mobilizados pelas guerras inventadas na própria Europa havia atraído e ensejado que poderes muito
mais fortes e ricos emergissem no cenário mundial, em especial o Japão e os Estados Unidos. O
primeiro deles, em virtude do militarismo e do imperialismo praticados na Ásia Oriental, e em face
de sua derrota, estava condenado por um ainda longo tempo, ao destino de gigante econômico e
*
Professor Titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, professor emérito da Escola de Comando e Estado
Maior do Exército/ECEME e coordenador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente/TEMPO.
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 1/14
anão político, e mesmo à mercê de poderes de terceira categoria, como a Coréia do Norte. Este era o
retrato, um Dorian Gray guardado no porão das consciências européias, que assombravam o
continente. Os Estados Unidos ofereciam e garantiam a segurança continental – um continente
agora amputado na altura de uma linha traçada de Hamburgo até Veneza – e, ao mesmo tempo,
impunham suas regras no quadro do atlantismo: uma visão meramente transoceânica da
comunidade histórica existente entre ambas as margens do Atlântico, expressa nas origens comuns
do Ocidente – as revoluções atlânticas ( não mais ditas burguesas ) do século XVIII – sob a
liderança dos Estados Unidos e expressa, por sua vez, na constituição da NATO ou OTAN . A
Europa se retirava dos calços do Império: da Indochina, da Argélia e do Djibuti; nos anos ´60 abria
mão oficialmente de todos os pontos de controle além Áden. Em suma, a Europa encolhia sua
vocação universalista e, amparada nos Estados Unidos, deveria conformar-se com o atlantismo.
Resolvidos os problemas imediatos da reconstrução, pós-1945, equacionado o novo jogo político
– o arranjo liberal-representativo, de tipo parlamentarista,a dotado na maioria dos Estados
ocidentais saídos da guerra -, bem como compensado o trauma da descolonização, surge a clara
consciência da imperiosidade da restauração não só dos Estados-nacionais mas, fundamentalmente
da Europa.
O desenvolvimento da estratégia atômica a partir dos anos ´50, em especial a plena consciência
da condição MAD/Mútua Destruição Assegurada, torna a promessa de segurança e defesa dos
Estados Unidos bastante precárias. Para muitos europeus, depois que os russos testam sua bomba
atômica, em 1949, as promessas de segurança afiançadas no Pacto Atlântico tornam-se inefáveis.
Enquanto a América detinha o monopólio do poder atômico, a indiscutível superioridade do
Exército Vermelho estava paralisada, posto que a URSS entendia possibilidade de ver suas cidades
destruídas enquanto os seus carros blindados rodassem em Paris e Madrid. A defesa atlântica da
Europa residia então no guarda-chuva nuclear americano. Entretanto, após a bomba atômica russa
em 1949 e, muito especialmente a partir de 1957, com o Sputnik, o ceticismo paira sobre as
inteligências européias. Qual segurança seria garantida em face ao crescimento de um poder como a
URSS? Neste sentido, duas questões colocavam-se com imperiosidade, raiando o escândalo: Primo:
os Estados Unidos estariam preparados para deter a marcha do Exército Vermelho em direção às
praias do Atlântico através do arsenal nuclear, mesmo sabendo que corria o risco concreto de ter
suas cidades – santuários intocados ao longo de duas guerras mundiais – destruídas pela força
atômica soviética? Para muitos europeus, e mesmo norte-americanos, uma ação plausível dos russos
unificando a Europa militarmente, levaria os Estados Unidos a voltar-se sobre si mesmos,
reorganizando a área América Latina/Pacífico enquanto domínio próprio, numa aceitação tácita da
divisão inexorável do mundo. No final anos ´50, quando surge a Política de Resposta Flexível – um
duelo atômico pausado entre as duas superpotências – a Europa descobre, inconsolável, que tal
duelo para ser eficaz e não transbordar para a Política de Retaliação Maciça, deveria poupar as
cidades americanas e russas, travando-se, portanto sobre o solo da Europa. Surge, então, outra
questão, Segundo: a segurança e a liberdade da Europa ensejava o risco real e concreto da destruição
do continente, tendo como corolário que tal destruição seria decidida em Moscou ou Washington,
não tendo os europeus qualquer capacidade de decidir sobre sua própria existência.
O desencanto entre a Europa e os Estados Unidos, pondo em cheque o atlantismo , fez, contudo
uma rápida aparição nas relações transatlânticas – bem mais cedo do que a imprensa que
acompanhou a Segunda Guerra do Iraque, em 2003, poderia supor. Em 1956, culminando um longo
processo de enfrentamento entre o regime nacionalista egípcio de Gamal Abdel Nasser e os
interesses ocidentais da Companhia Ocidental do Canal de Suez, o raís nacionaliza o Canal. Para os
interesses franceses a atuação do líder egípcio mostrava-se absolutamente intolerável, em particular
por liderar um movimento pan-arabista que procurava abrir uma cunha entre Paris e sua antiga e
sólida implantação no mundo árabe. Eram os tempos da Guerra da Argélia ( 1952-1962 ), cuja
Frente de Libertação Nacional era diretamente apoiada por Nasser. Assumindo claramente a postura
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 2/14
de campeão do anti-colonialismo, Nasser ameaçava as posições francesas da Mauritânia até
Damasco, inclusive em Tunis e Beiruth. Para os ingleses – que já haviam defendido o Canal contra
turcos, italianos e alemães num passado muito recente – o pleno controle da posição estratégica de
Suez por uma potência – mesmo que média potência – hostil e aliada aos soviéticos, punha em risco
as comunicações com o Oriente, fragilizando Hong Kong, Cingapura, as Índias e o Golfo Pérsico,
com seus jazimentos petrolíferos. Desde longo tempo os britânicos haviam construído sua
superioridade no Mediterrâneo através da garantia das posições em Gibraltar, Malta e Chipre que se
completavam com o controle de entrada e saída do Mar Vermelho: Suez, em um lado, e Áden, no
outro extremo. Além disso, tanto para franceses como britânicos, o crescimento da figura de Nasser
como desafiante do Ocidente, cada vez mais próximo dos soviéticos, punha em risco os planos de
descolonização gradual e de manutenção dos laços entre as metrópoles européias e suas antigas
colônias. Assim, o desafio de Nasser parecia não só inoportuno, como ainda insuportável face a uma
estratégia longamente amadurecida. Acalentada pelos serviços especiais franceses e apresentada a
Londres como incontornável, uma operação militar de retomada de Suez, e desmoralização de
Nasser, deveria ter o mérito, duplo, de devolver a iniciativa política ao Ocidente e manter, ao
máximo, os processos de descolonização sob o controle de Londres e Paris. Ambos os países
retomavam, pela primeira vez depois da II Guerra Mundial, o espírito da Entente Cordiale, de 1904,
no âmbito de um domínio que consideravam explicitamente próprio: as relações coloniais. Para
tornar mais crível, e, portanto, diplomaticamente sustentável a intervenção militar contra o Egito,
trouxeram Israel para o empreendimento. A expedição ocidental contra Suez deveria, oficialmente,
evitar que o Canal fosse danificado durante o ataque que Israel desferiria contra o Egito, tratando-se,
portanto, ao menos em suposição, de uma ação de separação de forças em guerra. A ças em guerra.
A ação franco-anglo-israelense apareceu, contudo, aos olhos da opinião pública como uma clara
manobra neo-colonialista, incapaz de se auto-sustentar. Malgrado o sucesso militar do
empreendimento, as lideranças do Terceiro Mundo e dos Países Não-Alinhados, ao lado dos países
socialistas, denunciavam na ONU o neo-colonialismo ocidental. A URSS, em sua plena transição
pós-stalinista e envolta na repressão contra os nacionalistas húngaros, via na expedição de Suez,
uma ótima oportunidade para recuperar seu prestígio junto a opinião pública. De Forma brutal,
direta e nada diplomática, a liderança soviética exigiu a retirada de ingleses e franceses, anunciando
medidas de retaliação militar contra Londres e Paris. Para surpresa geral dos europeus, a
Administração Eisenhower ( 1953-1961 ) concorda com os russos, condena a ação dos seus aliados
atlânticos e exige a restauração do Egito.
A partir da humilhação de Suez, ambas as potências entenderam, em perfeição, os limites do seu
poderia no mundo dominado pela Bipolaridade soviético-americana. Ambas extraíram daí
ensinamentos fundamentais para seus destinos. Para a Inglaterra ficava claro a limitação de seu
poderio, e mesmo de sua autonomia estratégica de ação, com a conseqüente necessidade de contar
com os Estados Unidos para a defesa de seus próprios intereses, inclusive nas antigas áreas
coloniais. A aliança anglo-americana assumirá, doravante, um papel central, inquestionável, para as
lideranças britânicas. Para a França, envolvida em conflitos violentos na Ásia e na África,
enfrentando diretamente os comunistas e seus aliados, como no Vietnam, ou o novo nacionalismo
árabe, parecia que os Estados Unidos não só não entendiam a dimensão da crise em curso, como
ainda esperavam tirar proveito da grave situação, projetando seu poder e prestígio nas antigas
esferas de influência de seus aliados. Para a França, depois da Crise de Suez, duas idéias tornar-seiam obsedantes: de um lado, a construção de uma Europa unida e autônoma; de outro, dotar-se da
arma atômica, de uma force de frappé.
Duas idéias, bem verdade, porém de profunda conexão mútua que marcarão o projeto francês de
construção da Europa. Da mesma forma, a opção inglesa pelo Pacto Atlântico, sua simbiose com os
interesses da América, seu auto-reconhecimento como parceiro menor, porém fiel e útil, a afastaria
profundamente da França, cada vez mais europeísta,.tornando anacrônico e inútil o quadro das
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 3/14
relações européias marcado pela Entente Cordiale, de 1904. O miolo duro aliança ocidental que
garantira as vitórias de 1918 e de 1945 mostrava-se obsoleto no mundo bipolar.
Contemporânea à Crise de Suez, a Revolta da Hungria contra a dominação soviética, malgrado
todos os belos discursos da Radio Europa Livre, fora dominada, seus líderes mortos e aprisionados e
milhares de refugiados atravessavam em situação miserável a fronteira austríaca. Em Suez e
Budapest a Europa assistira claramente aos Estados Unidos – malgrado todo o fervor psicótico do
anti-comunismo de Forster Dulles, Joe Macarthny e Edgar Hoover – patrocinarem seus próprios
interesses, procedendo claramente a uma fria avaliação – a velha Realpolitik - de que os interesses
europeus, mesmo de seus bons aliados, não valiam uma crise maior com os soviéticos.
A angustiante dúvida dos europeus transformava-se agora numa questão que se recusava ao
silêncio: sob a condição MAD, arriscariam os Estados Unidos a destruição de suas próprias cidades
na defesa da Europa em face de um ataque convencional soviético?
Tal questão produziu um crescente mal-estar no interior da Aliança Atlântica, expresso nas
exigências insistentes, por parte da França, da criação de um comando sul da NATO, sob ordens
européias e, sobretudo, a cessão para um comando europeu do arsenal nuclear americano depositado
no continente. A recusa permanente dos Estados Unidos em atender a tais reivindicações convence a
maioria da inteligência européia dos limites da dedicação estadunidense aos interesses propriamente
europeus.
Ao lado do cenário estratégico mundial, no qual a Europa ocupava uma incômoda posição, nos
obrigamos, para um melhor entendimento da reconciliação franco-alemã – e a conseqüente
emergência da idéia de uma Europa unida - a um recuo histórico ao clima político e social da
Europa, pós-1945. Boa parte do continente estava devastado por anos seguidos de guerra, com solos
destruídos, campos abandonados e a infra-estrutura produtiva seriamente comprometida. Milhares e
milhares de homens e mulheres tinham deixado de ser produtivos, e os Impérios coloniais, boa fonte
de recursos, estavam em grande agitação, prestes a romper as amarras com suas metrópoles. O
medo, real ou imaginário, de uma nova ocupação, para os países que haviam sofrido a derrota e
ocupação frente às tropas alemães – em especial a França, os Países Baixos e a Bélgica, obrigava as
velhas elites políticas nacionais a buscar a proteção junto aos Estados Unidos, que já então
mostrava-se incerta. Desde 1945, mas muito especialmente a partir de 1947, o espectro de uma nova
guerra – um transbordamento incontido da Guerra Fria – povoava as preocupações. São as Crises de
Berlin, de 1948 e de 1961; o risco da Guerra da Coréia, entre 1950 e 1953 ou a Crise dos Mísseis
de Cuba, em 1962 e depois a Guerra do Vietnam, entre 1965 e 1975. Por outro lado, o risco de uma
fratura política no interior dos velhos países europeus era, também, bastante real. Na França e na
Itália, por exemplo, os partidos comunistas haviam saído da guerra com um vasto cacife político,
acumulado em anos de resistência aos fascismos nacionais, seja Pétain, seja Mussolini, e frente ao
nazismo alemão ocupante. Assim, pressionados pelo avanço da Bipolaridade, que fazia a Europa
recuar em todos os campos enquanto voz decisiva no cenário mundial, e pelas pressões políticas,
sociais e econômicas no plano interno, as elites dirigentes entenderam, desde logo, a imperiosidade
de superar os acanhados quadros do Estado-nação europeu, com suas intensas rivalidades, que já
haviam levado a três grandes mundiais. É em torno de tais eixos centrais de debate que os chamados
pais fundadores - os políticos que na França, Itália e República Federal Alemã lançaram-se na
construção européia – romperam com séculos de defesa da prioridade nacional e saíram em busca
de uma nova arquitetura européia.
Coube sem dúvida nenhuma a França o papel central em tal escolha estratégica. Para uma nação
com a herança cultural e histórica de fundadora do Ocidente, a idéia de uma possível nova ocupação
– agora soviética – e, ao mesmo tempo, de perde de autonomia, transformando-se em um peão num
arranjo de poder denominado Pacto Atlântico, parecia intolerável. A imperiosidade da construção da
Europa, contudo, adquiria – em face às superpotências – um conteúdo novo, para além de Napoleão
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 4/14
ou de Kant, em suas situações polares. A nova Europa não poderia, de forma alguma, ser a
expressão de um expansionismo nacional, de uma vontade nacional única. Cabia, desde logo, pensar
a Europa enquanto expressão de uma vontade coletiva, européia, ocidental e ancorada nos valores
oriundos da tradição continental dos séculos XVIII e XIX, em especial do Iluminismo e da
democracia representativa.
Somente a experiência, ainda muito recente, da dominação fascista, da guerra e do Holocausto,
poderiam iluminar a construção dessa nova Europa. Assim, alguns poucos, porém influentes
intelectuais e políticos, desempenharam um papel importantíssimo em desenhar o futuro desta
Europa. Estes homens, humanistas por excelência, foram denominados os Pères Fondateurs, os
responsáveis pela Nova Europa. Não podemos deixar de lembrar aqui alguns nomes de europeus
que souberam alçar-se acima do fragilizado quadro do Estado-nação. Alguns nomes, histoire oblige
citar Jean Monnet ( 1888-1975 ), o verdadeiro idealizador de um Estados Unidos da Europa, homem
de idéias e de ações, responsável pela criação da CECA e das bases políticas e jurídicas do Tratado
de Roma, de 1957; Robert Schuman ( 1886-1963 ), malgrado ter sido prisioneiro da Gestapo
desenvolve todos os seus esforças em direção da reconciliação franco-alemã, sendo o idealizador da
CECA; Alcide De Gaspari ( 1881-1954 ), anima a integração da Itália na CECA; Paul Henri Spaak (
1899-1972 ), que torna a Bélgica num ardente defensor da Europa e Walter Hallstein ( 1901-1982 ),
reitor da Universidade de Frankfurt, conselheiro de Konrad Adenauer, a quem convence que a
restauração de um papel da Alemanha no mundo só poderia se dar através da Europa.
Entretanto, dois nomes são fundamentais para que a nascente consciência europeu viesse a
traduzir-se em uma expressão política: Charles De Gaulle ( 1890-1970 ) e Konrad Adenauer ( 18761967 ), ambos resistentes anti-nazistas, ambos combatentes contra a ocupação de seus países pelo
pior exemplo de barbárie que a Europa pode produzir.
Assim, bem ao contrário do que normalmente se pensa – e muito em particular entre nós, no
Brasil – a aproximação franco-alemã, a CECA, a CEE e, depois, a U.E., não surgiram como
projetos econômicos visando impulsionar os “negócios”. São projetos de Estado, onde estão
ancorados destinos nacionais constituídos à base do reconhecimento da vontade coletiva, nacional e
européia.
O processo de construção desta nova Europa foi, contudo, difícil e conturbado.
Como vimos acima, um conjunto de fatores de amplo alcance, no plano das relações
internacionais, da Crise de Suez, de 1956, até o relativo desengajamento dos Estados Unidos em
relação a Berlin, entre 1961 e 1962, revelaria aos dois principais parceiros do CEE, França e
Alemanha Ocidental, a inevitabilidade de um futuro comum. Mais do que o Tratado de Roma de
1957, o Tratado do Eliseu, ou de Paris, de 22 de janeiro de 1963 ( votado em 16 de maio do mesmo
ano ) celebrando a reconciliação franco-alemã marca o reconhecimento deste destino comum.
O processo, contudo, não foi linear ou sem percalços. Podemos em verdade vislumbrar, hoje,
etapas diversas da construção da idéia de Europa una e autônoma.
As Etapas da Construção Européia
i. o surgimento da idéia de construção européia: 1946-1954. Dadas as condições anteriores
alinhavadas, não é de espantar que as primeiras declarações em prol da construção de uma entidade
de personalidade européia se desse em torno de uma preocupação política. Winston Churchill, René
Pleven entre outros, logo após a II Guerra Mundial, mostraram-se interessados em promover formas
de colaboração política e militar que permitissem um nuançamento da Bipolaridade que se
desenhava rapidamente no cenário mundial. O Tratado de Dunquerque, de 1947, entre a França e o
Reino Unido apontava claramente neste sentido. O impacto, entretanto, do Plano Marshall, no
mesmo ano e a exigência norte-americana para que a Europa se organizasse para uma melhor gestão
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 5/14
dos recursos, acaba pesando em outra direção, abrindo uma pequena brecha nas formulações de
política externa no continente ( donde emergirão as concepções atlantistas e europeístas ). Sobre
impacto direto do Plano Marshall os europeus criam, em 1948, OECE/Organização Européia de
Cooperação Econômica, que passa a ser responsável pela gestão dos recursos do Plano Marshall.
No mesmo ano, Bélgica, Holanda e Luxemburgo organizam uma união aduaneira, o BENELUX. Foi
nesse clima de busca de cooperação para além das fronteiras nacionais que Robert Schuman, em
1950, faz a proposição de exploração e desenvolvimento em comum dos recursos de carvão e aço
da França e Alemanha ( Declaração Schuman ), criando-se uma associação que estaria aberta aos
demais países europeus, superando em definitivo a chamada Questão do Sarre ( o uso dos recursos
estratégicos da região fronteiriça entre França e Alemanha ). Um ano depois, através do Tratado de
Paris, é criada a CECA/Comunidade Européia do Carvão e do Aço, composta pela França e
Alemanha, conforme a sugestão de Schuman, mais os países do BENELUX e a Itália. A persistência
da idéia do Estado-nação, contudo, é extremamente forte, e todos as propostas de criação de um
força militar européia ou de um organismo político supra-nacional são seguidamente rejeitadas,
especialmente pelo parlamento francês. Para um grupo importante de políticos franceses era
necessário garantir, primeiramente, o sepultamento definitivo do imperialismo alemão e de qualquer
tentativa de revisão da vitória de 1945. Assim, enquanto prosperava a idéia de cooperação
econômica, as iniciativas que deveriam amparar o nascimento da Europa política e de defesa
maracavam passa, como o Tratado de Bruxelas, que havia instituído, em 1948, a Union
Occidentale, voltada para a defesa comum anti-agressão. Por sua vez, a pressão norte-americana
para a organização de todas as forças européias numa frente comum anti-soviética adquiria, então,
muito mais credibilidade, acabando por desembocar no Pacto do Atlântico, de 1949, origem da
NATO. Entretanto, a pressão original por uma Europa política continuará presente, em especial
através da criação da Comunidade Européia de Defesa/CED. Em verdade, desde o início dos anos
´50 se discutirá em Bonn, Paris e Bruxelas a criação de uma entidade jurídico-política que
substituísse, em conjunto, a CECA e CED, permitindo que a integração econômica caminhasse em
passos iguais com a integração política e de defesa.
ii. a elaboração do Mercado Comum Europeu: 1955-1957. A permanente rejeição de qualquer
entidade política supra-nacional acaba por produzir o desenho mais duradouro da cooperação
européia. Esta deveria ser, necessariamente, econômica, respeitar os atributos básicos da soberania
do Estado-nação e reconhecer os interesses geo-estratégicos dos membros associados. Assim, a
França e a Holanda mantinham-se aferradas a suas estratégias de manutenção dos impérios
coloniais, que deveriam suprir algumas das necessidades básicas da metrópole e, por outro lado,
exigiam, em meio a verdadeiras guerras na Indonésia e no Vietnam, a manutenção de forças
armadas nacionais, autônomas, capazes de defender os interesses nacionais em cenários extraeuropeus. As áreas de colaboração previstas pelos “Seis” da CECA restringem-se, assim, ao setor
aduaneiro e a energia nuclear. Desde logo duas propostas são oferecidas ao debate, marcando bem
as diferenças de abordagens acerca da construção européia: de um lado, a proposta britânica de uma
ampla zona de livre-troca no âmbito da OECE; de outro, a proposta apresentada na Conferência de
Veneza, em 1956, de criação de um mercado comum, envolvendo inclusive itens industriais e
visando certa homogenização de políticas públicas. Reino Unido e França representarão
perfeitamente as respectivas proposições, marcando, de um lado, a vocação mercantil e financeira
do Reino Unido, detentor do maior sistema financeiro da Europa ( bolsa/bancos ) e profundamente
enraizado com os sistemas financeiros norte-americanos, e, de outro lado, a proposição da França,
voltada para um estreitamento da cooperação industrial e agrícola no âmbito do continente, além de
uma reorganização mais autônoma das antigas áreas coloniais, em especial na África. Tais
diferenças marcarão, até hoje, as linhas de tensão no interior da UE, com uma Inglaterra menos
integracionista e mais atlantista e uma França preocupada com a construção de uma Europa a um só
tempo próspera e politicamente influente. Com o afastamento dos britânicos, as negociações
avançam em direção a um Mercado Comum Europeu ou CEE, proposto no Tratado de Roma de
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 6/14
1957, ao lado de uma agência de energia atômica, a EUROTOM. Da mesma forma, a Crise de Suez,
nos seus aspectos anteriormente destacados, com a humilhação da Europa frente aos americanos,
certificaria muitos europeus que a autonomia era o único caminho para a segurança coletiva do
continente.
iii. a nova arquitetura européia: 1958-1971. Nesta primeira fase, necessariamente difícil e
conflituosa, a atuação da CEE/Comunidade Econômica Européia, deu-se em direção a dois vetores
principais: a redução das tarifas aduaneiras intra-Estados-membros e a criação de uma Tarifa
Exterior Comum/TEC. Embora centrada desde o início na cooperação industrial, a CEE vê-se
obrigada a discutir as condições de implantação de uma política agrícola comum, que receberá a
denominação de PAC e tornar-se-ia a principal atividade de desenvolvimento no interior da
entidade, bem como a maior fonte de atritos entre a CEE e os demais parceiros comerciais
mundiais. Da mesma forma, a insistência do fator colonial, fundamental para a França ( e sua
política de francofonia ) produzirá outra marca determinante da CEE: o sistema de preferências.
Pela Convenção de Yaundé, de 1963, dezessete países da África, e mais Madagascar, recebem
tratamento preferencial na importação de gêneros de terceiros países, abrindo o caminho para que as
colônias e ex-colonias francesas, holandesas e belgas na África e Ásia assumam um quase
monopólio do fornecimento de matérias-primas e gêneros agrícolas tropicais para a CEE ( no mais
das vezes, em grave prejuízo para a América Latina, que volta-se, então, com maior intensidade
para os Estados Unidos ). No mesmo ano, completa-se o processo de Reconciliação Francoalemão , com a assinatura do Tratado de Cooperação Mútua, por De Gaulle e K. Adenauer. A
cooperação franco-alemã tornar-se-ia o pilar de toda a construção européia, centrando as decisões
fundamentais da CEE. Ambos os estadistas, responsáveis pela restauração de seus países,
entenderam que a cooperação não era uma opção e sim uma exigência das novas condições
mundiais.
Depois da perda da parceria britânica em 1956, com o fim definitivo da Entente Cordiale, a
França parecia isolada, envolvida em suas guerras coloniais e cada vez mais dependente dos Estados
Unidos. A construção da CEE era a resposta fundamental ao isolamento do país e ao desprestígio da
Europa. Contudo faltava, ainda, um elemento fundamental. Mesmo sendo bons amigos, o
BENELUX mostrava-se por demais frágil como parceiro estratégico na construção européia, da
mesma forma a Itália – presa em suas crises institucionais sucessivas – não mostrava uma decisão
definitiva em direção à nova Europa. É neste sentido que a recém criada República Federal Alemã
desempenha um papel chave para a arquitetura de uma Europa restaurada. Inicialmente vista com
desconfiança, a Alemanha Federal conheceu, entre 1961 e 1963 – no crepúsculo do próspero
reinado de Konrad Adenauer – a mesma situação de abandono que a França fora relegada em 1956.
Após os efeitos quase pirotécnicos da promessa de engajamento de John Kennedy com a defesa
de Berlin Ocidental e da própria Alemanha Federal, fica claro para Bonn que o governo americano
procurava um acomodamento com os soviéticos, com a diminuição dos riscos de um conflito
nuclear e com os custos da presença americana na Europa. Para Adenauer era evidente que o preço
cobrado pelos soviéticos seria, como foi, o reconhecimento da Linha Oder/Neisse ( a fronteira entre
a Alemanha/DDR e a Polônia, como imposta em 1945 ) e o reconhecimento da soberania da DDR
sobre Berlin Oriental. No ano de 1962 as pressões americanas sobre Bonn tornar-se-iam ainda mais
pesadas, com a exigência de negociar com a DDR o acesso a Berlin/W e, acima de tudo, a exigência
da renúncia permanente dos alemães a um arsenal nuclear ( 12/04/1964 ). Assim, a liderança alemã
se divide, mesmo no interior da coalizão CDU/CSU no poder: alguns defendem o estreitamento dos
laços com os americanos e a plena confiança no Pacto Atlântico; outros, em torno do chanceler, e
com o apoio do FDP/Liberais e do SPD/Sociais-democratas, de Willy Brandt, questionam os
méritos e a confiabilidade do atlantismo e propõe uma posição neutralista e de colaboração com os
países socialistas, sob a égide de uma versão alemã do gaulismo, o chamdo Burgfriedenplan, de
1962. Ambos os governos, em Paris e Bonn, temiam que o outro assumisse uma atitude tipo fuga
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 7/14
para alto e para frente: a busca de um entendimento direto e estável com Moscou, poupando-se das
conseqüências de um conflito atômico no seu território – o que, evidentemente, enfraqueceria
enormemente o parceiro. Assim, abria-se, em 1962 três grandes perspectivas: i. a reafirmação do
atlantismo, mesmo face a profunda crise de confiança oriunda dos incidentes de Suez e da Crise de
Berlin; ii. a procura de um entendimento direto com Moscou, que poderia desembocar num projeto
neutralista de tipo finlandês ou, iii. a busca de um compromisso mútuo frente a hesitação americana
e a ameaça soviética. É neste contexto, que os dois estadistas decidem, depois de inúmeras
demarches, assinar em 22 de janeiro de 1963, um amplo acordo de cooperação. O acordo assinado
em Paris previa uma estreita cooperação no campo da política exterior e de defesa, estabelecendo
pelo menos dois encontros anuais no nível de chefes de Estado e quatro encontros de ministros do
exterior, além de um mecanismo permanente de consultas. Tratava-se, acima de tudo, de desfazer
rancores antigos e evitar incompreensões futuras, tornando o eixo Paris/Bonn um elemento de
equilíbrio entre Washington e Moscou. O acordo será, por fim, votado pela Assemblée Nationale e o
Bundestag em 16 de maio de 1963.
A visita triunfal de John Kennedy a Alemanha, em junho do mesmo ano, será, em grande parte
uma resposta norte-americana à construção do eixo Paris/Bonn.
No plano interno, das relações intra-comunitárias, a construção da PAC tornar-se-ia em tema
central das discussões da CEE, em especial pelas dificuldades de coordenar as necessidades de
importação de gêneros agrícolas, alimentos e matérias-primas, com os interesses franceses e
holandeses em manter e apoiar uma população rural empobrecida e uma produção rotineira e
deficitária. Após inúmeras crises o modelo francês de financiamento da produção agrícola tornar-seá o núcleo da PAC.
iv. a expansão e consolidação da CEE: 1972-1980. O sucesso da nova arquitetura européia, a
pressão crescente dos trabalhistas ingleses temerosos do isolamento do Reino Unido face à nova
Europa, acabam por levar à candidatura inglesa. A entrada do Reino Unido na CEE implica na
aceitação de países tradicionalmente ancorados na área de influência da libra, como a Irlanda, a
Noruega e a Dinamarca, dimensionando agora a CEE com um formato continental. Malgrado um
certo mal-humor dos franceses – que não se sentiam convencidos da sinceridade europeísta dos
ingleses - a proposição britânica é irrecusável, trazendo para o interior da CEE um forte acirramento
da concorrência nas áreas industriais e de serviços.Se, de um lado, como notaram os críticos, a
admissão inglesa gerou maior concorrência industrial e, mesmo desemprego em áreas tradicionais,
pode, por outro lado, incentivar a modernização técnica e a incorporação de novas tecnologias,
tornando a indústria da CEE mais competitiva no plano internacional. O eixo financeiro
Paris/Frankfurt é enfraquecido pela competência da City, carreando para Londres grande volume das
atividades de financiamento, seguros e investimentos. O potencial industrial inglês acentua a
concorrência, enquanto a existência da vasta Comunidade Britânica das Nações coloca problemas
novos para a CEE. Evidentemente, as ex-colônias britânicas na África acabam exigindo o mesmo
tratamento da Convenção de Yaundé, o que fere o quase monopólio francês na importação de
gêneros tropicais para a CEE. Por outro lado, a condição da Austrália, Nova Zelândia e Canadá –
aos quais a Convenção de Yaundé não cabia – e possuidores de um forte potencial industrial, como
no caso do Canadá, ou de uma vigorosa agricultura e pecuária, como é a Nova Zelândia e a
Austrália, implicam na aplicação plena dos chamados acordos preferências. O alargamento,
verdadeiramente europeu, da CEE, sua projeção mundial sobre o comércio e financiamento dos
países da África, Caribe e Ásia, implica, desde então, na busca de uma fórmula de cooperação
financeira e monetária, capaz de ajustar os mecanismos de compensação no comércio intra-CEE.
Assim, em 1972, dá-se um importante passo em direção a comunitarização econômica, com a
criação da Serpente Monetária, um sistema de compensações recíprocas das diversas moedas
circulantes no interior da CEE, autonomizando mercado financeiro europeu em face do dólar. O
mecanismo será aprofundado em 1979 com o Sistema Monetário Europeu, baseado no Ecu –
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 8/14
european currency unit, enquanto unidade monetária européia. No mesmo ano dá-se a primeira
eleição, por sufrágio universal, do Parlamento Europeu, estabelecido na emblemática – para as
relações franco-alemães – cidade de Strasburg.
v. Do Mercado Comum à União Européia: 1981-1985. A partir de 1981 a CEE assume
claramente o papel de um pólo de poder europeu, aceitando a demanda de associação de diversos
países europeus, mesmo sem qualquer tradição de cooperação anterior. Esse é o caso da Grécia,
aceita em 1981 e que abre as portas da CEE para o mundo mediterrâneo. Em 1984 a CEE aprova a
transformação das estruturas comunitárias visando a constituição de uma verdadeira união,
consumando tal transição através do Acordo de Schengen, que estabelece a livre circulação de
pessoas e a plena vigência do passaporte comum. Num momento de relance violento da Guerra
Fria, a chamada Segunda Guerra Fria, com Ronald Reagan, e o lançamento da Iniciativa de Defesa
Estratégica, ou Guerra nas Estrelas, a Europa comunitária teme um abandono por parte dos
Estados Unidos – protegido por um sistema de defesa anti-mísseis que transformaria o território
nacional em santuário e pronto para uma guerra nuclear tática a ser travada na Europa. Tal temor
impõe, ainda uma vez, uma nova velocidade e comunhão de vontades, expressa na estratégia de
relance da união européia.
vi. a grande União Européia: 1986-1995. Com a adesão da Espanha e Portugal, em 1986, ao
lado da Itália e Grécia, a União Européia perde seu caráter norte-europeu e assume claramente as
novas realidades econômicas da Europa, onde um eixo de prosperidade se instala no Mediterrâneo,
em especial com o fantástico crescimento da Espanha e da Itália. Desde 1986 os países-membros
aceitam a Ata Única Européia, que prevê a finalização de todos os mecanismos visando a
constituição de um mercado plenamente unificado, que acaba por ser realizado no Tratado de
Maastricht, de 1992. O fim da DDR e a Reunificação alemã, com seu impacto econômico e político
sobre o conjunto da Europa, acaba por acelerar os mecanismos de integração no interior da UE. O
fim do socialismo soviético, com a abertura da Europa central e oriental, a reconstrução alemã, os
temores da França na nova e instável conjuntura pós-Guerra Fria – tudo isso obriga a um acelerado
relance da idéia de uma comunidade européia para além de uma entidade econômica. O abandono
de algumas das prerrogativas clássicas do Estado-nação são previstas como caução de um
entendimento num mundo pós-Bipolaridade. Se, a Bipolaridade havia dado o primeiro impulso no
surgimento da UE, o fim de um poder constrangente na fronteira de prosperidade européia coloca
outras questões. Em primeiro lugar, a definição do papel da nova Alemanha no contexto europeu e
comunitário – preocupação central da França, da Itália e da Polônia. O Acordo 4+2+1 acaba por
garantir a segurança coletiva na nova Europa, enquanto a retomada dos testes atômicos de superfície
pela França, serve para acalmar os setores franceses, e europeus em geral, sobre um eventual
ressurgimento do chauvinismo alemão. No âmbito comunitário a proposta aceita dá-se em torno do
estreitamento dos mecanismos comunitários, com o lançamento da moeda comum, o banco central
europeu, e os mecanismos comunitários de controle orçamentário. Tais medidas, claramente
limitadores dos atributos de soberania do Estado-nação, atrelam de forma complexa as economias
dos Estados-membros, impossibilitando qualquer tipo de recrudescimento da concorrência ( esta,
mesmo elevada entre as empresas, não deveria, de forma alguma, transbordar em direção a políticas
econômicas nacionais ). Ao mesmo tempo, o anúncio da unificação monetária lance um amplo
movimento de fusões entre grandes empresas industriais e financeiras. O processo de estreitamento
das instituições comunitárias é acompanhado por graves crises monetárias, violentas flutuações
cambiais e forte pressão orçamentária. A postura dos Estados Unidos, pós-Guerra Fria, muda
radicalmente em relação a União Européia, passando a ser um crítico feroz da PAC e da TEC. O
governo Clinton procurará, de todas as formas, ultrapassar a UE, promovendo o descrédito público
dos europeus enquanto força política autônoma. A ação americana dirigir-se-á para o alargamento
da NATO, com velocidade superior ao alargamento interno e externo da UE, procurando impor o
conceito de que a Europa política se realiza na NATO e não na União Européia. A ação americana
na Bósnia, e, principalmente, em Kossovo demonstra claramente o interesse americano de paralisar
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 9/14
uma Europa política. O governo Bush, lastreado em arrogante unilateralismo, aprofundará a
marginalização européia, expressa, por exemplo, na busca por parte dos Estados Unidos de uma
parceria estratégica com Moscou, sem consulta prévia aos europeus.
vii. a União Européia e a crise da Europa: 1995-2003. Desde 1995, com a Áustria, Finlândia e
Suécia, a União Européia muda profundamente de caráter. Mais do que o peso econômico dos três
novos sócios, a admissão destes três países possui um caráter nitidamente político. Os três são
países neutros, não associados aos antigos blocos militares da Guerra Fria – NATO e Pacto de
Varsóvia – e, ao menos dois, a Áustria e a Finlândia, tiveram seu estatuto de neutralidade imposto
pela presença soviética pós-1945. A admissão de tais Estados representa o reconhecimento do novo
mapa político europeu, o fim dos constrangimentos oriundos da II Guerra Mundial, bem como a
vocação da União Européia de assumir um desenho geo-estratégico cada vez mais europeu. Para
muitos países, em especial a França, a admissão dos países neutros implicava em estabelecer
claramente a personalidade política, e de defesa, autônoma da Europa. Com tais países não seria
possível buscar – como queria os Estados Unidos de Clinton – uma correspondência automática
entre NATO e EU. O novo objetivo da União passa a ser o PECO, os países da Europa Central e
Oriental, em transição da economia planificada sovietizada para uma economia de mercado.
Particularmente a nova Alemanha, passa a ter interesses crescentes na Europa Central, tornando-se
rapidamente o principal investidor nos Países Bálticos, Polônia, Hungria e com fortíssimos
interesses, associados à Áustria, nos Estados da ex-Iugoslávia, em especial na Eslovênia e Croácia
( as quais serão os primeiros a reconhecer a independência, em 1991, à revelia da UE ).. A grande
questão nova colocada para a União serão as condições de aceitação de um bloco novo de países,
candidatos desde algum tempo haviam apresentado sua candidatura, a saber: -1997, na Conferência
de Luxemburgo: Chipre, Estônia, Hungria, Polônia, República Checa e Eslovênia; -1999, na
Conferência de Helsinki: Bulgária, Letônia, Lituânia, Malta, Romênia e Eslováquia.
As condições de aceitação de tais candidaturas são, evidentemente, diferenciadas, dependentes
do grau de estabilidade econômica, respeito às regras do jogo democrático e o respeito às regras de
boa-vizinhança. Contudo, desde logo, devemos destacar dois pontos centrais de questionamentos
gerados pela mega ampliação da União Européia: de um lado, o impacto sobre a PAC e as políticas
estruturais, em especial a política para as regiões pobres; por outro lado, o próprio desenho das
instituições comunitárias, o grau de controle popular sobre a burocracia de Bruxelas ( expresso na
difícil equação Parlamento Europeu versus Conselho Europeu ) e de preeminência do Estado-nação
sobre as instituições comunitárias.
De qualquer forma, a mega ampliação da União altera profundamente as percepções geoestratégicas em vigor na Europa, lançando a fronteira da prosperidade européia até os Cárpatos, e
excluindo a Federação Russa.
Contudo, a U.E. trabalhou desde o fim da Guerra Fria, conforme estabelecido o Tratado de
Roma, em direção a uma união plena, em busca de criar uma personalidade jurídica e política
própria, capaz de desempenhar um papel político condizente com a grandeza econômica do
conjunto dos países envolvidos. Neste sentido, o Tratado de Maastricht, de 1991, constituiu-se no
passo central de redirecionamento da União, em vigor desde 1993, acelerou o processo de
integração européia a partir de dois vetores básicos: a consolidação da União Política e o
estreitamento da união econômica através da União Monetária e Econômica, ensejada com a
criação do euro. Tais vetores implicavam em um grande remanejamento de alianças e perspectivas
no interior da U.E., quase sempre sob impacto das mudanças eleitorais havidas entre 2000 e 2002,
em particular do fracasso da constituição de um eixo político Londres-Berlin, acalentado por
Gehrard Schröder/SPD, e a reafirmação da liderança na francesa na Europa vis a vis com os Estados
Unidos. Ao mesmo tempo, a realidade pós-soviética da Europa impõe a necessidade de se proceder
a incorporação de novos membros na União, agudizando algumas das contradições mais
importantes existentes em seu seio, em especial em relação a PAC/Política Agrícola Comum, como
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 10/14
ainda com a Política de Desenvolvimento para as áreas mais pobres e, mesmo, com a PESC/
Política de Pesca Comum. De qualquer forma, uma Europa Política, que emergisse da U.E., deveria
minimamente recobrir o mapa europeu até a fronteira ucraniana, garantindo um espaço econômico
para a expansão dos seus interesses e reinventando os paradigmas mínimos da segurança européia.
Pelo Tratado de Amsterdam, de 1992, assinado pelos países europeus na atmosfera então
otimista do fim do socialismo soviético, todo país europeu pode depositar junto ao Conselho
Europeu, em Bruxelas, uma demanda de associação à União Européia. Para isso deve contemplar
algumas condições estabelecidas pela UE, a saber: pertença geográfica ao Velho Mundo; defesa dos
direitos do homem, inclusive abolição da pena de morte; economia de mercado, aberta e
concorrencial; e aceitação plena, sem restrições, das regras econômicas e sociais da União
Européia. Só aparentemente fácil e automático, o processo de exame dos dossiers de entrada, são
extremamente demorados, complexos e conformados a uma rotina burocrática muitas vezes
exasperante. São cerca de 80 mil páginas de regulamentos, estendendo-se desde a definição de
profissões, até a composição de determinado gênero alimentício. Os impedimentos burocráticos, são
contudo, uma espécie de escudo protetor da União visando restringir determinadas candidaturas,
desagradáveis para algum país-membro, ou indesejada por vários outros. Talvez o caso mais típico
seja da Turquia. Evidentemente um país com profundo déficit na observação dos direitos humanos,
como no caso do tratamento da minoria curda, e com frágeis instituições democráticas. Entretanto,
os sucessivos governos turcos vem se esforçando para cumprir plenamente as metas estabelecidas
para a adesão. Ocorre que a Grécia, com eternas disputas com os turcos, exaltadas pela situação de
Chipre, sistematicamente bloqueia a presença de Ancara em Bruxelas. Neste caso, a Grécia exerce o
papel de obstáculo, quando na verdade Alemanha, Portugal e Espanha possuem imensas reservas,
por razoes diferentes, contra os turcos. Os alemães em virtude dos problemas decorrentes da livre
circulação de pessoas e dos direitos sociais comunitários; Portugal e Espanha em virtude de uma
potencial concorrência no setor agrícola. A mega adesão em curso – a ser decidida em dezembro de
2002, na Conferência de Copenhague – impõe uma série de condições bastante complexas. A
decisão implica na consolidação do segundo poder econômico do planeta, com gastos da ordem de
40 billhões de euros até 2006. Contudo, os países-membros possuem interesses claramente diversos,
como no caso da Alemanha: interesse pela incorporação da República Tcheca ( 10 milhões de
habitantes ); Hungria ( 10 milhões de habitantes ); Eslovênia ( 1.990 mil habitantes ) e interesse
genérico na adesão dos Países Bálticos ( cerca de 9 milhoes de habitantes ); e a França: interesse na
adesão da Polônia, Romênia e Turquia. Da mesma forma, a França teme a incorporação exclusiva
da chamada Mitteleuropa dos alemães ( Tchequia/Hungria/Eslovênia), o que aumentaria o peso
alemão na UE. Enquanto isso os alemães temem que a adesão da Polônia e Romênia represente uma
invasão de imigrantes, aumentando de forma insuportável o peso sobre os serviços sociais e
incentivando o crescimento da xenofobia de extrema-direita. Por outro lado, portugueses e
espanhóis temem profundamente a adesão da Polônia, Hungria e Romênia. Tais países possuem
condições de vida medianamente abaixo das condições de vida das regiões deprimidas dos países
ibéricos, o que implica num desvio dos recursos de projetos especiais de desenvolvimento da área
do Mediterrâneo para a Europa central. Da mesma forma, a França, Holanda, Itália e Dinamarca
temem a chegada de um bloco de países de forte contingente demográfico camponês, acusados de
dumping social, capaz de promover uma forte concorrência com a agricultura ocidental. Por sua
vez, Inglaterra e Alemanha recusam-se a manter uma PAC que cubra os custos atuais do orçamento
agrícola e incorpore, nas mesmas condições, o novo bloco de países aderentes. Num momento de
pausa no crescimento econômico, crise nas relações internacionais, a posição de U.E. nunca esteve
tão longe da almejada Europa Política. Enquanto o eixo Paris/Berlin funciona em direção a uma
maior contenção do unilateralismo americano e um maior respeito com as normas da OMC, a
Inglaterra, Espanha e Itália aliam-se resolutamente aos americanos, assumindo um ampla fratura no
projeto de futuro da Europa.
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 11/14
A Europa frente ao século XXI
A emergência da Administração Bush, depois de 2001, praticando um vigoroso unilateralismo –
ou multilateralismo a la carte, como afirma Condoleeza Rice – criou mais alguns problemas
suplementares para a Europa, obrigada a conviver com uma política comercial agressiva, capaz
produzir estragos em setores exportadores importantes da U.E., em especial na área da siderurgia e
de produtos agrícolas, como comprovam os últimos atos protecionistas da administração americana.
Deve-se somar a tais dificuldades a tentativa americana de abrir o mercado europeu à produtos
geneticamente manipulados, o que encontra forte resistência européia, em especial dos diversos
partidos verdes. Além disso, projetos considerados vitais pelos europeus, como o Galileo ou o
Airbus vinham sendo claramente combatidos pelos Estados Unidos em função dos interesses de sua
própria indústria ( GPS/Boieng ).
Assim, dava-se uma corrida no mesmo sentido, porém com velocidades diferentes e pontos de
chegada diferenciados, na construção da nova Europa: de um lado, uma Europa confederada, com
um eixo de ligação militar, político e econômico com os Estados Unidos – expressa na NATO - e
fortalecida pela aliança histórica entre as duas potências anglo-saxães; ou, por outro lado, uma
Europa federada, mais reduzida do que no mapa anterior, mais autônoma e representada por um
executivo único, fortalecido no tocante a sua política externa, e centrada no eixo original de poder
centrado na relação Paris/Berlin.
Assim, a agenda da U.E encontrava-se, às vésperas de 11 de setembro de 2001, sobrecarregada,
pela imperiosidade de importantes decisões, exatamente quando a pressão eleitoral tornou-se mais
dura no plano interno dos países-chave do projeto europeísta, tais como Alemanha, Inglaterra e
França. Tratava-se, não só, de contornar os eternos eurocéticos e atlantistas, como no caso da
Inglaterra – tarefa complexa, porém já enfrentada várias vezes com sucesso. Na verdade, a maior
crise surgia em países importantes com o crescimento da extrema-direita, muitas vezes de cunho
neofascista, e uma violentamente crítica quanto ao pretenso abandono da “soberania nacional” em
favor dos burocratas de Bruxelas, como é o caso da França, frente ao fenômeno Le Pen, da Holanda,
com o dramático episódio Pym Fortuin e do renitente ÖFP, de Jörg Haider, na Áustria. Em outros,
como na Alemanha, exausta economicamente após os esforços da Reunificação Nacional, não se
toleraria mais aumentos de impostos para continuar a pagar uma agricultura que apresenta sinais
evidentes de uma superexploração da natureza, tais como o mal da vaca louca ou o frango com
dioxina. Assim, antes de resolver as questões referentes a ampliação da U.E. ter-se-ia que solucionar
as questões pendentes internamente, desde da reforma institucional até a extensão da PAC. A UE
não teve, contudo, este espaço de tempo, com os acontecimentos acelerando-se dramaticamente a
partir de 2001. As eleições gerais na França e na Alemanha acabariam por atrasar as medidas
necessárias de reformulação das instituições comunitárias, sucedendo-se então uma ampla crise nas
relações internacionais.
Por sua vez, boa parte dos novos candidatos irrecusáveis – Polônia, República Tcheca, por
exemplo – contam com pelo menos dois dos mecanismos de fomento praticados no interior da
União: a PAC, fundamental para um país de camponeses, como a Polônia, e a ajuda ao
desenvolvimento, fundamental para todos os países pós-comunistas, mecanismos que não deveriam,
contraditoriamente, nem serem extintos, como tampouco extensivos aos novos países, em função do
claro peso fiscal que tal medida representaria para as ecominas francesa e alemã.
A extensão, contudo, da PAC para os novos governos eleitos implicaria num aumento do
orçamento agrícola comunitário de forma insuportável. Para as lideranças que exploraram
eleitoralmente o tema da redução de impostos, tais como a Tony Blair ou Gehrard Schröder, além
do próprio Jacques Chirac, a extensão da PAC, nos seus atuais termos, aos novos países tornou-se
um grande imbrolio. Assim, se a PAC já é um ônus orçamentário hoje, sua extensão em direção ao
leste é um ponto de crise insuperável. Além disso, desde a Rodada de Doha, da OMC, em 2001,
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 12/14
ficou claro que os subsídios agrícolas da União são um fator de desequilíbrio, e mesmo um estorvo,
ao comércio mundial, prejudicando principalmente ao grandes países emergentes exportadores de
bens agrícolas, muito especialmente na América Latina, o que torna o tão querido acordo
UE/Mercosul muito menos eficaz do que seria o esperado..
Além disso, uma Europa Política deveria contar com uma cabeça política mais firme e robusta do
que o papel desempenhado, por exemplo, pelo Secretário Político da União, Javier Solana frente aos
conflitos na ex-Iugoslávia ou no Oriente Médio. Assim, a necessidade de um executivo europeu
impõe-se com muita clareza, obrigando a uma re-engenharia de toda a União, conforme os atuais
trabalhos da comissão presidida pelo ex-presidente Giscard D´Estaing.
Foi neste contexto que se deram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados
Unidos. A reação européia, e desde o início a posição francesa expressa por Jacques de Chirac, foi
de profunda repulsa e, ao mesmo tempo, de plena solidariedade com Washington. De Paris a
Moscou todos os meios de colaboração disponíveis foram oferecidos aos americanos, inclusive os
impressionantes serviços de inteligência da França – expert nas questões árabes – e da Federação
Russa – os melhores posicionados sobre as questões geo-políticas da Ásia Central. Da mesma
forma, o famoso Artigo 5 do Pacto Atlântico, que prevê a solidariedade transoceânica em caso de
ataque a um de seus membros, foi acionado. No entanto, os Estados Unidos preferiram optar pela
chamada coligações de vontades, alianças ad hoc, definidas por Condi Rice da seguinte forma: o
inimigo ( ou causa ) indica a coligação ( e, é claro, a coligação não indica o inimigo ). Dessa forma,
a iniciativa americana feria de morte a própria Aliança Atlântica, tornada supérflua e sem uma
doutrina própria.
Quase que simultaneamente, decidindo a Guerra contra o Afeganistão, sem provas convincentes
de que os ataques partiram daquele país e de seu odioso regime fundamentalista, os Estados Unidos
confundiam e embaraçavam seus aliados. Ainda aí, a Europa acompanhou os Estados Unidos e
mostrou-se confiante em que, passado o espasmo do 11-S., os americanos refluiriam para os
organismos multilaterais. Em seguida a uma série de atos de desconhecimento do quadro jurídico
internacional – para muitos um exercício de arrogância – os Estados Unidos denunciavam
unilateralmente inúmeros acordos internacionais, do Protocolo de Kyoto até o Tratado de
Limitação de Mísseis Nucleares, com a Federação Russa. No mesmo ritmo, sem qualquer consulta
prévia, a América define um Eixo do Mal, nomeando, entre outros, países com estreitos laços
culturais e econômicos com a Europa, como a Síria, o Irã e o Iraque.
Abria-se uma dura polêmica transatlântica sobre a oportunidade de se aplicar a nova Doutrina de
Segurança Nacional ( dita Doutrina Bush ), anunciada pelos Estados Unidos em setembro de 2002,
muito especialmente a legitimação bastante duvidosa do auto-proclamado Direito de Ataque
Preventivo. Para boa parte da Europa comunitária – França, Alemanha, Bélgica -, bem como para
outros poderes emergentes – como a China Popular, a Federação Russa, México, Brasil, África do
Sul – a Doutrina Bush promovia uma dura subversão dos princípios básicos das relações
internacionais assentados, desde o Tratado de Westphalen, de 1648, na idéia de soberania nacional e
justificativa dos atos de guerra. Da mesma forma, os serviços especiais franceses e russos advertiam
claramente que as alegações anglo-americanas posse e produção de armas de destruição em massa
por parte do Iraque não eram reais e, tão pouco, haviam sido identificadas pela missão investigadora
da ONU e da AIEA.
Em pouco tempo ficaria evidente que razões mais poderosas que a destruição do alegado arsenal
do Iraque impulsionava a coligação anglo-saxã. Como no passado, o unilateralismo americano
forçava a Europa a se unir. Assim, o eixo Paris/Berlim assumiu um papel dominante no frentamento
da nova política externa americana. Se, por um lado, o fim da URSS permitia aos Estados Unidos
agir com completa liberdade de ação no cenário internacional, mesmo às custas da Aliança
Atlântica, o mesmo fator permitia que franceses e alemães buscassem uma parceria, impossível ao
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 13/14
tempo da Guerra Fria, capaz de criar limites, de tipo político, diplomático e ético, ao novo
militarismo americano. Com o apoio de um vigoroso movimento pacifista internacional – inclusive
no coração dos países que apoiavam os Estados Unidos -, Paris e Berlim, secundadas por Moscou,
redesenharam um jogo político internacional inesperado e capaz de abrir perspectivas insuspeitas
para as relações internacionais no século XXI.
Bibliografia
•
ADLER, Alexandre. J´ai vu finir lê monde ancien. Paris, Grasset, 2002.
•
BOBBIT, Philip. A Guerra e a Paz na História Moderna. Rio de Janeiro, Campus, 2003.
•
DEUTSCHER BUNDESTAG. Fragen na die Deustsche Geschichte. Berlin, 1996.
•
DIGEL, Werner ( Hrsg. ) MEYRS LEXIKON. Geschichte.Bonn, 1986.
•
FRITSCH-BOURNAZEL, Renata. L’Allemagne Unie dans la Nouvelle Europe. Paris, Éditions
Complexe, 1991.
•
JOXE, Alain. Les États-Unis et l´Union européenne proposent deux conceptions très différents de ordre
mondial. In: CORDELIER, Serge. Le Nouvel État du Monde, Paris, Le Découverte, 2002.
•
MAGNETTE, Paul. L´Union Européenne apparaît comme une tentive inédite de construction
multinationale organisé par des États. In: CORDELIER, Serge. Le Nouvel État du Monde, Paris, Le
Découverte, 2002.
•
NYE, Joseph. O Paradoxo do Poder Americano. São Paulo, UNESP, 2002.
•
STEVENSON, Jonathan. Cómo se defienden Europa y Estados Unidos. In: Foreign Affairs ( en
español ), v.3, no. 2, 2003, pp. 46-63.
•
WAHL, Alfred. Histoire de Republique Fédérale d’Allemagne. Paris, Aramand Colin, 1991.
A União Européia e a Atual Crise Internacional - Francisco Carlos Teixeira da Silva – Pág. 14/14