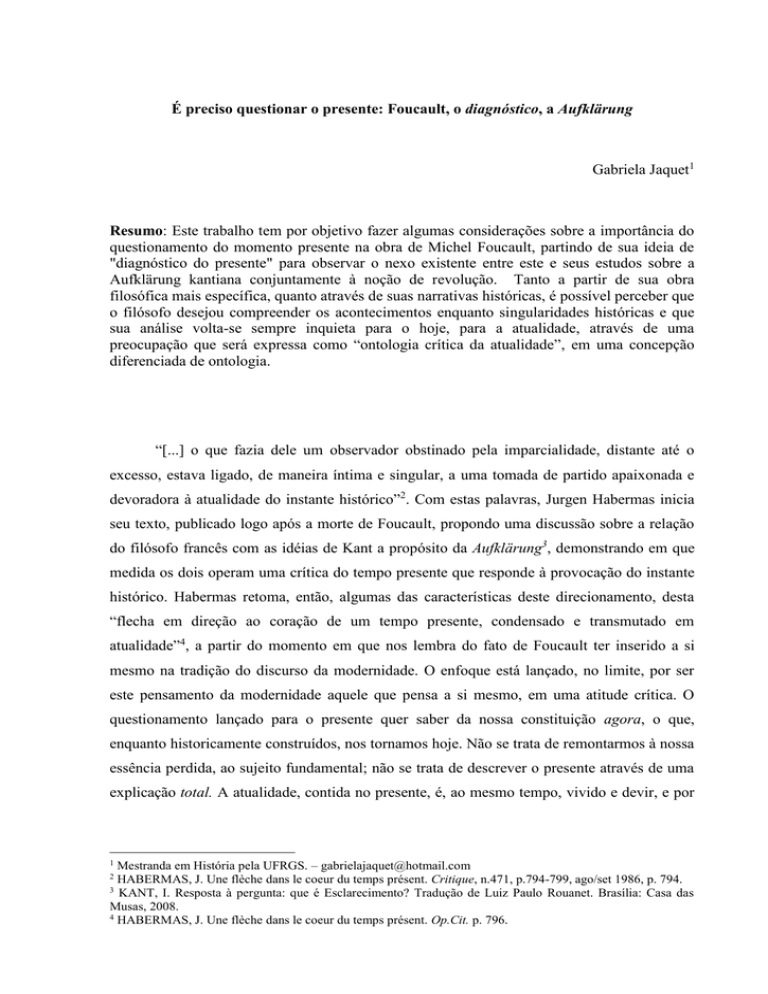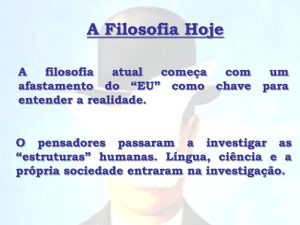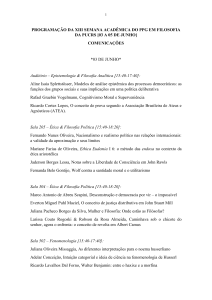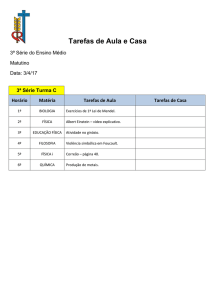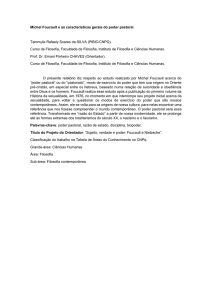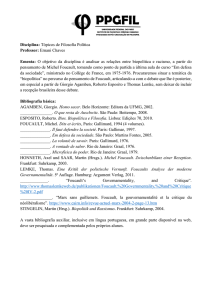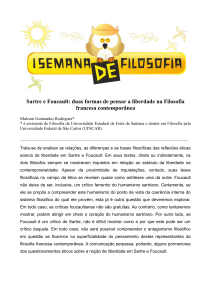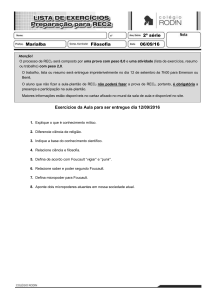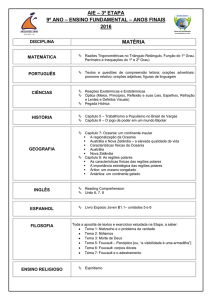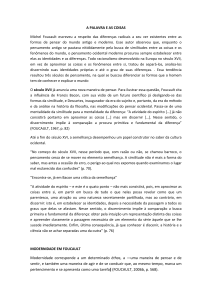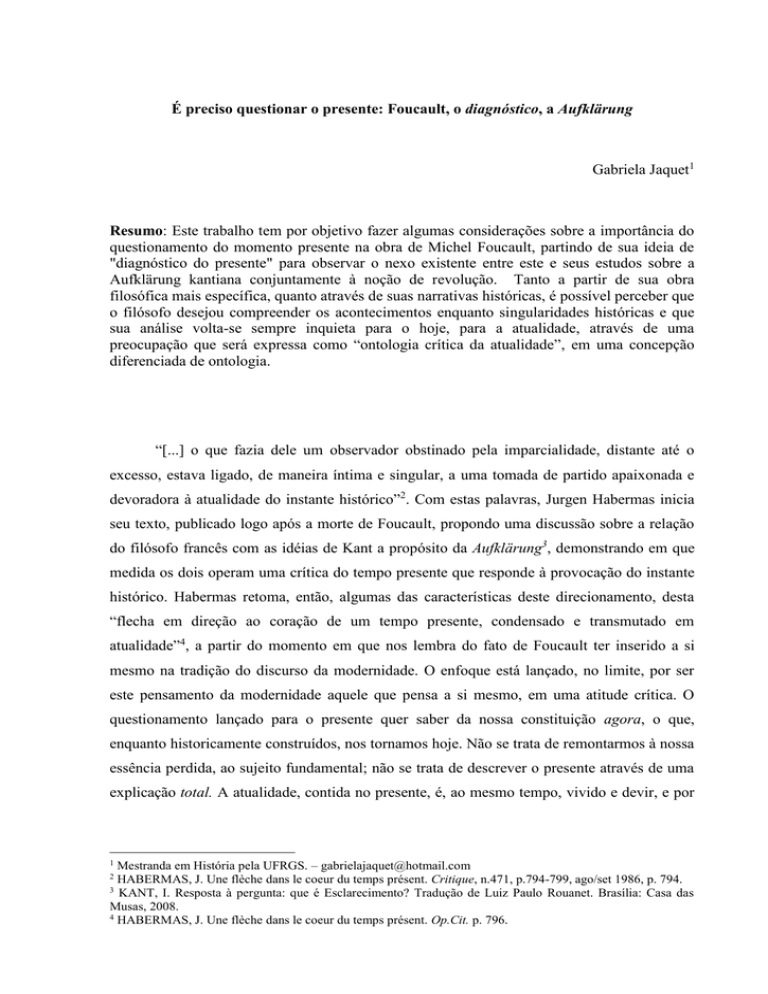
É preciso questionar o presente: Foucault, o diagnóstico, a Aufklärung
Gabriela Jaquet1
Resumo: Este trabalho tem por objetivo fazer algumas considerações sobre a importância do
questionamento do momento presente na obra de Michel Foucault, partindo de sua ideia de
"diagnóstico do presente" para observar o nexo existente entre este e seus estudos sobre a
Aufklärung kantiana conjuntamente à noção de revolução. Tanto a partir de sua obra
filosófica mais específica, quanto através de suas narrativas históricas, é possível perceber que
o filósofo desejou compreender os acontecimentos enquanto singularidades históricas e que
sua análise volta-se sempre inquieta para o hoje, para a atualidade, através de uma
preocupação que será expressa como “ontologia crítica da atualidade”, em uma concepção
diferenciada de ontologia.
“[...] o que fazia dele um observador obstinado pela imparcialidade, distante até o
excesso, estava ligado, de maneira íntima e singular, a uma tomada de partido apaixonada e
devoradora à atualidade do instante histórico”2. Com estas palavras, Jurgen Habermas inicia
seu texto, publicado logo após a morte de Foucault, propondo uma discussão sobre a relação
do filósofo francês com as idéias de Kant a propósito da Aufklärung3, demonstrando em que
medida os dois operam uma crítica do tempo presente que responde à provocação do instante
histórico. Habermas retoma, então, algumas das características deste direcionamento, desta
“flecha em direção ao coração de um tempo presente, condensado e transmutado em
atualidade”4, a partir do momento em que nos lembra do fato de Foucault ter inserido a si
mesmo na tradição do discurso da modernidade. O enfoque está lançado, no limite, por ser
este pensamento da modernidade aquele que pensa a si mesmo, em uma atitude crítica. O
questionamento lançado para o presente quer saber da nossa constituição agora, o que,
enquanto historicamente construídos, nos tornamos hoje. Não se trata de remontarmos à nossa
essência perdida, ao sujeito fundamental; não se trata de descrever o presente através de uma
explicação total. A atualidade, contida no presente, é, ao mesmo tempo, vivido e devir, e por
Mestranda em História pela UFRGS. – [email protected]
HABERMAS, J. Une flèche dans le coeur du temps présent. Critique, n.471, p.794-799, ago/set 1986, p. 794.
3
KANT, I. Resposta à pergunta: que é Esclarecimento? Tradução de Luiz Paulo Rouanet. Brasília: Casa das
Musas, 2008.
4
HABERMAS, J. Une flèche dans le coeur du temps présent. Op.Cit. p. 796.
1
2
isso só pode ser introduzida pela constatação das diferenças que carrega em relação ao que já
não somos mais.
Assim, faz-se necessário abordarmos primeiramente a noção de “diagnóstico do
presente” de Foucault, expressão que aparece pela primeira vez em 1967, em uma entrevista
publicada originalmente em italiano intitulada “Quem é você, professor Foucault?”5. Neste
texto, o filósofo comenta o que pensa sobre o papel da filosofia e do filósofo, argumentos que
mais tarde serão atribuídos também ao que ele delineará como “intelectual”:
Que o que eu faço tenha alguma coisa a ver com a filosofia é muito possível,
sobretudo na medida em que, ao menos desde Nietzsche, a filosofia tem por marca
diagnosticar e não procura mais dizer uma verdade que possa valer para todos e por
todas as épocas. Eu procuro diagnosticar, realizar um diagnóstico do presente: dizer
o que somos hoje e o que significa, hoje, dizer o que nós dizemos.6
Diagnosticar o presente é, portanto, apreender as características de um dado momento
e também, ao mesmo tempo, enxergar nele o lugar em que estamos a comentar sobre ele. Para
Foucault, este tipo de posicionamento acaba por não dar lugar à formulação de verdades
universais como medidas operacionais em quaisquer circunstâncias, pois o diagnóstico opera
como um trabalho de escavação, um trabalho de arqueologia. Estas expressões, chaves
bastante conhecidas dentro do pensamento do filósofo, nos direcionam a pensar este
diagnóstico como a busca da diferença e da singularidade dentro dos acontecimentos
históricos, e inclusive na sua relação (fosse de continuidade ou ruptura) em relação ao tempo
presente. Em outro momento, nesta mesma entrevista, Foucault afirma que “tentando
diagnosticar o presente no qual vivemos, nós podemos isolar como pertencendo já ao passado
certas tendências que são ainda consideradas como contemporâneas”7. Este tipo de estudo se
concretiza justamente pelas perguntas (pelo formato do questionamento) que se faz àquilo que
se pretende aprofundar: por exemplo, procurar entender a ideia de homem racional não por
um estudo de teorias da racionalidade, mas acompanhar a própria construção do objeto
totalizado – a loucura, em História da loucura – para compreender o processo de delimitação
da ideia de Razão.
5
FOUCAULT, M. Dits et Écrits I, ed. Paris, Éditions Gallimard, 2001a, pp. 629-648. Antes desta entrevista, de
setembro de 1967, temos ainda uma outra aparecida no jornal La Presse de Tunisie intitulada “La Philosophie
structuraliste permet de diagnostiquer ce qu'est ‘aujourd'hui’”, em que Michel Foucault já aborda estas idéias
quanto ao estudo do presente: FOUCAULT, M. Dits et Écrits I, ed. Paris, Éditions Gallimard, 2001a. p.608-612.
6
FOUCAULT, M. Dits et Écrits I. Op.Cit, p.634.
7
FOUCAULT, M. Dits et Écrits I. Op.Cit, p.635.
Mas o que seria este presente e por que se faz tão importante falarmos dele e nos
posicionarmos nele? Diagnosticar o presente significa tentar desnaturalizar o que o habita
(suas instituições, suas formas de pensamento, seus modos de subjetivação) por meio da
pesquisa histórica que demonstra as rupturas do percurso e a densidade que permeia (“que
corta”) os acontecimentos históricos, a fim de entender como e por que nos tornamos aquilo
que somos hoje; afinal, “é bom demonstrar nostalgia no que concerne a alguns períodos,
desde que tal seja uma maneira de manter uma relação refletida ("réfléchi") e positiva para
com o presente”8. Aqui, portanto, a ideia é ampliada: encontrar no presente não somente
aquilo que somos, mas também aquilo que não somos mais – assertiva que enfoca o papel da
identificação da diferença em Foucault.
O que se visa com tal esforço do diagnóstico, é, finalmente, a transformação do
presente. Diz Foucault em sua entrevista “Estruturalismo e pós-estruturalismo”: “[...] porque
essas coisas foram feitas, elas podem, com a condição de que se saiba como foram feitas,
serem desfeitas”9. O diagnóstico é uma tentativa de desestruturar o presente demonstrando-o,
pela “arqueologia”, como resultado de um processo histórico. O presente não é uma coisa, o
presente não é evidente. A ideia de arqueologia em contraposição à de “história” explica essa
não-evidência através de uma análise que não se desloca a nível temporal (evolução
cronológica), mas a nível das transformações ocorridas, para ver “abaixo das ideias como
puderam aparecer tais ou tais objetos como objetos possíveis de conhecimento” 10. A
arqueologia procurava apreender como um objeto tornou-se identificável e pensável enquanto
objeto total e/ou representante de uma totalidade de conhecimento: não analisa, por exemplo,
as ideias (e suas aparições no tempo) sobre a loucura, mas a própria constituição da loucura
como objeto possível de se ter ideias sobre.
Assim, creio ser importante lembrar o que escreve o filósofo francês Didier Éribon a
respeito desta vontade de transformação como sendo justamente o ponto que explica o
pensamento de Foucault como um pensamento otimista, através da recusa de admitir o mundo
como ele é, sendo sua escrita a prática de uma “indocilidade refletida” 11. Para ele, a
transformação do momento atual é delineada pelo caráter sempre possível da resistência: “nós
podemos sempre conquistar – individual e coletivamente – um pouco de autonomia sobre as
8
FOUCAULT, M. Dits et Écrits II, ed. Paris, Éditions Gallimard, 2001, p. 1599.
FOUCAULT apud ADORNO, F. P. A tarefa do intelectual: o modelo socrático. In: GROS, F. (Org.). Foucault:
a coragem da verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. p. 44.
10
FOUCAULT, M. Dits et Écrits I, Op.Cit, p. 1262.
11
ÉRIBON, D. Foucault dans l’actualité. 31 ago. 2007. Site pessoal de Didier Eribon. Disponível em: <http://
didiereribon.blogspot.com.br/2007/09/foucault-dans-lactualit.html>. Acesso em: 10 jun. 2012
9
coerções que pesam tão fortemente sobre nós”12, e é nessa possibilidade de mudança que
residem toda a força e todos os motivos, muito pragmáticos, dos “diagnósticos” filosóficos.
À ideia de transformação do presente podemos articular outra, que nos abre caminho
para pensar até mesmo uma abordagem mais ampla de tempo em Foucault, que é a de
“invenção do futuro”. Expressão forjada pelo filósofo francês Frédéric Gros na conclusão de
seu livro Michel Foucault, ela se apresenta como uma reflexão bastante particular sobre o
tempo presente na obra do filósofo. Gros nos diz que esta invenção do futuro ("invention de
l’avenir") aparece na proclamada ausência da origem e seria composta por uma
“multiplicidade de ficções”:
Na ausência de origem, é a multiplicidade de ficções que ocupa seu lugar. A
filosofia não pode mais, sem origem e sem fundamento, pretender à unidade que
confere significações últimas. Mas ela pode construir narrativas que nos permitirão,
não de nos reencontrar, mas de nos inventar novamente. Os sistemas metafísicos
deram lugar às ficções políticas.13
Esta invenção do futuro relaciona-se com uma visada de transformação uma vez que o
apontamento destas “não-fatalidades” de nosso presente carrega em si uma carga de
modificação e de libertação perante o trágico, que acabam por apontar para o futuro. É
necessário, contudo, esclarecer que esta "invenção" em nada se relaciona com uma solução
linear previamente concebida para os problemas sociais; ou seja, a invenção do futuro não é,
de forma alguma, uma prefiguração do futuro, pelas palavras de Francesco Paolo Adorno14. O
futuro será criação, combate, inovação que surge por si sem que se possa delineá-lo através
dos conselhos de uma teoria. Este futuro, carregado de múltiplas ficções, é composto por uma
infinitude de narrativas onde o novo pode surgir. Adorno ainda nos diz que o trabalho de
Foucault ultrapassava o de uma crítica ao presente, possuindo sua força na “tenacidade em
demonstrar a contingência do presente, em desestruturá-lo como processo histórico”.
Novamente, no diagnóstico está o estudo do presente pela diferença, pois é pela demonstração
das rupturas e inconformidades das contingências históricas que podemos perceber como nos
constituímos como somos e também como não somos, para então podermos nos modificar.
Como se parte de uma análise pela ruptura, “a prescrição do real nunca têm o valor de
ÉRIBON, D. Foucault dans l’actualité. Op.Cit.
GROS, F. Michel Foucault. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2012, p. 125.
14
ADORNO, F. P. A tarefa do intelectual: o modelo socrático. In: GROS, F. (Org.). Foucault: a coragem da
verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. p.43.
12
13
prescrição sob a forma ‘visto que é isso, aquilo será’”15; e aí vemos a grande valorização do
trabalho do historiador na medida em que é a partir deste estudo diferenciado do passado que
se pode chegar a uma arqueologia do que somos no presente a fim de delatá-lo, instigá-lo,
diagnosticá-lo.
Foquemos agora na aula do filósofo do dia 5 de janeiro de 1983 no Collège de France
contida no livro “O governo de si e dos outros”, cuja temática era um estudo do texto do
filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) “Was ist Aufklärung?” (O que é o
esclarecimento?), aparecido na revista “Berlinische Monatsschrift” em 1784. Esta noção de
Aufklärung, de esclarecimento, e até de Iluminismo, será bastante emblemática e muito
importante no desenvolvimento de um entendimento quanto ao presente para Foucault,
aparecendo novamente em um escrito posterior intitulado “O que são as Luzes?”16, publicado
em 1984. Durante esta aula de janeiro de 1983, Foucault demonstra ver no texto de Kant um
aporte inovador na relação da prática filosófica com o tempo presente, posto que o filósofo
alemão teria procurado determinar um elemento no presente que o distinguiria de outros
momentos, um elemento que seria expressão de um processo que concerne ao pensamento e à
filosofia e que, além disso, incluiria o próprio estudioso como deste processo fazendo parte17 .
O escrito de Kant seria, pois, significativo pela demonstração da filosofia como discurso da
modernidade, da “filosofia como superfície de emergência de uma atualidade, filosofia como
interrogação sobre o sentido filosófico da atualidade a que ela pertence [...]”18. Ampliando
estas considerações, vemos novamente que a “interrogação sobre sua própria atualidade”19
estará compondo o que também Kant entende por presente, de onde se havia subtraído
parâmetros de categorias engessadas de tempo:
Ora, deve-se ver que o que Kant designa como o momento da Aufklärung não é nem
um pertencimento, nem uma iminência, nem uma consumação, não é nem sequer
exatamente uma passagem, uma transição de um estado a outro [...]. Ele define
simplesmente o momento presente como Augsgang, como saída, movimento pelo
qual nos desprendemos de alguma coisa, sem que nada seja dito para onde vamos. 20
Michel Foucault prossegue então comentando que esta “saída” kantiana referia-se à
“saída do homem da menoridade”, e retenho a ideia de presente como saída no sentido de
15
FOUCAULT apud ADORNO, F. P. A tarefa do intelectual: o modelo socrático. Op.Cit. p 43.
FOUCAULT, M. Dits et Écrits II, Op.Cit, pp. 1498-1507.
17
FOUCAULT, M. O governo de si e dos outros. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p.13.
18
Ibid. p. 14.
19
Ibid. p. 16.
20
Ibid. p. 27.
16
transformação, reconfiguração do que está, mas que, de todo modo, não é uma prefiguração
do futuro dentro da formatação de um processo histórico definido 21. Devido a essas ideias,
Foucault toma a Aufklärung como atitude de modernidade, frisando a ideia de atitude, em
contraposição à modernidade como período da história. Atitude pressupõe movimento,
mutação contínua, ação – é a Aufklärung como esclarecimento direcionando um ethos
filosófico, uma maneira de pensar e ser filosoficamente.
Ainda sobre a saída do homem da menoridade, o filósofo deixa claro que o problema
não está no existirem autoridades (exemplos: o livro, o diretor de consciência, o médico), mas
sim no uso que se faz delas: “é enfim uma certa maneira de se servir de seu saber próprio
acerca da sua própria vida, uma maneira tal que ele [o indivíduo] substitui o que pode saber,
decidir ou prever de sua própria vida pelo saber que um médico [ou outra autoridade] dela
possa ter”22. É bastante significativo, ainda, atentarmos para o que será designado como
agente da Aufklärung para Kant, aquele “que redistribui como convém o jogo entre
obediência e uso privado, universalidade e uso público”23: primeiramente este agente será
Frederico da Prússia, e depois, em outro texto, será a Revolução, enquanto fenômeno que gera
entusiasmo nas pessoas. A esta abordagem da Revolução como potência, acontecimento e
experiência do presente, percebamos que a ideia de Kant não era responder ao que era a
Aufklärung, formatando-a em parâmetros filosóficos bem acabados ou, ainda, prescrever qual
deveria ser a atitude dos indivíduos para que pudessem sair da menoridade. Kant desejava,
mais simplesmente, lançar estas problemáticas e instaurar o questionamento. Como nos
coloca José Eduardo Pimentel Filho em seu artigo “Kant e Foucault, da Aufklärung à
ontologia crítica”, “a resposta de Kant não se faz nem um caminho, nem um porto de
chegada, mas antes, uma Ausgang”24, uma saída dada enquanto ato. O objetivo é o ato de
questionar. A Revolução será parte de um instante significativo devido à repercussão
psicológica que gera nas pessoas, e não devido ao movimento em si, com seu jogo político de
partidos, governos e personalidades específicas:
21
A visada do que é o presente, ou do que é Aufklärung, será, portanto, diferente daquela posta em outras
épocas: “nem uma era do mundo à qual nós pertencemos, nem um acontecimento do qual percebemos os sinais,
nem a aurora de um cumprimento [accomplissement]. Ele não procura compreender o presente a partir de uma
totalidade ou de uma conclusão futura. Ele [Kant] procura uma diferença: qual diferença hoje introduz em
relação à ontem” (FOUCAULT, M. Dits et Écrits II. Op. Cit. p.1383).
22
FOUCAULT, M. O governo de si e dos outros. Op.Cit. p.30.
23
Ibid. p. 37.
24
PIMENTEL FILHO, J. E. Kant e Foucault, da aufklärung à ontologia crítica. Griot – Revista de Filosofia,
Amargosa, v.5, n.1, p.21-35, jun. 2012, p. 30.
[o texto de Kant se apresenta como um texto profético] sobre o sentido e o valor que
terá, não — mais uma vez — a Revolução, que de qualquer modo sempre corre o
risco de cair de volta na situação precedente, mas a Revolução como acontecimento,
como espécie de acontecimento cujo próprio conteúdo é sem importância, mas
cuja existência no passado constitui uma virtualidade permanente, constitui para a
história futura a garantia do não esquecimento [...].25
Para Kant, a Revolução seria um acontecimento de sinal “rememorativo,
demonstrativo e prognóstico" de um progresso26, mas que não consiste de forma alguma em
grandes gestos advindos de grandes homens políticos. Portadores de tais sinais, devemos
procurar distinguir os acontecimentos mais imperceptíveis. Foucault diz, com Kant, que não é
a Revolução em si que faz sentido,
[...] não é o drama revolucionário em si, não são as façanhas revolucionárias, não é a
gesticulação revolucionária. O significativo é a maneira como a Revolução faz
espetáculo, é a maneira como é recebida em toda a sua volta por espectadores que
não participam dela mas a veem, que assistem a ela e que, bem ou mal, se deixam
arrastar por ela. 27
Não importava, portanto, o futuro da Revolução em termos de êxito ou fracasso, o
“sinal de progresso” que se busca está “na cabeça dos que não fazem a Revolução, ou em todo
caso que não são seus atores principais. É a relação que eles próprios têm com essa Revolução
que não fazem, ou de que não são os atores essenciais. O significativo é o entusiasmo pela
Revolução”28. E este entusiasmo seria, por sua vez, representativo da vontade presente nas
pessoas, sinal de que “todos os homens consideram que é do direito de todos se dotar da
constituição política que lhes convém e que eles querem”29. A Revolução possuiria um valor
operacional só por existir; por, ao entrar no imaginário dos indivíduos, instaurar a
possibilidade do fazer diferente, numa ordem de coisas que poderiam vir a serem feitas
25
Ibid. p. 36.
Ibid. p. 17. A concepção de progresso torna-se problemática quando a encontramos no pensamento de
Foucault, justamente porque também vemos nele um repúdio a uma ideia geral de progresso. Cito um trecho do
artigo “Le désir de révolution”, de Lawrance Olivier e Sylvain Labbé: “A revolução como gesticulação
(mudança, transformação) não é um progresso, mas um sinal [signe] de progresso. A diferença é importante pois
é uma maneira de manter para a história sua indeterminação (seu caráter évenementiel). O sinal é aquilo que
permite dizer que há progresso mas, a partir do sinal, é impossível prever quando acontecerá um levante, ou
revoltas, nem o sentido ou a direção que vão tomar. As revoltas não são o resultado de sequencias históricas
indentificáveis, previsíveis ou que podem ser recompostas. [...] Ela é um progresso somente no sentido em que é
sinal desta disposição fundamental (de escolher para si um modo de governo que lhe convenha) e não a prova de
um progresso da humanidade em direção à uma sociedade melhor." (OLIVIER, L.; LABBÉ, S. Foucault et
l'Iran: À propos du désir de révolution. Canadian Journal of Political Science, n.24, p.219-236, 1991, vol. 24,
p.232).
27
FOUCAULT, M. O governo de si e dos outros. Op. Cit. p. 18.
28
Ibid. p. 19.
29
Idem.
26
outramente. É antes a consciência de que tal pode ocorrer do que o que afinal realmente
ocorrerá o que Kant e Foucault consideravam como importante. Focam-se no caráter
transformador do presente, e não em sua possibilidade programática. O bom e o justo nunca
serão implementações finalizadas, e o “entusiasmo” perante a revolta irá, justamente, “tornar
o poder mais frágil e os homens mais lúcidos”30. A lucidez é o que restará depois da
normalização política como algo adquirido pela experiência daqueles que viveram o processo
do levante.
Ainda nesta aula no Collège de France, Foucault refere-se a uma das tradições críticas
fundadas por Kant (sendo uma a filosofia crítica como analítica da verdade – em que um
conhecimento verdadeiro seria possível – e a outra como uma ontologia do presente):
Essa outra tradição crítica não coloca a questão das condições em que um
conhecimento verdadeiro é possível, é uma tradição que coloca a questão de: o que
é a atualidade? Qual é o campo atual das nossas experiências? Qual é o campo
atual das experiências possíveis? Não se trata, nesse caso, de uma analítica da
verdade. Tratar-se-ia do que poderíamos chamar de uma ontologia do presente, uma
ontologia da atualidade, uma ontologia da modernidade, uma ontologia de nós
mesmos. 31
Faz-se necessário, portanto, atentarmos também a esta concepção de ontologia, pois
ela indicará a tônica do diagnóstico do presente e o direcionamento da ação intelectual.
Segundo Pimentel Filho, é preciso primeiramente que distingamos dois tipos de metafísica: a
tradicional, do “ser enquanto ser”, que “diz a essência das coisas, a verdade primeira, íntima e
última sobre cada objeto” e outro tipo de metafísica “dos extra-seres, dos seres corruptíveis e
permeáveis, dispostos no devir [...], dos seres que se dão nos acontecimentos” 32 – metafísica
esta que orientaria Foucault no seu entendimento sobre a ontologia. Vemos, tanto a partir do
que já foi dito sobre o diagnóstico do presente quanto a partir da citação da aula de Foucault,
que a ontologia será para ele uma atitude filosófica que pressupõe movimento, que se dá no
limiar e no fronteiriço, não servindo para “arrematar” concepções. É por isso que também é
“ontologia do acontecimento”, acontecimento enquanto explosão de uma experiência,
[...] como um espaço no qual os seres estão em movimento, em jogo, e que nele
podem tomar formas diferentes, inclusive para ultrapassar os limites que lhes são
impostos. Eis uma diferença crucial desta ontologia crítica em relação ao modus
ROY, O. L’énigme du soulevement: Foucault et l’Iran. Vacarme, v.29, 2004. Disponível em:
<http://www.vacarme.org/article1366.html>. Acesso em: 03 abr. 2012.
31
FOUCAULT, M. O governo de si e dos outros. Op. Cit., p. 21.
32
PIMENTEL FILHO, J. E. Kant e Foucault, da aufklärung à ontologia crítica. Op.Cit, p. 24.
30
operandi da ontologia clássica, que realiza uma imposição dos seres sob os objetos e
os acontecimentos. Quando Foucault aproxima “ontologia e êthos” ele rompe com a
última barreira da visão ontológica clássica. Foucault nos permite reconhecer a
mobilidade na ontologia assim como a mobilidade da ontologia. Uma ontologia
como atitude, como ação, como prática (prática de nós, prática na atualidade).33
Ainda com Pimentel Filho, lembrando os diversos nomes desta ontologia foucaultiana
que a caracterizam ao mesmo tempo em que a definem (ontologia do presente, da atualidade,
ontologia histórica, ontologia crítica de nós mesmos34), reforça-se tanto o entendimento de
que o presente seria “incapturável, móvel, permeável por outros presentes possíveis” como
também de que seria algo que exige uma recolocação bastante particular do papel do sujeito
nesta concepção de ontologia – se ela é uma ação que permite ao indivíduo a saída de um
determinado estado de menoridade, requer-se um agente para tal atitude. Encontramos, assim,
a ideia da preocupação de si e construção de si enquanto processos infinitos, uma vez que,
como nos coloca o autor do artigo, esta concepção de ontologia não é a dos antigos, que
excluiria o sujeito de sua investigação, nem aquela de Descartes ou Hume, que inclui
exclusivamente o sujeito pela crença na existência da consciência, mas uma visada da
ontologia que faz do indivíduo o motor de sua transformação e de seu esclarecimento – faz
dele, enfim, um “crítico de si mesmo”.
Finalmente, temos ainda a acepção de “ontologia histórica”, que parece reunir todos os
outros aspectos, porque se torna pressuposto de todo o resto ao demonstrar que esta ontologia
é inalienável ao homem. A ontologia permite a transformação e o esclarecimento porque
ela nos permite falar de nós mesmos, e assim reavaliarmo-nos em nossos papéis –
sejam papéis impostos ou escolhidos. E segundo, porque essa capacidade de
reavaliar-nos é também histórica. Quer dizer, voltamo-nos sobre nossa própria
história e a recompomos conforme nossa crítica a respeito dela. Assim, o que a
ontologia crítica permite é que nos tornemos historiadores de nós mesmos35.
O “diagnóstico do presente” pode, finalmente, indicar o sentido da obra de Michel
Foucault, caracterizando e justificando seu trabalho, aparecendo sob variadas expressões, mas
figurando sempre como cerne das discussões em que o filósofo falava sobre sua própria
prática. Exemplo desta abrangência pode ainda ser notado na relação entre seu trabalho dos
últimos anos, o de fazer um estudo sobre a história do pensamento (“História dos sistemas de
33
Ibid. p. 27. Grifos do autor.
Ibid, p. 32.
35
Ibid, p. 35.
34
pensamento”, título de sua cátedra no Collège de France, onde lecionou de 1970 a 1984) e a
ideia de diagnóstico, uma vez que o projeto seria o de afastar-se de métodos como o da
história das mentalidades ou o da história das representações, em busca de um estudo voltado
para o pensamento, para os “focos de experiência” enquanto “formas de um saber possível,
matrizes normativas de comportamento, modos de existência virtuais para sujeitos
possíveis”36.
A empreitada de debruçar-se sobre o presente não significou interpretá-lo pelo passado
para estabelecer continuidades, nem voltar ao passado para dar-lhe novo sentido a partir de
questões contemporâneas37. Fazendo distinção entre presente e atualidade, Deleuze e Guattari,
em seu O que é a filosofia? dizem ser necessário "diagnosticar nossos devires atuais",
comentando que "o atual não é o que somos, mas antes o que nos tornamos, o que estamos
nos tornando, isto é, o Outro, nosso devir-outro. O presente, ao contrário, é o que somos e, por
isso mesmo, o que já deixamos de ser"38. Diagnosticar o presente será, portanto, construí-lo
mais do que descobri-lo, sendo o diagnóstico um potente mecanismo de ação, e não apenas de
contemplação ou descrição da realidade.
Referências Bibliográficas
ADORNO, F. P. A tarefa do intelectual: o modelo socrático. In: GROS, F. (Org.). Foucault: a
coragem da verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2004
DELEUZE, G. ; GUATARRI, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
ÉRIBON, D. Foucault dans l’actualité. 31 ago. 2007. Site pessoal de Didier Eribon.
Disponível em: <http:// didiereribon.blogspot.com.br/2007/09/foucault-dans-lactualit.html>.
Acesso em: 10 jun. 2013
FOUCAULT, M. O governo de si e dos outros. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
FOUCAULT, M. Dits et Écrits I e II, ed. Paris, Éditions Gallimard, 2001.
GROS, F. Michel Foucault. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2012.
HABERMAS, J. Une flèche dans le coeur du temps présent. Critique, n.471, p.794-799.
KANT, I. Resposta à pergunta: que é Esclarecimento? Tradução de Luiz Paulo Rouanet.
Brasília: Casa das Musas, 2008
MURICY, K. O heroísmo do presente. Tempo Social, São Paulo, v.7, n.1/2, p.31-44, out.
1995 ago/set 1986.
OLIVIER, L.; LABBÉ, S. Foucault et l'Iran: À propos du désir de révolution. Canadian
Journal of Political Science, n.24, p.219-236, 1991, vol. 24.
PIMENTEL FILHO, J. E. Kant e Foucault, da aufklärung à ontologia crítica. Griot – Revista
de Filosofia, Amargosa, v.5, n.1, p.21-35, jun. 2012.
ROY, O. L’énigme du soulevement: Foucault et l’Iran. Vacarme, v.29, 2004. Disponível em:
<http://www.vacarme.org/article1366.html>. Acesso em: 03 abr. 2012
36
FOUCAULT, M. O governo de si e dos outros. Op. Cit, .p. 5.
MURICY, K. O heroísmo do presente. Tempo Social, São Paulo, v.7, n.1/2, p.31-44, out. 1995.
38
DELEUZE, G. ; GUATARRI, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992, p. 135.
37
A resposta contrastivista ao ceticismo
Gregory Gaboardi1
Resumo: o contrastivismo epistêmico (conforme formulado por Jonathan Schaffer) oferece
uma resposta ao ceticismo sobre nosso conhecimento do mundo exterior. Apresentaremos
essa resposta e a objeção de Duncan Pritchard a ela. Por fim, apontaremos uma saída para o
contrastivista diante da objeção.
Palavras-chave: ceticismo; conhecimento contrastivo.
1. INTRODUÇÃO
Considere esta formulação do argumento cético contra nosso conhecimento do mundo
exterior (“A” representa o agente epistêmico, “E” representa uma proposição qualquer sobre o
mundo exterior que assumimos que conhecemos em condições normais, como “Tenho mãos”,
e “HC” é a hipótese cética, uma proposição inconsistente com E que normalmente assumimos
que não sabemos se é falsa, como “Sou um cérebro em uma cuba”)2:
(C1) A não sabe que não-HC.
(C2) Se A não sabe que não-HC, então A não sabe que E.
(CC) A não sabe que E.
São conhecidos três tipos de resposta que tentam evitar a conclusão desse argumento.
O primeiro tipo é o das respostas que negam C2, que com isso negam o princípio do
fechamento epistêmico (que diz, grosso modo, que se sabemos que P, e que P implica Q,
então sabemos que Q). O segundo tipo é o das respostas que negam C1, que com isso
precisam explicar como podemos saber que não-HC (e porque parece que não sabemos que
não-HC). O terceiro tipo é o das respostas contextualistas, que revisam o significado de
“sabe” e sustentam que ele é um termo sensível ao contexto, por exemplo3.
Cada tipo de resposta enfrenta problemas. Como o princípio do fechamento epistêmico
é extremamente plausível, alguns autores defendem que negar C2 é uma causa perdida4.
Defender que o significado de “sabe” varia de acordo com o contexto também não é
particularmente plausível, pois compromete a estabilidade epistêmica (discutiremos isso na
1
Graduado em Comunicação Social pela UFRGS. Contato: [email protected]
Embora possam mudar as variáveis e a forma lógica, essa já se tornou a formulação padrão do argumento
cético. Aqui seguiremos à risca a formulação de Pritchard (2008) pela conveniência de discutir nos termos dele.
3
Não nos aprofundaremos nesses tipos de resposta, eles servirão apenas para comparações.
4
(Feldman, 1995; Pritchard, 2008).
2
próxima seção). Negar C1, por fim, não é uma resposta modesta (é inconsistente com a
impossibilidade de saber que não-HC), ao contrário das duas respostas anteriores, e por isso
seria preterível diante de respostas que preservassem a intuição de que talvez C1 seja
necessariamente verdadeira.
No que segue apresentaremos um quarto tipo de resposta, a contrastivista, que tenta
ser modesta (consistente com a impossibilidade de saber que não-HC) sem enfrentar os
problemas dos outros dois tipos de respostas. Depois apresentaremos uma objeção de Duncan
Pritchard à resposta contrastivista, que será discutida na penúltima seção do artigo (onde
apontaremos uma saída para o contrastivismo).
2. A RESPOSTA CONTRASTIVISTA
O contrastivismo epistêmico5 é a tese de que a relação de conhecimento
(tradicionalmente vista como uma relação binária entre agentes epistêmicos e proposições,
cuja forma expressaríamos por “A sabe que P”) é uma relação ternária entre um agente
epistêmico, uma proposição (que é a proposição conhecida) e uma classe de contraste (uma
proposição potencialmente complexa composta pelas proposições que eliminamos ao aceitar a
proposição conhecida) cuja forma expressaríamos por “A sabe que P em vez de Q”.
Conforme formulado e defendido por Schaffer6, o contrastivismo é uma tese geral
(toda instância de conhecimento seria ternária e contrastiva) sobre a própria relação de
conhecimento (não sobre nosso conceito de conhecimento). O que o contrastivismo faz é
tornar nossa capacidade discriminatória (de discriminar evidências e contrapor proposições)
algo intrínseco à nossa capacidade de ter conhecimento. Essa capacidade discriminatória é
usada, por exemplo, ao reconhecermos que certa experiência visual apoia uma crença (como
“Há um tomate na minha frente”) em vez de outra (como “Há uma maçã na minha frente”) na
medida em que discriminamos as experiências que apoiariam cada crença. Pela mesma razão
podemos não reconhecer que certa experiência visual apoia uma crença (como “Há um tomate
inteiro na minha frente”) em vez de outra (como “Há uma fatia de tomate na minha frente”)
5
Abordaremos somente o contrastivismo epistêmico, mas existe contrastivismo em outras áreas, por exemplo:
contrastivismo moral, contrastivismo causal, contrastivismo sobre crenças, etc. (Blaauw, 2012; SinnottArmstrong, 2008). Mesmo dentro do contrastivismo epistêmico encontramos diferentes propostas (Karjalainen e
Morton, 2003; Sinnott-Armstrong, 2008), mas aqui nos apoiaremos somente no trabalho de Jonathan Schaffer
(pela atenção que este já recebeu na literatura).
6
A formulação mais geral e completa do contrastivismo epistêmico de Schaffer está no artigo Contrastive
Knowledge (2005).
porque não conseguimos discriminar na própria experiência (pela posição do tomate no nosso
campo visual, por exemplo) qual crença seria apoiada.
Assim, de acordo com o contrastivismo nunca saberíamos que certa proposição é
verdadeira simpliciter, saberíamos apenas que certa proposição é verdadeira relativamente a
uma classe de contraste: não sabemos que temos mãos simpliciter, sabemos que temos mãos
em vez de próteses, por exemplo. Não sabemos que chove, sabemos que chove em vez de
nevar. O detalhe importante aí é que se mudamos a classe de contraste, então muda nosso
estado epistêmico e podemos deixar de saber. Por exemplo: sabemos que temos mãos em vez
de próteses, mas não sabemos que temos mãos em vez de sensações de mãos produzidas por
um computador que nos alimenta com experiências simuladas; sabemos que chove em vez de
nevar, mas não sabemos que chove em vez de que está caindo uma chuva cenográfica.
Podemos diminuir ou aumentar a quantidade de proposições na classe de contraste, mas ela
estará sempre presente e será determinante para que tenhamos conhecimento ou não.
O que determina quais proposições compõem a classe de contraste são questões
implícitas ou explícitas em cada contexto. Tais questões especificam as alternativas
relevantes: no contexto em que o indivíduo sabe que chove a questão relevante poderia ser
formulada como “Está chovendo, nevando ou o tempo está ensolarado?”, em outro contexto
poderia ser “Está chovendo ou há uma chuva cenográfica sendo produzida?”7. Portanto, em
toda instância de conhecimento haveriam questões implícitas que poderiam ser recuperadas
para identificarmos o contexto e as proposições que comporiam a classe de contraste.
Há diferentes argumentos em defesa do contrastivismo, mas discutiremos somente o
de que ele seria a melhor solução para o argumento cético8. O contrastivista enfrenta o
problema alegando que o cético altera indevidamente as classes de contraste relevantes. Ou
seja, quando o cético estabelece que “A não sabe que E” ele está implicitamente dizendo: “A
não sabe que E em vez de HC”. Ocorre que essa proposição não seria inconsistente, por
exemplo, com “A sabe que E em vez de Q” (sendo “Q” alguma proposição sobre o mundo
exterior que normalmente poderíamos saber que é falsa). É plausível que o indivíduo consiga
7
Schaffer parece pressupor que quando há conhecimento cabem afirmações (ou a capacidade de fazê-las) de
posse desse conhecimento por parte dos agentes epistêmicos (não haveria questões implícitas ou explícitas em
contextos nos quais ninguém pudesse afirmar algo, ou que sabe alguma coisa, e por isso tampouco haveria
conhecimento). Veremos na quarta seção que Pritchard identifica um problema importante nesse pressuposto.
8
Em seus textos Schaffer oferece também argumentos que tentam estabelecer o contrastivismo com base na
natureza de nossas atribuições de conhecimento ou no funcionamento da busca por conhecimento. Um exemplo
de argumento do primeiro tipo é o que se baseia na premissa de que atribuições de conhecimento pressupõem
que os agentes epistêmicos são capazes de responder perguntas e eliminar alternativas (Schaffer, 2005, pp.240241), um exemplo de argumento do segundo tipo é o que se baseia na premissa de que o avanço na busca por
conhecimento depende de que respondamos certas perguntas e, fazendo isso, eliminemos alternativas em cada
estágio da investigação (Schaffer, 2005, pp. 241-242).
eliminar algumas alternativas entre as que consegue discriminar pelas evidências, mesmo que
não consiga eliminar todas, e que esse estado intermediário constitua conhecimento.
Se o conhecimento for ternário e contrastivo, então nada impede que um indivíduo
saiba que tem mãos em vez de próteses, mas não saiba que tem mãos em vez ser um cérebro
em uma cuba com sensações de mãos geradas por um computador. É um resultado que se
ajusta com algumas intuições sobre nossa situação epistêmica. Além disso, a resposta
contrastivista teria outros méritos: a modéstia e o respeito ao fechamento epistêmico. Esses
méritos tornariam o contrastivismo preferível em relação aos dois primeiros tipos de resposta
ao argumento cético que consideramos.
A modéstia está em ser consistente com a impossibilidade de que saibamos que nãoHC (embora o contrastivismo não implique essa impossibilidade). Já o respeito pelo
fechamento epistêmico é mais delicado, mas poderíamos adaptar tal princípio ao
conhecimento contrastivo através de esquemas como (onde “P”; “P*”; “Q” e “Q*”
representam proposições quaisquer) “Se P implica P*, então (A sabe que P em vez de Q)
implica (A sabe que P* em vez de Q)” e “Se Q implica Q*, então (A sabe que P em vez de Q)
implica (A sabe que P em vez de Q*)”9. Esses méritos não bastam, contudo, para deixar o
contrastivismo em vantagem diante do contextualismo, o terceiro tipo de resposta ao
argumento cético.
Schaffer oferece diversas razões pelas quais o contrastivismo seria superior ao
contextualismo (em suas várias formas)10, aqui basta destacar uma: o contrastivismo assegura
a estabilidade epistêmica. Se o conhecimento for contrastivo o indivíduo pode sempre saber
que tem mãos em vez de próteses e nunca saber que tem mãos em vez de sensações de mãos
geradas por um computador, enquanto o contextualista concede que esses estados epistêmicos
oscilariam de modo mais ou menos arbitrário, o que não é muito plausível. Por exemplo: o
indivíduo saberia que tem mãos no tribunal, mas não saberia que tem mãos na aula de
Filosofia.
Assim, o contrastivismo é plausível o suficiente para ser um quarto tipo de resposta
que poderíamos dar ao cético. Se Schaffer estiver certo é o melhor tipo: é modesto, respeita o
fechamento epistêmico e assegura a estabilidade epistêmica.
9
(Schaffer, 2007).
Particularmente nos artigos From Contextualism to Contrastivism (2004) e Contrastive Knowledge (2005).
10
3. A OBJEÇÃO DE PRITCHARD11
Pritchard objeta que o contrastivista não escapa de um dilema: ou ele aceita o
externismo epistêmico, e então o contrastivismo é desnecessário contra o cético; ou aceita o
internismo epistêmico, e então o contrastivismo é insatisfatório. Assim, a resposta
contrastivista ao ceticismo não seria a melhor disponível. Vejamos agora os detalhes desse
argumento.
A primeira (e mais plausível) premissa é a distinção entre internismo e externismo
epistêmico (que
esgotam
as
possibilidades:
independentemente
de aceitarmos o
contrastivismo aceitaremos ou o internismo ou o externismo). Segundo Pritchard, o
internismo epistêmico é a tese de que para a posse do conhecimento há uma condição
necessária de acessibilidade: quando possui conhecimento o agente epistêmico pode acessar,
pela pura reflexão sobre seus conteúdos e estados mentais, se a condição que faz certa crença
constituir conhecimento foi satisfeita. Tipicamente, quando satisfeita, essa condição torna
certas razões justificação para uma crença (o que envolve, além da posse das razões, o
reconhecimento de que são razões para a aceitação da crença). O externismo é a negação do
internismo: a acessibilidade não é condição necessária para que tenhamos conhecimento. Nem
internismo e nem externismo implicam o contrastivismo, que por si só não é internista nem
externista, mas inevitavelmente o contrastivista terá que aceitar um dos dois.
Ser internista ou externista não basta para resolver o problema do ceticismo.
Entretanto, uma vez que, seguindo Pritchard, assumimos que negar o fechamento epistêmico
está fora de questão, e suspendemos juízo sobre o contrastivismo, restam apenas as respostas
internistas e externistas binárias (possivelmente contextualistas) e sem modéstia: as respostas
não podem ser modestas porque para evitar a conclusão cética só restaria rejeitar C1 e
defender que sabemos que não-HC (pelas condições contextualistas ou confiabilistas, por
exemplo). Cabe notar que o contrastivismo não impede que possamos saber que não-HC, sua
modéstia se deve somente ao fato dele ser consistente com a impossibilidade de que saibamos
que não-HC. Portanto, o contrastivismo tem que se sair melhor que essas respostas, que
implicam que podemos saber que a hipótese cética é falsa.
Para esclarecer as relações entre as posições Pritchard formula o seguinte princípio
(que chama de “princípio da subdeterminação”):
11
(Pritchard, 2008).
(SUB) Para todo S, P, Q, se S não tem evidência adequada que favoreça P sobre Q, e S sabe
que P implica não-Q, então S não sabe que P.
O princípio expressa a tese de que as evidências só fornecem apoio epistêmico para
crenças quando favorecem algumas crenças em detrimento de outras. Esse princípio seria
assumido tanto pelos internistas quanto pelos externistas. É um princípio muito plausível, de
acordo com Pritchard, que seguimos nas nossas práticas epistêmicas corriqueiras. Por
exemplo: se em certo momento a evidência do indivíduo não favorece a crença de que ele está
no trabalho (em oposição à crença incompatível de que ele está em casa), então o indivíduo
não tem evidência adequada para acreditar que está no trabalho e não saberá que está no
trabalho. No entanto, internistas e externistas que defendem que podemos saber que não-HC
se dividem sobre “SUB”. Os externistas podem aceitar “SUB” sem ressalvas, pois não será
condição necessária de adequação para evidências que elas sejam acessíveis, de modo que o
agente epistêmico pode ter evidências adequadas favorecendo não-HC sem saber que as tem.
Os internistas precisam fazer uma ressalva. Caso aceitem “SUB” e aceitem que o
cético nos coloca em um cenário em que “SUB” implicaria que não temos conhecimento
(porque as evidências que teríamos para não-HC seriam indiscerníveis das que teríamos para
HC), mas pensem que sabemos que não-HC, terão que conceder que ao menos algumas
crenças sejam conhecimento sem que tenhamos acesso às suas evidências, sem que pareçam
ter qualquer evidência favorecedora. Para as demais crenças, porém, a acessibilidade
continuaria sendo condição necessária para o conhecimento. Essas considerações preparam o
terreno para o dilema de Pritchard.
A primeira alternativa do dilema é esta: o externismo (como resposta ao cético) por
natureza não é modesto e, portanto, não é consistente com o contrastivismo. Logo, o
contrastivismo será preferível diante do externismo apenas se houverem razões independentes
para aceitarmos que é impossível saber que não-HC (o contrastivismo por si só não oferece
razão alguma). Mas, abandonando a modéstia (que não é essencial ao contrastivismo)
poderíamos defender um contrastivismo externista. O problema nesse caso é que o
contrastivismo se tornaria desnecessário: o externista pode sustentar, conforme Pritchard
sugere, que há uma condição de segurança para o conhecimento. Nesse caso uma crença
qualquer só constituiria conhecimento se nos mundos possíveis mais próximos em que a
tivéssemos ela continuasse verdadeira, de modo que poderíamos considerar a capacidade de
separar os mundos possíveis mais próximos dos mais distantes uma capacidade
discriminatória (o que é verdadeiro em cada mundo teria efeitos regularmente discrimináveis
para as fontes do nosso conhecimento). O externista não precisaria revisar a forma da relação
de conhecimento para defender a importância epistêmica da capacidade de discriminar
evidências, mesmo que pareça estranho não exigir que essa discriminação seja acessível à
reflexão. Portanto, a segunda premissa do argumento de Pritchard é que se o externismo for
aceito, então o contrastivismo é desnecessário. Logo, resta ao contrastivista a defesa da
modéstia e do internismo.
A segunda alternativa do dilema mostra que se o contrastivista aceita o internismo,
então o contrastivismo é insatisfatório. O problema (que também ocorre na alternativa
externista, mas é mais grave no internismo) é que o contrastivismo é inconsistente com
“SUB” e não consegue contornar isso de maneira satisfatória (mostrando que vale a pena abrir
exceções para “SUB” sem abandonar a modéstia). Da mesma forma que o fechamento
epistêmico, “SUB” poderia ser reformulado em termos contrastivistas, mas não está claro se,
dado o internismo, essa reformulação não seria ad hoc: o contrastivista defenderia que por
mais que certa evidência seja acessível e favoreça alguma crença comum, essa evidência
deixaria de fornecer apoio epistêmico precisamente contra o cético.
Pritchard oferece um exemplo que elucida o problema: imagine um indivíduo que está
no zoológico diante de uma zebra. Segundo o contrastivismo o indivíduo poderá saber (por
evidências acessíveis) que há uma zebra diante dele em vez de uma girafa, mas ainda assim
não ter evidências que favoreçam a crença de que está diante de uma zebra em vez de uma
mula disfarçada de zebra, e desse modo não saberia que está diante de uma zebra dado tal
contraste. Assumindo somente o internismo, essa situação é plausível? Suponha que as
evidências acessadas pelo indivíduo incluem a) a experiência de ver um objeto que parece
uma zebra (sendo que o indivíduo sabe como zebras se parecem); b) uma boa razão para
pensar que seus sentidos estão funcionando bem e c) uma boa razão para pensar que não há
evidências contrárias sendo ignoradas (como uma placa que dissesse “Atenção: isto não é
realmente uma zebra”). Dadas todas essas evidências, por que não é eliminado o contraste da
mula disfarçada? Mesmo que na ocasião o indivíduo não pudesse diferenciar uma zebra de
uma mula disfarçada, se ignorarmos os contrastes céticos, o que nos impediria qua internistas
de julgar que o indivíduo sabe que está diante de uma zebra em vez de uma mula disfarçada?
Afinal, não haveria nenhuma boa razão para o indivíduo crer que estaria sendo enganado.
O contrastivismo só se tornaria razoável ao considerarmos os contrastes das hipóteses
céticas (no lugar de uma hipótese como a da mula disfarçada de zebra), os casos em que não
saberíamos a proposição relevante em virtude de “SUB”. Assim, tudo que o contrastivismo
mostraria é que enquanto ignoramos o cético podemos pensar que as evidências favorecem
certas proposições, sem mostrar porque a mera aceitação do contraste cético compromete
evidências que até então seriam perfeitamente adequadas e conclusivas para os padrões
internistas. Retomando o exemplo da zebra: se o indivíduo considerar a possibilidade de ser
vítima de um cenário cético (de estar diante de uma zebra simulada), subitamente
abandonaremos a evidência b. Só que esse abandono parece gratuito. O contrastivista faz com
que saibamos certas coisas só porque ignoramos o contraste cético (não por alguma
característica contrastiva geral do nosso conhecimento, que mostre porque as mudanças de
contraste afetam nossas evidências), o que é muito artificial, ad hoc. Portanto, se aceitamos o
internismo, então o contrastivismo é insatisfatório.
Assim, a conclusão do dilema de Pritchard é que o contrastivismo é desnecessário ou
insatisfatório. As saídas mais plausíveis são: i) defender que é falso que se o internismo for
aceito, então o contrastivismo é insatisfatório ou ii) defender que é falso que se o externismo
for aceito, então o contrastivismo é desnecessário. A saída i parece menos promissora porque
aparentemente exige que o contrastivismo arrisque a estabilidade epistêmica: na busca por
uma explicação satisfatória teríamos que encontrar uma regra que especificasse quais questões
podem determinar os contrastes em cada contexto (quais contrastes podem efetivamente
entrar na classe de contraste), e é difícil conceber que tal regra não seja mais ou menos
arbitrária (ela seria muito similar aos critérios contextualistas para determinação das
condições de atribuição do conhecimento, por exemplo). A saída ii exige o sacrifício da
modéstia, mas parece mais promissor esperar que as teorias externistas justifiquem esse
sacrifício do que esperar que os contrastivistas assegurem e expliquem a estabilidade
epistêmica. Aqui também pesa a consideração de que o externismo se acomoda mais
facilmente com “SUB” (sem a condição de acessibilidade “SUB” não se choca tão
diretamente com o contrastivismo), e por essas razões investigaremos como o contrastivista
pode defender a saída ii.
4. UMA SAÍDA PARA O CONTRASTIVISMO
Pritchard observa que o erro do contrastivista seria confundir condições em que se
pode afirmar a posse do conhecimento (condições para o indivíduo afirmar “Sei que P”) com
as condições da posse do conhecimento (condições para o indivíduo saber que P). Ao
afirmarmos que possuímos certo conhecimento nos colocamos em posição de oferecer razões
que justificam esse conhecimento, de modo que ter tais razões é condição necessária para
afirmarmos honestamente que possuímos conhecimento. Geralmente afirmamos a posse de
certo conhecimento exatamente nos casos em que queremos reforçar para as demais pessoas
que temos tal conhecimento: quando nos desafiam ou nos apontam alguma possibilidade
relevante de erro. Por exemplo: se perguntam ao indivíduo “Que horas são?” ele pode
simplesmente responder “São onze horas”, mas se observam que recentemente entramos no
horário de verão o indivíduo pode afirmar “Eu sei que são onze horas”, e nesse caso indica
que tem razões para pensar tal coisa (talvez ele afirme saber por lembrar que ajustou seu
relógio e julgar que pode apresentar essa justificação).
Varia o rigor da expectativa que esperamos que o indivíduo preencha ao afirmar que
sabe alguma coisa, mas invariavelmente essa expectativa acompanhará a afirmação da posse
do conhecimento. E, principalmente, assumiremos que o indivíduo é capaz de discriminar as
possibilidades relevantes, os contrastes, e nos justificar como ele sabe que, por exemplo, são
onze horas em vez de meio-dia. Pritchard considera esse aspecto fundamental: “Alegações de
conhecimento apropriadas assim refletem a classe de contraste saliente em questão nesse
contexto”12 (no contexto da alegação).
Nada disso implica, porém, que para ter certo conhecimento o indivíduo precise
afirmar (ou ser capaz de afirmar) que o tem, e sustentar isso seria o erro do contrastivista. O
que podemos perguntar é se esse erro seria maciço: se a posse de nenhum tipo de
conhecimento exige a capacidade de ser afirmada. Há muitos casos que não exigem (o
conhecimento baseado na percepção é o caso paradigmático, não importando se somos
internistas ou externistas), mas não é óbvio que nenhum caso exija.
Um caso que parece exigir esse tipo de conhecimento é o da própria questão de como
responder ao argumento cético. Lembremos que para evitar a conclusão cética temos que
considerar a disjunção formada por pelo menos quatro tipos de resposta (os três que vimos na
introdução e o contrastivismo). É implausível supor que alguém poderia saber a resposta certa
sem ser capaz de afirmar que a sabe. Talvez por humildade ou insegurança o indivíduo que
soubesse a resposta preferisse não afirmar “Sei qual é a resposta para o argumento cético”,
mas isso não mostra que ele não seria necessariamente capaz (ou que poderia ser
absolutamente incapaz) de afirmar (talvez verdadeira e justificadamente) que sabe a resposta.
O conhecimento da resposta ao argumento cético parece ser, desse modo, um caso em que a
capacidade de afirmar a posse do conhecimento é condição necessária para a posse desse
conhecimento.
Poderia ser objetado o seguinte: se o externismo for verdadeiro, então plausivelmente
muitos indivíduos saberão que não-HC. Dificilmente, porém, esses indivíduos precisariam ser
“Appropriate claims to know thus reflect the salient contrast class at issue in that context.” (Pritchard, 2008,
p.313)
12
capazes de afirmar que sabem que não-HC, e ainda assim saberiam que o cético está errado.
Só que esse contraexemplo não funciona porque saber que não-HC é diferente de saber a
resposta ao argumento cético, ou mesmo de saber que o externismo é verdadeiro. Se o
externismo for verdadeiro, então muita gente sabe que não-HC, o que não implica que muita
gente saiba que “O argumento cético falha porque o externismo é verdadeiro”, por exemplo.
Assim, a primeira premissa de nossa defesa do contrastivismo é que se pode haver
conhecimento sobre qual é a resposta correta ao argumento cético, então esse conhecimento
será do tipo que depende da capacidade de afirmar posse. A segunda premissa, que Pritchard
concede ao dizer que “Alegações de conhecimento apropriadas assim refletem a classe de
contraste saliente em questão nesse contexto.”, é que esse tipo de conhecimento, se existe, é
contrastivo. Isso também parece particularmente plausível no caso da resposta ao cético, pois
como vimos essa resposta exigiria a consideração da disjunção de no mínimo quatro tipos de
resposta, e por isso se ajustaria naturalmente na forma contrastiva. Aqui poderia ser objetado
que, conforme Pritchard argumentou, a defesa de algo como uma condição de segurança para
o conhecimento faria com que não precisássemos assumir que a relação de conhecimento é
ternária e contrastiva. O problema é que essa objeção soa ad hoc: se reconhece que a
capacidade de discriminar tem um papel epistêmico importante, que ela resultaria na
formação de uma classe de contraste, e que mudanças na classe de contraste implicariam em
mudanças no estado epistêmico do agente (alterariam o valor de verdade de proposições da
forma “A sabe que P”), sem, com isso, a classe de contraste ser um termo na relação de
conhecimento. Agora, o que mais seria razoável exigir para aceitarmos que o conhecimento é
ternário em vez de binário? Uma vez que a alteração da classe de contraste é sistematicamente
importante para o estado epistêmico, e que o contrastivismo acomoda isso fazendo justiça à
nossa intuição sobre o papel da capacidade de discriminar, então prima facie não há porque
manter que a relação de conhecimento é binária (ou somente binária). Mesmo porque, embora
uma condição de segurança dependa de que tenhamos uma capacidade discriminatória com
importância epistêmica, ela não mostra exatamente o que é que torna a discriminação
importante (por que a discriminação se correlaciona com a obtenção de conhecimento? O
binarista não poderá responder que é por ser contrastiva).
Nossa terceira premissa em defesa da saída ii é que se o externismo é aceitável, então
buscar a resposta ao argumento cético é buscar por conhecimento. Quem poderia rejeitá-la é
quem pensa que o ceticismo é um pseudoproblema ou que não é um problema que desafia
nosso conhecimento, mas apenas nossas competências argumentativas (ou seja, seria um
exercício dialético que não afetaria o conhecimento que de fato temos ou podemos ter).
Contudo, como justificar a terceira premissa foge completamente do alcance deste trabalho,
ela será somente enunciada (Pritchard defende explicitamente que não teríamos como afirmar
que conhecemos as proposições anticéticas13, mas porque ele assume que não há
conhecimento que, para ser possuído, exige que o agente tenha a capacidade de afirmar sua
posse).
Uma vez que o externismo é aceitável, buscar a resposta para o argumento cético é
buscar por conhecimento contrastivo. Portanto, se aceitamos o contrastivismo, devemos
defender que a primeira alternativa de Pritchard é falsa: não é o caso que, se aceitamos o
externismo, então o contrastivismo é desnecessário. Muito pelo contrário.
5. CONCLUSÃO
O contrastivismo é uma tese radical, revisionária, que precisa ser atenuada para evitar
objeções como a de Pritchard. Não exploramos a possibilidade do contrastivista aceitar o
internismo e defender sua posição em virtude da modéstia, do respeito pelo fechamento
epistêmico e pela estabilidade epistêmica (que seria difícil de manter). Nos parece, pelas
razões expostas, que é mais promissor abandonar a modéstia e aceitar o externismo.
Adotar a saída defendida implica reconhecer, no entanto, que o contrastivismo é
incapaz de solucionar diretamente o problema cético. Devemos sustentar, em vez disso, que o
contrastivismo é indiretamente necessário se temos a convicção de que a busca por uma
solução para o problema cético é uma busca por conhecimento. Isto é, se algum dia
conhecermos a solução, plausivelmente esse conhecimento será contrastivo.
REFERÊNCIAS
BLAAUW, Martijn (ed.). Contrastivism in Philosophy. New York: Routledge, 2012, 177 pp.
FELDMAN, R. “In Defence of Closure”. In: The Philosophical Quarterly. St. Andrews, vol.
45, n. 181, pp. 487-494, 1995.
KARJALAINEN, A.; MORTON, A. “Contrastive Knowledge”. In: Philosophical
Explorations: An International Journal for the Philosophy of Mind and Action. New York,
vol. 6, n. 2, pp. 74-89, 2003.
PRITCHARD, D. “Contrastivism, Evidence, and Scepticism”. In: Social Epistemology: A
Journal of Knowledge, Culture and Policy. Oxford, vol. 22, n. 3, pp. 305-323, 2008.
SCHAFFER, J. “From Contextualism to Contrastivism”. In: Philosophical Studies. Cham,
vol. 119, n.1, pp. 73-103, 2004.
13
(Pritchard, 2008, p.313)
__________, “Contrastive Knowledge”. In: GENDLER, T. S.; HAWTHORNE, J. (eds.).
Oxford Studies in Epistemology. Vol. 1. New York: Oxford University Press, 2005, 235-271.
__________, “Closure, Contrast, and Answer”. In: Philosophical Studies. Cham, vol. 133, n.
2, pp. 233-255, 2007.
SINNOTT-ARMSTRONG, W. “A Contrastivist Manifesto”. In: Social Epistemology: A
Journal of Knowledge, Culture and Policy. Oxford, vol. 22, n.3, pp. 257-270, 2008.