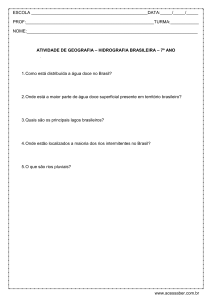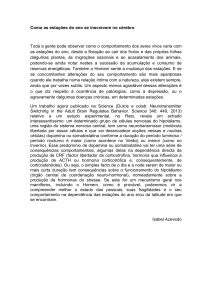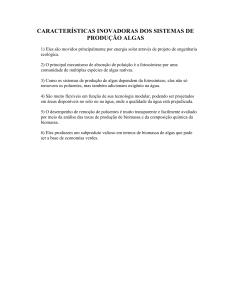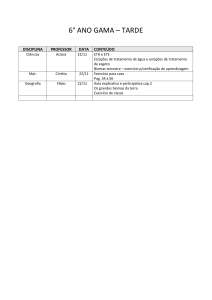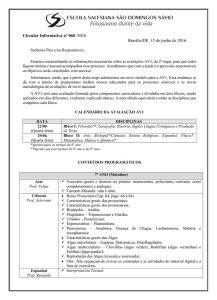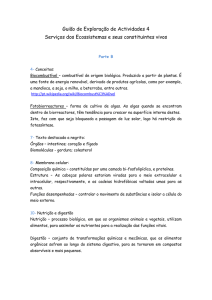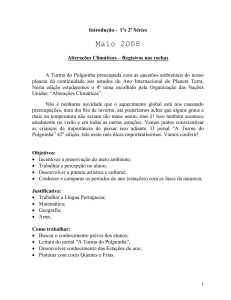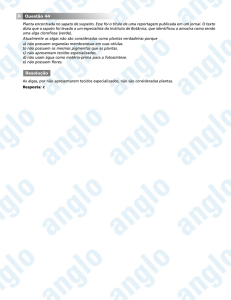III SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2014
121
Comunidades de Microalgas e Variáveis Limnológicas Abióticas no Rio Santa Maria
do Doce (Santa Teresa-ES)
N. G. S. Mendes 1,*, A. C. O. Rupf 1, K. Milanezi 1, M. G. B. Lima 1, M. C. D. A. Pazzini
1
, S. Cruz 1 & A. G. Costa 1.
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Santa
Teresa.
*Email para corresspondência: [email protected]
Introdução
O município de Santa Teresa possui uma das localidades mais florestadas do estado, tendo
ainda cerca de 40% de sua cobertura original de Mata Atlântica que estão incluídas na
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo (Mendes & Padovan,
2000). No contexto de que ações antrópicas e alterações no ecossistema terrestre exercem
grande influência no meio aquático, Tundisi & Tundisi (2008) afirmam que os rios não
devem ser considerados isoladamente, uma vez que o seu entorno contribui com um papel
marcante para estes sistemas.
A Limnologia é uma ciência que abrange o estudo de ecossistemas de água doce e lagos
salinos no interior dos continentes, bem como todas as interações físicas, químicas e
biológicas que ocorrem nesses ecossistemas (Tundisi & Tundisi, 2008). Com relação aos
componentes biológicos, destacam-se duas comunidades de algas microscópicas muito
importantes na produção primária dos ecossistemas aquáticos, a saber, o perifíton e o
fitoplâncton. O perifíton é definido como uma complexa comunidade de microorganismos
(bactérias, fungos, algas, protozoários, microcrustáceos), detritos orgânicos e inorgânicos,
que estão aderidos ou associados a substratos artificiais ou naturais, sendo estes vivos ou
mortos (Wetzel, 1983). O fitoplâncton por sua vez, é representado por organismos
fotossintetizantes em sua maioria, adaptados à vida em suspensão na água, sujeitos a
movimentos passivos por ventos e correntes (Reynolds, 1984).
Deste modo, o conhecimento do ecossistema baseado em investigações sistemáticas de
variáveis ambientais permite descrevê-lo, no que diz respeito à sua estrutura e
funcionamento, além de evidenciar as complexas interações entre seus vários componentes
(Esteves, 2011). Nesse contexto, são desconhecidos estudos com o objetivo de realizar
levantamentos da biodiversidade aquática de microalgas no rio Santa Maria do Doce,
sendo de grande importância tais estudos para o conhecimento da diversidade biológica,
122
MENDES ET AL: COMUNIDADES DE MICROALGAS
bem como para o embasamento de ações conservacionistas e de preservação deste
ecossistema. Diante deste cenário, o presente trabalho teve como objetivo realizar um
levantamento de microalgas no rio Santa Maria do Doce, bem como caracterizar as
estações de amostragem através da determinação de algumas variáveis limnológicas
abióticas.
Material e Métodos
O levantamento de microalgas (variáveis limnológicas bióticas) e a caracterização das
variáveis limnológicas abióticas foram realizados no rio Santa Maria do Doce (Santa
Teresa). Foram definidas cinco estações amostrais ao longo da extensão do rio (Tabela 1).
As coletas foram realizadas no dia 12 de julho de 2013, e amostradas nas estações em uma
repetição (n=1).
Tabela 1. Caracterização das estações amostrais onde foram realizadas as amostragens de
variáveis limnólogicas abióticas e bióticas no rio Santa Maria do Doce, Santa Teresa-ES.
Coordenadas
Altitude
Estação amostral
geográficas
Cobertura vegetal
(m)
(UTM)
19.91425
Cultura de café,
E1 – Várzea Alegre
237
40.76500
pastagem e bambu
19.8849
Cultura de café e
E2 – São Sebastião
216
40.74372
pastagem
19.83519
E3 – Santa Bárbara
197
Mata ciliar
40.71123
19.81965
E4 – Santo Antônio do Canaã
144
Pastagem
40.67682
E5 – Fazenda Milanezi
19.7721
123
Pastagem
40.63415
Para a caracterização limnológica abiótica, foram determinadas as seguintes variáveis
físico-químicas em cada estação amostral: condutividade elétrica (µS.cm-1), sólidos totais
dissolvidos (mg.L-1), pH,
temperatura da água (ºC), oxigênio dissolvido (mg.L-1),
transparência média (m), profundidade total (m) e zona eufótica (m) da água.
As coletas das algas fitoplanctônicas em cada estação amostral foi realizada utilizando rede
com abertura de malha de 20 µm através de arraste subsuperficial. As amostras foram
acondicionadas em frascos de vidro com capacidade de 250 mL e fixadas, imediatamente,
com solução formalina 4% (Bicudo & Menezes, 2005) para posteriores análises em
laboratório.
III SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2014
123
As amostragens das algas perifíticas foram realizadas a partir de coletas de substratos
naturais, tais como partes submersas de plantas herbáceas de espécies diversas (folhas e
pecíolos) localizadas nas margens, as quais foram imediatamente acondicionadas em
frascos de vidro contendo água destilada. As amostras de folhas e pecíolos coletadas foram
levadas ao laboratório para serem raspadas com o auxílio de pincel, estilete e jatos de água
destilada, a fim de separar o perifíton do substrato, e, posteriormente, foram
acondicionadas em frascos de vidros, e foram fixadas com solução formalina 4% (Bicudo
& Menezes, 2005), a fim de serem preservadas.
A identificação taxonômica das comunidades fitoplanctônicas e perifíticas coletadas nas
estações amostrais, foi realizada até o nível de gênero, de acordo com o sistema de
classificação de Bicudo & Menezes (2006).
Resultados e Discussão
Os resultados das variáveis limnológicas abióticas estão descriminados na Tabela 2.
Tabela 2. Valores das variáveis limnológicas abióticas registradas nas estações amostrais
estudadas ao longo do rio Santa Maria do Doce.
Estação amostral
Variável
E1
E2
E3
E4 E5
Profundidade máxima (m)
0,28 0,70 0,50 0,50 0,80
Transparência da água (m)
0,28 0,45 0,40 0,50 0,60
Zona eufótica (m)
0,28 0,70 0,50 0,50 0,80
Temperatura da água ( °C )
18,0 19,0 21,0 24,0 23,0
Oxigênio dissolvido (mg.L-1)
6,74 6,41 6,64 6,58 7,10
-1
Sólidos totais dissolvidos (mg.L ) 19,97 19,97 29,94 29,92 39,9
Condutividade elétrica (µS.cm-1)
40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
pH
9,60 8,93 8,89 8,97 9,23
Foram registrados baixos valores de transparência média da água, o que pode ter sido em
razão do rio ter apresentado baixas profundidades em todas as estações amostrais. Também
em razão desta última, todas as estações apresentaram valores de zona eufótica totais.
Fatores como a estação seca no período da coleta, a retirada de água do rio e a grande
susceptibilidade erosiva do rio (Comitê da bacia hidrográfica do rio Doce, 2010), podem
ter contribuído para as baixas profundidades registradas. Nesse sentido, a intensidade da
radiação luminosa que atravessa a coluna d’água influencia na quantidade de energia
disponível para a fotossíntese, e consequentemente na produtividade primária das
comunidades de algas (Esteves, 2011).
Embora a temperatura não tenha variado significativamente entre as estações amostrais, a
diferença ocorrida entre as estações amostrais, foi provavelmente, devido à elevação da
124
MENDES ET AL: COMUNIDADES DE MICROALGAS
temperatura do ar ocorrida ao longo do dia, aumentando a incidência dos raios solares na
água e, também em decorrência da diferença de altitude onde as estações estavam
localizadas.
De maneira geral, as estações amostrais apresentaram valores de concentração de oxigênio
dissolvido que estão dentro dos limites da resolução Conama nº 357 (2005) para águas de
classe 2. A maior concentração desta variável foi encontrada na E5, foi provavelmente,
devido ao acúmulo de nutrientes, evidenciado pelo maior valor de sólidos totais
dissolvidos e condutividade elétrica, que favorece a atividade fotossintética das algas,
elevando assim a quantidade de oxigênio dissolvido na água.
Os valores de pH não apresentaram grande variação espacial entre as estações amostrais,
porém, de maneira geral, tiveram média de 9,12, indicando uma elevada alcalinidade. De
acordo com os resultados evidenciados, dentre os processos que podem elevar o pH
aquático, estão as comunidades autotróficas (Esteves, 2011), e as ações antrópicas como a
calagem do solo.
Os valores de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos, embora estivessem dentro
dos limites estabelecidos pelos padrões de potabilidade da água (Cetesb, 2009),
aumentaram gradativamente das estações amostrais a montante em direção a jusante, o que
pode estar relacionado com o maior acúmulo, ao longo do rio, de matéria orgânica e
nutrientes oriundos de efluentes domésticos e agrícolas da região.
De acordo com a análise qualitativa das variáveis bióticas, o rio Santa Maria do Doce
apresentou elevada riqueza de táxons, com um total de 130 taxa distintos de algas,
considerando todas as estações amostrais e as duas comunidades analisadas. Do total de
taxa registrados, a classe Bacillariophyceae (diatomáceas) foi a mais representativa em
termos de riqueza, apresentando 61 taxa (47%) e, os gêneros dominantes desta classe
foram Surirella e Gyrosigma, respectivamente. A maior predominância das diatomáceas no
rio, principalmente na comunidade perifítica, pode ser devido às adaptações destas para se
fixarem ao substrato (Hoagland et al., 1982). Fatores como a disponibilidade de compostos
a base de sílica na coluna d’água, também influenciam na densidade das diatomáceas, uma
vez que esse é o principal constituinte de suas paredes celulares (Esteves, 2011), porém são
necessários estudos nesse sentido para verificar a abundância desta classe no rio Santa
Maria do Doce.
As formas de vida mais predominantes nas duas comunidades de algas foram as
unicelulares, porém com maior contribuição destas no perifíton (81%), em relação ao
fitoplâncton (63%). Segundo Fernandes (2005), as formas filamentosas são tipicamente
III SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2014
125
pertencentes à comunidade perifítica, porém neste estudo, estas formas não predominaram
nesta comunidade. Ainda, de acordo com Wetzel (1990), são componentes da comunidade
perifítica, algas de todas as classes, inclusive algas unicelulares e coloniais, que
apresentam estruturas de fixação.
Foram encontrados neste estudo
representantes de
gêneros de cianobactérias
potencialmente tóxicas nas amostras (Oscillatoria, Aphanocapsa, Phormidium e
Pseudanabaena). Além dos desequilíbrios ecológicos, florações de cianobactérias podem
causar vários problemas que variam desde conferir gosto e odor desagradáveis à água, até a
produção de toxinas (Sant’anna et al., 2006). Para tal verificação, é preciso realizar
análises quantitativas da água para afirmar se existe concentração de toxinas produzidas
por cianobactérias potencialmente tóxicas, acima dos limites recomendáveis para a saúde
humana e para a sobrevivência dos organismos aquáticos.
Conclusão
Conclui-se que o rio Santa Maria do Doce apresenta algumas variáveis ambientais dentro
dos limites estabelecidos pelos padrões de potabilidade da água, porém ações antrópicas
como o desmatamento, ocupação das margens, lançamento de efluentes domésticos,
industriais e agrícolas que ocorrem na bacia de drenagem do rio, podem contribuir para
intensificar o processo de assoreamento e poluição orgânica deste ecossistema.
Agradecimentos
Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) e ao CNPq
pelo apoio financeiro para o desenvolvimento do projeto e, pela bolsa de monitoria
fornecida à primeira autora, bem como aos bolsistas de IC Jr. Ao IFES Campus Santa
Teresa pela disponibilização do transporte para a realização das coletas, e dos laboratórios
para as análises.
Literatura Citada
Bicudo, C. E. M. & Menezes, M. 2005. Gêneros de algas de águas continentais do Brasil:
chave para identificação e descrições. São Carlos: Rima. 508p.
______. 2006. Gêneros de algas de águas continentais do Brasil: chave para identificação e
descrições. 2 ed. São Carlos: Rima. 502p.
Comitê da bacia hidrográfica do rio Doce. 2010. Plano de ação de recursos hídricos da
unidade
de
análise
Santa
Maria
do
Doce.
91p.
Disponível
em:
126
MENDES ET AL: COMUNIDADES DE MICROALGAS
http://www.riodoce.cbh.gov.br/_docs/planobacia/PARH/PARH_SM_Doce.pdf
(16/03/2013).
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb. 2009. Relatório de qualidade de
águas
interiores
do
Estado
de
São
Paulo.
44p.
Disponível
em:
www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/variaveis.pdf
(26/09/2013).
Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 2005. Resolução n. 357, de 17 de março
de 2005. Classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional.
Brasília, DF. Disponível em: www.mma.gov.br (22/06/2013).
Esteves, F. A. 2011. Fundamentos de limnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Interciência,
790p.
Fernandes, V. O. 2005. Perifíton: conceitos e aplicações da limnologia à engenharia. In:
Rland, F. & Marinho, M. (Eds.). Lições de limnologia. São Carlos: Rima, p. 351370.
Hoagland, K. D; Roemer, S. C & Rosowski, J. R. 1982. Colonization and community
structure of two periphyton assmblages, with emphasis on the diatoms
(Bacillariophyceae). American Journal of Botany, 69: 188-213.
Mendes, S. L & Padovan, M. P. 2000. A estação biológica de Santa Lúcia. Boletim do
Museu de Biologia Mello Leitão 11(12): 7-34.
Reynolds, C.S. 1984. The ecology of freswater phytoplankton. Cambridge: Cambridge
University Press. 384p.
Sant’anna, C. L.; Azevedo, M. T. P.; Agujaro, L. F.; Carvalho, M. C.; Carvalho, L. R. &
Souza, R. C. R. 2006. Identificação e contagem de cianobactérias planctônicas de
águas continentais brasileiras. Rio de Janeiro: Ed. Interciência. 58 p.
Tundisi, M. T. & Tundisi, J. G. 2008. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos. 632p.
Wetzel, RG. 1983. Opening remarks. In Wetzel, R.G. (Ed.) Periphyton in freshwater
ecosystems. The Hague: Dr. W. Junk Publishers. Developments in Hydrobiology,
17: 3-4.