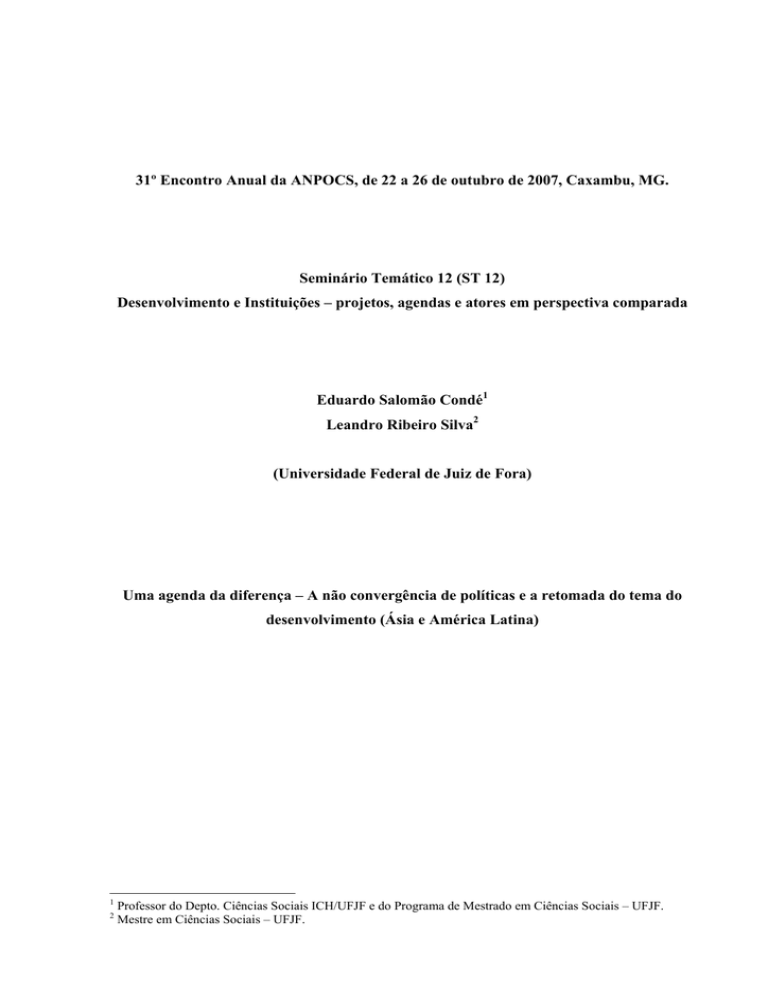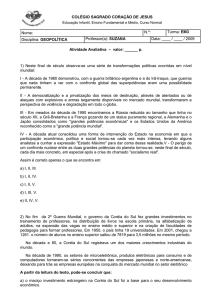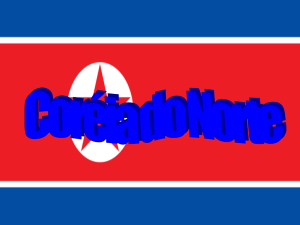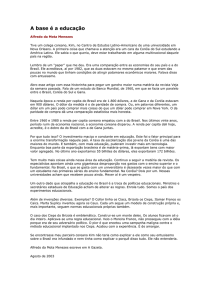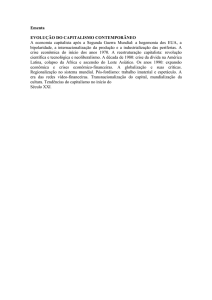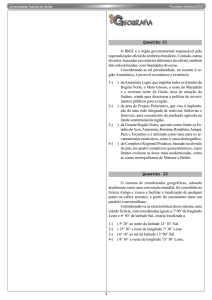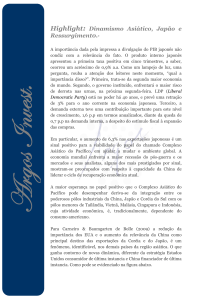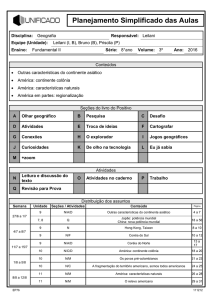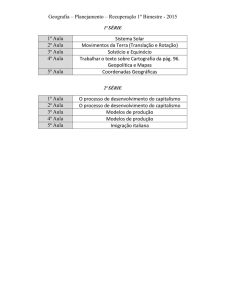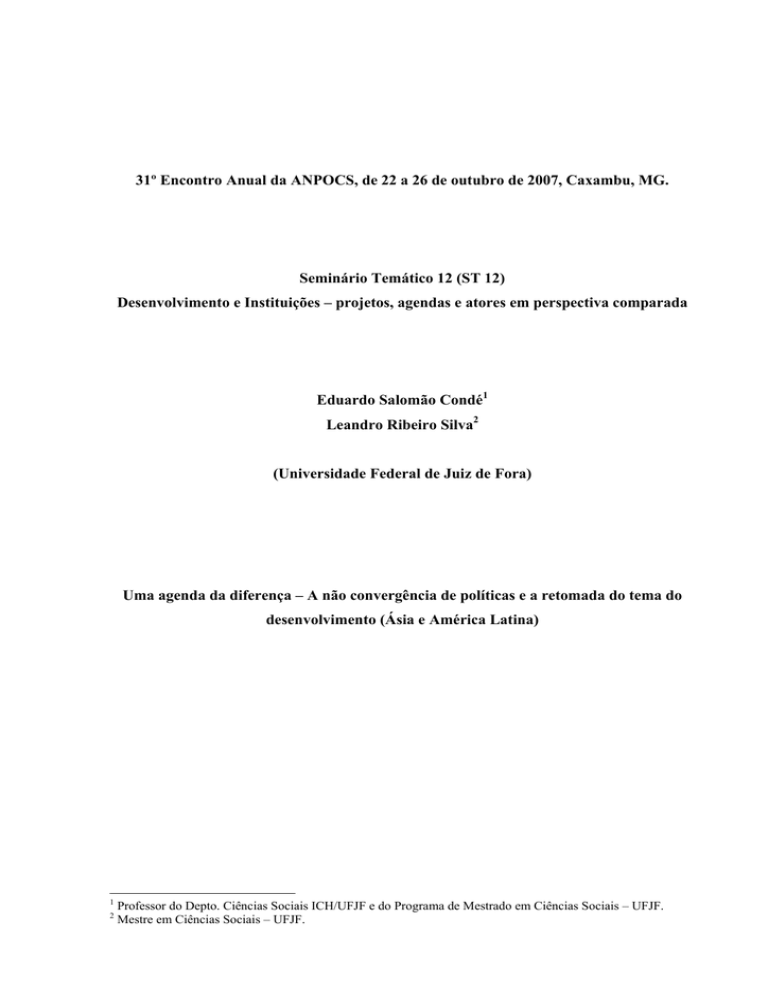
31º Encontro Anual da ANPOCS, de 22 a 26 de outubro de 2007, Caxambu, MG.
Seminário Temático 12 (ST 12)
Desenvolvimento e Instituições – projetos, agendas e atores em perspectiva comparada
Eduardo Salomão Condé1
Leandro Ribeiro Silva2
(Universidade Federal de Juiz de Fora)
Uma agenda da diferença – A não convergência de políticas e a retomada do tema do
desenvolvimento (Ásia e América Latina)
1
2
Professor do Depto. Ciências Sociais ICH/UFJF e do Programa de Mestrado em Ciências Sociais – UFJF.
Mestre em Ciências Sociais – UFJF.
2
Uma agenda da diferença – A não convergência de políticas e a retomada do tema do
desenvolvimento (Ásia e América Latina)
Introdução
O espírito deste trabalho é uma indagação: como pode a diversidade ser substituída
pela “convergência” se a história e as práticas econômicas e sociais divergem na essência?
Sem pretender que a resposta definitiva seja aqui operada, uma significativa parte da literatura
da corrente dominante em economia e uma parte menor da teoria sociológica tem se
preocupado com a crescente “convergência”, no cenário internacional indeterminando a
autonomia do próprio Estado nacional por um movimento irresistível de maior
homogeneização. O caso de não adesão implicaria em um país enclausurado em um gueto
nacional, de baixa inserção na economia global. Esta imagem simplificadora perseguiu
governos em diferentes continentes e “congelou” políticas autônomas e projetos de
desenvolvimento, substituindo-os pela díade crescimento econômico e mercado hegemônico,
derivando o conceito de desenvolvimento do pressuposto de crescimento. A juízo deste
trabalho trata-se de uma caricatura do real, uma imagem simplificadora dos conflitos e
desafios mundiais e de desconhecimento dos complexos movimentos internos ais países e do
“esquecimento” sobre as políticas que giraram em sentido contrário ao paradigma de um
fundamentalismo de mercado.
Para discutir este problema, o texto divide-se em três partes. Na primeira, faz-se uma
bem humorada viagem pelas mudanças desde os anos 70. Na segunda, trata das abordagens
teóricas do debate convergência/diversidade, por algumas reflexões teóricas. Finalmente,
discutem-se duas situações históricas e institucionais diversas e suas respostas a alguns
dilemas apresentados por este debate.
1 – Da diversidade para a convergência e de volta – pequena história
O desenvolvimento tem um que de maldito, seja para o bem ou para o mal. Quando,
desde o final da última grande guerra, ganhou importância o tema da reconstrução nacional,
dos seus projetos e da reconstituição mesma da sociedade, tratava-se da preocupação em
recombinar os parâmetros econômicos e sociais para um novo período: era da tragédia que se
saia, da destruição que se fugia, ele aparecia como parte da redenção. Particularmente na
2
3
Europa, reconstituir a vida não era apenas refazer o mundo perdido, mas antes escalonar de
forma diversa os horizontes do crescimento e do bem-estar, combinando a expectativa de sua
força econômica com a redistribuição de recursos, solvendo dilemas sociais pela combinação
de crescimento com mais equidade.
Era a época de Bretton Woods, o período dos “trinta gloriosos”, da perspectiva
generosa do estado de bem-estar. Na Ásia, o Japão se reconstituía, a China caminhava para a
revolução maoísta e o leste asiático voltava-se para diversos graus de tensão, culminando com
as guerras da Coréia, da Indochina e do Vietnã. O ocidente de capitalismo avançado iniciou a
“grande marcha” para frente, através da expansão americana e do crescimento europeu; o
Japão iniciou a alavacangem da Ásia, a então União Soviética expandia-se à sua moda e
segundo o modelo Stálin de satisfação: “chegar e ultrapassar” o ocidente “decadente”. Mesmo
a América Latina, acreditava na combinação de crescimento como superação do
subdesenvolvimento, palavra então corrente. Seja pela CEPAL ou o ISEB, pela
“dependência” ou até pelo caminho da revolução cubana, a agenda combinava crescimento
plus desenvolvimento. O pensamento cepalino, apresentava, no núcleo das suas preocupações,
a possibilidade em ultrapassar o subdesenvolvimento pela constituição de um novo padrão de
desenvolvimento industrial calcado na combinação do capital estatal e privado (sem descartar
recursos externos), crescimento do mercado interno e constituição de um mercado de trabalho
fortalecido pelo crescimento, ou Keynes associado aos benefícios da poupança interna. Pelo
campo do ISEB, tratava-se de um desenvolvimento com identidade nacional e plural, uma
pedra de toque da diferença em um mundo em expansão, mas que agravaria mais as
assimetrias sem um projeto nacional autônomo. A própria teoria da de dependência traria sua
contribuição pela identificação da perversidade entre crescimento nacional e associação com o
sistema internacional, proporcionando crescimento desigual e construindo um país ainda mais
separado por seus enclaves produtivos e sua elite associada ao capital internacional.
Tratava-se, portanto, de uma era de debate intelectual e de ação governamental
fortemente ligados aos projetos de desenvolvimento nacional e mesmo de nação estrito senso.
Já se denunciava os males do subdesenvolvimento e os males do desenvolvimento desigual.
Era um mundo dividido pela guerra fria nos dois do Atlântico, pela relação hostil na Ásia
entre Japão, China e URSS e pela tensão no leste, pela América Latina em movimento contra
o subdesenvolvimento e defendendo seus projetos de autonomia “relativa”.
O resultado desta combinação de força entre crescimento e desenvolvimento viu seus
frutos nos EUA, na Europa Ocidental, no Japão – formando a tríade diretora da economia
3
4
mundial até os anos de 1990; pobreza e desenvolvimento desigual na América Latina, ainda
que países como o Brasil tenham alavancado seu projeto industrial e passado pela imensa
transformação social da urbanização acelerada; e guerra na Ásia até a primeira metade dos
anos de 1970. O tema do desenvolvimento nacional, que iniciara o pós-guerra como
esperança, chega ao fim dos “trinta gloriosos” combinado com a guerra, as ditaduras
militares, o socialismo real. A tríade permanecia bem e o bem-estar social plus crescimento e
expansão lá convergiam, o que, de alguma forma, representa por definição a idéia de
desenvolvimento. A periferia mostrava outra realidade e outro “desenvolvimento”:
crescimento sem democracia, modernização e bem-estar limitado em sociedades “sob
controle”. O desenvolvimento agora se associava não com o “bem” pós 45. Nesta segunda vez
pouco desta benevolência sobrara, pois, na periferia, uma visão distorcida vinculava-o a um
projeto de crescimento sem autonomia nacional e dos cidadãos, limitando os próprios recursos
de bem-estar da cidadania.
A crise dos anos de 1980, principalmente na periferia, implodiu o velho modelo de
crescimento com desenvolvimento limitado estruturalmente. No centro, a própria expansão
desordenada do capital financeiro, a liberalização dos mercados, a renovação tecnológica e a
própria flexibilização do sistema produtivo e de trabalho alteraram de forma relativamente
rápida (em menos de 20 anos, entre os 70 e os 90) o capitalismo. No cenário internacional, o
desaparecimento da URSS e do bloco socialista eliminou a infeliz diferença de dois mundos e
contribuiu para o triunfalismo liberal.
Pois era disso que se tratava. O que seriam “flores exóticas” intelectuais para a
economia ganhou notoriedade, onde Hegel ressurreto renascia contra Marx e a diversidade
pelo “fim da história”. A OCDE refulgia contra o estado de bem-estar por seus gastos e suas
disfuncionalidades, o FMI retomava a toda força suas políticas de restrição atacando o próprio
crescimento econômico, o Banco Mundial insistia que o modelo Har Rod levaria ao sucesso
na África e até na América Latina. E as reformas se tornaram a ordem do dia.
Monteiro Lobato, em sua literatura “infantil”, escreveu um livrinho chamado “A
reforma da natureza”. Tratava-se de uma invenção de Emília, seu alter-ego, para alterar certos
aspectos do mundo natural, como colocar asas em criaturas terrestres e mudar as plantas.
Como era previsível, o caos sobreveio. Pois os anos desde a metade dos 80 e ao longo dos 90
– primeiro no centro e depois, claro, na periferia do sistema – o sistema mundial tornou-se
uma Emília global. Previdência, trabalho, saúde, assistência por um lado; câmbio, juros,
regulação, por outro, foram lidos e relidos em nome não mais de um processo de
4
5
desenvolvimento, mas deveriam mudar em nome da competitividade, eficiência e agora do
indefectível crescimento como a grande regra nacional. Reformar era crescer e o
desenvolvimento decorreria do crescimento dos próprios mercados – locais e globais.
Portanto, tratava-se de convergir o que estava correto: mais liberdade de circulação, de
propriedade, de mercado; menos intervenção, menos Estado e mais instituições liberais anglosaxônicas. O modelo de sucesso do estado de bem-estar precisava mudar – e rápido – ou a
Europa mergulharia na perda de competitividade. Na Ásia, o Japão precisava mudar seu
modelo de empresa “protetora”, ou perderia competitividade justamente para aqueles a quem
o país havia surrando no comércio internacional dois anos antes. Os “tigres asiáticos” eram
exemplo de crescimento financiado pelas exportações e pelo próprio deslocamento global das
corporações. Próximos de nós, Argentina, Chile e Equador eram grandes exemplos de
convertidos ao livre mercado. Emília reformava em direção ao céu de brigadeiro do sucesso
econômico. Mais do que tudo, Hayek derrotara Marx e Keynes, Friedman vencera Prebisch, a
convergência vencera a história. O desenvolvimento compreendido como autonomia e
distribuição das vantagens do crescimento retomava seu caráter maldito.
O problema com a história é sua insistência em não desaparecer. O crescimento do
leste asiático, cantado como modelo, é o contrário das “boas instituições” ocidentais. Menos
democracia, mais regulação e empresas com forte poder estatal não são tanto assim iguais à
pregação de Emília. Bem adaptadas sim a um modelo de financiamento global e à atração de
empresas, mas sem abandonar sua política industrial. Criticada como a ante-sala do atraso
pelo eixo PUC-Rio/Universidade de Chicago. A Europa convergiu... mas para a unificação
pós Maastricht sem romper com sua tradição de eficiência com proteção social, estado forte e
regulador, ainda que em mudança. A América Latina tem no Brasil um exemplo de
dificuldade às “boas práticas”: culpa-se a Constituição, os atrasados, até a sociedade como um
todo, mas é difícil reformar aqui. A Argentina, a Bolívia e o Equador mergulharam no caos
das “boas práticas” e Emília retirou-se para Nova York. E, apenas para encerrar a lista, a
China é o contrário perfeito da convergência: comunistas não comunistas, Estado sócio de
empresas, políticas determinadas, regime fechado, agressividade retórica e políticas prómercado limitadas.
Onde está, então, a convergência? Apenas onde não havia convergência, onde tudo
era, mais ou menos, assim: os Estados Unidos e, em parte, seu sócio atlântico, a GrãBretanha. Mesmo assim, com restrições em ambos. Distorções no mercado por todos os lados,
5
6
de subsídios a proteção social “disfuncional” no segundo caso. Este é o estado da arte de uma
teoria que se crê depositária da necessidade histórica.
Ao final, fica claro que as diferentes experiências nacionais permanecem triunfando.
Não deixa de ser irônico que a diversidade e o desenvolvimento estejam retornando como
tema, mais uma vez emergindo da desagregação e do deserto da década de 90 e mesmo parte
desses anos de 2000. Redescobre-se a diferença, o que já não é pouco para quem acreditou no
fim da história.
2 – Diversidade e não convergência: um pouco de teoria
Na seção primeira há, talvez, um toque de irreverência no texto. Muda-se de tom, para
a sobriedade das evidências teóricas. A teoria da convergência é oriunda dos anos 50,
ganhando dois sentidos importantes: por um lado, compreender a estruturação da sociedade
industrial como em progresso e em relação à aquisição de similaridades, como correlata às
exigências e conseqüências da industrialização (Aron); por outro, representar exigência
progressiva de racionalidade econômica e tecnológica (Kerr) 3·. Sua atualização nos anos de
1980-90 surge tanto em outro contexto quanto em relação à outra chave teórica: corresponde
à constatação de que a globalização e o receituário de mercado tornaram obsoletos os demais
arranjos institucionais e econômicos e convergiram em direção à crescente abertura,
flexibilização e redução dos gastos públicos, com redução dos programas sociais. Uma
estratégia de harmonização dos espaços nacionais em nome de uma inserção com “qualidade
superior” no mundo globalizado e com características miméticas, particularmente com relação
ao capitalismo anglo-saxão. Uma inevitável conseqüência é a redução da importância do
Estado-Nação e a crescente relevância de blocos regionais, a competição aberta e a
convergência das políticas macroeconômicas e de desregulação, em teoria ampliando as
possibilidades de inserção competitiva. Portanto, práticas sociais como acordos, pactos,
concertação, perderiam importância em nome de tendências centrífugas, uma vez que as
reformas (flexibilizar o trabalho, o estado de bem-estar) são necessárias em nome da
competitividade. A globalização traduziria convergência dentro do reino da eficiência
econômica alocativa dos mercados, gerando um modelo comum de organização econômica e
produção. O paradigma da competitividade e do processo imitativo em torno das melhores
3
Aron, Raymond. Dez Lições sobre a Sociedade Industrial. Brasília: UnB e Kerr, Clark (1983). The Future os
Industrial Societies. Harvard: Harvard University Press.
6
7
práticas, indeterminando mecanismos de intervenção e forçando a desregulamentação e corte
de custos (Berger & Dore, 1996; Ohmae, 1996).
Se for preferida outra chave analítica, o capitalismo teria ultrapassado sua fase
organizada em direção à “desorganização” (Lash & Urry)4. O “capitalismo desorganizado”
pode ser caracterizado pelo desenvolvimento de um mercado mundial, de empresas e bancos,
além da regulação nacional, pela redução dos trabalhadores industriais com incremento dos
serviços e pela perda da capacidade regulatória dos Estados nacionais. (Lash & Urry, 1987, p.
5-6). As classes se diversificaram (e se indeterminaram), o Estado se enfraquece, os partidos
perdem sua base de representação de classe, as organizações de interesse fragmentam-se.
Desta hipótese da desorganização até a presunção dos instrumentos de eficiência e mimetismo
convergente dos anos 90, há uma mudança de ênfase, não de conteúdo substantivo.
Há pelo menos três correntes importantes que remaram contra a maré da convergência.
A primeira delas é a temática das variedades de capitalismo, uma astuciosa teoria centrada nas
complementaridades institucionais em cada situação objetiva, ou as instituições tomadas
como agentes de socialização e matrizes de sanções e incentivos. Por efeitos interativos entre
as esferas econômicas, a complementaridade gera distintos modos de coordenação, de forma
geral descritos como interação estratégica ou através de mercados competitivos. Nesta
perspectiva é possível construir clusters de nações baseados nos modos de coordenação,
identificando variações em performance econômica, vantagens comparativas institucionais,
respostas nacionais à globalização e políticas públicas comparadas. Os autores identificados a
esta corrente (como Hall & Soskice, 2001) indicam um approach actor-centered, atores
definidos como firmas, indivíduos e governos. Há importância central na firma, cujos
comportamentos podem ser agregados para efeito de análise da performance econômica.
Estas se engajam em múltiplos processos, seja para financiamento (com o mercado
financeiro), a regulação salarial e as diversas condições referentes ao trabalho, qualificação,
tecnologia. Entretanto, sua questão principal é a própria ordenação institucional, a eficiência
das instituições organizadas seja pelo mercado, hierarquias ou redes (como em Willianson
e/ou Chandler), com diferentes estratégias adaptadas às necessidades de cada economia
nacional. O engajamento nos diversos processos e a adoção de estratégias de coordenação
diferencia regimes de regulação: enquanto em regimes de mercado sem ou com baixa
4
Capitalismo organizado: concentração de capitais, indústria e comércio; hierarquia gerencial complexa,
inteligentsia de classe média,: articulação Estado e grandes empresas e desses com organizações do
trabalho;ampliação do papel do Estado; dominância industrial; concentração regional de indústrias; grandes
cidades que dominam regiões; muitos empregados em muitas plantas industriais (Lash & Urry, 1987, p. 3-4).
7
8
regulação persistem relações diretas e contratuais (e sindicatos são vistos como impeditivos),
em regimes coordenados a mediação institucional é permanente, a lógica da negociação está
presente e o sucesso competitivo repousa na alta qualificação. Portanto, enquanto as relações
entre os atores no primeiro tipo são entre firmas mediadas pelo mercado, com fraca ação
estatal ou de instituições do mercado de trabalho, no segundo a ação do Estado e/ou das
instituições ganha uma dimensão-chave. Conforme observou David Soskice, a simbiose entre
os diversos agentes econômicos, de representação de interesses, o Estado, grupos empresariais
mergulhados em ambientes institucionais interativos cria um “regime produtivo”
determinado. Esta simbiose constrói uma constelação determinada para as relações entre o
mercado e os diversos agentes, com diferentes arranjos e variantes nacionais.
A segunda corrente relevante é o neoinstitucionalismo histórico. Aqui a organização
institucional da política e da economia estrutura, com a história em pano de fundo, os
conflitos, privilegiando alguns interesses, desmobilizando outros. Estes elementos
estruturantes ordenam o comportamento coletivo e conduzem aos diferentes resultados. No
centro da teoria, o Estado é considerado não um corpo neutro, mas como um complexo de
instituições capazes de ordenar o caráter e os resultados do conflito entre os grupos. São as
instituições, “... os procedimentos formais e informais, rotinas normas e convenções
envolvidas na estrutura organizacional da política ou da economia...” (Hall & Taylor, 1996,
p.7) – os elementos imbricados nos comportamentos individuais, que indicam assimetrias de
poder dadas pela operação e o desenvolvimento das instituições. Como elementos teóricos
organizadores enfatiza a path dependence (dependência de trajetória) e as conseqüências não
intencionais da ação. Enquanto afetam o cálculo dos atores, fornecem modelos morais e
cognitivos para a interpretação e a ação, providenciando informações estratégicas (atuando
sobre as expectativas) e forjando identidades, a auto-imagem e as preferências dos atores.
Segundo os autores, a persistência das instituições envolve algo como o “equilíbrio de Nash”,
ou, em outras palavras, indivíduos aderem aos padrões institucionais porque a não adesão
pode provocar mais perdas que ganhos; mais “institucionalidade” melhor soluciona o dilema
da ação coletiva e maiores ganhos são possíveis quanto mais robustas estiverem as
instituições.
O desenvolvimento histórico ganha forte transparência na teoria. Como advogados da
“dependência de trajetória”, onde as características contextuais recebem a herança do
passado; os neo-institucionalistas defendem que instituições persistem ao longo da paisagem
8
9
histórica, provocando diferentes caminhos. As preocupações de autores com Skocpol, Weir
ou Paul Pierson se voltam para as “state capabilities” ou o legado das políticas, atuando sobre
as escolhas referentes às políticas públicas. Forças societais engajam-se em alguns caminhos e
não em outros, desenvolvem interesses e identidades particulares, surgem conseqüências não
esperadas a partir mesmo do já existente, contrastando com a imagem de instituições ótimas,
exemplares, que pudessem ser copiadas. Sobre este tema, uma boa referência é Peter Evans, e
seu texto contra a “monocultura institucional” em torno do debate sobre desenvolvimento,
derivada de “versões idealizadas das instituições anglo-americanas baseadas em
planejamentos... transcende culturas e circunstâncias nacionais” (Evans, 2003, p.20).
Uma terceira vertente teórica crítica é a escola da regulação francesa. Esta vertente
considera a análise da dinâmica econômica através das suas formas institucionais, objetiva e
subjetivamente associadas à codificação das relações sociais. Sem a pretensão de suprimir os
conflitos sociais inerentes à própria estruturação social, são estabelecidos compromissos
institucionais que os regula e “orienta”, sem eliminá-los da teoria A regulação substitui os
sinais de coordenação, como aqueles emitidos pelo mercado, pelos compromissos expressos
nas instituições. Segundo Therét, “... a teoria da regulação... não aborda apenas as instituições
a partir dos conflitos entre grupos sociais e as assimetrias de poder; também privilegia... as
instituições formais, os macro-objetos, a contingência histórica, uma multi-causalidade
contextual, e dá igualmente atenção às conseqüências não esperadas de práticas sociais
individuais e coletivas” (Therét, 2003, p.235). Como uma resposta às teorias do autointeresse, os regulacionistas defendem que a ação inicial se dá pelas regras, sem mascarar as
relações sociais. O que não impediu, segundo Therét, que a teoria também se preocupasse,
durante os anos 90, com as relações entre as instituições e os indivíduos, buscando uma
“microeconomia que corresponda à sua macroeconomia” (Therét, op.cit., p.242) e
intensificasse também o diálogo com a teoria da escolha racional, combinando cálculo e
cultura.
Um dos elementos centrais do regulacionismo é o papel da política, através da
capacidade para estabelecer interesses coletivos, uma vez que as instituições são
compreendidas como predominantemente políticas e a política não é uma prática
predominantemente individual. Desta forma, a intervenção governamental, as lutas
conduzidas pelas organizações ou os compromissos devem ser considerados para dar conta
das transformações institucionais e compreender sua própria dinâmica. As instituições são
9
10
mediadoras das relações estabelecidas por meio da política e dos interesses coletivos. Elas são
o locus da interação política. Estabelecem e mantém limites, regulam a dinâmica da relação
entre conflito e cooperação e constituem regras de ação coletiva.
A seleção dessas três vertentes teóricas indica algo de comum entre elas: a prevalência
da diversidade, do papel das instituições e das interações “sistêmica”, com forte marcação dos
cenários nacionais interativos. Longe de fugir das dificuldades de cada uma, o texto considera
que estes approachs conduzem a um debate sobre a diversidade, essencial para compreender
estratégias e mesmo as diferentes construções presentes nos mais recentes exemplos de
variações no próprio capitalismo. Também não é desde escrito a perspectiva de negação da
especificidade da globalização, como se esta fosse uma mera atualização radicalizada de um
fenômeno do passado. Antes ele representa um desafio aos países. Apenas e preciso recordar
que a interação dos espaços nacionais com a dimensão global não é meramente passivo. A
própria redescoberta de temas como o desenvolvimento e da realização de políticas
determinadas (como política industrial) nos países revela, antes, a interação de dois espaços –
nacional e global, construindo estratégias de convivência em um mundo plural.
A última seção intenta associar dois mundos, na América Latina e na Ásia, por suas
variações e contrastes. Uma dimensão exemplar da diferença e da convivência em um
capitalismo, ele sim, radicalizado.
3 – Brasil e Coréia do Sul: contrastes e paralelismos em cinco atos.
Os países da América Latina e do Leste Asiático são exemplos de economias de
industrialização tardia que nos últimos trinta anos passaram por grandes transformações
políticas e econômicas e, percorrendo caminhos distintos, alcançaram a inclusão dependente
na economia global. Nesta seção as trajetórias de Brasil e Coréia do Sul são revistas como
casos exemplares da não convergência de políticas e dos possíveis caminhos percorridos na
direção do desenvolvimento econômico.
As transformações das últimas décadas fizeram da Coréia do Sul um paradigma do
crescimento rápido sem abrir mão da capacidade de fazer política. O Brasil, ao contrário,
aderiu às recomendações do Consenso de Washington e promoveu o desmonte do Estado
desenvolvimentista juntamente com sua capacidade de planejamento e ação estatal.
10
11
Os contrastes e paralelismos entre as experiências destes dois países podem ser
apontados levando em conta os últimos cinqüenta anos, como demonstra Coutinho (1999:351378). Contudo, para os objetivos deste texto, a década de 70 é considerada o ponto de partida.
Isso porque data deste período a Revolução da Tecnologia da Informação (CASTELLS,
1999), um verdadeiro divisor tecnológico cujas conseqüências afetaram positivamente o leste
asiático e representaram para os países latino-americanos o fim do processo de forte
crescimento econômico. A disponibilidade de novas tecnologias constituídas como um
sistema e geradas por meio da ação estatal nos anos 70 foi uma base fundamental para o
processo de reestruturação social e econômica dos anos 80.
O Estado intervencionista ou desenvolvimentista sul coreano data do início da década
de 60 e, após a Segunda Guerra e a guerra da Coréia (no contexto da Guerra Fria), passa a
receber grande apoio financeiro norte-americano. O grande volume de empréstimos externos
que financiaram os planos de desenvolvimento representou um alto déficit em conta corrente,
porém a partir dos anos 80 estes foram revertidos em resultados mais equilibrados. O Estado
desenvolvimentista brasileiro data dos anos 30 (governo Vargas) e também contou com o
capital externo abundante até a década de 70, porém a reversão não foi possível na década
seguinte; marcada pelo endividamento e altas taxas de inflação. Daí depreende-se que duas
diferenças fundamentais entre Brasil e Coréia do Sul: na inserção externa destas economias e
nos resultados obtidos a partir da intervenção estatal com capitais abundantes. Além, é claro,
das suas diferenças históricas e institucionais, o que pode sem confirmado considerando cinco
pontos.
Em primeiro lugar, é a diferença no comportamento exportador destes países. No final
da década de 70 o volume de exportações coreanas ultrapassou o brasileiro pela primeira vez.
Entre 1979 e 1985 o desempenho exportador dos dois países foi semelhante, refletindo a
estratégia exportadora adotada em resposta à segunda crise do petróleo e o amadurecimento
de projetos da indústria pesada em ambos os países. A partir da segunda metade dos anos 80,
as exportações coreanas cresceram em um ritmo que as brasileiras não conseguiram alcançar
até hoje.
O governo do General Park ao fomentar as exportações, via nestas o caminho para
suplantar as restrições externas ao crescimento e diminuir a dependência financeira norteamericana. Para tanto, eram concedidos subsídios às empresas coreanas condicionadas a
metas de exportações rigorosamente fiscalizadas. Soma-se a isso um forte elemento de
coerção característico de um regime militar sobre o setor privado. Por fim, as empresas eram
11
12
compensadas por eventuais prejuízos com as exportações através de restrições a entrada de
concorrentes e pela imposição de tarifas e barreiras não-tarifárias, resultando em aumento dos
lucros no mercado interno.
Frente a estas medidas o Brasil, até recentemente, pode ser considerado como
relativamente negligente com as exportações. A orientação exportadora da política industrial
sul coreana não encontra paralelo em uma política voltada para dentro no caso brasileiro. O
potencial do mercado interno e as relações históricas com o capital externo atraíram empresas
norte-americanas e européias entre os anos 50 e 70. Predominou, desde o governo JK, a
orientação pragmática de combinar o investimento estrangeiro nos setores mais avançados da
indústria com fornecedores nacionais de insumos e matérias-primas. O protecionismo
brasileiro não representou um problema para os países desenvolvidos, já que as transnacionais
não deixaram de ser beneficiadas na exploração do grande mercado interno protegido. Neste
contexto, acrescido da crise dos anos 80, a importância do caráter exportador da economia
voltou a ser o centro dos debates na década de 90 com algumas medidas ainda que tímidas
tomadas no governo FHC.
A segunda grande diferença reside no volume de ajuda financeira dos EUA para a
Coréia do Sul. Na geopolítica do pós-guerra sua posição estratégica se elevou por ser uma excolônia japonesa. Não obstante, a Coréia estava próxima da China e da Coréia do Norte
comunistas. Estas razões explicam, grosso modo, a benevolência norte-americana. A
dependência dos EUA foi combatida pelo governo através da edição de programas de
investimentos, os Planos Qüinqüenais5. O primeiro foi lançado nos anos 60 com o objetivo de
expandir a indústria manufatureira com fortes incentivos à exportação – aproveitando o status
comercial sul coreano enquanto aliado dos EUA – para penetrar no amplo mercado interno
norte-americano (COUTINHO, 1999:353).
O Brasil não dispunha desta mesma importância geopolítica sendo mesmo relegado a
segundo plano no pós-guerra. O país se beneficiou da rivalidade entre empresas norteamericanas e européias que iniciavam seu processo de transnacionalização no pós-guerra,
conseguindo atrair investimentos externos decisivos para modificar o perfil da indústria
nacional. Nos anos 70, em uma nova fase da integração da economia mundial, o país
5
Os Planos Qüinqüenais tiveram início em 1962 e somam ao todo quatro planos de investimento durante o
governo do General Park. O primeiro (1962-67) esteve voltado para a indústria manufatureira; o segundo (196771) reiterou a estratégia de industrialização orientada para exportação; o terceiro (1972-76) se referia as
indústrias siderúrgica, petroquímica, de minerais não-metálicos e preparou as bases dos setores de bens de
capital; o quarto (1977-81) representou o esforço de investimento na construção da base pesada da indústria. Os
planos seguintes (quinto e sexto) tiveram uma retórica diferente; baseada no livre funcionamento do mercado
(COUTINHO, 1999: 353-55).
12
13
conectou-se ao mercado de crédito abundante (petrodólares) contraindo empréstimos em
grande escala para sustentar o último ciclo de substituição de importações correspondente ao
II PND. Esta política de endividamento externo, comum a maior parte das economias em
desenvolvimento no período, foi duramente atingida pelas altas taxas de juros flutuantes após
o segundo choque do petróleo em 1979 e pela significativa deterioração dos termos de troca
entre 1980-83.
A terceira diferença diz respeito à importância do capital nacional para a
industrialização de ambos os países. Ao final da década de 70, Coréia do Sul e Brasil haviam
conquistado o status nações industrializadas dentro do padrão da Segunda Revolução
Industrial. O tripé (Estado, capital nacional e capital externo) em que está baseado o
desenvolvimento tem seu ponto fraco, no caso do Brasil, no capital nacional. Na Coréia do
Sul, em contraste, o ponto fraco é o capital externo.
A industrialização coreana utilizou largamente capitais externos, porém uma parcela
menor destes tomava a forma de aquisição de ações em bolsa ou em empresas de capital
fechado. Conseqüentemente, a remessa de lucros para o exterior não configurou uma
preocupação para o governo. Além disso, o empresariado era formado majoritariamente por
nacionais, o que tornou mais fácil discipliná-los e coagi-los a atingir os objetivos estatais. A
seqüência de prioridades setoriais ao longo do tempo e a escolha sobre quais empresas apoiar,
para que cumprissem as funções de levar adiante o desenvolvimento de metas e atividades a
serem criadas e expandidas, faziam parte do processo de fomento capitaneado pelo Estado
através de organismos financeiros (bancos de desenvolvimento) e de planejamento
(comissões, ministérios e secretarias).
Como destaca Singh (1997:13 e 26), o nexo lucratividade-investimento foi resultado
de políticas estatais e as interações entre governo e empresas foram fatores centrais para sua
geração e sustentabilidade. Diretamente relacionado a esta questão está a pouca importância
dos investimentos diretos estrangeiros (IDE) para financiar a balança de pagamentos e a
industrialização coreana. Além disso, os conglomerados coreanos (chaebols), os principais
veículos do desenvolvimento econômico, foram criados pela ação estatal através de fusões,
seguindo as exigências de economias de escala tecnológica e as condições de demanda
internacional.
O Brasil, por sua vez, desde o governo JK, viu crescer a dependência de capital volátil
em sua economia e obteve os mesmos resultados com sua política industrial intervencionista,
como conseqüência, aumentou a fragilidade das contas externas do país. A influência do
13
14
Estado na motivação e no comportamento das empresas coreanas não encontra paralelo na
trajetória brasileira. Os novos espaços econômicos criados em conseqüência da
industrialização foram compartilhados entre componentes do tripé do desenvolvimento,
ficando a menor e mais dependente fatia reservada ao capital nacional.
Quadro I – Desempenho econômico Brasil e Coréia do Sul nos anos 60 e 70
BRASIL
Período
CORÉIA DO SUL
Tx. média
crescimento
PIB
3,2%
11%
(“milagre econômico”)
8,8%
(1ª fase industrialização
pesada)
8,9%
1976-1979
1975-1980
6,6%
1981-1983
(recessão – choque da crise da
dívida)
(1ª arrancada sob governo
Park)
1972-1975
1968-1974
(II PND, conclusão base
pesada indústria)
Tx. média
crescimento
PIB
1963-1971
1963-1967
(crise política e reformas governo Castelo Branco)
Período
(2ª fase e conclusão base
pesada da indústria, fim da
“era Park”)
10,6%
1980-1982
-1%
(recessão após queda Park e
crise da dívida)
1,1%
Fonte: baseado em COUTINHO (1999:363 e 374).
Apesar de ambos os países terem se utilizado de empréstimos externos para fechar
suas contas externas, o controle estatal garantiu a melhor destinação destes na Coréia. Tal
controle era realizado pelo sistema bancário estatizado pelo governo militar na década de 60 e
através de lei de incentivo ao capital externo que concedia garantias aos emprestadores contra
eventuais desvalorizações. No Brasil, o governo não gozou de tamanho controle na alocação
de crédito, pois não controlava todo o sistema bancário, tampouco desfrutava do monopólio
14
15
das captações externas. Ainda com relação ao fluxo de empréstimos externos, os dois países
foram afetados diferentemente pelos choques do petróleo e pela crise da dívida na década de
80, pois o corte de crédito para o Brasil foi mais drástico quando comparado com a Coréia.
Mais recentemente, outro fator que difere estes países foram suas estratégias de
abertura comercial e financeira após a crise dos anos 80. A Coréia do Sul começou a enfrentar
pressões externas para que liberalizasse em meio à crise anos 80. Soma-se isso a pressão dos
grupos nacionais que buscavam uma maior liberdade do controle estatal. Neste contexto o
país não aderiu às medidas liberalizantes defendidas pelo Banco Mundial e FMI resultando,
no início da década de 90, em um tímido grau de abertura comercial e restrições sobre a conta
capital.
O desfecho da crise dos anos 80 seguiu um caminho construtivo no caso coreano.
Afetada pela crise da dívida no início da década, a economia passou por um período de
recessão e rearranjo. Esta só não foi pior porque os passivos externos foram reciclados com a
ajuda dos bancos japoneses e por meio do estreitamento e articulação produtiva com o sistema
japonês. Na política, após uma etapa conturbada que se seguiu ao assassinato do presidente
Park em 1979, o autoritarismo persistiu com o último general presidente Chun Doo Hwan
entre os anos de 1980-87. Os Planos Qüinqüenais da década (quinto e sexto) apresentaram
uma nova retórica de crescente liberalização com menor grau de dirigismo em relação à “era
Park”.
Cabe ressaltar, no entanto, que o Estado continuou determinando os rumos e as
prioridades do processo de desenvolvimento, embora delegasse um espaço maior para que o
setor privado tomasse iniciativas e escolhesse as alternativas dentro das diretrizes oficiais
(COUTINHO, 1999:367). Por fim, os países do Leste Asiático não buscaram uma integração
em larga escala com a economia mundial, mas sim uma “integração estratégica”, isto é, eles
se integraram até certo ponto e nas esferas de interesse nacional. Assim, foram
tradicionalmente abertos quanto às exportações, mas não seguiram a mesma política no que
diz respeito às importações (SINGH, 1997).
Dessa forma, a investida neoliberal não obteve sucesso neste caso, principalmente se
comparado com a experiência brasileira em que a liberalização era anunciada como a saída
para a retomada do desenvolvimento. A crise fiscal e financeira foi corroendo o Estado
brasileiro ao longo da década de 80, ao mesmo tempo em que a fragmentação política
dificultava a administração das altas taxas de inflação. Os problemas políticos decorrentes do
desgastado governo Sarney e os planos econômicos fracassados tornaram a articulação em
15
16
torno de um projeto que pudesse dar continuidade ao desenvolvimento praticamente
impossível. Assim, a parcela do espectro político favorável ao Consenso de Washington
dominou a década de 90 com os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, que executou
as reformas (ou parte delas) tidas como essenciais para o desenvolvimento do país ao custo de
um ciclo ainda mais profundo de desarticulação industrial e nacional.
Quadro II – Desempenho econômico Brasil e Coréia do Sul dos anos 80 à 2005
BRASIL
Período
CORÉIA DO SUL
Tx. média
crescimento
PIB
4,5%
1990-1993
(recessão decorrente dos
planos Collor I e II, início da
abertura)
-1,3%
3,6%
(transição para economia
baseada nos complexos
eletrônico e automobilístico)
7,8%
(expansão com abertura
financeira e
internacionalização dos
chaebols)
7,5%
1998-2000
1,3%
2000-2005
(continuidade das políticas
ortodoxas, maior atenção às
exportações)
10,2%
1994-1997
1999-2000
(crise cambial e recuperação
precária)
(integração econômica com
Japão)
1988-1993
1994-1998
(estabilização com plano Real,
juros altos e câmbio
valorizado)
Tx. média
crescimento
PIB
1983-1987
1984-1989
(crescimento irregular – stop
and go)
Período
(crise cambial e recuperação
promissora)
2%
2000-2005
3,3%
(continuidade da coordenação
entre governo e empresas)
6,2%
Fonte: baseado em COUTINHO (1999:363 e 374) com dados atualizados pelos autores.
A quinta e última característica que diferencia a Coréia do Sul do Brasil, em relação à
inserção externa de cada país, está relacionada à dinâmica regional do Leste Asiático e da
16
17
América Latina. Os acontecimentos após os choques do petróleo engendraram uma nova
lógica de desenvolvimento regional no Leste Asiático, como demonstra Medeiros (1997).
Segundo o autor, primeiramente tem se o deslocamento de capital japonês para a conquista de
mercados locais, substituindo importações nos países da região. Este deslocamento objetivava
contornar as barreiras protecionistas impostas a produtos japoneses e a perda de
competitividade causada pela desvalorização da moeda (iene).
Em seguida, verificou-se uma expansão das exportações das empresas japonesas
instaladas nos países vizinhos em direção aos mercados norte-americano e europeu.
Simultaneamente verificou-se uma expansão das exportações japonesas principalmente de
bens de capital para os países do Leste Asiático. Por último, também há um intenso
movimento de subcontratação de empresas desses países pelas matrizes japonesas para que as
primeiras forneçam insumos a baixo custo para as segundas.
A partir do final da década de 80, os tigres asiáticos passam a replicar esse modelo
com os países por eles polarizados, isto é, os países-membros do ASEAN6. Este processo é
descrito por Arrighi (1997) e segue a seguinte lógica: as manufaturas com menor densidade
tecnológica e mais intensivas em trabalho vão sendo reproduzidas seqüencialmente em países
com menor grau de industrialização, aproveitando os espaços deixados pelos países mais
desenvolvidos. Foi esta lógica da economia regional do Leste Asiático que sustentou o
investimento e as exportações a partir da década de 80 e permitiu que os componentes mais
dinâmicos da economia sul coreana não arrefecessem e mantivesse o alto crescimento das
décadas anteriores.
Não obstante, é o alto grau de cooperação econômica entre os países do Leste Asiático
na forma descrita acima que possibilitou uma dinâmica regional capaz de adquirir autonomia
nesta região (SINGH, 1997). Cabe observar que os demais fatores arrolados anteriormente são
condições necessárias para que essa dinâmica ocorresse.
Partido dos pontos expostos acima acerca das escolhas feitas pela Coréia do Sul, uma
economia bem-sucedida em sua trajetória de catch-up desde os anos 60, fica claro que a chave
do processo de desenvolvimento não se dá “naturalmente” como os defensores das “boas
políticas” e “boas instituições” defendem. Tal chave gera discrepâncias entre o retorno social
e o individual de investimentos nas atividades de alto valor agregado nas economias em
desenvolvimento (CHANG, 2004:209). Diante dessa situação faz se necessário estabelecer
alguns mecanismos para socializar o risco envolvido nesses novos investimentos a fim de
6
Os países da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) são Brunei, Camboja, Laos, Malásia,
Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã.
17
18
garantir a continuidade do crescimento econômico. Para tanto duas soluções podem ser
apontadas: a intervenção do Estado e a solução institucional.
A Coréia, ao que tudo indica, é um caso bem-sucedido de intervenção estatal, em que
a multiplicidade de instrumentos políticos utilizados com o objetivo de acelerar o
desenvolvimento foi combinada a uma grande capacidade de adaptação destes às mudanças
do panorama interno e externo. Aliado a isto está o fato de que a solução institucional
proposta sob a forma da “boa governança” não ter encontrado terreno fértil no país, o que não
que dizer que as inovações institucionais deixaram de ocorrer no Leste Asiático. Assim como
a China, o arranjo institucional sul coreano apresenta particularidades resultantes da
autonomia política dos países dessa região. O “espaço” para fazer política possibilitou a estes
países elaborar as suas próprias estratégias desvinculadas da “agenda distorcida”; seguida de
perto pelos países latino-americanos. Como ressalta Rodrik (2002:282), é importante renovar
e fortalecer as instituições durante as fases de crescimento acelerado da economia, a fim de
poder lidar com os choques e outras fontes de adversidade, como as crises cambiais dos anos
90.
No caso do Brasil, a dinâmica regional não propiciou alianças como a que aconteceu
entre Coréia do Sul e Japão, sendo inclusive caracterizada pelos constantes impasses no
interior do Mercosul. Os abalos políticos e econômicos dos últimos anos no interior dos
países-membros e a disputa pela liderança do bloco dificultaram acordos duradouros. Em
comparação com o caso sul coreano, o país abriu mão do “espaço” de fazer política ao
encampar o discurso das reformas e da liberalização da economia. O resultado foi uma
economia relativamente estável nos anos 90, porém constantemente abalada pelas crises
cambiais que se seguiram durante a década. No Brasil a intervenção do Estado foi preterida
em favor da solução institucional, por meio da “boa governança”, resultando em uma “década
perdida” (anos 80) sucedida por uma “década desperdiçada” (anos 90).
Conclusão
Uma observação atenta da cena mais geral do capitalismo contemporâneo mostra o
grau de diversidade nacional em meio ao capitalismo que expandiu suas fronteiras. Diga-se
expandiu não apenas por sua dinâmica mais recente, mas principalmente por sua capacidade
adaptativa em ambientes históricos e institucionais variados. Trata-se do dilema da história e
18
19
da diferença, a base sobre a qual o próprio capitalismo encontrou sua força. Mas, a maior
indagação da teoria da convergência refere-se a persistirem ou não tendências
homogeneizadoras capazes para a superação de experiências históricas estabelecidas e a
ordenação mimética com relação a outras instituições e outras “boas práticas”. E, pelo
estabelecimento de novos padrões institucionais, seria crível que a ordem internacional se
estabilizasse em torno de padrões que se universalizariam?
Olhando à distância para os anos de 1990 a experiência da boa governança
internacional anglo-saxônica é um rotundo problema. Incapaz de lidar com sua vantagem
comparativa, os EUA substituíram a globalização “civilizadora” de Clinton pela coerção
global do governo Bush. Desafiado pela China, com um Japão em crescimento limitado, a
reação dos norte-americanos é apenas, no plano econômico, manter sua tríade déficit
comercial, fiscal e economia de importação, sob hegemonias financeira. Os BRIC’s
aceleraram seu crescimento, mas sob características tão particulares que não se pode falar em
caminho homogêneo: a China cresce pela combinação de mercado amplo, mão de obra
abundante, economia exportadora e controle estatal; a Rússia pelo petróleo e gás e retomada
industrial; a Índia por muita semelhanças com a China, mas com maior valor agregado e o
Brasil pela recuperação industrial e seu mercado interno em expansão. Não há uniformidade
nos resultados e nem “orientação” semelhante no conjunto institucional vigente. A Coréia e o
leste asiático permanecem crescendo em uma economia exportadora de relevante capacidade
estatal. Conforme mostra o texto, uma singela comparação entre Brasil e Coréia, duas
economias “emergentes” e com pretensões em participar do crescimento mundial e ampliarem
suas esferas de influência, indica uma variedade surpreendente. Pelos ângulos da dinâmica
exportadora, do apoio externo, da importância maior ou menor do capital nacional, da
abertura econômica e financeira e da própria dinâmica regional (alianças e acordos regionais),
Brasil e Coréia optam por caminhos diversos. A Coréia é ainda mais resistente à receita do
ocidente anglo-saxão que o Brasil, mas mesmo este, por sua própria ordenação políticoinstitucional, não encontra meios das reformas tornarem-se o centro de suas políticas ainda
que elas retornem como fênix à agenda de todo início de mandato presidencial.
Se a diversidade é a regra, porque persiste uma expectativa sobre uma nova rota
unificada para o crescimento e o desenvolvimento? Exatamente porque o capitalismo
contemporâneo é mais um conjunto relativamente desgovernado que um carro revisado. A
dinâmica internacional não apresenta condições de governabilidade (ou governança) capaz de
dar conta da própria complexidade nos diferentes cenários, estabelecendo uma corrida quase
19
20
desenfreada por crescimento e vantagens comerciais e financeiras. Não existem instituições
internacionais como fonte de equilíbrio e razoavelmente legitimadas para regras estáveis,
assim como as dinâmicas locais e regionais não contribuem para o estabelecimento de regras
mais duradouras. E há as diferentes trajetórias. A hegemonia americana, até aqui, foi incapaz
de criar as condições de estabilidade em um cenário desregulamentado e com baixa regulação;
a Europa permanece em sua estratégia de fortalecimento regional, de seus fundamentos em
tecnologia e trocas regionais e fortalecimento financeiro pelo Euro; a Ásia vem
experimentando a emergência chinesa desafiando o Japão. Dos BRIC’s, três são asiáticos
(desde que incluída a Rússia) e nenhum do leste, até porque Coréia, Malásia, Singapura
praticam a defesa de seu menor tamanho como vantagem comparativa.
O mundo caminha não para uma homogeneidade entre capitalismos, mas muito mais
para uma assimetria de resultados, sob diferentes experiências. Sem tenderem ao equilíbrio,
não o atingem não porque os países insistem em não adotar as “melhores práticas” ou porque
a Emília das reformas não é ouvida. A verdade é que a incerteza, a história e as instituições
nacionais permanecem sendo definidoras da identidade. Em simbiose com o processo global,
este processo, antes que mimese, realiza diferentes formas e resultados muito diferentes. A
história sempre foi diferença e mudança, e nunca encontrou seu dobre de finados com a
recente força do liberismo.
20
21
Referências Bibliográficas:
ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. Tradução: Sandra Guardini Teixeira
Vasconcelos. Petrópolis: Vozes, 1997.
BERGER, Suzanne and DORE, Ronald (eds.). National diversity and global capitalism.
Ithaca: Cornell University Press, 1996.
BOYER, R & DRACHE, D. States Against Markets – The Limits of Globalization. London:
Sage, 1996.
BOYER, R. The Convergence Hypothesis Revisited: Globalization But Still the Century of
Nations?. In: BERGER, Suzanne and DORE, Ronald (eds.) National Diversity and Global
Capitalism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1996. pp.29-59.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede – A era da informação: economia, sociedade e
cultura, v. 1. Tradução: Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
COUTINHO, Luciano. Coréia do Sul e Brasil: paralelos, sucessos e desastres. In: FIORI, José
Luís (org.). Estados e moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis, RJ: Vozes, 3ª ed.,
1999.
EVANS, Peter. Além da “monocultura institucional” – instituições, capacidades e o
desenvolvimento deliberativo. In: Sociologias, nº9 jan/jun 2003. Porto Alegre: UFRGS, 2003.
pp. 20-62.
EVANS, P.; RUESCHMEYER, R. & SKOCPOL, T. . Bringing the state back in.Cambridge:
Cambridge University Press, 1985.
HALL, Peter A. & SOSKICE D. (eds.). Varieties of Capitalism: The Institutional
Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001.
HALL, Peter & TAYLOR, Rosemary. Political science and the three new institutionalisms.
In: Political Studies. Vol.44, 1996.
CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva
histórica. Tradução: Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
KITSCHELT, H., LANGE, P. MARKS, G. & STEPHENS, J. (eds.). Continuity and Change
in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
LASCH, Scott &
Blackwell, 1987.
URRY,
John.
The
End
of
Organized
Capitalism.
Oxford:
MEDEIROS, Carlos Aguiar. Globalização e Inserção Internacional Diferenciada da Ásia e da
América Latina. In: TAVARES, Maria da Conceição & FIORI, José Luís. Poder e Dinheiro,
Petrópolis: Vozes, 1997.
21
22
PIERSON, Paul & SKOCPOL, Theda. New institutionalism in contemporary political
science. In: American Political Science Association - annual meeting, Washington DC,
September 2000.
RODRIK, Dani. Depois do Neoliberalismo, O Quê? In: Desenvolvimento e Globalização,
seminário do BNDES, 12-13 de setembro de 2002. Novos Rumos do Desenvolvimento no
Mundo. Rio de Janeiro: BNDES: 277-298.
SINGH, Ajit. Acertando o passo com o ocidente: uma perspectiva sobre o desenvolvimento
econômico asiático. In: Economia e Sociedade. Campinas, n° 8, pp. 1-49, jun. 1997.
SOSKICE, David. Divergent Production Regimes: Coordinated and Uncoordinated Market
Economies in the 1990s. In: KITSCHELT, H., LANGE, P. MARKS, G. & STEPHENS, J.
(eds.). Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.
22