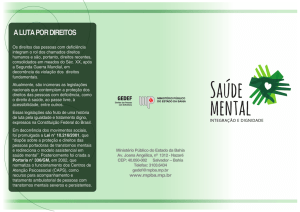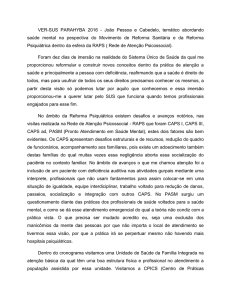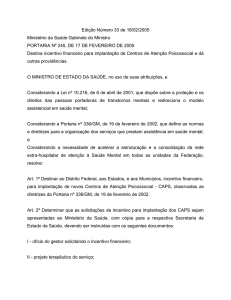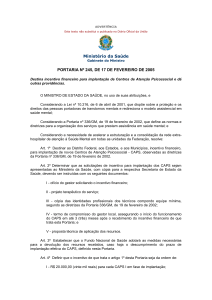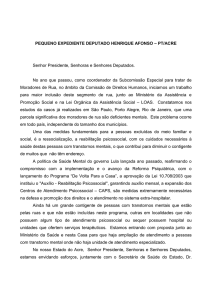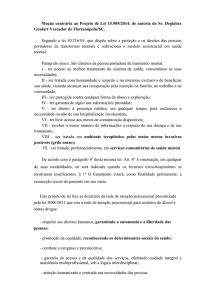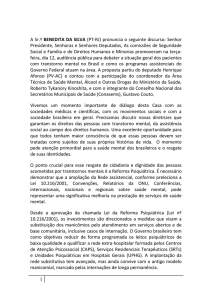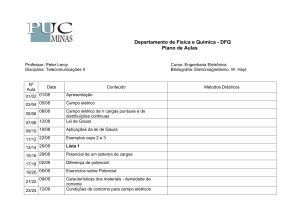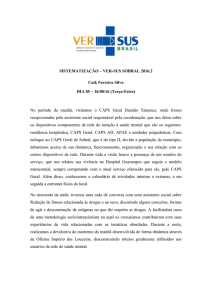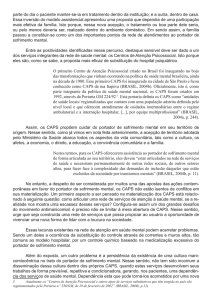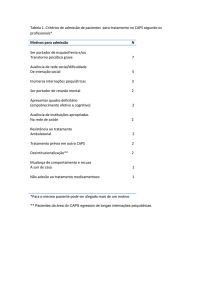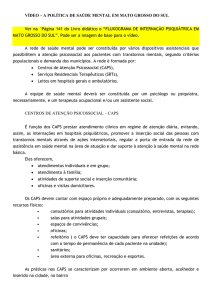O TRABALHO COM GRUPOS DE FAMÍLIA NO CAPS:
REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
MAYARA SOARES BRITO TELES1
JAMILE MELO BOMFIM 2
ANA HELENA ARAÚJO BOMFIM QUEIROZ 3
Resumo: Este trabalho compreende a análise de artigos que versam sobre as intervenções com famílias de
pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a partir do novo modelo de saúde mental. As buscas
foram realizadas nas bases de dados Scielo e BVS-PSI e a metodologia utilizada reporta-se à leitura e elaboração
de uma tabela, contemplando os elementos de cada artigo. Conclui-se que é necessário refletir e socializar o
tema do trabalho e do cuidado com familiares, uma vez que são parte integrante e eficaz suporte terapêutico
no tratamento do paciente com transtornos mentais.
Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Família. Saúde Mental.
INTRODUÇÃO
O presente artigo reflete sobre a inclusão da família dos pacientes nas intervenções
da atenção psicossocial, novo modelo proposto na área de saúde mental, que tem como
objeto de cuidado a unidade familiar em toda sua complexidade. A família é entendida como
parceira no cuidado ao indivíduo que sofre psiquicamente e como integrante fundamental
no tratamento, na recuperação e no processo de reabilitação psicossocial.
A participação ativa da família, no cuidado ao paciente, requer nova organização
familiar e também a aquisição de habilidades, que num primeiro momento, podem levar à
desorganização e fragilização da família (MIELKE et al, 2010). Por estas razões, é
imprescindível que receba o suporte adequado para superar situações de desgaste físico,
Acadêmica do 10º Semestre do Curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão. E-mail: [email protected]
Acadêmica do 10º Semestre do Curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão. E-mail:
[email protected]
3 Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará. Professora-orientadora vinculada ao Curso de
Psicologia da Faculdade Luciano Feijão. E-mail: [email protected]
1
2
1
emocional, mental e psicológico, devendo encontrar, no Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), o acolhimento de suas necessidades e apoio para sua reestruturação.
Acreditamos que a problemática do cuidado em saúde mental nos serviços
substitutivos ao modelo manicomial ainda é emergente, especialmente no que se refere ao
segmento família. Nesse sentido, escrevemos este artigo na tentativa de socializar o tema do
cuidado e do trabalho com famílias nos CAPS. Os parâmetros norteadores desta escrita se
deram por meio da coleta e análise de trabalhos que versam sobre o assunto, em duas bases
de dados bibliográfica, Scielo e BVS-PSI, num período de busca compreendido entre
31/08/2015 até 21/09/2015, a partir das palavras-chave “Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS)”, “Família” e “Saúde mental”.
Foram selecionados, inicialmente, 10 (dez) artigos, publicados online entre 2005 e
2013 e escritos em português. Como critérios de inclusão, elegemos os artigos que versaram
sobre o cuidado com os familiares, tendo a percepção de que a rede familiar é um eficaz
suporte terapêutico no tratamento dos usuários, nos serviços substitutivos CAPS. Como
critérios de exclusão, desconsideramos aqueles que não incluíam a família na gestão do
cuidado. Elaboramos uma tabela, contendo os elementos de cada artigo (título, autores,
palavras-chave, ano, metodologia e resultados), para contemplação dos critérios de inclusão.
Por fim, após esta etapa, ficaram 06 (seis) artigos remanescentes, dos quais fizemos a leitura
na íntegra, bem como a análise de como os mesmos abordavam a questão das intervenções
com as famílias.
A relevância deste tema consiste na percepção de que a rede familiar é um eficaz
suporte terapêutico no tratamento. Entendendo também que as famílias descrevem-se como
desgastadas com a situação, acreditamos que o uso das tecnologias relacionais são
fundamentais para fomentar a inclusão da família na gestão do cuidado.
O interesse pela temática de intervenção com familiares no CAPS surgiu a partir da
nossa inserção neste campo, através do Estágio Supervisionado em Saúde da Família, do
2
Curso de Psicologia, da Faculdade Luciano Feijão. A atuação em campo nos possibilitou a
recorrente visualização de familiares em sofrimento psíquico, os mesmos trazendo em suas
falas várias queixas (sobrecargas emocionais), procurando orientação e, por diversas vezes,
abordando um profissional, em quaisquer circunstâncias, para “desabafar” suas angústias.
Soma-se a isso o desejo de fazer parte de uma categoria profissional historicamente
vinculada ao campo da reforma psiquiátrica, continuamente convocada a atuar nesse
processo de luta antimanicomial, como importante atore social.
Despertou nossa cuiriosidade a proposta de que o trabalho na atenção em saúde
mental, desenvolvido pela equipe do CAPS, executa estratégias de cuidados específicas às
necessidades dos usuários e seus familiares. O que implica em conhecê-los em suas múltiplas
dimensões existenciais, por meio de uma maior aproximação de seus cotidianos e da captação
dos sentidos que emergem de suas histórias de vida.
Partindo de nossas vivências, entendemos ser necessário o cuidado com o familiar,
através de um espaço reservado de escuta, como o grupo, buscando construir dispositivos
de apoio, escuta e o acolhimento do sofrimento, oportunizando a promoção da saúde.
O trabalho com as famílias, segundo Santin e Klafke (2011), requer o estabelecimento
de relações de cuidado com o cuidador e não apenas a relação com o familiar no papel de
familiar. Isto é, uma relação que se volta para ouvir como esta pessoa se sente e como está
sendo para ela cuidar e conviver numa família na qual há a presença de muito sofrimento
psíquico, e não apenas trabalhar questões de como esta pessoa pode ajudar o seu familiar, o
que deve fazer ou não fazer para que ele, o paciente, melhore. Estudos realizados em CAPS
demonstram que as equipes profissionais têm utilizado como estratégias de inserção da
família, além do atendimento individual, espaços como grupos terapêuticos de familiares.
Os grupos têm a finalidade de oferecer um suporte aos familiares, tanto no sentido
de ser um espaço para tirar dúvidas sobre o tratamento e o manejo com o usuário, como um
espaço para que o familiar cuidador possa desabafar, falar das suas angústias e do seu cansaço.
3
Esses são espaços de escuta, acolhimento, construção e manutenção do vínculo entre equipe
e família, demonstrando que esses profissionais valorizam a participação da família e
entendem a importância dela ser assistida em suas necessidades. Haja vista que, de acordo
com Santin e Klafke (2011), também é necessário falar de si mesmo enquanto pessoa, não
somente enquanto cuidador, focando na qualidade de vida e nas relações pessoais,
considerando o público-alvo, bem como sua necessidade e realidade.
Uma potência compreendida pela Psicologia, neste contexto, reside no diálogo e na
palavra. Dessa forma, um grupo de familiares pode funcionar como um espaço de
acolhimento das experiências de vida dos seus participantes. O estímulo às trocas de
experiências tem se revelado uma importante ferramenta para ampliar a capacidade de lidar
com os problemas, assim como tem permitido que um familiar possa se abrir para o discurso
do seu companheiro (MELMAN, 2008).
Conforme estabelece Góis (2008), é nessa troca de experiências que cada sujeito
constrói sua subjetividade, sendo a palavra uma exigência existencial, uma vez que o diálogo
se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Assim
consideramos os grupos de apoio para as famílias como importante estratégia de cuidado e
eficaz suporte terapêutico. Um espaço que cuida daqueles que cuidam.
Assim, para refletir sobre as intervenções familiares na atenção psicossocial,
abordaremos inicialmente a Reforma Psiquiátrica e seus desafios atuais, bem como as
relações familiares no contexto dos transtornos mentais. Em seguida, discutiremos algumas
propostas de intervenções com famílias em CAPS, apontando potencialidades e limitações.
REFORMA PSIQUIÁTRICA E OS DESAFIOS ATUAIS
No Brasil, as mudanças mais significativas na legislação em saúde mental ocorreram
juntamente com a redemocratização do país, impulsionadas, por um lado, pelo movimento
4
da reforma sanitária e, por outro, pelo Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental,
fortemente influenciados pela sociedade civil organizada. Essas mudanças estavam pautadas
na tentativa de superação do modo asilar, ainda hegemônico na organização da assistência
em saúde mental.
No modo asilar, o indivíduo é visto como doente e não atua no seu tratamento, sendo
isolado do convívio familiar e social, assistido por uma equipe multiprofissional por meio de
intervenções focadas e o hospital psiquiátrico é o principal local de tratamento. Já no modo
psicossocial, preconizado pela reforma psiquiátrica, o indivíduo é considerado como uma
pessoa em sofrimento psíquico que, juntamente com seus familiares, inseridos em seu meio
social, se tornam fundamentais no tratamento. Assim, os sujeitos são assistidos por uma
equipe multiprofissional que procura trabalhar de forma interdisciplinar em locais de
tratamento diversificados, tendo em vista a reabilitação psicossocial e a reintegração
sociocultural dos sujeitos em sofrimento psíquico.
O confrontamento entre esses paradigmas nos permite dizer que as ações das equipes
de saúde mental, no modo psicossocial, devem estar focadas não mais na doença, mas no
sofrimento existencial do sujeito e na sua relação com o corpo social. Esta mudança
epistemológica implica que o meio social do indivíduo deva ser considerado no trabalho da
equipe de saúde mental, sobretudo da família, buscando sua inserção e envolvimento no
tratamento do usuário.
A Reforma Psiquiátrica Brasileira consiste em um movimento que vai de encontro
ao modelo asilar e manicomial, tentando romper com o mesmo. Tal movimento iniciou na
segunda metade da década de 1970 e um das principais propostas é acabar com a
institucionalização da “loucura” e o cuidado altamente desumanizado dos indivíduos com
transtorno mental.
A Reforma preza e luta por cuidados humanitários e de uma realização do trabalho
voltado para (re)significação e autonomia do sujeito. Trabalhando assim, em prol de uma
5
atenção integral e não só da desospitalização da loucura, mas, sim, de novas práticas de
tratamento e saberes no campo da Saúde Mental (ROCHA; BARROS; COSTA, 2007).
Um dos pontos críticos das transformações em curso diz respeito à participação dos
familiares no cuidado e reabilitação do portador de transtorno mental (WAIDMAN;
ELSENS, 2005). A família assume, então, um papel importante na reabilitação psicossocial
de seu familiar, sendo corresponsável pelo tratamento e cuidado. Por assumir essa tarefa em
parceria com as equipes de saúde, torna-se fundamental que os serviços substitutivos estejam
preparados para atender as necessidades do núcleo familiar, que é considerado objeto do
cuidado em saúde mental (MIELKE et al, 2010).
Partindo da implementação do novo modelo de prática na saúde mental,
problematizada e reivindicada pela reforma psiquiátrica, surgem os dispositivos substitutivos
como, por exemplo, o CAPS, ao qual especificamente vamos dar ênfase nesta discussão.
O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS se caracteriza como um serviço de saúde
aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde - SUS. É um espaço de referência e
tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e
demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num
dispositivo de cuidado intensivo, comunitário e promotor da vida (MANUAL SAÚDE
MENTAL NO SUS, 2004).
As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por ocorrerem em ambiente aberto,
acolhedor e inserido na cidade, no bairro. Os projetos desses serviços, muitas vezes,
ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, potencializadora
de suas ações, preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua história, sua cultura e
sua vida quotidiana, uma vez que os CAPS são um serviço de atendimento de saúde mental
criados para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos.
De acordo com o Manual Saúde Mental no SUS (2004), há tipos diferentes de CAPS,
a saber, CAPS I e CAPS II: para atendimento diário de adultos, em sua população de
6
abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes; CAPS III: para atendimento
diário e noturno de adultos, durante sete dias da semana, atendendo à população de
referência com transtornos mentais severos e persistentes; CAPSi: para infância e
adolescência, para atendimento diário a crianças e adolescentes com transtornos mentais;
CAPSad: para usuários de álcool e drogas, para atendimento diário à população com
transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e
outras drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalida de exclusiva de
tratamento de desintoxicação.
FAMÍLIA E TRANSTORNOS MENTAIS
Por quase dois séculos, a família foi afastada do tratamento oferecido, pois a sua
inserção no tratamento do sujeito em sofrimento psíquico foi negada devido ao
entendimento de que ela poderia prejudicar o processo de cura.
Esta situação perdurou desde Philippe Pinel, o principal representante e fundador da
psiquiatria como especialidade médica, até as experiências de Reforma Psiquiátrica ocorridas
em meados do século XX. Assim, nas décadas de 1950 e 1960, a família voltou a compor o
cenário da assistência, graças à proposta de desinstitucionalização dos indivíduos alocados
em hospitais psiquiátricos ocorrida em vários países.
No Brasil, a participação da família no tratamento está prevista nas novas legislações
no campo da saúde mental, dentre as quais destacamos a Portaria Nº 224/1992, do Ministério
da Saúde, que dispõe sobre as diretrizes assistenciais em saúde mental e estabelece normas
para o atendimento ambulatorial e hospitalar. Posteriormente, esta foi atualizada pela
Portaria Nº 336/2002, a qual redefiniu parâmetros para o atendimento ambulatorial,
diversificando as modalidades de serviços substitutivos de atenção diária.
7
Nesse sentido, as políticas de saúde mental vigentes vêm desde a década de 1990
estimulando a constituição de uma rede de saúde mental nos estados e municípios com a
implantação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. Ou seja, estimulando o
atendimento das pessoas em sofrimento psíquico o mais próximo da sua residência, em
serviços funcionando em regime de “portas abertas” na comunidade, conduzindo suas ações
terapêuticas para a promoção da reabilitação psicossocial dessas pessoas, sem romper os
laços sociais entre elas e suas famílias e a comunidade.
Com o objetivo de compreender o que seja família expomos seu conceito trazido por
Bruschini (apud Rosa, 2005, p. 209):
conjunto de pessoas ligadas por laços de sangue, parentesco ou dependência que
estabelecem entre si relações de solidariedade e tensão, conflito e afeto (...) e (se
conforma) como uma unidade de indivíduos de sexos, idades e posições
diversificadas, que vivenciam um constante jogo de poder que se cristaliza na
distribuição de direitos e deveres.
A família configura-se como grupo social essencial no desenvolvimento do indivíduo
e na construção de suas relações sociais e culturais. Acerca disso, Pegoraro e Ca ldana (2008)
afirmam que a família também é vista como um lugar de cuidado. Entretanto, é interessante
destacar que a família, historicamente, nem sempre foi vista como lugar de cuidado do seu
familiar com transtorno mental. Ao contrário, comumente tinha-se a noção de que esta era
considerada como causadora do surgimento do transtorno mental (ROSA, 2005; SANTIN;
KLAFKE, 2011).
Vista, então, como parceira no tratamento, a família tem papel central como meio de
suporte no auxílio da recuperação do familiar, no entanto, deve-se reconhecer a necessidade
desta de também ter um acompanhamento, haja vista o sofrimento acarretado pela
convivência com um familiar em sofrimento psíquico (ALVAREZ et al, 2012). Assim, vários
fatores da sobrecarga, relatados em estudos sobre a experiência da família com a doença
mental, indicam claramente a necessidade de se desenvolverem intervenções de suporte ao
cuidador do familiar com sofrimento psíquico (CAMPOS; SOARES, 2005).
8
Os familiares avaliam que têm uma grande sobrecarga física e emocional vinda do
seu familiar, pelas exigências impostas pelo adoecimento, que na maioria das vezes a família
elege um membro como responsável pelo cuidado direto de indivíduos em sofrimento
mental (WETZEL et al, 2009).
Segundo Pegoraro e Caldana (2008, p. 300), “O sofrimento psíquico dos familiares
encontrava-se, em alguns casos, ligado à sobrecarga pelo cuidado exercido e, em outros, era
independente ou anterior à atividade de cuidar”. Outra particularidade pode ser considerada
como relevante para a compreensão também, Rosa (2005) expõe que as questões trazidas
pelos familiares/cuidadores de modo geral referem-se à crise psiquiátrica, no entanto,
atrelado a isso vem os seus problemas existenciais que passam a ter mais intensidade nesses
momentos:
Na crise, o grupo familiar costuma mostrar toda sua fragilidade, mas podem
também aflorar capacidades que às vezes não se consegue identificar. É o
momento em que o profissional pode observar a dinâmica familiar de forma
exponenciada, na solidariedade ou na ausência dela, nas tentativas de encontrar
saídas, nos recursos ou na falta deles. É também o momento de observar se a
família conta com uma rede social com oportunidades para obter suporte (ROSA,
2005, p. 215).
A convivência no ambiente familiar do sofrimento mental causa conflitos, perda de
controle, mudanças no cotidiano e nos costumes, ter que lidar com os estigmas sociais, ajuda
assim numa alteração na dinâmica familiar, levando ao desgaste não só físico, mas emocional
(BORBA; SCHWARTZ; KANTORSKI, 2008).
Os profissionais devem inteirar-se sobre as formas com as quais os cuidadores lidam
com sua participação no cuidado do outro, pois conhecendo os significados dados por eles,
é possível a elaboração de intervenções para aquela apropriada demanda, produzindo alívio
da sobrecarga e diminuição dos fatores estressantes. Assim as intervenções contribuem para
melhorar a qualidade de vida dos cuidadores, como também dos receptores de cuidados e na
prevenção de possíveis transtornos psicológicos devido a sobrecarga que os cuidadores
sentem. Há a existência de transtornos desenvolvidos por familiares, o que configura -se foco
9
de atenção, reforçando mais ainda a necessidade de atendimento nesses serviços, por parte
destes cuidadores (PEGORARO; CALDANA, 2008).
INTERVENÇÕES COM FAMÍLIA NO CAPS
A análise dos seis artigos nos conferiu a compreensão de que os Serviços de Atenção
Psicossocial - CAPS têm o entendimento das intervenções com os familiares como um
espaço importante na assistência da família, destacando que a eficácia do tratamento do
usuário é de responsabilidade, também, do familiar. Diante das três categorias existent es no
serviço: usuários, familiares e equipe, a família é considerada como unidade cuidadora,
parceira e mediadora, no suporte de assistência ao paciente.
Destes seis artigos, cinco referem-se ao CAPS, de uma maneira geral e apenas um se
refere, especificamente, ao CAPS AD.
Dos seis artigos, cinco tratam da estratégia do grupo familiar como objetivo
terapêutico e ferramenta de cuidado dos familiares, ocorrendo diariamente e sendo aberto
para todos aqueles que tiverem interesse. Dois artigos consideram, além dos grupos com
familiares, as visitas domiciliares como uma diligência de parceria com a comunidade e de
formação do vínculo, proporcionando a oportunidade de acolher esses indivíduos no meio
em que vivem, conhecendo a dinâmica familiar e compreendendo como eles se relacionam
no seu meio. Um artigo contempla o atendimento individual dos familiares, além das oficinas
e da busca/chamamento, como um dispositivo e prática assistenciais: o atendimento
individual como uma prática que possibilita uma atenção à família com a escuta e o
acolhimento do sofrimento, o que oportuniza a promoção da saúde, assim como, se constitui
de uma estratégia para a equipe buscar a parceria da família, mostrando que o cuidado do
usuário se faz com um trabalho conjunto entre equipe e família. As oficinas compreendem
um espaço terapêutico que possibilita aos sujeitos que delas participam um lugar de fala,
10
expressão e acolhimento; a busca/chamamento também são estratégias de inserção familiar,
realizadas através das visitas domiciliares, de bilhetes e telefonemas para a família. E,
finalmente, dos seis, um artigo não trata, especificamente, das estratégias utilizadas pelo
serviço, embora preconize a importância da aliança com os familiares no tratamento de seus
pacientes.
Esses dispositivos de cuidado podem alicerçar uma relação compromissada entre a
equipe, o paciente e a família, propiciando uma convivência que deve ser sincera e de
corresponsabilidade. Dessa forma, favorecerá a parceria entre o serviço e os familiares, pois
através do relacionamento pode-se constituir uma ligação mais humana e singular,
propiciando um atendimento que melhor se aproxime às necessidades dos usuários e de suas
famílias, implementando uma atuação da equipe mais sensível para a escuta, compreensão de
pontos de vulnerabilidade e para a construção de intervenções terapêuticas individuais,
respeitando a realidade específica e tornando a parceria como algo possível e concreto.
No artigo “Grupo de apoio/suporte como estratégia de cuidado: importância para
familiares de usuários de drogas”, entende-se que a família compreende que a sua
participação no grupo possibilita um melhor manejo com o familiar dependente de
substâncias psicoativas, já que o grupo propicia o fortalecimento da rede familiar e
potencializa o apoio ao dependente. Os familiares apontam, ainda, que se não houvesse tal
suporte no grupo, a partir de tudo aquilo que nele é vivenciado, não seria possível o apoio
no tratamento do seu familiar.
Outra potencialidade observada, para com os usuários dos serviços do CAPS AD,
como consequência da participação de suas famílias, é o recebimento de apoio e orientação
dos profissionais, bem como dos próprios familiares que compartilham de sua realidade
através das trocas de experiências nos grupos, saindo dos mesmos fortalecidos e renovados.
O grupo configura-se, então, como importante recurso terapêutico de cuidado na educação,
promoção, prevenção e recuperação da saúde dos pacientes e dos familiares.
11
No artigo “A inserção da família no cuidado de um centro de atenção psicossocial”,
tanto os profissionais do CAPS como os usuários veem os familiares dos pacientes como
uma unidade cuidadora, obtendo grande importância no cuidado e, consequentemente,
ajudando no tratamento. No entanto, mesmo com essa perspectiva, existe a problemática de
que alguns familiares não se vinculam ao serviço e acabam por não prestar auxílio no decorrer
do tratamento e nas intervenções terapêuticas, não sendo possível identificar o foco em
estratégias que contemplem os familiares no cuidado de seu sofrimento.
Contudo, é coletiva a avaliação dos familiares de que sofrem uma grande sobrecarga
física e emocional, diante das exigências impostas pelo adoecimento do familiar. Havendo,
inclusive, muitas vezes, uma “eleição” dentro da própria família, que determina que uma
pessoa específica deva ficar responsável pelo cuidado direto do familiar com transtorno
mental.
No artigo “A inclusão da família nos projetos terapêuticos dos serviços de saúde
mental”, ressalta-se a importância do grupo de familiares, principalmente no tangente às
pessoas que são responsáveis diretas pelo cuidado da pessoa com transtorno mental sendo,
neste serviço, predominante a participação feminina.
A participação dos familiares neste grupo apresenta algumas dificuldades devido à
sobrecarga das tarefas cotidianas do cuidado e por questões financeiras que, por vezes,
impossibilitam o comparecimento, produzindo assim uma alta rotatividade. Apesar das
dificuldades existentes, essa estratégia é bastante válida por proporcionar a troca de
experiências e por suscitar formas de enfrentamento para com os desafios de convivência
com o familiar.
Entretanto, no artigo “A inserção da família nos Centros de Atenção Psicossocial
sob a ótica de seus atores sociais”, observa-se certa limitação presente nos grupos, haja vista
que não abrangem a totalidade das necessidades sentidas pelos familiares. Embora o serviço
reconheça a importância da participação da família ao longo de todo o tratamento, acaba por
12
restringi-la apenas ao grupo, no qual o foco passa a ser a medicação, o manejo dos sintomas
e comportamentos do paciente.
O desafio é compreender a família como um importante elemento que se une aos
profissionais de saúde para o enfrentamento e gerenciamento do cotidiano dos pacientes,
compreender a família como aliada no tratamento do portador de sofrimento psíquico, sendo
contribuinte para a reinserção do mesmo na comunidade.
Deve-se levar em consideração que o adoecer em família abala seu funcionamento, e
seus integrantes muitas vezes se sentem despreparados para lidar com a situação de
sofrimento psíquico de um de seus membros.
Visitas domiciliares, no artigo “A inserção da família nos Centros de Atenção
Psicossocial sob a ótica de seus atores sociais”, também são consideradas além dos grupos,
as visitas domiciliares funcionam como uma opção para o cuidado da rede familiar,
justificando que o território de atuação do CAPS vai além do contexto deste, com um
referencial de que o cuidado integral só ocorre a partir do conhecimento do contexto do
sujeito.
O ambiente familiar é relevante na vida dos seres humanos, em diversos aspectos,
tanto o físico, o mental como o afetivo, portanto, influencia no processo de saúde-doença .
A casa não é só um lugar físico, é um local de relações e experiências para os que nela
convivem, devendo, portanto, as relações e os acontecimentos deste serviço também se
estenderem ao domicílio.
No artigo “O centro de Atenção Psicossocial e as estratégias para inserção da família”
o grupo de família apareceu como a principal atividade de atenção à família, embora também
se utilizem da visita domiciliar, do atendimento individual, de oficinas e da
busca/chamamento, com o objetivo de complementar a parceria existente entre a família e
o serviço, assim como a interação entre os atores desse processo.
13
Para os familiares, o grupo possibilita uma interação e compartilhamento das
vivências entre os participantes, constituindo um espaço de troca de conhecimento e de
experiências.
Convocar a família para assumir a responsabilidade do cuidado do paciente em
conjunto com a equipe exige mais do que um redirecionamento das práticas, exige
comprometimento e responsabilidade para a construção de um cuidado que é coletivo desses
atores em promover e manter a autonomia do usuário, possibilitando que ele reconquiste sua
cidadania e seu espaço na sociedade, construindo uma responsabilização e um cuidado
coletivo.
Para que a participação familiar no serviço seja efetiva, além da disposição e da
vontade de participar, é necessário que haja o vínculo entre profissionais e família,
comunidade e usuário, sendo um aspecto relevante no cuidado em saúde mental.
No artigo “A visão da família sobre o trabalho de profissionais de saúde mental de
um Centro de Atenção Psicossocial”, como nos demais trabalhos, também se preconiza
considerar os pacientes do CAPS em seu significado intersubjetivo, isto é, a partir das
relações sociais. Igualmente, deve-se compreender os familiares a partir das suas experiências
singulares vividas e dos significados atribuídos a eles. Embora a única estratégia a qual o
artigo faz menção, que contempla os familiares no cuidado de seu sofrimento, seja a de que
moldar-se às necessidades dos usuários e de suas famílias é uma importante estratégia de
vinculação e corresponsabilização entre familiares e equipe, insiste em levantar a bandeira de
que ao se sentirem acolhidos em seu sofrimento, os familiares parecem conferir o trabalho
com as famílias dedicado pela equipe do CAPS, como parte do interesse desta equipe na
atenção em saúde mental.
Independentemente da técnica, seja grupo, atendimento individual ou visita
domiciliar, é imprescindível permitir às famílias um espaço para verbalizar sentimentos,
angústias, impressões, medos, verdades e dúvidas, acerca do familiar em sofrimento psíquico
14
e de seus próprios sofrimentos. Ou seja, a compreensão das experiências vividas dos
familiares permite afirmar que a família é uma parceira imprescindível ao trabalho dos
profissionais de saúde mental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família além de aliada na efetivação do modelo de assistência psicossocial atual
deve ser encarada como merecedora de atenção, sendo inserida nos cuidados do serviço.
Assim é através da inserção da família em grupo de familiares que se tem como objetivo o
apoio, a orientação e o fortalecimento, quando ela se encontrar fragilizada (BORBA,
SCHWAETZ e KANTORSKI, 2008). Essa atitude é enfatizada por Campos e Soares (2005,
p.233) quando afirmam que “a intervenção junto aos familiares visa não apenas
instrumentalizá-los como cuidadores, mas como pessoas que também precisam de
cuidados”.
É importante destacar que a política de saúde mental exige a inclusão da família do
paciente psiquiátrico, para que elea possa dar suporte e também obtenha o cuidado de si
mesma, podendo ser direcionada a grupo familiar ou unidade (ROSA, 2005; PEGORARO
e CALDANA, 2008).
Os encontros possuem uma grande riqueza e grupalizar os familiares propicia “a
troca de experiências e mostra que é possível conviver com o portador de transtorno mental
de diferentes maneiras” (ROSA, 2005, p.212). Portanto, grupos são necessários para que os
familiares tenham a oportunidade de se colocar como sujeitos, oferecendo um espaço para
compartilhar das suas angústias e do seu cansaço, também para falar de si mesmos enquanto
pessoas, não somente enquanto cuidadores. Isso propicia esclarecimento do transtorno
mental, buscando-se a facilitação da convivência com os familiares, tendo a família como
parceira e mediadora no tratamento do familiar. Assim, partir da avaliação constata que a
15
parceria entre os profissionais e a família é essencial para o processo terapêutico do cuidado
com os pacientes e também cuidados para com eles, cuidadores.
Concebemos, por fim, que buscar o relacionamento interpessoal com a família,
através da comunicação efetiva, é um instrumento de intervenção, que precisa ser adotado
no processo terapêutico. De modo geral é fundamental haver um constante questionamento
sobre as práticas e saberes, para que não exista uma simples reprodução de saberes e uma
prática automatizada. Assim vemos que ainda há muito caminho a percorrer e a se fazer.
WORKING WITH FAMILY GROUPS IN CAPS: THOUGHTS
FROM AN INTERSHIP EXPERIENCE
Abstract: This work includes the analysis of articles that deal with interventions with families of patients of
Psychosocial Care Centers (CAPS), from the new mental health model. The searches were conducted in the
databases SciELO and BVS-PSI and the methodology refers to reading and preparing a table, contemplating
the elements of each article. We conclude that it is necessary to reflect and dramatize the theme of work and
care for family members, as they are an integral and effective therapeutic support in the treatment of patients
with mental disorders.
Keywords: Psychosocial Care Center (CAPS). Family. Mental Health.
REFERÊNCIAS
ALVAREZ, S. Q.; GOMES, G. C.; OLIVEIRA, A. M. N.; XAVIER, D. M. Grupo de apoio/suporte como
estratégia de cuidado: importância para familiares de usuários de drogas. Revista Gaúcha de Enfermagem ,
jun; 33(2):102-108. Porto Alegre (RS) 2012.
BIELEMANN, V. L. M. et al. A inserção da família nos Centros de Atenção Psicossocial sob a ótica de seus
atores sociais. Texto & Contexto Enfermagem, Jan-Mar; 18(1): 131-9. Florianópolis, 2009.
16
BORBA, L.O; SCHWARTZ, E; KANTORSKI, L.P. A sobrecarga da família que convive com a realidade do
transtorno mental. Acta Paul Enferm, 21(4): 588-94, 2008.
CAMATTA, M. W.; SCHNEIDER, Jacó Fernando. A visão da família sobre o trabalho de profissionais de
saúde mental de um Centro de Atenção Psicossocial. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Jul-Set;
13 (3): 477-84. Rio de Janeiro, 2009.
CAMPOS, P. H. F.; SOARES, C. B. Representação da sobrecarga familiar e adesão aos serviços alternativos
em Saúde Mental. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 11, n. 18, p. 219-237, 2005.
GÓIS, C. W. L. Saúde Comunitária: Pensar e Fazer. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008.
MELMAN, J. Família e Doença Mental: repensando a relação entre profissionais de saúde e familiares. 3.
ed. São Paulo: Escrituras, 2008.
MIELKE, F.B.; KOHLRAUSCH, E.; OLSCHOWSKY, A.; SCHNEIDER, J.F. A inclusão da família na
atenção psicossocial: uma reflexão. Revista Eletrônica de Enfermagem. Out/dez; 12(4): 761-5, 2010.
PEGORARO, R.F.; CALDANA, R.H.L. Sofrimento psíquico em familiares de usuários de um centro de
atenção psicossocial (CAPS). Comunicação Saúde Educação, v. 12, n. 25, p. 295-307, abr./jun. 2008.
ROCHA SÁ, R. A; BARROS,M. M. M. A; COSTA,M. S.A. Saúde Men tal em Sobral-ce; atenção com
humanização e inclusão social. Sanare, Sobral, v. 6, n. 2, p. 26-33, jul./dez. 2005/2007.
ROSA, L. C. S. A inclusão da família nos projetos terapêuticos dos serviços de saúde mental. Psicologia em
Revista, Belo Horizonte, v. 11, n. 18, p. 205-218, dez., 2005.
SANTIN, G.; KLAFKE, T. E. A família e o cuidado em saúde mental. Barbarói, Santa Cruz do Sul, n. 31,
2011.
BRASIL. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde. Série F.
Comunicação e Educação em Saúde, 2004.
SCHRANK, G.; OLSCHOWSKY, A. O centro de Atenção Psicossocial e as estratégias para inserção da
família. Revista Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, 42(1):127-34., 2008.
WAIDMAN, M.A.P.; ELSEN, I. O cuidado interdisciplinar à família do portador de transtorno mental no
paradigma da desinstitucionalização. Texto contexto - Enferm. Florianópolis, v. 14, n. 3, p. 341-349, 2005.
WETZEL, C. et al. A inserção da família no cuidado de um centro de atenção psicossocial. Ciência Cuidado
e Saúde; 8 (suplem.): 40-46, 2009.
17