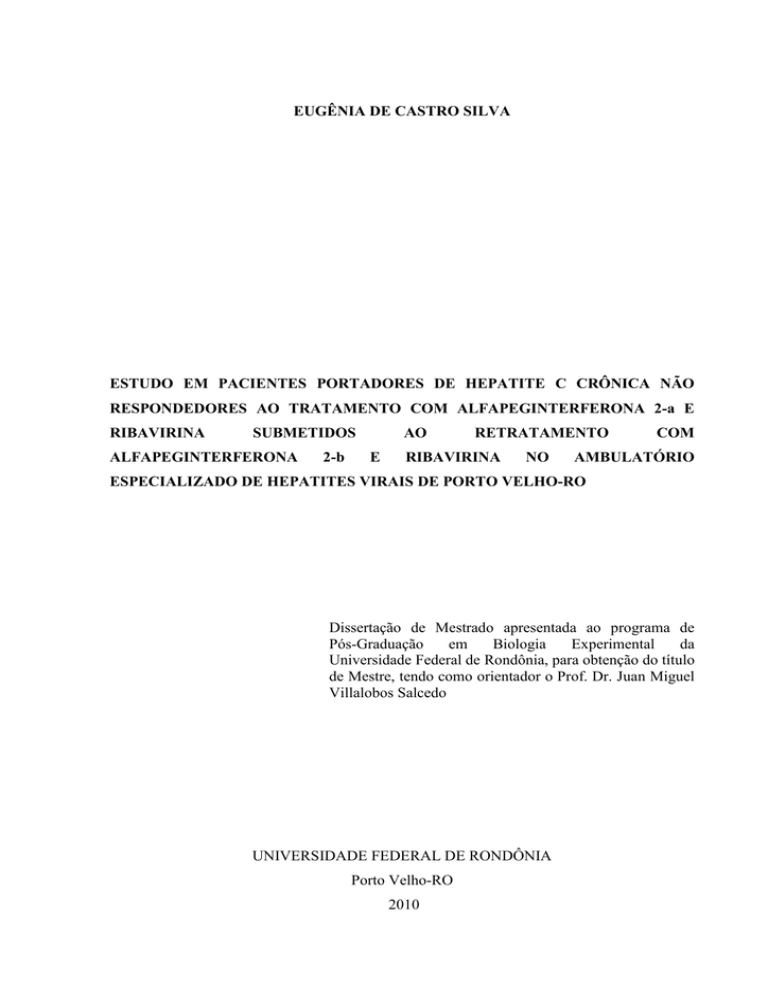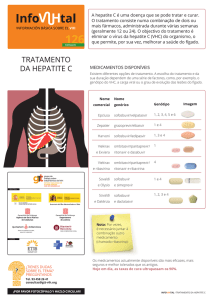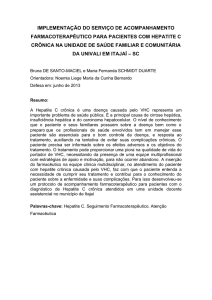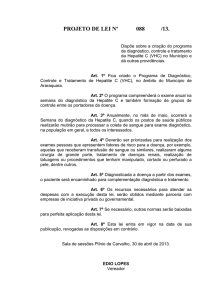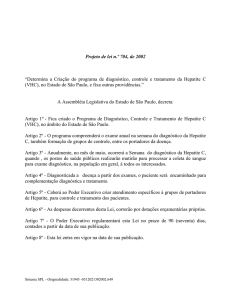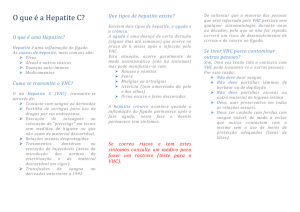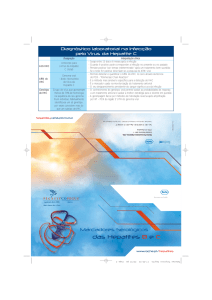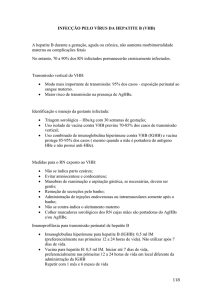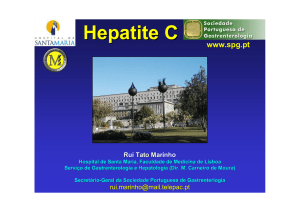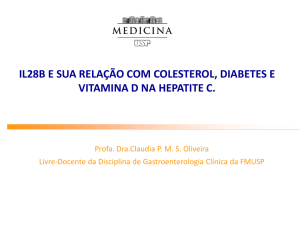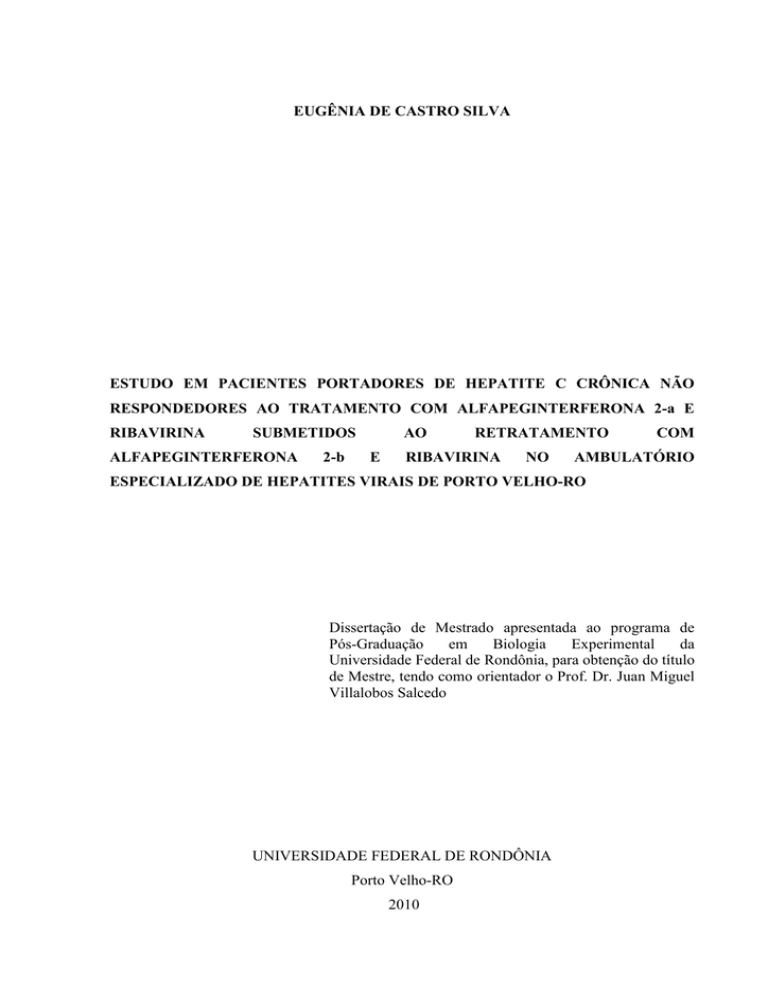
1
EUGÊNIA DE CASTRO SILVA
ESTUDO EM PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICA NÃO
RESPONDEDORES AO TRATAMENTO COM ALFAPEGINTERFERONA 2-a E
RIBAVIRINA
SUBMETIDOS
ALFAPEGINTERFERONA
2-b
AO
E
RETRATAMENTO
RIBAVIRINA
NO
COM
AMBULATÓRIO
ESPECIALIZADO DE HEPATITES VIRAIS DE PORTO VELHO-RO
Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de
Pós-Graduação
em
Biologia
Experimental
da
Universidade Federal de Rondônia, para obtenção do título
de Mestre, tendo como orientador o Prof. Dr. Juan Miguel
Villalobos Salcedo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Porto Velho-RO
2010
2
FOLHA DE APROVAÇÃO
EUGENIA DE CASTRO SILVA
ESTUDO EM PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICA NÃO
RESPONDEDORES AO TRATAMENTO COM ALPAPEGINTERFERONA 2-a E
RIBAVIRINA SUBMETIDOS AO RETRATAMENTO COM ALFAPEGINTERFERONA
2-b E RIBAVIRINA NO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DE HEPATITES VIRAIS
DE PORTO VELHO-RO.
Dissertação de Mestrado apresentada ao
programa de Pós-Graduação em Biologia
Experimental da Universidade Federal de
Rondônia, para obtenção do título de Mestre,
tendo como orientador o Prof Dr. Juan Miguel
Villalobos Salcedo
APROVADA EM 10 DE MARÇO DE 2010
___________________________________
Prof. Dr. Juan Miguel Villalobos Salcedo
Orientador-UNIR
__________________________________
Prof Dr. Mauro Shugiro Tada
1°- Avaliador - CEPEM/IPEPATRO
_________________________________
Prof M.Sc. Dhélio Batista Pereira
9 Avaliador - CEPEM/IPEPATRO
Porto Velho-RO
2010
3
DEDICATÓRIA
A Deus, pela minha existência, força e sabedoria;
Ao meu amado e companheiro esposo, Cipriano, e às minhas
filhas, Luíza e Laís, extensão viva do nosso amor;
Aos meus pais, pelo exemplo de vida, pelo afeto incondicional
e pela perseverança que sempre me foram dados e, em especial,
à minha mãe, pela sua paixão pela educação.
Aos meus irmãos, por estarem sempre ao meu lado.
4
AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Juan Miguel Villalobos Salcedo, meu orientador, que, desde meu
ingresso no CEPEM, me incentivou a ingressar na pesquisa científica.
Ao Dr. Mauro Shugiro Tada, por ter dado condições do desenvolvimento deste
trabalho junto ao Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia - CEPEM.
À Profª Dra. Vera Engracia, coordenadora do programa de pós-graduação da UNIR,
pelo empenho e dedicação na organização da Pós-Graduação.
À M.Sc. Deusilene Souza Vieira, pela contribuição científica e esclarecimentos na
avaliação dos testes moleculares.
Ao M.Sc. Dhélio Batista Pereira, pelo auxílio com seus conhecimentos técnicos de
informática e senso crítico na avaliação desta pesquisa científica.
Ao Dr. Fernando Becton Zanchi, pela contribuição na análise estatística.
Aos amigos e colegas de trabalho do CEPEM, em especial a Irenísia Martins da
Mota, responsável pela aplicação da medicação nos pacientes participantes da pesquisa.
5
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Estrutura molecular do VHC....................................................................................... 16
Figura 2 – Distribuição da relação dos fatores de risco para aquisição do VHC em pacientes com
hepatite C crônica não respondedores e recidivantes....................................................... 40
Figura 3 – Contagens médias de Hb (hemoglobina) durante o retratamento............................... 43
Figura 4 – Contagens médias de granulócitos durante o retratamento............................... 43
Figura 5 – Contagens médias de plaquetas durante o retratamento............................................. 44
Figura 6 – Contagens médias de ALT durante o retratamento................................................... 45
6
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Drogas utilizadas no tratamento da hepatite C crônica............................................... 26
Tabela 2 – Características farmacocinéticas de interferons-peguilados................................ 27
Tabela 3 – Efeitos adversos associados com peginterferon alfa e ribavirina........................ 29
Tabela 4 – Características gerais da população estudada............................................................... 38
Tabela 5 – Acometimento hepático conforme escore de fibrose pelo Metavir...............................40
Tabela 6– Eventos adversos comuns decorrentes do tratamento conforme o escore de fibrose pelo
Metavir................................................................................................................................................47
7
LISTA DE QUADROS
Quadro 1: Características bioquímicas e hematológicas no pré-tratamento de todos os pacientes
incluídos no estudo........................................................................................................................ 41
Quadro 2: Análise da média de ALT no pré-tratamento e ao final do tratamento dos pacientes
recidivantes e não respondedores................................................................................................ 42
Quadro 3: Resposta virológica dos pacientes recidivantes durante o retratamento.................. 46
Quadro 4: Resposta virológica dos pacientes não repondedores durante o retratamento...... 46
8
LISTA DE ABREVIATURAS
ALT
Alanina aminotransferase
Anti-VHC
Anticorpo contra o vírus da Hepatite C
AST
Aspartato Aminotransferase
bDNA
branched DNA
CD4
Linfócito T/ Imunidade Celular
CD8
Linfócito T/ Imunidade Celular
CNS
Conselho Nacional de Saúde
DNA
Ácido Desoxirribonucléico
DST
Doença Sexualmente Transmissível
E1, E2
Proteínas struturais do VHC
EIA
Teste Imunoenzimático
ELISA
Ensaio Imunoabsorventes ligado à enzima – teste sorológico
GGT
Enzima Gamaglutamil-Transferase
HIV
Vírus da Imunodeficiência Humana
HTLV
Primeiro retrovírus humano
IFN
Interferon
IFNAR
Receptor específico do interferon
IM
Intramuscular
IMDPH
Inosina Monofosfato Diidrogenase do Hospedeiro
ISGs
Genes estimulados pelo interferon
JaK/STAT
Via de sinalização intracelular,
Kda
Quilodálton
LTC
Linfócitos T
NAT
Nucleic acid tests
NC
Não codificadora
NS
Não Estrutural
OMS
Organização Mundial de Saúde
ORF
Open Reading Frame
PCR
Reação da Polimerase em Cadeia
PEG
Peguilado
PEG-IFN
Interferon-Peguilado
9
RBV
Ribavarina
RIBA
Recombinant Imunoblot Based Assay
RNA
Ácido Ribonucléico
RNA-VHC
Ácido Ribonucléico do Vírus da Hepatite C
RT-PCR
Reação de Polimerase em Cadeia em Tempo Real
RVNS
Resposta Virológica Não Sustentada
RVP
Resposta Virológica Precoce
RVS
Resposta Virológica Sustentada
SC
Subcutânea
Th1
Tipo de Resposta da Imunidade celular
TMA
Trancription mediated amplification
TSH
Hormônio Tíreo-Estimulante
USG
Ultrassonografia
VHA
Vírus da hepatite A
VHB
Vírus da hepatite B
VHC
Vírus da hepatite C
VHC-RNA
Ácido ribonucleico do vírus da hepatite C
10
RESUMO
Aproximadamente 200 milhões de pessoas no mundo todo estão infectadas pelo vírus da hepatite
C (HCV), representando esta infecção uma verdadeira pandemia viral. A hepatite C crônica é
uma das principais causas de cirrose no mundo e a principal indicação de transplante hepático
nos EUA. Atualmente, o melhor tratamento para a infecção crônica pelo HCV é a combinação de
interferon-peguilado e ribavirina. Os pacientes que não obtêm sucesso na erradicação do
HCV incluem os não-respondedores (RNA do HCV detectável ao final do tratamento) e os
pacientes recidivantes (RNA do HCV indetectável ao final do tratamento, mas novamente
detectável dentro de 6 meses após o final do tratamento). Pacientes refratários à terapêutica são
comuns, mas o seu tratamento é difícil e pouco estudado. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar
o grau de resposta virológica de pacientes portadores de hepatite C crônica recidivantes e não
respondedores ao tratamento com alfapeginterferona 2-a e ribavirina submetidos ao
retratamento com alfapeginterferona 2-b e ribavirina, utilizando como método o estudo clínico
realizado em ambulatório especializado de hepatites virais (CEPEM) com pacientes portadores de
hepatite C crônica não respondedores e recidivantes, que foram submetidos ao retratamento com
alfapeginterferona 2-b e ribavirina durante 48 semanas para avaliação da resposta terapêutica. Os
resultados apontam que, dos 20 pacientes elegíveis para o retratamento, somente 3 (15%)
obtiveram RVS, sendo dois pacientes do grupo dos recidivantes e um paciente do grupo
dos não respondedores. A resposta virológica precoce, importante fator preditivo de RVS, foi
vista somente em um paciente (5%), sendo este do grupo dos recidivantes. Mais estudos em
pacientes recidivantes e não repondedores são urgentemente necessários.
Palavras-chave: Hepatite C. Retratamento. Não respondedores. Alfapeginterferona 2-a.
Alfapeginterferona 2-b
11
ABSTRACT
Hepatitis C virus infects an estimated 200 million persons worldwide and thus represents a viral
pandemic infection. HCV virus is an important cause of cirrhosis in the world and it is the
main indication for liver transplantation in the EUA. Currently, the best treatment for chronic
hepatitis C is the association of pegylated interferon plus ribavirin. Patients who do not achieve
virologic response to treatment is named nonresponders (RNA detectable at the end of the
treatment) and relapsers (RNA undetectable at the end of treatment, but detectable six
months after the end of treatment). Hepatitis C virus infection refractory to previous therapy is
common, but difficult and less studied. The objective of this research is establish the virologic
response of patients with virus C infection non responders and relapsers treated with pegylated
interferon alfa 2-a and ribavirin that were retreated with pegylated interferon alfa 2-b and
ribavirin, using as method a clinical study performed at a especialized ambulatorial center of viral
hepatitis (CEPEM). There, patients chronic infected with virus C non responders and relapsers
were retreated with pegylated interferon alfa 2-b and ribavirin for 48 weeks in order to evaluate the
therapeutic response. Of 20 patients who were eligible for the study only three (15%) achieve
SVR. Two of them were from the relapsers group and one from the non responders group. Early
virologic response, important preditable of SVR was seen in only one patient (5%) and this
pacient belongs to the relapsers group. More studies in patients who have failed prior therapy for
HCV infection are urgently needed.
Keywords: Hepatitis C. Retreatment. Nonresponders. Pegylated interferon alfa 2-a. Pegylated
interferon alfa 2-b
12
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS..................................................................................................................................................... 5
LISTA DE TABELA ..................................................................................................................................................... 6
LISTA DE QUADROS ................................................................................................................................................ 7
ABREVIATURAS ......................................................................................................................................................... 8
RESUMO ......................................................................................................................................................................... 10
ABSTRACT .................................................................................................................................................................... 11
1
INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 15
1.1
BREVE HISTÓRICO DA HEPATITE C......................................................................................... 15
1.2
ESTRUTURA MOLECULAR DO VÍRUS C.......................................................................................... 15
1.2.1
O Envelope Viral............................................................................................................................................. 15
1.2.2
O Genoma Viral ............................................................................................................................................. 16
1.2.3
O Ciclo de Replicação ................................................................................................................................... 16
1.2.4
A Variabilidade Genética ............................................................................................................................. 17
1.3
HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO PELO VHC ........................................................................ 17
1.4
ASPECTOS CLÍNICOS................................................................................................................................. 18
1.5
PATOGÊNESE................................................................................................................................................ 19
1.6
TRANSMISSÃO E EPIDEMIOLOGIA................................................................................................... 19
1.7
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL......................................................................................................... 21
1.7.1
Exames Hematológicos ................................................................................................................................. 21
1.7.2
Exames Bioquímicos ..................................................................................................................................... 21
1.7.3
Exames Hormonais ....................................................................................................................................... 22
1.7.4
Outros Exames................................................................................................................................................. 22
1.7.5
Marcadores Sorológicos ............................................................................................................................... 22
1.7.6
Biologia Molecular ......................................................................................................................................... 23
1.7.6.1 Detecção Qualitativa do RNA ........................................................................................................................ 23
1.7.6.2 Detecção Quantitativa do RNA ...................................................................................................................... 23
1.7.6.3 Quantificação do VHC por PCR em Tempo Real ..................................................................................... 24
1.7.6.4 A Identificação dos Genótipos do VHC ....................................................................................................... 24
1.7.7
Biópsia Hepática ............................................................................................................................................. 24
1.7.8
Diagnóstico por Imagem .............................................................................................................................. 25
13
1.8
TRATAMENTO.............................................................................................................................................. 25
1.8.1
Mecanismo de Ação, Farmacocinética e Farmacodinâmica ............................................................ 26
1.8.1.1 Interferon Alfa..................................................................................................................................................... 26
1.8.1.2 Interferons-Peguilados....................................................................................................................................... 27
1.8.1.3 Ribavirina............................................................................................................................................................. 28
1.8.1.4 Efeitos Adversos................................................................................................................................................. 29
1.8.2
Contraindicações à terapêutica antiviral para Hepatite C Crônica........................... 29
1.8.2.1 Absolutas.......................................................................................................................................................... 29
1.8.2.2 Relativas....................................................................................................................... 29
1.8.2.3 Objetivos do Tratamento.............................................................................................. 30
1.8.2.4 Retratamento................................................................................................................................................... 30
1.9
PREVENÇÃO................................................................................................................................................ 31
2
JUSTIFICATIVA DA PESQUISA.................................................................................................. 32
2.1
OBJETIVOS................................................................................................................................................... 32
2.1.1 Geral.................................................................................................................................................................. 32
2.1.2 Específicos...................................................................................................................................................... 32
3
METODOLOGIA...................................................................................................................................... 34
3.1
LOCAL DO ESTUDO............................................................................................................................... 34
3.2
TIPO DO ESTUDO..................................................................................................................................... 34
3.3
SELEÇÃO DA AMOSTRA.................................................................................................................... 34
3.3.1 Critérios de Inclusão................................................................................................................................ 34
3.3.2 Critérios de Exclusão............................................................................................................................... 35
3.4
FLUXOGRAMA DA PESQUISA....................................................................................................... 36
3.5
ANÁLISE ESTATÍSTICA...................................................................................................................... 37
3.6
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS................................................................................................................ 38
4
RESULTADOS........................................................................................................................................... 39
4.1
CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA ESTUDADA.............................................................. 39
4.2
RESPOSTA VIROLÓGICA DO RETRATAMENTO.............................................................. 45
4.3
AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA............................................................................................................. 47
4.4
EVENTOS ADVERSOS PRESENTES NO RETRATAMENTO....................................... 47
5
DISCUSSÃO................................................................................................................................................. 48
5.1
CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO EM ESTUDO....................................................... 49
5.2
FATORES DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DO VHC............................................................ 50
14
5.3
FATORES RELACIONADOS AO RETRAMENTO................................................................ 52
5.3.1 Manuseio dos Eventos Adversos....................................................................................................... 52
5.3.2 Polo de Aplicação....................................................................................................................................... 54
5.3.3 Avaliação da Dosagem de ALT.......................................................................................................... 55
5.4
AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA.......................................................................................................... 55
5.4.1 Resposta Virológica ao Retratamento............................................................................................ 56
6
CONCLUSÃO.............................................................................................................................................. 59
6.1
TOLERÂNCIA E EFEITOS ADVERSOS....................................................................................... 59
6.2
PERCENTUAL DE RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA (RVS) ..................... 59
REFERÊNCIAS......................................................................................................................................................... 60
ANEXOS........................................................................................................................................................................... 70
A – Ficha de atendimento da primeira consulta .......................................................................................................... 71
B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ..................................................................................... 75
C – Protocolo de Aprovação da Pesquisa..................................................................................................................... 78
15
1 INTRODUÇÃO
1.1 BREVE HISTÓRICO DA HEPATITE C
As evidências de formas infecciosas de hepatites remontam há vários séculos, sendo
introduzido no início deste século o termo “hepatite infecciosa” para descrever a forma
epidêmica dessa doença, para a qual, logo depois, foi sugerida uma provável etiologia viral
(PINHO et al., 1995). Epidemias de icterícia foram descritas desde a história antiga, há
milênios. Durante as guerras os relatos tornaram-se mais freqüentes (STAPLETON &
LEMON, 1994).
No início da década de 1970, triagens rotineiras eliminando doadores de sangue com
sorologia positiva para VHB não preveniram a maioria dos casos de hepatite póstransfusional. Os pacientes que desenvolviam hepatite eram negativos para o vírus da hepatite
B e da hepatite A, passando a ser diagnosticados com a terminologia de hepatite não-A não-B
(ALTER et al., 1978).
Em 1989, o genoma do vírus da hepatite C (VHC) foi clonado e sequenciado, sendo
identificado por Choo, a partir de um “pool” de plasmas de chimpanzés com alta capacidade
infectiva (ALTER et al., 1978).
Em 1990, pela técnica de PCR, o RNA viral (RNA-VHC) passou a ser determinado
no soro e no fígado, sendo que a aplicação de testes diagnósticos veio a confirmar
observações clínicas e epidemiológicas preliminares que o vírus da hepatite C era o agente
predominate das hepaties não-A não-B (HOUGTON et al., 1991).
1.2 ESTRUTURA MOLECULAR DO VÍRUS C
1.2.1 O Envelope Viral
O VHC apresenta-se em forma esférica com 50nm de diâmetro e possui
nucleocapsídeo envelopado e um genoma RNA de fita linear de polaridade positiva. As
principais proteínas do envelope viral são as glicoproteínas E1 e E2, que são liberadas da
poliproteína precursora por peptidases celulares e são altamente glicosiladas.
Em termos antigênicos, E1 e E2 foram bastante estudadas quanto a sua variabilidade
e são os principais componentes das vacinas em desenvolvimento (CHOO & PINHO, 2007).
16
Figura 1: Estrutura molecular do VHC
O Vírus
Vírus de RNA linear polaridade positiva com genoma ~9600 nt
6 genótipos, mais de 100 subtipos
quasiespecies
Particula 45-65 nm em diametro
Envelope
Capsid
Simetria icosoedrica
Envelope
glycoproteins
viral RNA
9600 nucleotides
Petit et al, Virology,
336, 144-53 (2005)
Fonte: PETTITE et al. Virology 336, 144–53 (2005)
1.2.2 O Genoma Viral
O genoma do VHC, com cerca de 10.000 nucleotídeos, é constituído de uma única
estrutura de leitura aberta (ORF) flanqueada por duas regiões não codificadoras, 5’ e 3’
terminal.
Sua translação dá origem a uma grande poliproteína, que é processada por proteases
virais e pela célula hospedeira em proteínas estruturais (core e envelope E1 e E2 e p7) e não
estruturais ( NS2, NS3,NS4 e NS5) responsáveis pelo ciclo biológico do vírus.
1.2.3 O Ciclo de Replicação
As proteínas estruturais (E1 e E2) são clivadas por enzimas próprias da célula
infectada, sendo que as proteínas do envelope são glicosiladas. Estas proteínas estão
envolvidas na ligação com receptores celulares, da mesma forma que existem evidências de
participarem dos processos de entrada e fusão do vírus. O genoma do VHC não invade o
núcleo da célula infectada. Após a ligação através de receptores, o genoma do VHC funciona
diretamente como um RNA mensageiro, sendo a translação iniciada por meio do sítio interno
de entrada do ribossoma na região 5’ NC. A proteína produzida é então processada,
primeiramente, por enzimas da célula e, posteriormente, pelo próprio vírus, dando origem a
proteínas estruturais e não-estruturais. Após a síntese e a maturação, essas proteínas não
17
estruturais e o RNA formam complexos de replicação associados à membrana que catalizam a
transcrição de fitas negativas de RNA intermediárias, a partir das quais moléculas progênies
de fitas positivas são geradas (BARONE, 2008).
1.2.4 A Variabilidade Genética
O VHC apresenta alta taxa de replicação, além de alta taxa de mutação, o que
proporciona a grande heterogeneidade de apresentações denominadas quasiespécies. A
seleção e a adaptação do hospedeiro às quasiespécies do VHC deram origem a distintos
genótipos (SIMMONDS et al., 1993). Existem 6 tipos, numerados de 1 a 6, com os subtipos
1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 5a e 6a. Apesar do critério ser baseado em biologia
molecular, essa classificação tem implicações práticas, algumas, patogênicas, epidemiológicas
e relacionadas ao tratamento (BARONE, 2008).
1.3 HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO PELO VHC
Na hepatite C, a evolução clínica costuma ser assintomática até as fases mais
avançadas da doença hepática, o que torna premente a definição de maior ou menor
gravidade, quando de seu diagnóstico, ou seja, o conhecimento de
sua história natural
(STRAUSS, 2007). Cerca de 15 a 20% dos indivíduos que adquirem a infecção aguda pelo
VHC se recuperam espontaneamente, enquanto 80 a 85% evoluem como portadores crônicos
do VHC. Destes, a maioria cursa com inflamação hepática leve ou moderada e fibrose
mínima, enquanto 20 a 40% desenvolvem doença hepática potencialmente grave e suas
complicações após muitos anos de infecção (MINCIS & MINCIS, 2007).
Algumas pesquisas descrevem que a positividade do VHC aumenta com a idade,
(BELLENTANI et al, 1999), havendo maior chance de progressão da doença (POYNARD et
al., 1997, BELLENTANI et al., 1999). O gênero masculino é mais prevalente em grande parte
dos estudos de hepatite C (POYNARD et al, 1997; LEPE et al, 2006) e, além disso, foi
associado à progressão da doença para cirrose (POYARD et al,1997; BELLENTANI et al,
1999).
Alguns estudos sugerem que os afrodescedentes têm pior evolução da hepatite C
devido à maior propensão à cronicidade, à resistência ao tratamento (maior porcentagem de
18
genótipo 1) e ao desenvolvimento de hepatocarcinoma (REDDY et al, 1999; EL SERAG,
2001).
Há diversos fatores extrínsecos ao hospedeiro relacionados à progressão da hepatite
C crônica. Indivíduos que ingerem álcool têm maior prevalência de infecção pelo VHC
(CAMPOLLO, 2002; SANCHEZ, 2002). Estudos sugerem que o álcool aumenta a habilidade
do VHC para entrar e persistir no organismo (CAMPOLLO, 2002), além de afetar alguns
componentes da resposta imune (CAMPOLLO, 2002), tornando-se um importante co-fator no
desenvolvimento do hepatocarcinoma (SCHIFF, 1999). Além disto, o uso de álcool em
indivíduos portadores do VHC aumenta a esteatose hepática e induz à apoptose (VENTO,
2002; CAMPOLLO, 2002; BAHATTACARYA et al, 2003).
O tabagismo pode induzir a lesão direta e indireta no fígado, ocasionando danos
imunológicos, além de aumentar a atividade inflamatória e fibrose hepática (EL-ZAYADI,
2006).
A aquisição do VHC por via endovenosa, a co-infecção com outros vírus, como
HIV, VHB e HTLV, também contribuem para a progressão da hepatite C crônica
(POYNARD et al, 1997; KISHIRHARA et al, 2001; EINAV et al, 2002)
Nos últimos anos, vários estudos associam diabetes mellitus e resistência à insulina,
obesidade e esteatose hepática com a progressão mais rápida da fibrose em pacientes com
hepatite C ( HU K-Q et al, 2004).
Entre os pacientes com cirrose, o hepatocarcinoma desenvolve-se em cerca de 1% a
4% ao ano. Embora controverso, diversos fatores virais do hospedeiro são responsáveis pela
evolução para cronicidade e para doença hepática terminal. A evolução para hepatocarcinoma,
na história natural da hepatite C, ocorre quase que exclusivamente nos pacientes em fase
cirrótica (ALTER & SEEF, 2000).
1.4 ASPECTOS CLÍNICOS
O espectro clínico da infecção pelo VHC resulta numa variedade de manifestações
hepáticas e extra-hepáticas. Em aproximadamente 15% dos pacientes, um quadro agudo é
observado assemelhando-se a outras formas de hepatite aguda. A hepatite C aguda é, em
geral, assintomática ou oligossintomática e é diagnosticada, evoluindo de forma silenciosa
para a cronicidade. A icterícia surge em um terço dos pacientes com infecção aguda
(HOOFNAGLE & SEEFF, 2006).
19
A maioria dos pacientes com doença crônica é também assintomática ou apresenta
sintomas inespecíficos, até aparecerem manifestações de cirrose. Os principais sintomas são
fadiga, anorexia, náuseas, desconforto abdominal, prurido e perda de peso. Alguns pacientes
apresentam manifestações extra-hepáticas que incluem as hematológicas (crioglobulinemia
essencial mista), dermatológicas (porfíria cutânea tarda e líquen plano) e renais
(glomerulonefrite membranoproliferativa) , sialoadenite e tireoidite de Hashimoto (MINCIS
& MINCIS, 2007).
1.5 PATOGÊNESE
Os mecanismos envolvidos no dano à célula hepática, assim como aqueles que
determinam a infecção crônica pelo VHC, não são bem conhecidos. Dados acumulados
sugerem que a resposta imune do hospedeiro contra o vírus desempenha um papel central na
sua patogênese (FUKUDA & NAKANO, 2007).
O desenvolvimento de hepatite aparentemente resulta do reconhecimento imune e da
destruição de hepatócitos infectados pelo VHC, sendo que o grau de destruição varia entre os
indivíduos infectados (NELSON & LAW, 1997).
Os mecanismos da persistência do VHC podem envolver tanto modificações virais
quanto aspectos próprios do hospedeiro, incluindo imunossupressão dependente do VHC,
proteção de células infectadas pelo VHC da morte celular apoptótica ou mutação genética de
domínios imunogênicos do VHC (EL-ZAYADI et al, 1992).
1.6 TRANSMISSÃO E EPIDEMIOLOGIA
A infecção pelo VHC tem distribuição universal, e as suas altas taxas de prevalência
estão diretamente relacionadas com os chamados grupos de riscos (hemofílicos, pacientes
hemodialisados, receptores de múltiplas transfusões, recém-nascidos de mães portadoras,
toxicômanos etc.) (FOCCACIA et al, 2007). Entre estes, chamam a atenção: os hemofílicos e
os hemodialisados. Nos pacientes submetidos à hemodiálise, a prevalência de anticorpos
anti-VHC varia de 15 a 50% na América do Norte, porém taxas de prevalência são um pouco
mais altas em outras partes do mundo, sendo que esta grande variação decorre do rigor
empregado nos cuidados com biossegurança (FOCACCIA et al, 2007).
20
Nos países desenvolvidos, com a introdução dos testes de ácidos nucleicos, a
transmissão transfusional tornou-se muito baixa, fazendo com que a via predominante de
contaminação seja, atualmente, aquela por drogas ilícitas endovenosas (FOCCACIA et al,
2007).
O risco de aquisição do VHC por via sexual é variável nos diferentes subgrupos de
indivíduos, sendo mais elevado naqueles com múltiplos parceiros sexuais ou que têm práticas
sexuais de risco para trauma de mucosa, o que inclui profissionais do sexo, homens que fazem
sexo com homens ou pacientes atendidos em clínicas de doenças sexualmente transmissíveis
(portadores de HIV ou outras DST) (TERRAULT, 2002).
A incidência de transmissão vertical do VHC é, aproximadamente, de 2 a 5 %. O
risco é maior nas seguintes situações: co-infeccão com HIV e mães com alta carga viral para o
VHC (FOCCACIA et al, 2007).
A prevalência da infecção pelo VHC tem sido estimada principalmente em doadores
de sangue, sendo relativamente uniforme em diversos países, porém com algumas variações:
na Escandinávia < 0,5%; na Europa e Américas, entre 1,0 a 2,0%; porém, no Egito, atinge
20% da população (LYRA et al, 2004). Esta maior prevalência no Egito muito provavelmente
foi consequência da disseminação do VHC através da administração em massa de terapêutica
parenteral para o tratamento da esquistossomíase, com agulhas
não-descartaveis
(FRANK et al, 2000).
Nos países em desenvolvimento, a manutenção da alta incidência de hepatite C
resulta, em grande parte, da transmissão por vias alternativas de contágio com sangue. Tal
situação decorre de fatores culturais que envolvem o desconhecimento da infecção e suas vias
de transmissão, e cuidados de prevenção. É frequente a utilização de materiais cortantes ou
perfurantes de uso coletivo não devidamente esterilizados (manicures, pedicures, dentistas,
acupunturistas, tatuadores, uso de piercings, agulhas não descartáveis etc) (FOCCACIA et al,
2007).
Em relação a números totais, a maior concentração de casos diagnosticados está na
região Sudeste, seguida pelas regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Essa distribuição
reflete a maior disponibilidade de recursos nas regiões Sudeste e Sul do país, assim como a
grande concentração populacional nessas áreas (DIAMET, 2008).
As hepatites virais são endêmicas em toda a Amazônia Brasileira e, em algumas
áreas, são hiperendêmicas com altas taxas de morbidade e mortalidade (PARANÁ et al,
2008). As características geográficas, culturais, étnicas e ambientais desta região favorecem a
21
disseminação deste e de outros vírus hepatotrópicos. No Brasil, particularmente na região
Amazônica, a mortalidade por doenças infecto-contagiosas teve uma redução importante na
última década, excetuando as hepatites virais. A hepatite C teve um aumento na sua
mortalidade de cerca de 30% na última década (PARANÁ et al, 2008).
A distribuição da hepatite C não é uniforme na região Amazônica, sofrendo
modificações na sua distribuição, tendo maior prevalência na Amazônia Ocidental, com
destaque para os ameríndios da região do “Vale do Javari”, com uma prevalência superior a
5,5% para a hepatite C (PARANÁ et al, 2008).
Em Rondônia, de acordo com Katsuragawa, em estudo de prevalência realizado com
a população ribeirinha no rio Madeira, a prevalência da hepatite C alcançou 7%
(KATSURAGAWA, 2006).
A região Norte apresenta um número crescente de casos confirmados de hepatite C.
Analisando os dados do Ministério da Saúde, do período de 2002 a 2003, verifica-se que
Rondônia, em números totais, ocupa o segundo maior número de casos positivos; em
primeiro, está o Estado do Acre (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
1.7 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
1.7.1 Exames Hematológicos
Em decorrência de esplenomegalia e do hiperesplenismo, observados em alguns
pacientes com hepatopatia avançada pelo VHC, pode haver leucopenia, trombocitopenia e,
em menor grau, anemia. A infecção pelo VHC está associada com a redução da taxa de
neutrófilos e contagem de plaquetas, sendo aconselhável screening para este vírus em
pacientes com contagem de neutrófilos abaixo de 1.0 x 109/L ou plaquetas abaixo de 100 x
109/L (STREIFF; METHA; THOMAS et al, 2002). A fibrose hepática ocasionada pelo VHC
proporciona o surgimento de trombocitopenia tanto pelo bloqueio da síntese de
trombopoetina, como também pelo sequestro plaquetário observado no hiperesplenismo
(STAUBER & LACKNER, 2007).
1.7.2 Exames Bioquímicos
A dosagem da alaninoaminotransferase representa um importante teste laboratorial
inespecífico para monitorizar a infecção pelo VHC, bem como a eficácia da terapia nos
22
intervalos das avaliações dos testes moleculares (NIH, 1997). A alteração laboratorial mais
frequente é a elevação contínua e intermitente das transaminases séricas, embora possam ser
normais em até 25% dos casos. Pode ocorrer também elevação da GGT e da fosfatase
alcalina. Nos casos com cirrose e acometimento da função de síntese hepática, ocorrem
hiperbilirrubinemia, prolongamento do tempo de protrombina e diminuição da albumina
sérica. A avaliação da ALT pode ser útil na monitorização da infecção pelo VHC, apesar de
não ser sensível em predizer a evolução para cirrose, podendo estar normal ou apresentar
flutuações ao longo do curso da infecção (NIH, 2002).
1.7.3 Exames Hormonais
Avaliação da função tireoideana deve ser incluída, uma vez que é frequente a
ocorrência de distúrbios da tireoide em associação com o próprio VHC ou a terapêutica
instituída. Dosagens de TSH devem ser realizadas anteriormente ao início da terapêutica.
1.7.4 Outros Exames
Anticorpos antinucleares são também encontrados com frequência no soro desses
pacientes, logo é recomendada a determinação destes, antes do início do tratamento. Embora,
a presença desses anticorpos não afete adversamente o curso do tratamento para o VHC, tais
pacientes devem ser cuidadosamente monitorizados para o desenvolvimento de doenças autoimunes (por exemplo, tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide e psoríase) durante o uso do
interferon. Nos pacientes com cirrose, deve-se incluir também screening laboratorial para
hepatocarcinoma através da dosagem sérica da alfafetoproteína.
1.7.5 Marcadores Sorológicos
O teste imunoenzimático (EIA), sobretudo o ELISA, é utilizado na triagem de
anticorpos anti-VHC (URDEA et al, 1997). No Brasil, este teste tornou-se obrigatório a partir
de 1993, em candidatos à doação de sangue (Ministério da Sáude, 1993).
Os testes de EIA
apresentam excelente reprodutibilidade em
pacientes
imunocompetentes, porém em pacientes hemodialisados e/ou imunocomprometidos a
sensibilidade se reduz significativamente (LAKSHIMI et al, 2007).
23
Muitos dos fatores de risco para transmissão do VHC são compartilhados pelo HIV,
logo o screening para este vírus deve ser incluído na investigação sorológica destes pacientes
(KRAIN et al, 2004). A co-infecção com VHB acelera a progressão para cirrose e aumenta o
risco para hepatocarcinoma, sendo também necessária a pesquisa deste vírus. É também
importante afastar a possiblidade de superinfecção com o VHA, o que acarreta elevada
morbidade (VENTO et al, 1998).
1.7.6 Biologia Molecular
Devido às limitações dos testes sorológicos, a detecção direta do RNA viral tornouse uma ferramenta essencial no diagnóstico da infecção pelo VHC. Suas vantagens incluem a
possibilidade do diagnóstico precoce na infecção viral aguda, o diagnóstico da infecção em
pacientes incapazes de montar uma resposta sorológica e a confirmação da infecção ativa em
situações específicas. Os testes de detecção do RNA do VHC são classificados em
qualitativos e quantitativos (GERMER et al, 2001).
1.7.6.1 Detecção Qualitativa do RNA
Os testes qualitativos utilizados para detecção do RNA do VHC são: a) RT-PCR
(Transcrição Reversa – Reação em Cadeia da Polimerase), TMA (Transcription Mediated
Amplification) e o NAT (nucleic acid tests), sendo que a RT-PCR é considerada como gold
standard no diagnóstico da infecção pelo VHC e na avaliação da resposta antiviral (SCHIFF
et.al.,1999).
A técnica de PCR é realizada através da separação do RNA da amostra, seguido de
transcrição reversa para gerar o DNA que será utilizado na amplificação específica da
sequência de ácido nucleico.
1.7.6.2 Detecção Quantitativa do RNA
Os testes quantitativos têm capacidade de determinar a quantidade de RNA do VHC
presente no soro de pacientes infectados (carga viral), o que tem importância prognósticoterapêutica. Duas técnicas são utilizadas na quantificação do RNA do VHC em amostras
24
clínicas: a primeira é baseada na técnica de PCR e detecta baixas quantidades de vírus; a
segunda técnica, na tecnologia de bDNA (branched DNA) (YANG et al, 2002).
1.7.6.3 Quantificação do VHC por PCR em Tempo-Real
A PCR em tempo real é uma metodologia capaz de permitir a detecção do produto
de PCR à medida que vai sendo formado e não somente ao final da reação de PCR. Dessa
forma, acrescentou-se ao extremamente sensível método de PCR, maior praticidade, menor
tempo para obtenção do resultado e diminuição da possibilidade de reação cruzad a (HEID et
al, 1996; GIBSON et al, 1996).
1.7.6.4 Identificação dos Genótipos do VHC
A região 5' NCR é a região de escolha para detecção qualitativa e quantitativa do
RNA do VHC, por ser uma região altamente conservada. Por essa razão, é a mais utilizada
para
ensaios
de
genotipagem
do
VHC
na
maioria
dos
laboratórios
clínicos
(CHINCHAI et al, 2003). Dessa forma, é fundamental a escolha de uma região que apresente
um polimorfismo maior dentro do genoma e que permita diferenciar os diferentes genótipos e
seus subtipos de forma mais acurada. As regiões mais estudadas com essa finalidade são as
regiões do core, envelope E1 e a região NS5B (BUKH et. al.,1995).
1.7.7 Biópsia Hepática
A biópsia hepática é um procedimento de grande valor no paciente com VHC. Sua
importância está no fato de confirmar o diagnóstico de hepatite crônica, avaliar o grau e o
estadiamento da doença, além de excluir ou detectar a presença de outras doenças. No
entanto, não deve ser desconsiderado que a biópsia hepática apresenta morbimortalidade, a
despeito de os riscos serem mínimos.
Nos pacientes com doença crônica, é o padrão ouro para o estadiamento. Entende-se
que ela possa ser realizada independentemente dos níveis de aminotransferases, sendo
desnecessária em pacientes com quadro clínico, laboratorial e ecográfico de cirrose
(CHEINQUER et al, 2005). Existem diversos sistemas de classificação (graduação e
estadiamento) das hepatites crônicas, vários deles de importância histórica. Recomenda-se o
25
uso de duas classificações das hepatites crônicas: a da Sociedade Brasileira de Patologia ou a
Metavir (MELLO & ALVES, 2008).
1.7.8 Diagnóstico Por Imagem
A fibrose hepática é a base para o desenvolvimento da hipertensão portal e demais
complicações da doença hepática crônica. Avaliação da fibrose hepática é importante para
determinar o prognóstico, guiar decisões terapêuticas e monitorizar a evolução da doença.
Dessa maneira, métodos não invasivos capazes de aferir o grau da fibrose hepática são
desejáveis (STAUBER & LACKNER, 2007).
USG com Doppler constitui importante ferramenta não invasiva e, na maioria dos
estudos, é possível distinguir, com este método de imagem, cirróticos de não cirróticos, porém
há limitações com graus moderados de fibrose hepática.
Esteatose hepática é marcadamente associada ao genótipo 3 do VHC, sendo bem
avaliada pelo método ultrassonográfico (SCHNEIDER et al, 2005). Este método é
conveniente, por ser custo-efetivo e não apresentar exposição à radiação, sendo útil no
screening para hepatocarcinoma. Tomografia computadorizada e ressonância magnética
também são capazes de demonstrar tumores hepáticos e esteatose, porém apresentam custos
elevados e exposição à radiação (CHEN et al, 2008).
1.8 TRATAMENTO
Hepatite não-A não-B foi reconhecida como uma importante causa de doença
hepática crônica mesmo antes da identificação do seu agente etiológico. Nos 17 anos que se
seguiram à identificação do VHC, notáveis foram os avanços no tratamento dessa infecção.
Enquanto a monoterapia com interferon-α alcançava resposta virológica em menos de 20%
dos pacientes (HOOFNAGLE & SEEF, 2006), a adição de ribavirina (McHUTCHINSON et
al, 1998) e, mais recentemente, a substituição do interferon-α padrão pelo interferonpeguilado associado à ribavirina (HEATHCOTE et al, 2000) permitiram melhora dramática
dos índices de RVS, da ordem de 45 a 50% nos portadores de VHC genótipo 1 e de,
aproximadamente, 80% nos portadores de genótipo 2 e 3 (FRIED et al, 2002).
Regimes terapêuticos melhoraram dramaticamente desde 1989 com o advento do
uso do análogo nucleosídeo ribavirina e interferons-peguilados de longa ação (DAVIS &
26
LINDSAY, 2005). O interferon, em sua formulação peguilada, em associação com a
ribavirina, apresenta maior eficácia em várias situações clínicas (FOCCACIA et al, 2007).
Taxas mais altas de respostas virológicas mantidas em pacientes com hepatite C crônica
foram
relatadas
para
as
formas peguiladas
de interferons comparadas
com
o
interferon-padrão, tanto na monoterapia quanto na terapia combinada em ribavirina
(LINDSAY et al, 2001; FRIED et al, 2004).
Tabela 1: Drogas utilizadas no tratamento da hepatite C crônica.
Drogas
Terapia combinada: peguinterferon +
ribavirina
Peguinterferon alfa 2-a (40 kDa)
Peguinterferon alfa 2-b (12 kDa)
Ribavirina
Dosagem recomendada
180 µg via subcutânea 1 vez por semana
1,5 µg/kg via subcutânea 1 vez por semana
1000-1200 mg via oral 2 vezes ao dia
Monoterapia: Interferon
Interferon alfa 2-a
Interferon alfa 2-b
3 mU via subcutânea 3 vezes por semana
3 mU via subcutânea 3 vezes por semana
Fonte: ROSENBERG, W. Clinical Seminars in Hepatitis C. Current Treatments. London-UK: Now Pharma Ltd,
2007.
1.8.1 Mecanismo de Ação, Farmacocinética e Farmacodinâmica
1.8.1.1 Interferon Alfa
O mecanismo de ação biológica do Interferon Alfa ocorre através da ativação de
genes específicos, influenciando o crescimento e a divisão celular, além de modular algumas
ações do sistema imunológico. Portanto, interferons possuem atividade antiviral indireta sobre
o VHC.
Comercialmente, o Interferon Alfa é produzido por meio de técnicas de DNA
recombinante e está disponível em preparações de dois subtipos distintos, interferon alfa 2a
ou 2b, que podem ser associados a outras moléculas, como polietilenoglicol ou, mais
recentemente, albumina.
Interferons alfa 2a e 2b diferem apenas no aminoácido presente na posição 23 da
proteína: o alfa 2b possui uma lisina nesta posição, enquanto o alfa-2b possui uma arginina.
Após a ligação ao seu receptor específico (IFNAR) na superfície das células–alvo, o IFN-alfa
ativa uma cascata de sinalização intracelular, que leva à indução de genes estimulados pelo
27
IFN (ISGs), estabelecendo um estado antiviral não-vírus específico dentro da célula. O
principal mecanismo de sinalização utilizado pelo IFN-alfa é a chamada via Jak/STAT
(MELO et al, 2008), proporcionando mudanças na expressão dos genes.
A absorção de IFN-alfa (2a e 2b) é alta (maior que 80%), quando administrados por
via intramuscular (IM) ou subcutânea (SC). O pico de concentração é normalmente atingido
entre 3 a 12 horas após a administração IM ou SC. O metabolismo e a eliminação do IFN-alfa
ocorrem principalmente por via renal, com um tempo de meia vida entre 3 e 8 horas (MELO
etal., 2008).
1.8.1.2 Interferons-peguilados
Interferons-peguilados (PEG-INF) são produzidos pela ligação de uma molécula
inerte de polietilenoglicol ao INF-alfa recombinante, que reduz o clearance renal, altera o
metabolismo e aumenta a meia-vida da molécula de interferon, mantendo, porém todas as
suas características imunoestimulatórias (MELO et al, 2008).
Os PEG-IFNs diferem em muitos parâmetros farmacocinéticos, (Tabela 1), inclusive
volume de distribuição, alfapeginterferona 2-b tem sua dose baseada no peso (1,01,5ug/kg/semana), ao passo que alfapeginterferona 2-a é administrado na dose única simples
de 180ug/semana.
Tabela 2: Características farmacocinéticas de interferons-peguilados
PEG-INF α2b
PEG-INF-α2A
Linear com 12kD
Ramificado com 40 kD
20-40
8
Depuração (ml/h)
725
60
Absorção (h)
4,6
50
Meia-vida de eliminação (h)
54
65
Tmax(h)
20
80
Relação pico/vale
6
1,2
Concentração de pico após (h)
24
48-72
Volume de distribuição (l)
Fonte: FERENCI, P. Digestive and Liver Disease 35 (2003) 601-606.
Em geral, tende-se a superestimar o impacto da determinação da dose com base no
peso e, certamente, não há necessidade de tal procedimento nos casos em que é utilizado
28
alapeginterferona 2-a ramificado com 40kD com volume restrito de distribuição. Ainda não
foi determinado se a dose de alfapeginterferona 2-b com 12kDa linear determinada com base
no peso resulta em qualquer benefício, em comparação a uma dose convencional do
medicamento (FERENCI, 2003).
Estas diferenças podem influenciar no tipo de resposta virológica obtida. A eficácia
das duas medicações foi comparada, e a taxa de resposta virológica precoce foi maior com
PEG-IFN alfa 2-b, sendo que a do final do tratamento foi maior com PEG-IFN alfa 2-a. No
entanto, este fato não resultou diferença nas taxas de RVS entre as duas medicações, devido
às diferenças farmacocinéticas. A taxa de recaída foi maior com PEG-IFN 2-a, o que não
acarretou diferença nas taxas RVS entre as duas medicações. A taxa de resposta ao final do
Tratamento foi maior com PEG-IFN alfa 2-a, mas isto não ocorreria se a terapia prescrita não
fosse prolongada por mais 72 semanas, que é o recomendado para aqueles que não atingem
resposta virológica parcial rápida ou precoce (BERG et al, 2006; SÁNCHEZ-TAPIAS et al,
2006).
1.8.1.3 Ribavirina
A Ribavirina é um nucleosídeo sintético estruturalmente similar à guanosina. Entra
rapidamente nas células eucariótica e, depois de sofrer fosoforilação intracelular, exibe
atividade virustática contra um largo espectro de DNA e RNA vírus. O mecanismo exato da
ação antiviral ainda não está completamente elucidado. Entretanto, alguns estudos sugerem os
seguintes mecanismos possíveis: inibição direta da replicação do VHC, inibição da enzima
inosina monofosfato diidrogenase do hospedeiro (IMPDH), indução de mutagênese no RNA
viral e imunomodulação pela indução de uma resposta imune do tipo Th1. A ribavirina é
rapidamente absorvida (meia-vida de aproximadamente 2 horas) e amplamente distribuída
pelo corpo após a sua administração por via oral. Sua metabolização ocorre principalmente
via renal (MELO et al, 2008).
29
1.8.1.4 Efeitos Adversos
Tabela 3: Efeitos adversos associados com peginterferon-alfa e ribavirina
Efeitos adversos associados com peginterferon alfa e ribavirina
Peginterferon
Ribavirina
Neutropenia
Anemia hemolítica
Trombocitopenia
Fadiga
Depressão
Prurido
Hipoteroidismo e hipertireoidismo
Rash
Irritabilidade, distúrbios e memória
Sinusite
Distúrbios visuais
Sintomas gripais: Fadiga, dores musculares, dor de cabeça
Teratogenicidade
Náusea e vômitos
Gota
Irritação na pele
Febre
Perda de peso
Insônia
Perda auditiva
Zumbido
Fibrose intersticial
Queda de cabelo
Fonte: ROSENBERG, W. Clinical Seminars in Hepatitis C. Part Two. Currents Treatments. London-UK:
Copyright nowPharma Ltd, 2007
1.8.2 Contraindicações à terapêutica antiviral para hepatite C crônica
1.8.2.1 Absolutas:
● Distúrbios psiquiátricos;
● Doença hepática descompensada;
● Gravidez;
● Neoplasias;
● Diabetes mellitus de difícil controle;
● Transplantados (exceto de fígado);
● Plaquetopenia inferior a 60.000/mm³;
● Neutropenia inferior a 1.000/mm³;
● Hipertireoidismo.
1.8.2.2 Relativas
● Doenças cardiovasculares;
● Doenças auto-imunes em atividade;
30
● Doença convulsiva crônica;
● Distúrbios hematológicos graves;
● Uso de álcool ou drogas ilícitas;
● Insuficiência renal crônica ou hemodiálise;
● Co-infecção VHC/HIV e VHC/VHB.
1.8.2.3 Objetivos do Tratamento
O tratamento da hepatite C crônica tem como objetivo impedir as complicações da
infecção viral, o que se alcança principalmente pela erradicação do VHC. Considera-se que a
infecção esteja erradicada quando existir uma RVS, definida como a ausência do RNA-VHC
no plasma, por um teste sensível ao final de seis meses após o tratamento (STRADER &
WRIGHT, 1994). A RVS foi associada à interrupção da progressão ou mesmo á regressão da
hepatopatia, sendo pois, o principal objetivo do tratamento (MANNS et al, 2001; POYNARD
et al,1998; POYNARD et al, 2002).
A probabilidade de se alcançar RVS pode ser prognosticada pelas características
pré-tratamento do paciente, bem como pela resposta virológica precoce e aderência à terapia
antiviral (PINTO, 2007).
São fatores preditores de resposta reduzida ao tratamento antiviral relacionados ao
paciente: fibrose avançada ou cirrose, grupo étnico afrodescendente, sexo masculino, idade
avançada, obesidade e esteatose hepática (SALMERON & PEREZ, 1996; DAVIS, 1997) e
dentre os relacionados ao vírus pode-se destacar os genótipos do VHC e a carga viral
(SALMERON & PEREZ, 1996).
1.8.2.4 Retratamento
Historicamente, a infecção crônica pelo VHC tem sido uma doença de difícil
tratamento. Entre os pacientes que não responderam ao tratamento inicial, são considerados
dois tipos: os recidivantes (que mantém níveis indetectáveis de RNA do vírus C ao longo do
tratamento, mas que voltam a positivá-lo ao final de 6 meses de acompanhamento e os não
respondedores (aqueles que apresentam positividade para o RNA do VHC ao final do
tratamento) aos seguintes esquemas terapêuticos: monoterapia com INF, INF convencional e
ribavirina.
31
São poucos os estudos sobre retratamento de pacientes não respondedores com a
combinação de interferon-peguilado e ribavirina. Taxas de RVS são maiores em pacientes
com genótipo não-1 (60% vs 15%), pacientes com menos de 50 anos, (25% vs 13%),
não-afrodescendentes (22% vs 0%) e pacientes com declínio, de pelo menos, 2-log no VHCRNA na semana 12 (41% vs 7%) (DUCAN & YONOUSSI, 2003).
De modo geral, a decisão em retratar os pacientes não respondedores deve-se basear
no padrão de resposta do tratamento prévio, regime terapêutico utilizado, severidade da
doença hepática subjacente, genótipo do VHC e tolerância do paciente ao primeiro tratamento
(DUCAN & YONOUSSI, et al, 2003).
1.9 PREVENÇÃO
O clearance da infecção aguda pelo VHC ocorre raramente e, quando isso acontece,
não resulta em imunidade protetora para a hepatite C. Esse fato torna o desenvolvimento de
uma vacina profilática improvável. Entretanto, o papel da imunidade no clearance natural da
infecção e na resposta virológica sustentada à terapêutica sugere que seria possível o
desenvolvimento de uma vacina que estimulasse, de modo efetivo, a resposta imune
direcionada ao VHC (LEUROX-ROELS et al, 2004).
Várias estratégias são comumente empregadas, incluindo epitopos imunodominantes
CD4 e CD8, estimuladores de epitopos de células B, e uma combinação de vacinas com
diferentes adjuvantes ou terapias imunes de apoio. Ambos, DNA e vacinas, à base de
proteínas, estão em desenvolvimento, e ensaios clínicos são aguardados (ROSENBERG,
2007). Embora muitos tipos de vacinas tenham sido projetados e sua eficácia tenha sido
investigada, nenhuma está disponível para uso clínico (NAKANO & FUKUDA, 2007).
32
2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
A hepatite C Crônica promove uma deterioração lenta e progressiva da função
hepática em até 70% dos indivíduos acometidos (ALTER et al, 1992). O tratamento da
hepatite C evoluiu desde a monoterapia com interferon alfa até a terapia combinada com
interferon mais ribavirina (DAVIS et al, 1989; POYNARD et al,1998) e, mais recentemente,
a terapia combinada com interferon-peguilado alfa-2b ou alfa-2a uma vez por semana. Esses
esquemas terapêuticos produziram uma taxa de resposta virológica (RVS) significativamente
maior em comparação com a terapia combinada com interferon e rivabirina no tratamento dos
pacientes naive (virgens de tratamento) (MANNS et al, 2001, FRIED et al, 2002), sendo, pois,
considerados a nova terapia padrão para esse grupo de pacientes. O interferon-alfa peguilado
foi produzido através da adição de uma molécula de polietilenoglicol, um polímero de peso
molecular variado, à proteína do interferon alfa, produzindo modificações substanciais em seu
metabolismo e na excreção, permitindo que uma dose semanal mantenha níveis séricos
terapêuticos satisfatórios (PEDDER, 2003; CALICETI 2004).
Apesar
das
taxas
de
RVS
semelhantes
observadas
com
os
dois
interferons-peguilados, o uso desses dois fármacos difere significativamente, uma vez que o
peginterferon alfa-2a é administrado em doses fixas, enquanto o peginterferon alfa-2b é
utilizado de acordo com o peso corporal do paciente, baseado em achados anteriores de que as
taxas de resposta à monoterapia com interferon alfa-2b foram influenciadas fortemente pelo
peso corporal (MCHUTCHINSON et al, 2001).
2.1 OBJETIVOS
2.1.1 Geral
Avaliar o grau de resposta virológica de pacientes portadores de hepatite C crônica
recidivantes e não respondedores ao tratamento com alfapeginterferona 2-a e ribavirina
submentidos ao retratamento com alfapeginterferona 2-b e ribavirina, no período 2007/2008.
2.1.2 Específicos
Verificar se o retratamento com alfapeginterferona 2-b baseado no peso (1.5ug/Kg
por semana) associado à ribavirina (1000-1200mg/dia) durante 48 semanas interfere na
33
resposta final ao tratamento dos pacientes portadores de hepatite C crônica recidivantes e não
repondedores.
Criar um polo de aplicação da medicação com intuito de monitorizar a administração
e adesão ao retratamento, acompanhando as modificações na dosagem da alfapeginterferona
2-b conforme as variações no peso corporal apresentadas pelos pacientes.
34
3 METODOLOGIA
3.1 LOCAL DO ESTUDO
A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Hepatites Virais do Centro de Pesquisa
em Medicina Tropical de Rondônia (CEPEM), localizado na BR 364, Km 3,5 na cidade de
Porto Velho, considerado o centro de referência no Estado para o diagnóstico e tratamento das
hepatites virais. Foi criado no ano de 1993, com objetivo de atender a pacientes com suspeita
clinica de hepatites virais com característica aguda ou crônica.
Para realizar a pesquisa, criou-se um polo específico para aplicação do
interferon-peguilado alfa 2-b no próprio ambulatório, considerando a necessidade da
supervisão da administração do medicamento.
O Estado de Rondônia faz parte da Amazônia Ocidental, onde a prevalência das
hepatites virais é considerada alta. O município de Porto Velho conta com 353.961 habitantes
(IBGE, 2007).
3.2 TIPO DE ESTUDO
Este estudo consiste num ensaio clínico controlado não randomizado.
3.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA
Foram selecionados pacientes matriculados no ambulatório especializado no
tratamento de hepatites virais de Porto Velho (CEPEM), com diagnóstico de hepatite C
crônica, recidivantes e não respondedores ao tratamento com alfapeginterferona 2-a e
ribavirina.
Até dezembro de 2009, o referido ambulatório tinha 3.641 pacientes matriculados,
sendo aproximadamente 1.500 pacientes com hepatite C crônica. Destes, vinte cumpriam os
critérios de inclusão no estudo.
3.3.1 Critérios de Inclusão
Os pacientes foram incluídos de acordo com os seguintes critérios:
35
● Idade entre 18 e 70 anos;
● Portadores de hepatite C crônica compensada, recidivantes e não respondedores
ao tratamento com alfapeginterferona 2-a e ribavirina;
Ambos os sexos;
● Concentrações anormais de aminotransferases;
● RNA-VHC detectável;
● Biópsia hepática prévia com confirmação histológica de hepatite C crônica;
● Assinatura do Termo de Consentimento livre e esclarecido pós-informação
(Segundo Resolução 196/96, do CNS).
3.3.2 Critérios de Exclusão
Valores de hemoglobina < 12g/dl;
Neutrófilos < 1.500/mm³;
Plaquetas <100.000/mm³;
Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana(HIV);
Co-infecção com hepatite B;
Doença hepática descompensada;
Convulsões;
Transplante de órgãos prévio;
Disfunção cardiovascular significativa;
Doença pulmonar crônica;
Diabettes melitus descompensado;
Outra causa de doença hepática;
Doença psiquiátrica pré-existente;
Hemoglobinopatias;
Hemofilia;
Alterações retinianas clinicamente significativas;
Consumo de álcool e drogas intravenosas;
Gestação e amamentação;
Valores laboratoriais de bilirrubina sérica, tempo de protrombina, albumina,
glicemia, creatinina e alfafetoproteína alterados;
36
Evidências de nódulos hepáticos ou hepatocarcinoma.
3.4 FLUXOGRAMA DA PESQUISA
a) Ingresso:
Os pacientes que preenchiam os critérios de elegiblididade, assinavam o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B), para o ingresso no estudo.
b) Entrevista pelo pesquisador principal
Realizada com intuito de avaliar o preenchimento do TCLE, bem como prestar
esclarecimentos pertinentes ao retratamento, avaliar os exames pré-tratamento e realizar a
primeira a primeira avaliação clínica.
Ainda por ocasião da primeira consulta, o pesquisador principal preenchia a ficha
clínica (Anexo A) com dados de anamenese e do exame físico. Uma atenção maior foi dada
para os pacientes com fibrose mais avançada e cirrose, uma vez que estes poderiam
descompensar com maior facilidade e apresentar eventos adversos mais significativos durante
a terapêutica.
c) Coleta de material biológico (sangue) para realização do PCR qualitativo e quantitativo
(Real Time), genotipagem e exames básicos de bioquímica sanguínea, hormonais e
hematológicos.
d) A primeira alíquota de sangue foi realizada por técnico de enfermagem, sendo coletado 5ml
de sangue venoso em tubo de ensaio, contendo EDTA tipo gel. A seguir, o material era
colocado no refrigerador a -20ºC e armazenado até o envio para o Centro de diagnóstico
Genoma em São Paulo.
e) A segunda alíquota era para realização dos exames bioquímicos, hematológicos e
hormonais.
A partir das amostras biológicas obteve-se a extração do RNA viral com produção
do DNA complementar (cDNA) que ocorreu através da reação de transcrição reversa (RT)
logo após a extração do RNA viral.
f) Supervisão
Foi criado um polo de aplicação para a administração do medicamento, sendo este
administrado no Ambulatório Especializado no tratamento de hepatites virais por profissional
de saúde previamente designado. A dose do medicamento foi ajustada conforme o peso
corporal dos pacientes que era aferido antes da aplicação semanal do interferon-peguilado alfa
2-b.
37
g) Seguimento
O seguimento foi realizado pelo pesquisador principal semanalmente no primeiro
mês de tratamento; no segundo; quinzenalmente e, após, mensalmente. As avaliações eram de
natureza clínica e laboratorial, objetivando monitorar possíveis efeitos colaterais interentes à
terapêutica, bem como a resposta virológica nas semanas 12, 24, 36, 48 e 72.
A resposta virológica precoce foi definida como o nível sérico indetectável de
VHC-RNA ou a redução de > 2 log no nível sérico de VHC-RNA, baseado em ensaios
quantitativos de RT-PCR na décima segunda semana de retratamento.
A resposta virológica sustentada foi definida como a ausência de VHC-RNA
detectável no final do acompanhamento 24 semanas após o final do retratamento por meio do
ensaio qualitativo da RT-PCR.
h) Medicação
Os pacientes em retratamento receberam a combinação de peginterferon alfa-2b
mais ribavirina durante 48 semanas. Peginterferon alfa 2-b foi usado na dose de 1,5 ug/kg por
semana em injeção única por via subcutânea.
A ribavirina foi adminsitrada por via oral na dose diária de 1000 mg (pacientes< 75
kg) e 1200 mg (pacientes > 75kg).
Reduções progressivas das doses de peginterferon alfa 2-b para 1.0mg/kg por
semana estavam previstas se, porventura, houvesse queda de plaquetas abaixo de 50.000/mm³
ou granulócitos abaixo de 750 células/mm³. Também estavam previstas reduções nas doses de
ribavirina para metade das doses iniciais caso houvessse queda nos níveis de hemoglobina
abaixo de 10mg/dl.
3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística foi realizada através do método de avaliação percentual e,
quando houve a necessidade de comparação das médias dos resultados entre os dois grupos de
pacientes (recidivantes e não respondedores), utilizou-se o método t-student. Os dados foram
organizados no sistema operacional Windows® e usou-se o programa Excel® para o cálculo
das médias dos resultados, dos valores mínimo e máximo das categorias peso e idade, e dos
dados laboratoriais. Através desse programa, também foi calculado o desvio padrão e foram
elaborados os gráficos.
38
3.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Os pacientes que procuram atendimento médico no ambulatório de hepatites do
CEPEM são informados, durante a primeira consulta, que podem ter seus dados clínicos e
laboratoriais registrados em prontuários individuais e disponibilizados para estudos científicos
em hepatites virais.
No caso desta pesquisa, a princípio, foi obtido o Consentimento Livre e Esclarecido
(Anexo B) assinado por todos pacientes para participar do estudo. A pesquisa foi realizada de
acordo com os princípios estipulados pela Assembléia Médica Mundial de 1975 e do
Ministério de Saúde (Resolução 196/1996). O projeto foi analisado e aprovado pela Comissão
de Ética do CEPEM/IPEPATRO, conforme Parecer 15/CEP/CEPEM e registro no CEP sob o
número 088/2009/CEP (Anexo C).
39
4 RESULTADOS
4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA ESTUDADA
Foram elegíveis para este ensaio clínico 20 pacientes portadores de hepatite C
crônica previamente tratados com alfapeginterferona 2-a e ribavirina nos anos de 2004, 2005
e 2006 sem sucesso terapêutico, sendo então divididos em duas categorias: não respondedores
(65%) e recidivantes (35%). As características gerais da população em estudo estão
sumarizadas na tabela 4.
Tabela 4: Características gerais da população estudada
Características
Recidivantes
(n=7)
Não Respondedores
(n=13)
Total
(n=20)
5
(31,2%)
2
(50%)
11
(68,7%)
2
(50,%)
16
(80%)
04
(20%)
6
(40%)
0
(0%)
1
(25%)
52,1 (DP – 3,98)
Min 48
Max 59
9
(60%)
1
(100%)
3
(75%)
51,1 (DP – 9,15)
Min 33
Max 70
15
(75%)
01
(5%)
04
(20%)
20
-
11
(73,3%)
2
3 (60%)
(40%)
77,41 (DP – 7,10 )
78,07 (DP – 8,17)
Min 67,5
Min 67
Max 88,7
Max 93,5
6
10
(37,5%)
(62,5%)
1
3
(25%)
(75%)
2
7
(22,2%)
(77,8%)
*DP: Desvio padrão
15
(75%)
05
(25%)
20
16
(80%)
04
(20%)
09
(45%)
SEXO (%)
Masculino
Feminino
ETNIA (%)
Branca
Negra
Parda
IDADE (média)
PROCEDÊNCIA
Porto Velho
Interior de Rondônia
PESO Kg (média)
> 75Kg
< 75Kg
COMORBIDADES
Fonte: dados da pesquisa
4
(26,6%)
No tocante às comorbidades, foram relatadas as seguintes comorbidades associadas
à hepatite C crônica: hipertensão arterial, diabetes mellitus, esteatose hepática, obesidade,
dislipidemia e resistência insulínica.
40
Dos hábitos de vida anteriores, atentou-se para o fato de que a grande maioria dos
pacientes relatava passado de etilismo social e tabagismo.
Tabela 5: Acometimento hepático conforme o escore de fibrose pelo Metavir
Acometimento hepático
Total de Pacientes
População Estudada
F1
F2
F3
F4
Todos
N= 5
N= 1
N= 5
N= 9
N= 20
(25 %)
(5 %)
(25 %)
(45 %)
(100 %)
Esplenomegalia
1
(25,0%)
0
(0,0%)
1
(25%)
2
(59%)
4
(20%)
Gatropatia hipertensiva portal
0
(0,0%)
0
(0,0%)
2
(66,6%)
1
(33,3%)
3
(15%)
Hepatomegalia
1
(16,6%)
1
(16,6%)
3
(16,6%)
1
(16,6%)
6
(30%)
Fonte: Dados da pesquisa (F1 = Fibrose portal sem formação de septos, F2 = fibrose portal com
poucos septos, F3 = fibrose portal com vários septos e cirrose e F4=cirrose)
Como acometimento hepático foram considerados foram a esplenomegalia,
gastropatia hipertensiva portal e hepatomegalia. Nos pacientes com fibrose grau 1 e grau 2,
estiveram presentes esplenomegalia e hepatomegalia discretas, enquanto nos pacientes com
fibrose graus 3 e 4, além da hepatoesplenomegalia, foi relatado gastropatia hipertensiva
portal.
Figura 2: Distribuição percentual da relação dos fatores de risco para aquisição do
VHC em pacientes com hepatite C crônica não respondedores e recidivantes
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
41
Fonte: Dados da pesquisa
Todos os pacientes que relataram hemotransfusão como fator de risco provável para
aquisição do VHC haviam-se submetido a este procedimento há mais de 28 anos.
As cirurgias mencionadas foram as mais diversas, podendo citar a apendicectomia,
hernioplastia, colecistectomia, transplante de córnea, cesárea, histerectomia e laqueadura
tubárea.
Com relação ao convívio como portador, um paciente tinha o conjugue infectado por
genótipo idêntico ao seu, porém com subtipo distinto e o outro relatou convívio esporádico
com indivíduo infectado em ambiente hospitalar por motivos profissionais, pois trabalhava na
área de saúde.
O paciente que relatou promiscuidade sexual não fazia uso de preservativo, tendo
relatado, como outros fatores de risco, procedimentos odontológicos e injeção com agulhas
reesterelizáveis.
Quanto ao tipo de resposta viral mais frequente vista na terapêutica inicial havia
predomínio dos não respondedores (65%).
Os exames hematológicos e bioquímicos, bem como o perfil sorológico dos
pacientes, foram atualizados e estavam condizentes com o retratamento.
A média dos valores da hemoglobina, granulócitos, plaquetas, ALT e α-fetoproteína
encontra-se representada no Quadro 1.
Quadro 1: Características bioquímicas e hematológicas no pré-tratamento de todos
os pacientes incluídos no estudo (recidivantes e não respondedores)
Dados Laboratoriais
Valores
Média dos
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Resultados
Hb (mg/dl)
12,10
17,00
14,64 (mg/dl)
1,3
Granulócitos (células/mm3)
3000
11100
6020(células/mm³)
2275,37
Plaquetas (células/mm3)
96000
276000
157600(células/mm³)
48,420
ALT (UI/l)
15
184
74(UI/l)
45,8
α-fetoproteína (ng/ml)
1,61
9,5
3,96(ng/ml)
2,1
Fonte: Dados da pesquisa
Os menores valores de hemoblogina, granulócitos e plaquetas foram encontrados
nos pacientes com fibrose mais avançada e cirrose.
42
A carga viral, antes do retratamento, era menor que 850.000UI/ml em cerca de 80%
dos casos.
O genótipo 1 do VHC era o mais freqüente (95%) com predomínio do subtipo1b
(60%). Apenas um paciente era do genótipo 2.
Quadro 2: Análise da média de ALT no pré-tratamento e no término do tratamento
nos pacientes recidivantes e não respondedores.
ALT
Pré-tratamento
(média)
Final do tratamento
(média)
Recidivantes
Valores
Média dos
(U/L)
Resultados
Não Respondedores
Valores
Média dos
(U/L)
Resultados
Min.
32
Máx.
120
78,2 (DP-32)
Min.
20
Max.
148
61,8(DP-39)
12
46
29,7 (DP-11,4)
15
89
40,3(DP-9,8)
Fonte: Dados da pesquisa
Foi realizada comparação de média pelo método t-student que demonstrou que não
houve diferença estatística significativa entre as médias de ALT no pré-tratamento e ao final
do tratamento entre os dois grupos: no pré-tratamento - P < 0,389 e no final do tratamento P < 0,211.
O tratamento não foi interrompido em nenhum paciente, por motivo de efeito
adverso, no entanto, em um paciente (5%) foi necessário o uso de filgrastim para combater
intensa leucopenia. Vale destacar que este paciente apresentou malária durante o tratamento, o
que também contribuiu para piora da leucopenia.
Houve anemia importante em dois pacientes (20%), sendo necessária a redução da
dose da ribavirina e uso de eritropoetina, provocando melhora significativa, sem necessidade
de suspensão do tratamento. A plaquetopenia mais significativa ocorreu no paciente que
apresentou malária no curso do tratamento e naqueles com cirrose já estabelecida.
O padrão temporal de diminuição das variáveis hematológicas não diferiu entre os
pacientes recidivantes e não respondedores.
Observou-se que a média da concentração de hemoglobina apresentou uma queda na
semana 8, melhorando na semana 12 e voltando a cair nas semanas 24 e 36, quando foram
vistos valores mais baixos. Com o término do tratamento, estes valores retornaram aos valores
basais prévios, conforme figura 3.
43
Figura 3: Contagens médias de Hb (hemoglobina) durante o retratamento
16
15,5
15
14,5
Hb (mg/dl)
14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
4
8
12
24
36
48
Semanas de Tratamento
.
Fonte: Dados da pesquisa
A média da concentração dos granulócitos sofreu um decréscimo na semana 8, que
se acentuou na semana 24, havendo estabilização dos níveis nas semanas 36 e 48, como
mostra a figura 4.
Figura 4: Contagens médias de granulócitos durante o retratamento
Granulócitos (Células/ ul)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
4
8
12
24
Semanas de Tratamento
Fonte: Dados da pesquisa
36
48
44
Já a média da concentração plaquetária se manteve estável até a semana 24 e
apresentou queda mais importante na semana 36, estabilizando-se na semana 48, conforme
figura 5.
Somente um paciente (5%) necessitou reduzir a dose do alfapeginterferona 2-b
durante o tratamento por motivo de intensa plaquetopenia, sendo este o que também
apresentou malária durante o tratamento. Vale salientar que este paciente apesar da
plaquetopenia não apresentou manifestações hemorrágicas.
Figura 5: Contagens médias de plaquetas durante o retratamento
200
190
Plaquetas / 10³ (células/ ul
180
170
160
150
140
130
120
110
100
4
8
12
24
36
48
Semanas de Tratamento
Fonte: Dados da pesquisa
A média da concentração de ALT sofreu redução em relação aos valores vistos no
pré-tratamento nos dois grupos de pacientes (recidivantes e não-respondedores) já na semana
4, havendo aumento nas semana 36 e 48, conforme figura 6.
Figura 6: Contagens médias da ALT durante o retratamento
ALT (UI/L)
45
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4
8
12
24
36
48
Semanas de Tratamento
Fonte: Dados da pesquisa
4.2 RESPOSTA VIROLÓGICA DO RETRATAMENTO
A resposta virológica dos pacientes recidivantes e não respondedores foi avaliada
nas semanas 12, 24, 36, 48 e 72. Na semana 12, no grupo dos recidivantes, um paciente
(14,2%) tinha carga viral indetectável. No grupo dos não-respondedores, nenhum paciente
apresentou carga viral indetectável na semana 12.
Na semana 24, cinco pacientes do grupo dos recidivantes estavam com a carga viral
indetectável. Já no grupo dos não-respondedores, somente um paciente (7,6%) apresentou
carga viral indetectável na semana 24.
Enfatiza-se que o tratamento só era interrompido por motivo de algum efeito adverso
sério não controlado ou quando, por ocasião da semana 12, não se obteve queda de 2 log na
carga viral ou a sua negativação.
Na semana 36, quatro pacientes recidivantes (57,1%) permaneciam com a carga
viral indetectável e, no grupo dos não-respondedores, cinco pacientes apresentavam carga
viral indetectável.
Na semana 48, que correspondeu ao término do tratamento, somente dois pacientes
recidivantes (28,5%) e um paciente não-respondedor (7%) permaneciam com carga viral não
detectável.
Avaliando a resposta sustentada na semana 72, ficou demonstrado que dois pacientes
recidivantes (28,5%) e um não-respondedor (7,6%) mantiveram a carga viral indetectável seis
meses após o término do retratamento e foram considerados curados.
46
Quadro 3: Resposta virológica dos pacientes recidivantes durante o retratamento.
TOTAL DE PACIENTES = 7
RECIDIVANTES
RESULTADO MOLECULAR POR PCR
SEMANAS
12
24
36
48
72
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
I
Q
Q
Q
Q
Q
Q
I
I
I
I
I
I
D
I
I
I
I
D
D
D
I
I
D
D
D
D
D
I
I
D
D
D
D
D
* PCR=reação da polimerase em cadeia
*P =paciente; I =carga viral indetectável; D=carga viral detectável; Q=carga viral com queda de 2 log
Fonte: Dados da pesquisa
Quadro 4: Resposta virológica dos pacientes não respondedores durante o
retratamento.
TOTAL DE PACIENTES = 13
NÃO RESPONDEDORES
RESULTADO MOLECULAR POR PCR
SEMANAS
12
24
36
48
72
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
I
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
I
I
I
I
I
D
D
D
D
D
D
D
D
I
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
* PCR = reação da polimerase em cadeia
*P=paciente; I = carga viral indetectável; D=carga viral detectável; Q=carga viral com queda de 2 log
Fonte: Dados da pesquisa
A resposta virológica sustentada foi vista em 3 pacientes (15%), sendo dois
recidivantes e um não-respondedor.
47
Ao término do tratamento, somente dois pacientes do grupo dos recidivantes e um
do grupo dos não respondedores apresentavam carga viral indetectável na semana 48.
4.3 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA
A população participante do estudo apresentava graus variáveis de fibrose hepática,
sendo que cinco pacientes (25%) apresentavam fibrose grau 1; um paciente (5%), fibrose grau
2; cinco pacientes fibrose, grau 3 (25%) e nove pacientes (45%), fibrose grau 4. Avaliação
histológica não foi realizada após o retratamento.
4.4 EVENTOS ADVERSOS PRESENTES NO RETRATAMENTO
A porcentagem de pacientes que relatou eventos adversos mais comuns (febre,
mialgia, cefaléia, fadiga, náuseas, calafrios e diminuição do apetite) diminuiu com o tempo de
tratamento. Somente três pacientes (15%) apresentaram irritabilidade, insônia e labilidade
emocional importante.
Avaliando-se os efeitos adversos comuns (nos sistemas sanguíneo e linfático) com o
escore de fibrose da classificação Metavir, foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 6):
Tabela 6: Eventos adversos comuns decorrentes do tratamento conforme o escore
de fibrose pelo Metavir
População Estudada
Eventos adversos:
- Sistema Sanguíneo e Linfático
Total de Pacientes
Anemia
Leucopenia
Trombocitopenia
F1
F2
F3
F4
Todos
N= 5
(25 %)
1
(25,0%)
4
(33,3%)
2
(25,0%)
N= 1
(5 %)
0
(0,0%)
1
(8,3%)
0
(0,0%)
N= 5
(25 %)
1
(25,0%)
3
(25,0%)
3
(37,5%)
N= 9
(45 %)
2
(50,0%)
4
(33,3%)
3
(37,5%)
N= 20
(100%)
4
(20,0%)
12
(60,0%)
8
(40,0%)
(F1=Fibrose portal sem formação de septos, F2= fibrose portal com poucos septos, F3= fibrose portal com vários
septos e cirrose e F4=cirrose)
Fonte: Dados da pesquisa
48
5 DISCUSSÃO
As características dos pacientes considerados não respondedores evoluíram
juntamente com a evolução dos regimes terapêuticos. Atualmente, o melhor tratamento para a
infecção crônica pelo VHC é a combinação de interferon-peguilado e ribavirina. Essa
combinação resulta em cura, definida por uma resposta virológica sustentada (RVS: RNA do
VHC indetectável 24 semanas após o final do tratamento) em 54% a 63% dos pacientes. Os
pacientes com VHC genótipo 1 (a cepa mais comum) constitui o subgrupo de tratamento mais
difícil, com índices de RVS de 42 a 52% (MANNS et al, 2001; HADZIYANNIS et al, 2004).
A RVS foi associada à interrupção da progressão ou mesmo à regressão da
hepatopatia (MANNS et al, 2001; POYNARD et al, 1998; POYNARD et al, 2002). Portanto,
a obtenção da RVS é o principal objetivo do tratamento.
Os argumentos para retratar os pacientes recidivantes e não respondedores seriam a
possibilidade de se erradicar o vírus C, regredir a fibrose e diminuir o risco de evolução para
hepatocarcinoma. De modo semelhante aos pacientes virgens de terapia, o retratamento busca
proporcionar uma nova chance para o paciente conseguir uma resposta virológica sustentada
(RVS) (GONÇALES JÚNIOR, 2008).
Estudos de longo prazo comprovam que a imensa maioria dos pacientes que
desenvolve RVS costuma permanecer negativa para o VHC-RNA por longo tempo (CAMMÁ
et al, 2001). Os pacientes descritos como não-respondedores correspondem a um grupo muito
heterogêneo; alguns podendo ser inclusive respondedores que tenham recebido tratamento
insuficiente. Cerca de 40 a 50% dos pacientes que se submetem ao tratamento inicial para
hepatite C crônica com peginterferon e ribavirina falham em alcançar a RVS, havendo então
uma consideração para o retratamento com regime terapêutico alternativo. Como já foi dito,
pacientes infectados pelo genótipo 1 apresentam níveis ainda mais baixos de RVS.
Os dois PEG-IFN alfas, PEG-IFN alfa-2a e PEG-IFN alfa-2b, apresentam perfis
farmacocinéticos e farmacodinâmicos distintos que resultam em eficácia diferente e, portanto,
o retratamento de um paciente recidivante ou não respondedor com um ou outro PEG-IFN
alfa pode ser uma opção terapêutica. Há relatos contrários a essa assertiva na literatura.
Heathcote afirma que nenhum benefício é alcançado quando se troca de interferon-peguilado,
a menos que o tratamento tenha duração prolongada para 72 semanas (HEATHCOTE, 2009).
O programa de hepatites de Rondônia só dispunha do interferon-peguilado alfa-2a e,
por isso, todos os pacientes eram tratados com esta medicação. A partir de 2007, passou
49
também a estar disponível o interferon-peguilado alfa-2b e, em virtude das diferenças
farmacocinéticas e farmacodinâmicas entre estes dois fármacos, optou-se por realizar o
retratamento com interferon-peguilado alfa-2b.
A administração do interferon-peguilado alfa-2b permite o ajuste da dose, uma vez
que o peso corporal diminui durante o tratamento, o que poderia ter um impacto direto na
frequência de eventos adversos e, consequentemente, na adesão dos pacientes com perda de
peso significativa secundária ao tratamento.
5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO EM ESTUDO
Na população em estudo, com exceção da etnia caucasiana, houve o predomínio de
fatores inerentes ao hospedeiro associados a um mau prognóstico, tais como: sexo masculino,
média de faixa etária na quinta década e obesidade.
Fatores hormonais, assim como fatores genéticos, podem influir na história natural
da hepatite pelo VHC, sendo aceito que a doença costuma progredir mais rapidamente no
sexo masculino (SEEFF et al, 1998). Já se relatou que afrodescendentes têm uma chance
menor de obter RVS do que outros grupos étnicos (HOWELL et al, 2000).
Não se observou diferença relacionada à etnia neste estudo, pois somente um
paciente era da raça negra. Contudo, não se pode dar muita importância à etnia no Brasil,
devido à intensa miscigenação (SILVA et al, 2007).
Quanto aos antecedentes pessoais, chamou atenção o fato de a grande maioria dos
pacientes ter relatado o etilismo social e o tabagismo, porém todos os pacientes haviam
abandonado o álcool e o tabaco. Sabe-se que tanto o álcool como o tabaco implicam menor
sucesso terapêutico. O tabaco pode induzir lesão direta e indireta no fígado, além de aumentar
a atividade inflamatória e fibrose hepáticas (EL-ZAYADI, 2006).
Desordens metabólicas, tais como obesidade, diabetes e dislipidemia, também
podem contribuir para o agravamento da esteatose hepática na hepatite C crônica. Estas
comorbidades foram mencionadas pelos pacientes.
Uma piora da esteatose hepática pode predizer a progressão da fibrose. Somente um
paciente que alcançou a RVS apresentou comorbidades, sendo estas representadas pela
esteatose hepática e o sobrepeso. A esteatose hepática é mais comum nos pacientes com
genótipo 3, mas não é exclusiva deste. Permanece incerto se a esteatose hepática na hepatite
50
crônica pelo VHC se relaciona com fatores virais ou com fatores ligados ao hospedeiro (SCI
et al, 2002).
Do total dos 20 pacientes, 16 (80%) pesavam mais de 75 kg. As taxas de RVS são
fortemente influenciadas pelo peso corporal, uma vez que este encontrando-se mais elevado
está associado a menores taxas de RVS (FRIED et al, 2002).
Com relação aos fatores virais, pode-se destacar que houve o predomínio do
genótipo 1 (95%), subtipo 1b (60%). Apenas um paciente (5%) era do genótipo 2. A
genotipagem é útil na determinação do tempo de tratamento e avaliação prognóstica.
Os genótipos 1, 4, 5 e 6 são preditivos de menor eficácia ao tratamento. Dados da
literatura comprovam que o genótipo 1 do VHC representa a maior parte dos casos de
hepatites C na América do Norte, Europa Ocidental, Japão e Brasil (BARONE, 2008)
Os pacientes infectados com genótipo 1 são os mais resistentes ao tratamento,
apresentando resultados terapêuticos ruins. Embora as taxas de resposta virológica sustentada
(RVS)
tenham
melhorado
com
a
introdução
da
terapia
combinada
com
alfa
interferon-peguilado e ribavirina, estas ainda são menores que as observadas nas infecções
por vírus com genótipo 2 ou 3. O manejo de pacientes com genótipo 1 recidivantes e não
respondedores ao regime terapêutico prévio é ainda mais desafiante do que o manejo de
pacientes virgens de tratamento (DUCAN & YOUNOSSI, 2003)
5.2 FATORES DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DO VHC
Como exemplos de fatores de risco para doenças transmitidas por sangue podem-se
citar a hemotransfusão, os procedimentos odontológicos invasivos, as cirurgias, as tatuagens,
o uso de drogas injetáveis, o contato próximo com portadores e compartilhar objetos de uso
pessoal, como escova de dente, alicates de unha, barbeadores etc.
Até aproximadamente 1986, foi prática comum, no Brasil, o uso de agulhas
re-esterelizadas em vacinação e na administração de medicamentos em farmácias e em
hospitais, consistindo em um fator de risco importante para aqueles com idade superior a 31
anos.
Enomoto et al (2000) realizaram um estudo em clínicas de odontologia e mostraram
que o risco de transmissão de hepatites virais é real. Principalmente através dos
procedimentos invasivos realizados em consultórios odontológicos. Em regiões em
desenvolvimento, como o Estado de Rondônia, ainda é frequente a presença de “dentistas
51
práticos” e também de clínicas populares de atendimento odontológico onde, devido ao
grande volume de pacientes, à economia do material e à inobservância das normas de
biossegurança, aumenta-se o risco de contágio de doenças hemotransmissíveis.
60% dos pacientes relataram já ter-se submetido a procedimentos, como extração
dentária ou tratamento de “canal”, que são procedimentos cruentos, em que todo material
deve ser esterilizado adequadamente, e 20% referiram o uso de agulhas re-esterilizadas.
Os procedimentos cirúrgicos foram citados em 35% dos casos. Sabe-se que um
percentual elevado dos pacientes infectados não apresenta fonte de contágio conhecida.
Provavelmente, esses pacientes contraem a infecção através de formas alternativas,
envolvendo material perfurocortante compartilhado e contaminado com sangue. Esses
percentuais são mais elevados nas comunidades onde os cuidados de biossegurança não são
adequadamente seguidos (FOCCACIA et al, 2007).
Tumminelli detectou a presença do anti-VHC em 38% dos profissionais que
trabalham com barbeadores não descartáveis no sul da Itália (TUMMINELLI et al, 1995). No
Brasil, há um grande contingente de pacientes que se infectaram nos anos de 1960 a 1980, ao
consumirem supostos estimulantes energéticos (por exemplo, Glucoenergan), adminstrados
coletivamente por via intravenosa antes do início de uma competição esportiva.
Nesta causuística, 10% dos pacientes referiram ausência de qualquer fator de risco
conhecido. Atualmente, o uso de drogas ilícitas é um dos mais importantes fatores de risco de
transmissão do VHC, alcançando até 40 a 60% dos novos casos em comunidades urbanas de
países mais desenvolvidos, porém este fator de risco não foi citado pelos participantes do
estudo.
Todos os pacientes que relataram risco de VHC pós-transfusional haviam realizado
hemotransfusão há mais de 28 anos, isto é, antes da década de 1990. Esta informação
corrobora os dados da literatura, através da introdução de testes de alta sensibilidade e de
técnicas de inativação viral nos anos de 1990, promovendo marcante decréscimo do risco de
contágio por transfusão sanguínea e por produtos biológicos humanos derivados do sangue.
Somente um paciente destacou como fator de risco a transmissão sexual, afirmando
ter atividade sexual promíscua, o que corrobora os dados da literatura, que considera a
transmissão sexual como uma via não primordial ou eficaz de aquisição da hepatite C. Em
casais heterossexuais monogâmicos, a promiscuidade sexual é considerada um fator
adjuvante. A transmissão sexual do VHC coexiste com fatores multivariáveis e é de difícil
52
caracterização. Além disso, outras condições podem estar associadas, favorecendo a
disseminação desse vírus em alguns meios e classes sociais (FOCCACIA et al, 2007).
5.3 FATORES RELACIONADOS AO RETRATAMENTO
5.3.1 Manuseio dos Eventos Adversos
Eventos adversos decorrentes do tratamento da hepatite C podem comprometer a
qualidade de vida do pacientes e a resposta terapêutica. O manuseio desses eventos envolve
intervenções medicamentosas e não-medicamentosas. Essas últimas incluem a redução da
dosagem de IFN ou RBV e a descontinuidade do tratamento.
A redução temporária ou permanente da dosagem de PEG-IFN,IFN convencional ou
ribavirina, em decorrência de evento adverso, é necessária em, aproximadadmente, 30% dos
pacientes. Em 10%, é necessária a descontinuidade do tratamento (FRIED &
HADZIYANNIS, 2001).
As anormalidades hematológicas (neutropenia, anemia e trombocitopenia) são as
indicações mais frequentes para redução da dose, podendo estar associada à menor taxa de
resposta virológica sustentada (RVS), quando comparada com pacientes que não apresentam
necessidade de redução da dosagem das medicações.
A identificação precoce e as estratégias para controle dos eventos adversos são
importantes para prevenir complicações moderadas e graves, atenuar efeitos deletérios na
qualidade de vida dos pacientes e maximizar a eficácia do tratamento para hepatite C.
As correções de anemia com eritopoetina humana e da neutropenia com filgrastim
estavam previstas e realizadas quando necessárias. Em um dos pacientes, a leucopenia foi
mais importante devido à concomitância de malária, pois nesta também ocorre redução dos
granulócitos. Em um outro paciente com anemia importante, foi necessário o uso de
eritropoetina e redução da dose da ribavirina.
A anemia resultante do tratamento da hepatite C é um efeito colateral multifatorial.
Esses fatores aumentam a destruição e reduzem a produção dos glóbulos vermelhos. O
aumento da destruição ocorre pela hemólise desencadeada pela ribavirina e a redução da
produção ocorre pela supressão de precursores eritroides na medula óssea pelo interferon
(BODENHEIMER et al, 1997).
53
A anemia começa a se desenvolver quase imediatamente após o início da terapia e
torna-se mais intensa após 4 a 6 semanas de tratamento. Neste estudo, a média da
concentração da hemoglobina tanto no grupo dos recidivantes como nos não-respondedores
sofreu um decréscimo na semana 8 que foi acentuado na semana 24. A anemia associada com
a terapia combinada pode exacerbar outros efeitos colaterais decorrentes do tratamento da
hepatite C, como dispneia, fadiga, tontura e cefaleia. Isto foi bem observado entre os
pacientes que apresentaram este efeito adverso.
Fatores de crescimento hematopoiéticos, como a eritropoetina alfa, podem ser uma
alternativa em relação à redução da dose ribavirina. No paciente que apresentou anemia
intensa, foi reduzida a dose da ribavirina e administrada eritropoetina, obtendo-se controle
satisfatório da anemia e permitindo a continuidade do tratamento.
O decréscimo na contagem de neutrófilos abaixo do normal ocorre na maioria dos
pacientes que recebe interferon convencional ou interferon-peguilado e decorre da supressão
da medula óssea exercida por estes fármacos (COLLANTES et al, 2005).
A contagem de neutrófilos geralmente retorna aos níveis pré-tratamento após duas a
quatro semanas do término da terapia (FRIED, 2002).
A trombocitopenia observada em pacientes em tratamento para hepatite C é
consequência da supressão medular exercida pelo interferon. A queda da contagem de
plaquetas durante o tratamento combinado é frequente, mas a redução na dosagem de
interferon ou a descontinuidade do tratamento em decorrência dessa queda é pouco comum
(FRIED, 2002; MANNS et al, 2001).
O hiperesplenismo parece ser a causa mais frequente de plaquetopenia associada à
cirrose hepática e à hipertensão portal. Entre os pacientes pesquisados, a maior queda no
nível das plaquetas foi observada naqueles com fibrose avançada e cirrose, reforçando os
dados encontrados na literatura.
O tratamento foi bem tolerado pela maioria dos pacientes, não havendo interrupção
em nenhum deles por motivo de efeito adverso. A decisão pelo retratamento deve ser baseada
na presença de fibrose avançada e na presença de fatores clínicos e virológicos preditores de
sucesso terapêutico posterior. Taxas de resposta virológica sustentada são maiores com
fatores clínicos e virológicos favoráveis (EMMET, 2005).
54
5.3.2 Polo de Aplicação
Como fatores relacionados ao tratamento, podem-se destacar a aderência, a
tolerância e o esquema terapêutico utilizado, levando-se em consideração a dose da
medicação e a duração do tratamento. A grande maioria dos pacientes (75%) residia em Porto
Velho, o que facilitava a vinda deles para administrar a medicação no polo de aplicação.
Um dos objetivos deste estudo foi justamente a criação deste polo de aplicação, com
intuito de supervisionar a administração da dose do alfapeginterferona 2-b baseada no peso
corpóreo e averiguar se isto contribuiria para minimizar possíveis falhas terapêuticas
decorrentes de erros na aplicação e na dosagem do medicamento.
A adesão ao polo de aplicação foi de 75%, uma vez que os pacientes procedentes do
interior do Estado não podiam estar em Porto Velho com a frequência esperada, em virtude da
distância. Dos três pacientes que obtiveram RVS, somente um frequentou o polo de aplicação.
Como a amostra de pacientes foi pequena e como se tratava de uma população
heterogênea, não se pode afirmar que o polo de aplicação tenha sido determinante para o
sucesso terapêutico, porém pode-se dizer que foi um fator coadjuvante. Atribui-se o alto
índice de adesão ao tratamento à abordagem multidisciplinar adotada para o tratamento dos
pacientes da instituição. No entanto, a avaliação da eficácia do polo de aplicação ficou
prejudicada, uma vez que nem todos os pacientes puderam frequentá-lo.
Evidências clínicas sugerem que a duração do tratamento, entretanto, pode ser
ajustada com base na carga virológica e nas características da resposta viral, com menor
duração do tratamento para pacientes com baixa viremia e resposta virológica rápida (semana
4) e duração maior para pacientes considerados respondedores lentos. Alterações na dosagem
das medicações podem melhorar o desfecho dos resultados obtidos com o tratamento deste
subgrupo de pacientes.
As modificações da dose e as variações da duração do tratamento são duas
estratégias que têm sido investigadas até o momento (HARALD et al, 2009). A carga viral era
inferior a 850.000 UI/ml em 80% dos pacientes antes do retratamento. Embora não haja
consenso em qual o cutoff basal ideal para o RNA do VHC capaz de predizer uma resposta
virológica rápida, alguns estudos demonstram que uma carga viral basal superior a
800.000 UI/ml se associa com falha terapêutica, mesmo em pacientes que apresentam este
tipo de resposta (FERENCI et al, 2008).
55
5.3.3 Avaliação da Dosagem de ALT
Os níveis de ALT no pré-tratamento e no retratamento foram observados com muita
frequência tanto nos pacientes recidivantes como nos não respondedores. Uma única
determinação de ALT nos fornece informação muito limitada sobre a severidade da doença
hepática. Existe uma fraca associação entre o grau de elevação de ALT e o comprometimento
histopatológico.
Pacientes com ALT normal devem realizar medidas seriadas ao longo de vários
meses para confirmar a persistência dos valores normais. Embora a redução na carga viral ou
a sua negativação seja um indicador primário de resposta à terapia antiviral, sabe-se que o
decréscimo nos níveis elevados de ALT durante o tratamento também se constitui em um
indicador de resposta favorável. O interferon-peguilado pode causar elevações de ALT
durante a terapia, sendo a ALT pouco sensível em detectar progressão para cirrose (NIH,
2002).
A média dos valores de ALT no pré-tratamento não diferiu grandemente nos dois
grupos, estando inclusive um pouco maior no grupo dos pacientes recidivantes, porém, no
final do retratamento, a média dos valores de ALT foi menor no grupo dos recidivantes, o que
pode ser explicado pela resposta mais favorável neste grupo.
5.4 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA
Quanto à gravidade da doença, os pacientes apresentavam graus variáveis de fibrose
hepática, sendo que a grande maioria dos pacientes envolvidos no estudo (75%) já
apresentava alterações histológicas importantes, como fibrose nos graus 3, 4 e cirrose, além
de, pelo menos, uma atividadade necroinflamatória de moderada a severa.
Fatores do hospedeiro que facilitam o desenvolvimento de fibrose são a idade
avançada quando da contaminação por VHC, sexo masculino e consumo alcoólico. Fatores
imunológicos e imunogenéticos também podem estar relacionados (POYNARD et al, 1997).
Fibrose avançada (METAVIR F3-F4) e cirrose são fatores significantes preditivos de uma
recaída pelo tratamento com PEG-IFN e ribavirina.
Os pacientes não foram submetidos a uma nova biópsia hepática, porque a maioria já
se encontrava com fibrose hepática avançada e cirrose, sendo este procedimento de risco e
desnecessário. Mesmo nos pacientes com fibrose discreta e moderada, não se refez a biópsia
56
hepática, por não ser objetivo deste estudo avaliar a fibrose antes e após o retratamento.
Sabe-se que quanto maior o grau de fibrose, mais difícil de se obter resposta terapêutica
favorável. A presença de fibrose grave é reconhecida como fator independente para redução
de RVS. Respostas virológicas sustentadas nesse grupo de pacientes com fibrose avançada,
tratados com alfapeginterferona e ribavirina, variam de 37 a 50%, sendo maiores entre
portadores de genótipos 2 e 3 (70 a 75%) e naqueles com baixa carga viral (MANNS et al,
2001; ZEUZEM, 2004).
Pacientes com cirrose hepática têm menos chances de eliminar o VHC com o
tratamento atual, quando são comparados com não-cirróticos, possivelmente por causa da
idade mais avançada, alterações na microcirculação hepática que impedem adequada
interação entre o IFN e as células infectadas (FERREIRA, 2008). Esses doentes devem ser
tratados com cuidado, devido ao risco de descompensação durante o tratamento e à piora dos
parâmetros hematológicos (leucopenia, plaquetopenia) já existentes.
5.4.1 Resposta Virológica ao Retratamento
A resposta virológica dos pacientes recidivantes e não-respondedores foi avaliada
nas semanas 12, 24, 36, 48 e 72. Em estudos de retratamento, o status do VHC-RNA na
semana 12 se constitui em um importante preditor de RVS, devendo ser usado para decisão de
interromper ou não a terapia antiviral.
Quando a resposta virológica precoce (RVP) não ocorrre, a chance de se alcançar
RVS com a continuação da terapia antiviral combinada por 48 semanas reduz-se para 3% ou
menos. Para os pacientes que obtêm uma RVP, existe uma grande probabilidade de se
conseguir a RVS (65 a 72%) (FRIED et al, 2001).
Neste estudo, um paciente do grupo dos recidivantes apresentou carga viral
indetectável na semana 12, enquanto, no grupo dos não-respondedores, nenhum paciente teve
a carga viral indetectável.
O tratamento era interrompido se, na semana 12, não houvesse a negativação da
carga viral ou, pelo menos, um decréscimo maior ou igual 2 log na carga viral.
Pelos resultados dos estudos de retratamento para hepatite C crônica, percebe-se que
é melhor retratar os pacientes infectados pelo genótipo 2 ou 3, com fibrose não significativa
(F2/F3), sem esteatose, com menores cargas virais, submetidos à terapia prévia com IFN ou
com IFN mais ribavirina, recidivantes, aderentes, com resposta virológica precoce ou rápida e
57
que suportem maiores doses de ribavirina (FRIED et al, 2002; MANNS et al, 2001;
MOURACI et al, 2007; POYNARD et al, 2008).
As taxas de RVS relativas ao retratamento com PEG-IFN alfa 2-b mais ribavirina de
pacientes brasileiros não-respondedores à IFN mais ribavirina são maiores do que as
observadas em estudos realizados em outros países (KRAWIT et al, 2005; SHERMAN et al,
MOURACI et al, 2007 ).
Estudos realizados no Brasil por Parise e colaboradores com PEG-IFN alfa-2a mais
ribavirina e por Gonçales Jr. e colaboradores com PEG-IFN alfa-2b mais ribavirina (PARISE
et al, 2006), em pacientes não-respondedores à IFN/RBV, encontraram maiores porcentuais
de RVS quando comparados aos estudos internacionais.
No trabalho retrospectivo de Parise e colaboradores, 57% dos recidivantes obtiveram
RVS contra 62% dos recidivantes tratados prospectivamente por Gonçales e colaborados
(PARISE et al, 2006; GONÇALES JÚNIOR et al, 2006). Estas taxas de RVS foram maiores,
por exemplo, que as taxas de 41% e 59%, obtidas por Sherman e colaboradores (SHERMAN
et al, 2006) e por Mouraci e colaboradores em pacientes recidivantes (MOURACI et al,
2007). Nos pacientes recidivantes, os autores brasileiros, ao analisar a resposta de acordo
com o genótipo, encontraram que 70% dos infectados pelo genótipo 3 apresentaram RVS
contra 44% dos infectados pelo genótipo 1 (ZARRAZIN et al, 2000).
Krawitz e colaboradores mostraram que pacientes redidivantes após tratamento
prévio com IFN convencional, com ou sem RBV, apresentaram RVS significativamente
maiores, quando retratados com PEG-IFN alfa 2-b e RBV do que não-respondedores à terapia
prévia (55% vs 20%; P < 001) (KRAWITT et al, 2005).
Sherman e colaboradores observaram um porcentual de RVS de 23% entre os
não-respondedores e 41% entre os recidivantes, após retratamento com PEG-IFN e ribavirina
(SHERMAN et al, 2006).
No presente estudo, ficou demonstrado que o retratamento de pacientes portadores
de hepatite C crônica refratária com alfapeginterferona 2-b e ribavirina foi bem tolerado,
porém apresentou modestas respostas terapêuticas, porque somente três (15%) obtiveram
resposta virológica sustentada ao final do estudo, sendo dois (28,5%) pacientes recidivantes e
um (7,6%) não respondedor.
A resposta virológica precoce (semana 12) foi observada em todos os pacientes.
Pacientes que não alcançam uma resposta virológica precoce (semana 12) apresentam
probabilidade mínima de alcançar RVS. Esse é um achado importante, não apenas em razão
58
dos altos custos, mas também por diminuir a exposição dos pacientes, com menores
probabilidades de eventos adversos.
Curiosamente, durante o estudo, observou-se que alguns pacientes do grupo dos
recidivantes que estavam com a carga viral indetectável na semana 24 voltaram a positivá-la
nas semanas seguintes. Este fenômeno também foi constatado no grupo dos pacientes não
respondedores. Atribui-se essa ocorrência a possíveis erros de diluição das amostras ou
mesmo à conservação e ao transporte do material.
No entanto, deve ser considerar que a nossa população foi composta por pacientes de
difícil tratamento. Sabe-se que são muitos os fatores que contribuem para o sucesso ou
fracasso na erradicação do vírus, tais como: sensibilidade do vírus ao interferon, genótipo
viral, idade, sexo, estágio da fibrose, presença ou ausência de esteatose e carga viral. O peso,
no entanto, desempenha apenas papel secundário.
No futuro próximo, certamente, surgirão novos regimes antivirais para estes
pacientes e terapias, objetivando mais o retardo na progressão da doença hepática do que
propriamente a erradicação viral. Sugere-se que novos estudos, envolvendo amostras com
maior número de pacientes, sejam conduzidos para validar esses achados.
59
6 CONCLUSÃO
Após estudo realizado com pacientes portadores de hepatite C crônica recidivantes e
não respondedores, foram avaliados aspectos relacionados à tolerância, aos efeitos adversos
ao retratamento e ao percentual de RVS.
6.1 TOLERÂNCIA E EFEITOS ADVERSOS
A tolerância ao retratamento foi satisfatória, o que foi decisivo para maior adesão
dos pacientes ao esquema terapêutico preconizado.
O significado clínico desta maior aderência ao tratamento antiviral reside na
importância em manter as dose plenas de PEG-IFN alfa e ribavirina, maximizando a RVS.
Os eventos adversos observados durante o retratamento foram de natureza
constitucional, notadamente, febre, fadiga e mialgia e também de natureza hematológica,
como anemia, leucopenia e plaquetopenia. Todas as anormalidades hematológicas, bem como
os sintomas constitucionais, desapareceram com o término do tratamento.
6.2 PERCENTUAL DE RESPOSTA SUSTENTADA (RVS)
Somente 15% dos pacientes retratados obtiveram RVS, sendo 5% não respondedores
e 10% recidivantes.
O único fator mais importante em predizer resposta favorável à terapia foi o tipo de
resposta apresentada no tratamento prévio.
Mais estudos em pacientes recidivantes e não-respondedores são urgentemente
necessários.
Em conclusão, não se recomenda o retratamento, em virtude dos baixos índices de
RVS, embora casos individualizados e bem selecionados possam ser avaliados quanto a esta
possibilidade.
60
REFERÊNCIAS
ALTER, H. J.; PURCELL, R. H.; HOLLAND, P. V. et al. Transmission Agent in Non-A,
Non-B Hepatitis. Lancet, 1978, Mar 4:45. Journal of Medicine, 321:1494-1500, 1989.
ALTER, H. J.; SEEFF, L. B. Recovery, persistence, and sequelae in hepatitis C virus
infection: a perspective on long term outcome. Semin Liver Dis 2000, 1: 17-35.
ALTER, H. J.; PURCELL, R. H. et al. Transmission Agent in Non-A, Non-B Hepatitis.
Lancet, 1978, Mar 4:459-463.
ARAÚJO, S. A. E.; COURTOUKÉ, C.; BARONE A. Tratamento da hepatite C: mais curto e
melhor?. The Brazilian Journal of Infectious Diseases. 2007, 11 (1): 118-124.
BARONE, A. A Hepatite por VHC: aspectos virológicos e suas implicações práticas. I
Consenso da Sociedade Brasileira de infectologia para o manuseio e Terapia da Hepatite C.
Office Editora e Publicidade Ltda. 2008
BEDOSSA, P.; POYNARD, T. An algorithm for the grading of activity in chronic hepatitis
C. The Metavir Cooperative Study Group. Hepatology. 1996, 24: 289-93.
BELLENTANI, S. et al. Clinical course and risk factors of hepatitis C virus related liver
disease in the general population: report from the Dionysos study. Gut 1999, 44(6): 874-80.
BENSABATH G.; LEÃO, R. N. Q. Epidemiologia na Amazônia Brasileira. In FOCACCIA,
Roberto (org). Tratado de Hepatites Virais. São Paulo: Ateneu, 2003.
BHATTACHARYA, R.; SHUHART, M. C. Hepatitis C and alcohol: interactions, outcomes,
and implications. J Clin Gastroenterol. 2003, 36 (3): 242-52.
BODENHEIMER JR, H. C.; LINDSAY, K. L., DAVIS, G. L. et al. Tolerance and efficacy of
oral ribavirin treatment of chronic hepatitis C: a multicenter tria. Hepatology. 1997, 26(2):
473-7
BUKH J.; MILLER, R. H.; PURCELL, R. H. Genetic heterogeneity of hepatitis C virus:
Quasispecies and genotypes. Semin Liver Dis. 1995, 15 (1): 41–63.
61
CALICETI, P. Pharmacokinetics of pegylate interferons: What is misleading? Dig Liveer Dis
2004, 36 (Suppl 3 ). S 334-S 339
CAMMÁ, C.; GIUNTA, M.; ANDREONE, P.; CRAXI, A. Interferon and prevention of
hepatocellular carcinoma in viral cirrhosis: na evidence-based approach. Journal of
Hepatology. 2001, 34: 593-602.
CAMPOLLO, R. O. Hepatitis C virus infection and alcohol. Rev Gastroenterol Mex. 2002,
67(Suppl2): S 80-3.
CHEINQUER, STRAUSS E.; FERREIRA A. et al. Consenso sobre condutas nas hepatites
virais B e C, GED. Vol. 24 (Suplemento1) - Outubro, 2005.
CHIEN-HUA, Chen.; SHANG-TAO L.; CHI–CHIEH, Y. et al. The accuracy of Sonography
in Predicting Steatosis and Fibrosis in Chronic Hepatitis C. Dig Dis Sci (2008) 53: 16991706.
CHINCHAI, T.; LABOUT J.; NOPPORNPANTH S. et.al. Comparative study of different
methods to genotype hepatitis C virus type 6 variants. J Virol Methods. 2003, 109 (2): 195201.
CHOO, Q.; PINHO, J. R. R. Virologia Molecular,Variabilidade Viral. In: FOCCACIA, R.
Tratado de Hepatites Virais. 2006, p. 178.
COLLANTES, R. S.; YOUNOSSI, Z. M. The use of growth factors to manage the
hematologic side effects of PEG-interferon alfa and ribaviiri. J Clin Gastroenterol. 2005, 39
(1Supp), S9-13.
DAVIS, G. L.; BALART, L. A.; SCHIFF, E. R. et al. Treatment of chronic hepatitis C with
recombinant interferon alfa. N. Eng J Med .1989, 321:1501-6.
DAVIS, G. L.; WONG, J. B.; MCHUTCHINSON, J. G. et al. Early virological response to
treatment with peginterferon alpha-2b plus ribavirin in patients with chronic hepatitis C.
Hepatology 2003, 38: 645-652.
DIAMET, D. I Consenso da Sociedade Brasileira de Infectologia para o manuseio e Terapia
da Hepatite C, aspectos epidemiológicos da Hepatite C no Brasil. 2008, p. 12.
62
DUCAN, Marten; YOUNOSSI, Zobair. Treatment options for nonresponders and relapsers
toinitial therapy for hepatitis C. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2003
EINAV, S.; KOZIEL, M. J. Immunopathogenesis of hepatitis C virus in the
immunosuppressed host. Transpl Infect Dis. 2002, 4 (2): 85-92.
EL-SERAG, H. B. Epidemiology of hepatocelular carcinoma. Clin Liver Dis. 2001, 5: 87107.
EL-ZAYADI, A. R. Heavy smoking and liver. World J Gastroenterol. 2006, 12 (38): 6098101.
EMMET, B. K. Chronic hepatitis C: management of treatment failures. MD. Clinical
Gastroenterology and Hepatology. 2005, 3: S102-S105.
ENOMOTO, A.; YOSHINO, S.; HASEGAWA, H. et al. Phylogenetic investigation for the
risk of hepatitis C virus transmission to surgical and dental patients. 2000.
FERENCI, P. Determinação da dose de interferon-alfa peguilado com base no peso corporal
em pacientes com hepatite C crônica: apenas um truque de marketing?. Digestive and Liver
Disease 35 (2003) 601-606.
FERENCI, P. ; LAFERL, H. ; SCHERZER, T. M. et al. Peginterferon alfa-2a and ribavirin
for 24 weeks in hepatitis C type 1 and 4 aptients with rapid viological response.
Gastroenterology. 2008, 135: 451-8.
FERREIRA, M. S. I Consenso da Sociedade Brasileira de Infectologia para o manuseio e
Terapia da Hepatite C. Tratamento da Hepatite C crônica em Pacientes virgens de tratamento.
2008
FRANK, C.; MOHAMED, M. K.; STRICKLAND, G. T. et al. The role of parenteral
antischistosomal therapy in spread of hepatitis C virus in Egypt. Lancet. 2000, 355: 887-91.
FRIED, M. W.; SHIFFMAN, M. L.; REEDY, K. R. et al. Peginterferon alfa-2a plus ribavirin
for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med. 2002, 347: 975-82.
FRIED, M. W. Side effects of therapy of hepatitis C and their management. Hepatology.
2002, 36 (5 Suppl 1), S237-44.
63
FRIED, M. W.; HADZIYANNIS, S. J. Treatment of chronic hepatitis C infection with
peginterferons plus ribavirin. Semin Liver Sis. 2001, 22: 958-65.
GERMER, J. J.; ZEIN, N. N. Advances in the molecular diagnosis of hepatitis C and their
clinical implications. Mayo Clin Proc. 2001, Sep. 76 (9): 911-20.
GIBSON, U. E.; HEID, C. A.; WILLIAMS, P. M. A novel method for real time quantitative
RT-PCR. Genome Res. 1996 Oct. 6 (10): 995-1001.
GONÇALES JÚNIOR, F. L. I Consenso da Sociedade Brasileira de Infectologia para o
Manuseio e Terapia da Hepatite C. Aspectos Básicos da Terapia da Hepatite C: Retratamento
dos pacientes com hepatite por vírus C que apresentaram falha terapêutica. 2006
GONÇALES JÚNIOR, F. L.;VIAGANI, A.; GONÇALES, N. et al. Weight-based
combination therapy with peginterferon alpha-2b and ribavirin for naïve, relapse and
non-responder patients with chronic hepatitis C. Braz J Infect Dis. 2006, 55: 1631-8.
HARALD, F.; ULRIKE, M.; STEFAN Z. Optimal therapy in genotype 1 patients. Liver
International. 2009, 29 (s1): 23-30.
HEATHCOTE, E. J; SHIFFMAN, M. L; COOKSELY, W. G. et al. Peginterferon alfa-2a in
patients with chronic hepatitis C and cirrhosis. N Engl J Med. 2000, 343: 1673-80.
HEATHCOTE, J. Retreatment of chronic hepatitis C: Who and how?. Liver International
2009. 29 (s1): 49-56.
HEID, C.A.; STEVENS, J.; LIVAK, K. J.; WILLIAMS, P. M. Real time quantitative PCR,
Genome Res. 1996 Oct. 6 (10): 986-94.
HOOFNAGLE, J. H.; SEEFF, L. B. Peginterferon and Ribavirin for chronic hepatitis C. N.
England. Med. 2006, 355: 2444-51
HOUGTON, M; WEINER, A; HAN, J. et al. Molecular biology of the hepatitis C viruses:
implications for diagnosis, development and control of viral disease.Hepatology. 1991 Aug.
14 (2):381-388.
HOWELL, C.; JEFFERS, L.; HOOFNAGLE, J. H. Hepatitis C in African Americans:
summary of a workshop. Gastroenterology. 2000, 119: 1385-96.
64
HU K-Q; KYULO, N. L.; ESRAILIAN, E. et al. Overweight and obesity,hepatitis and
steatosis and progression for chronic hepatitis C: a retrospective study on a large cohort of
patients in the United States. Hepatol. 2004, 40: 147-54. A.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007.
KATSURAGAWA, T. H. Prevalência de algumas doenças em população residente em área
de influência de Usinas Hidrelétricas, no município de Porto Velho, Amazônia Ocidental.
Dissertação de Mestrado. Porto Velho, Faculdade de Biologia, Fundação Universidade
Federal de Rondônia. 2006. 83p.
KISHIHARA, Y. et al. Human T lymphotropic virus type I infection influences hepatitis C
virus cleareance. J Infect Dis. 2001, 184: 1114-9.
KRAIN, A; WISNIVESKY, J. P.; GARLAND, E. et al. Prevalence of human
immunodeficiency virus testing in patients with hepatitis B and C infection. Mayo Clin Proc.
2004, 79: 51-6.
KRAWITT, E. L.; ASHIKAGA, T.; GORDON, S. R. et al. Peginterferon alpha-2b and
ribavirin for treatment-refractory chronic hepatitis C. Journal of Hepatology. 2005, 43:
243-9.
LAKSHMI, V.; REDDY, A. K.; DAKSHINAMURTY, K.V. Evaluation of commercially
available third-generation anti-hepatitis C virus enzyme-linked immunosorbent assay in
patients on haemodialysis. Indian J Med Microbiol. 2007, 25: 140-2.
LEPE, R. et al. Ethnic differences in the presentation of chronic hepatitis C. Journal of viral
hepatitis C. 2006, vol. 13 (2): 116-120.
LEUROX-ROELS, G.; DEPLA, E.; HULSSTAERT, F. et al. A candidate vaccine based on
the hepatitis C E1 protein: tolerability and imumunogenicitiy in heathy volunteers.
VACCINE. 2004, 22: 3080-3086.
LINDSAY, K. L.; TREPO, C.; HEINTGES, T. et al. Hepatitis interventional Therapy Group.
A randomized, double-blind trial comparing pegylated interferon alfa-2b to interferon alfa
2b as initial treatment for chronic hepatits C. Hepatology. 2001; 34: 395-403.
LYRA, A. C. L.; BRAGA, E. L. Condutas em Gatroenterologia. Hepatite pelo Vírus C..
Federação Brasileira de Gastroenterolgia. Editora Revinter, 2004.
65
MANNS, M. P.; MCHUTCHISON, J, G.; GORDON, S. C. et al. Peginterferon alfa 2-b plus
ribarin compared with interferona alfa 2-b plus ribavirin for initial treatment of chronic
hepatitis C: a randomized trial. Lancet. 2001, 358: 958-65.
MCHUTCHINSON, J. C.; POYNARD, T.; SALPETRIERE, P. et al. Patient body weight and
response to interferon alfa 2b monotherapy [abstract número 998]. In: 52nd. Annual Meeting
of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) (Dallas) Texas. 2001
MCHUTCHINSON, J. G; GORDON, S. C.; SCHIFF, E. R. et al. Hepatitis Interventional
Therapy Group (IHIT). Interferon a-2b alone or in combination with ribavirin as initial
treatment for chronic hepatitis C. N. England Journal Méd. 1998, 339:1485-92.
MELO, E. S.; ALVES, V. A. F. I Consenso da Sociedade Brasileira de infectologia para o
Manuseio e Terapia da Hepatite C. 2008
MELO, C. E.; ARAÚJO, E. S. A.; BARONE, A. Aspectos Básicos da Terapia da Hepatite C:
Mecanismos de Ação do Interferon-Alfa e da Ribavirina e as Bases da Individualização. I
Consenso da Sociedade Brasileira de Infectologia para o Manuseio e Terapia da Hepatite C.
São Paulo-SP: Office Editora e Publicidade Ltda, 2008.
MINCIS, M.; MINCIS, R. M. Hepatite C: como diagnosticar e tratar. The Brazilian Journal of
Gastroenterology. pp75-76, vol 7, nº 2,2007
MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2004. Indicadores de Morbidade e Fatores de Risco. Disponível
em <HTTP:tabnet.gov.br/CGI/idb2001/matriz.htm#morb> Acesso em 20.04.08.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico, 1993.
MONTO, A. et al. Risks of a range of alcohol intake on hepatitis C: related fibrosis.
Hepatology. 2004, 39: 826-34.
MOURACI, R.; RIPAULT, M. P.; OULES, V. et al. High predictive value of early viral
Kinectics in retreatment with peginterferon and ribavirin of chronic hepatitis C patients nonresponders to standard combination therapy. Journal Hepatol. 2007, 46: 596-604.
NAKANO I., FUKUDA Y. Imunopatogênese. In: FOCCACIA, R. Tratado de Hepatites
Virais. São Paulo: Ateneu, 2006
66
NEIVA, S. L. G.; FERNANDO, L. G. J. Diagnóstico laboratorial para hepatie C. I Consenso
da Sociedade Brasileira de infectologia para o Manuseio e Terapia da Hepatite C. 2008.
NELSON, D. R.; LAU, J. Y. N. Pathogenesis of hepatocellular damage in chronic hepatitis
C vírus infection. Clin Liv Dis 1: 515-528, 1997
NIH. Consensus Statemnt on Management of hepatitis C. In: NIH Consensus State SCI
Tsatements. 2002, 002. p1-46 .
OLIVEIRA, U. B. de; GALANTE, V. G. Abordagem atual do tratamento da hepatite C. In:
FOCCACIA, R. Tratado de Hepatites Virais. São Paulo: Ateneu, 2006
PARISE, E.; CHEINQUER, H.; CRESPO, D. et al. Peginterferon alfa-2a (40KD)
(PEGASYS) plus ribavirin (COPEGUS) in retreatment of chronic hepatitis C patients,
nonresponders and relapsers to previous conventional interferon plus ribavirin therapy. Braz
J Infect Dis. 2006, 10: 311-6.
PAWLOTSKY, J. M. Pathophysiology of hepatitis C infection and related liver disease.
Trends Microbiol. 2004, 12 (2): 96-102.
PEDDER, Scj. Pegylation of interferon alfa, structural an pharmacokinetic properties. Semin
Live Dis.2003, 23 ( Suppl 1): 19-22.
PESSIONE, F. et al. Cigarette smoking and hepatic lesions in patients with chronic hepatitis
C. Hepatology. 2001, 34: 121-125.
PINTO, P. de T. A. Interferon-α Peguilado e os fatores implicados na resposta clínica In:
FOCCACIA, R. Tratado de Hepatites Virais. São Paulo: Ateneu, 2006
POYNARD, T.; MARCELLLIN, P.; LEE, S. L. et al. Randomise trial of interferon alpha 2b
plus ribavirin for 48 weeks for treatment of chronic infection with hepatitis C virus.
Lancet.1998, 352: 1426-32.
POYNARD, T. ; SCHIFF, E.; TERG, R. et al. Sustained virologic response (SVR) is
dependent on baseline characteristics in the retreatment of previous alfa
interferon/ribavirin(I/R) nonresponders NR: final results from the EPIC3 program. Easl.
2008. Abstract 988.
67
POYNARD, T. et al. Natural history of liver fibrosis progression in patients with chronic
hepatitis C. Lancet. 1997, 394: 825-32.
POYNARD, T.; BEDOSSA, P.; OPOLON, P. et al. Natural history of liver fibrosis
progressions in patients with chronic hepatitis C. Lancet. 1997, 349: 825-32.
POYNARD, T.; MCHUTCHINSON, J.; MANNS, M. et al. The impact pegylated interferon
alpha 2-b and ribavirin on liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C.
Gastroenterology. 2002, 122: 1303-13.
REDDY, K. R. et al. Racial differences in responses to therapy with interferon in chronic
hepatitis C. Consensus interferon Study Group. Hepatology. 1999, 30: 787-93.
ROSENBERG.,W. Clinical Seminars in Hepatitis C.Part Two.Currents Treatments. 2007.
Copyright nowPharma Ltd.
SALMERON, J.; PEREZ-RUIZ, M. et al. Interferon versus ribavirin plus interferon in
chronic hepatitis C previously resistant to interferon: a randomized trial. Annual meeting
ASLD, 1996.
SÁNCHEZ-TAPIAS, J. M.; DIAGO M. T. et al. Peginterferon-alfa2a plus ribavirin for
48versus 72 weeks in patients with detectable hepatitis C virus RNA at week 4 of treatment.
Gastroenterology. 2006, 131: 451-60.
SCHIFF, E. R.; MEDINA, M.; KAHN, R. New perspectives in the diagnosis of hepatitis C.
Semin Liver Dis. 1999, (19 Suppl 1), 19:3–15.
SCHIFF, E. The alcoholic patient with hepatitis C virus infection. Am J. Med. 1999, 107
(6B): 95S-9.
SCHNEIDER, A. R. J.; TEUBER, G. S. K.; CASPARY, W. F. Noninvasive assessment of
liver steatosis, fibrosis and inflammation in chronic hepatitis C vírus infection. Liver
International 2005: 25: 1150-1155.
SCI, S. T.; POLYAK S. J., TU, H. et al. Hepatitis C virus NS5A colocalizes with the core
protein on lipid droplets and interacts with apoliproprotein.Virology. 2002, 292: 198-210.
68
SEEFF, L. B.; HOLLINGER, F. B.; ALTER H. J. et al. Long term, morbidity of transfusion
associated hepatitis (TaH) C. Hepatology. 1998, 23: 407a.
SHERMAN, M.; YOSHIDA, E. M.; DESCHENES, M. et al. Peginterferon alfa-2a (40KD)
plus ribavirin in chronic hepatitis C patients who failed previous interferon therapy. Gut.
2006, 55: 1631-8.
SHI, S.T.; POLYAK, S.J., TU, H. et al. Virology. 2002, Jan 20; 292(2): 198-210
SILVA, F.G.; POLÔNIO, J. R.; PARDINI, C. M. M. et al. Uso do Interferon peguilado alfa
2-b e ribavirina no tratamento da hepatite crônica de pacientes infectados pelo genótipo 1 do
vírus da hepatite C: os pacientes que não respondem ao tratamento e o pacientes que
apresentam recidiva constituem populações distintas?. The Brazilian Journal of infectious
Diseases. 2007, 11 (6): 554-560.
SIMMONDS, P. et al. Classification of hepatitis C virus into six major genotypes and a series
of subtypes by phylogenetic analysis of the NS-5 region. J. General Virology. 1993, 74:
2391-9.
STAPLETON, J. T.; LEMON, S. M. In: Hepatitis A and E, infection diseases: a treatise of
infection processes. Philadelphia: JB Liooincott Co. 1994, 790-800p.
STAUBER, R. E.; LACKNER C. Noninvasive diagnosis of hepatic fibrosis in chronic
hepatitis C. World J Gastroenterol. 2007, 13 (32): 4287-4294.
STRAUSS, E. História natural. Fatores de Progressão. Avaliação prognóstica da HCV
crônica. In: FOCACCIA, R. Tratado de Hepatites Virais. São Paulo: Ateneu, 2006.
STREIFF, MICHAEL B.; METHA, SHROUTI; THOMAS, D. L. Peripheral blood cout
abnormalities Among Patients with hepatitis C in the United States. Hepatology, 2002
TERRAULT, N. A. Sexual activity as a risk factor for hepaittis C. Hepatology. 2002, 36:
S99-105.
TUMMINELLI et al. Shaving as potential source of hepatitis C virus infection. Lancet. 1995,
345: 658
URDEA, M. S.; WUESTEHUBE, L. J.; LAURENSON, P. M; WILBER, J. C. Hepatitis Cdiagnosis and monitoring. Clin. Chem. v43, M. 8 (B), p -1507-1511, 1997.
69
VENTO, S.; CAINELLI, F. Does hepatitis C virus cause severe liver disease only in people
who drink alcohol?. Lancet Infectious Dis. 2002, 2 (5): 303-9.
WANG, J. T.; SHEU, J. C. et al. Detectiona of replicative form f hepatitis C vírus RNA in
peripherical blood mononuclear cells. J Infect Dis. 1992, 166: 1167-1169.
WRIGHT, T.; HOLLANDER H. et al. Hepatitis C in HIV-infected patients with and without
AIDS: Prevalence and relationship to patient survival. Hepatology 1994; 20: 1152-5.
YANG, J.; LAI, J. et al. Real time RT-PCR for quantitation of hepatitis C virus RNA. J Virol
Methods. 2002, 102:119-128.
ZEUZEM, S. Heterogeneous virologic response rates to interferonabased therapy in patients
with chronic hepatitis C: Who responds less well?. Ann Intern Med. 2004, 140: 370-81.
70
ANEXOS
71
ANEXO A
72
ANEXO B
73
74
ANEXO C
75
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
ESTUDO EM PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE C CRÔNICA NÃO
RESPONDEDORES AO TRATAMENTO COM ALFAPEGINTERFERONA 2-a E
RIBAVIRINA
SUBMETIDOS
ALFAPEGINTERFERONA
2-b
AO
E
RETRATAMENTO
RIBAVIRINA
NO
AMBULATÓRIO
ESPECIALIZADO DE HEPATITES VIRAIS DE PORTO VELHO-RO
EUGÊNIA DE CASTRO SILVA
Porto Velho-RO
2010
COM