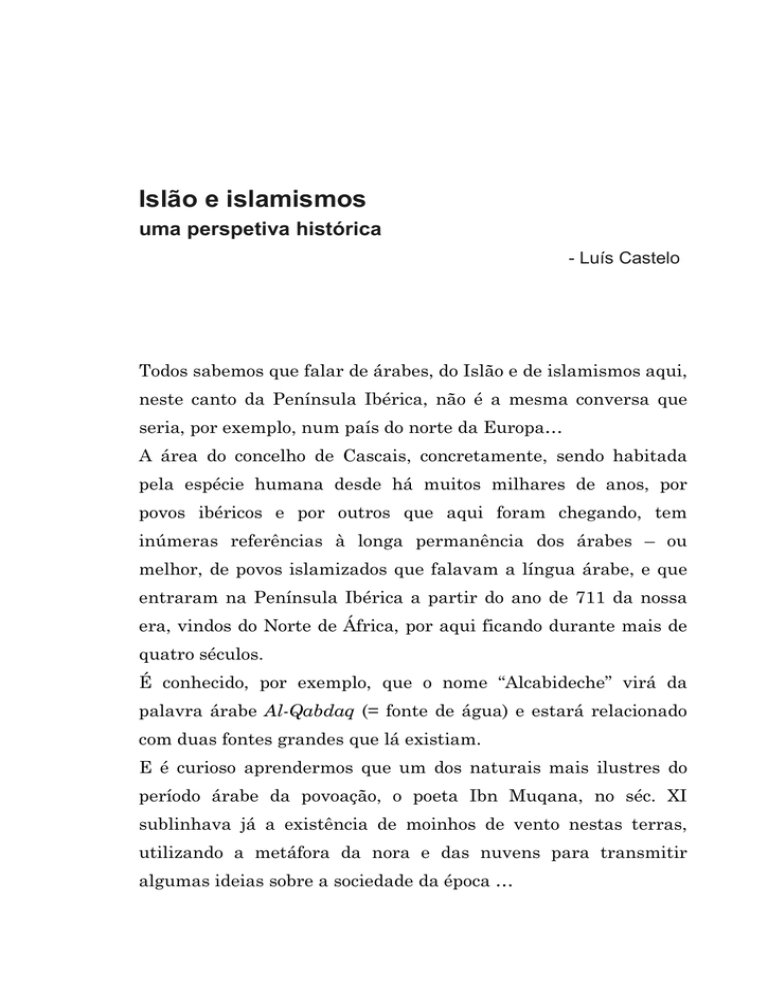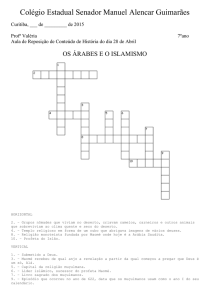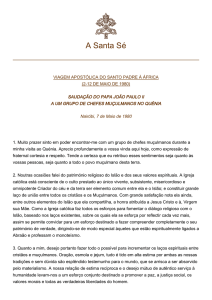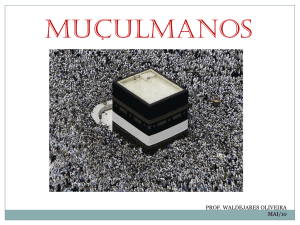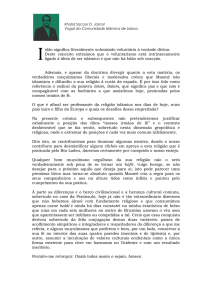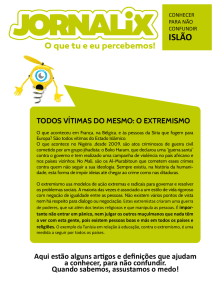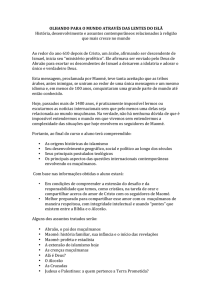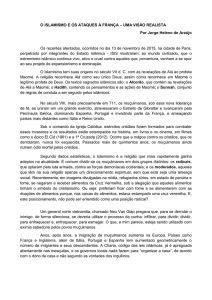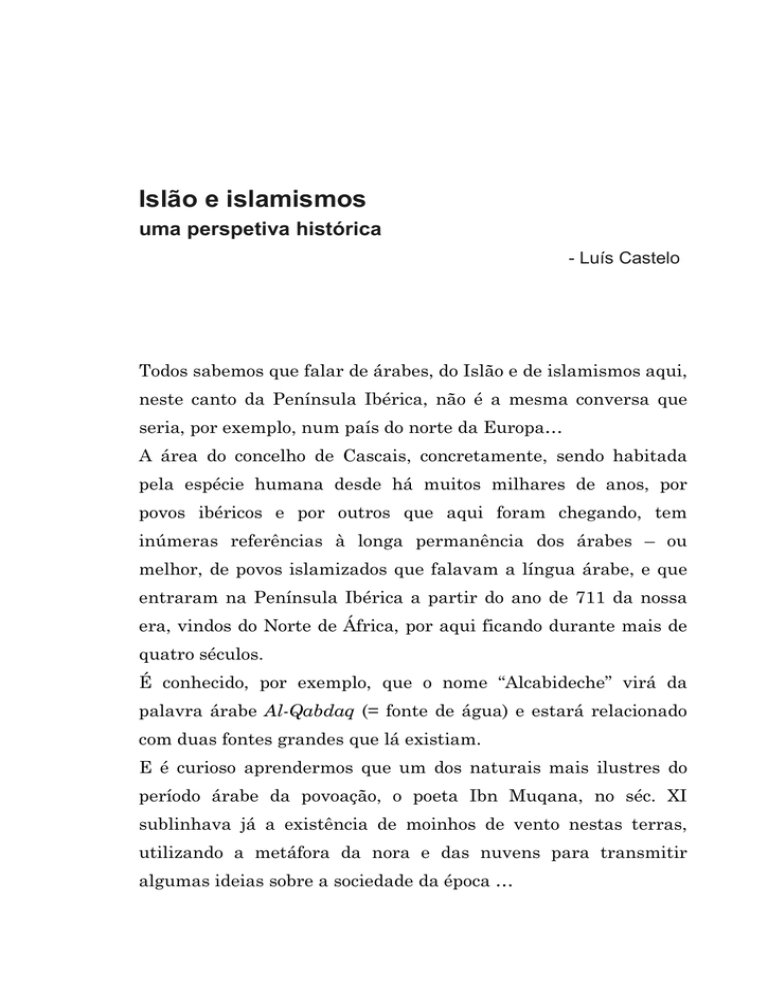
Islão e islamismos
uma perspetiva histórica
- Luís Castelo
Todos sabemos que falar de árabes, do Islão e de islamismos aqui,
neste canto da Península Ibérica, não é a mesma conversa que
seria, por exemplo, num país do norte da Europa…
A área do concelho de Cascais, concretamente, sendo habitada
pela espécie humana desde há muitos milhares de anos, por
povos ibéricos e por outros que aqui foram chegando, tem
inúmeras referências à longa permanência dos árabes – ou
melhor, de povos islamizados que falavam a língua árabe, e que
entraram na Península Ibérica a partir do ano de 711 da nossa
era, vindos do Norte de África, por aqui ficando durante mais de
quatro séculos.
É conhecido, por exemplo, que o nome “Alcabideche” virá da
palavra árabe Al-Qabdaq (= fonte de água) e estará relacionado
com duas fontes grandes que lá existiam.
E é curioso aprendermos que um dos naturais mais ilustres do
período árabe da povoação, o poeta Ibn Muqana, no séc. XI
sublinhava já a existência de moinhos de vento nestas terras,
utilizando a metáfora da nora e das nuvens para transmitir
algumas ideias sobre a sociedade da época …
Pois foi precisamente sobre árabes, o Islão e o(s) islamismo(s) que
achei interessante reunir algumas ideias, com a certeza de que
muito fica por dizer, e muito mais para aprender…
Mas o interesse sobre o tema tem hoje também, infelizmente,
razões menos históricas e menos simpáticas do que o fascínio das
diferenças da cultura e da civilização islâmicas, além do facto de,
como lembra o Professor Helder Santos Costa (do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas) mais de 1/6 dos atuais
habitantes da Terra se dizerem “tementes a Allah” e seguidores
do seu mensageiro Maomé.
Desde logo, dificilmente conseguimos agora falar do Islão sem
pensar em fundamentalismo, ou mesmo em terrorismo, nos
atentados do 11 de setembro de 2001 nos EUA, nos crimes da AlQaeda e do chamado “Estado Islâmico”, nos ataques de Londres,
de Madrid ou nos mais recentes em Paris (Charlie Hebdo, em 7
de janeiro de 2015, e os de 13 de novembro) e em Nice, e ainda
em Berlim, para só referirmos os mais mediatizados.
Mas será correta e justa essa confusão entre muçulmanos e
fundamentalismo islâmico, e entre este e terrorismo? É que
muçulmanos há muitos, mas os fundamentalistas são uma
minoria, e os terroristas, apesar da visibilidade mediática, são
ainda menos – embora verdadeiramente perigosos, sobretudo
porque aprenderam a aproveitar a religião aliando-a à ignorância
(quando não à própria estupidez) e a diversas disfunções de
carácter
económico-social,
importantes
facilitadores
dos
(des)propósitos de dirigentes criminosos na arregimentação de
futuros assassinos e muitos suicidas... tudo “em nome de Allah!”
E há que atentar (como refere Teresa de Almeida e Silva, no seu
livro “Islão e Fundamentalismo Islâmico”, citando Ferdows e
Weber) que em certas regiões, o fundamentalismo religioso (não
só islâmico, digo eu) tem ajudado uma progressiva mudança
social, melhorando as condições dos membros mais pobres da
sociedade e incrementando a participação política das massas, e
tem servido noutros lados para mobilizar o apoio popular a
causas
antidemocráticas,
ultraconservadoras,
incluindo
a
abolição de direitos de adversários... sempre apelidados de
“inimigos da fé”, “infiéis”, etc…
Acompanhemos, então, o princípio do Islão, uma religião
monoteísta (abraâmica) articulada, ou enquadrada, sobretudo
pelo Alcorão (muitos dizem “O Corão”… mas os linguistas
preferem “O Alcorão”, de Kor’an ou Qur’an, que significa “récita”
ou “recitação” – o Alcorão não se lê: recita-se), livro sagrado dos
muçulmanos (=seguidores da religião islâmica), livro que é
simultaneamente fonte de orações e fonte de direito, escrito
durante o califado de Othman (644-656), em 114 capítulos (sûras)
numa prosa rimada, que muitos acreditam ser a palavra literal
de Alá (= Allah = Javé dos judeus e Deus dos cristãos) revelada,
no século VII da nossa era, ao profeta Maomé =Muhammad Ibn
Abdullah (c.570-8.jun.632), que foi, segundo a tradição, o último
dos principais profetas (= os que se dizem contactados pelo
divino)
depois
de
David, Moisés e Jesus.
Abraão,
Ismael,
Isaac,
Jacob,
Maomé terá, portanto, transmitido a
palavra de Alá, e a sua doutrina recebeu o nome de “Islão”, que
significa “submissão” e tem uma raiz comum com a palavra
“muçulmano”.
Maomé (filho de Abd Allah e de Aminah) nasceu, por volta do ano
570 da nossa era, em Meca, cidade situada num vale árido da
península arábica, e que era dominada pela tribo qoraysh
(=quraixita) (a que pertencia o clã hachemita – hashim – de onde
o profeta era oriundo), cujos oligarcas tinham enriquecido devido
à situação geográfica da cidade, que era passagem obrigatória na
rota dos produtos preciosos que vinham da Ásia, e das essências e
aromas destinados aos cultos religiosos dos egípcios, dos povos do
Próximo Oriente, dos gregos, dos romanos…
Maomé não rejeitou o judaísmo nem o cristianismo, dizendo antes
que Deus lhe ordenou que restaurasse os ensinamentos destas
religiões, entretanto corrompidos e esquecidos.
Segundo a tradição (primeiro transmitida oralmente, mas depois
fixada nos livros, a começar pelo Alcorão), em 610 dC, Maomé, já
com 40 anos de idade, teria recebido revelações divinas através
do arcanjo Gabriel, e começou a chamar homens e mulheres para
se submeterem à vontade de Alá e abandonarem os ídolos pagãos
(animais, pedras, objetos deixados por antepassados, etc.), cuja
adoração era, na realidade, uma das fontes de receita da cidade,
razão pela qual os ricos comerciantes qoraychitas o terão
ameaçado e obrigado a deixar Meca, tendo-se estabelecido em
Yathrib (um oásis a cerca de 350 Km), no ano de 622 (emigração
a que os muçulmanos chamam hégira, que marca o início do
calendário deles). Os poderosos de Meca entendiam que as
pregações de Maomé contra a idolatria iam prejudicar o
monopólio da Caaba (= Ka’aba), aquela espécie de cubo negro que
já existia em Meca vários séculos antes de Maomé e que tinha
transformado a cidade no principal centro religioso pagão da
antiga Arábia. Contudo a Caaba manteve, com o Islão a
importância de símbolo religioso, tendo os califas Omar e
Othman, que sucederam a Maomé, criado uma grande área para
facilitar a peregrinação à volta da construção, que se dizia ter
sido edificada por Adão e reconstruída pelo seu filho Seth, e
depois por Abraão e por seu filho Ismail, e depois pelos
descendentes de Noé… A localização da Caaba continua hoje a
indicar a direção na qual os muçulmanos devem fazer as 5
orações diárias, que constituem um dos 5 pilares da relação dos
crentes com Deus.
Mas foi em Yathrib (que depois se passou a chamar Medina, “a
cidade do profeta”) que Maomé se tornou chefe da primeira
comunidade de crentes, a Umma, decretou a djihad (= luta)
contra os idólatras de Meca, tendo conseguido reunir várias
tribos, e vencer as batalhas que lhe permitiram ganhar poder
para negociar o regresso a Meca, acabando por unificar
politicamente uma parte importante dos árabes e organizar, sob
a nova religião, um exército que foi ganhando força e, em poucos
anos, sob a chefia dos primeiros califas, conquistou as terras e os
povos à sua volta, até formar o que viria a ser o império islâmico,
maior do que o de Alexandre Magno, que em apenas duas
gerações se estendeu desde a Pérsia (que começava, a oriente, no
rio Indo) até à Península Ibérica (como sabemos), tendo começado
por aproveitar as fraquezas que então já minavam os impérios
mais próximos, o bizantino (a Roma do Oriente) e o persa
sassânida, para se apoderar dos respetivos territórios.
Nesse tempo, os árabes, em vez de imporem a sua religião e os
seus costumes às populações submetidas, souberam mostrar um
regime de tolerância, que ajudou a que o Islão se difundisse, e
com ele a língua árabe, que se foi impondo gradualmente,
facilitada por uma governação eficaz que desenvolveu o comércio
e divulgou a cultura, o que criou nos assimilados um sentimento
de pertença a uma mesma comunidade, apesar de todas as
diferenças.
Seguindo a história do poder islâmico, no ano de 632, quando
Maomé morreu, sucedeu-lhe o sogro, Abu Bakr, (632-634) pai de
Aicha, que usou pela primeira vez o título de califa, (=Khallifat
Rasul Allah, representante do mensageiro de Deus, sucessor)
nome pelo qual passou a ser tratado o chefe da Umma, a
comunidade do Islão. A Abu Bakr sucedeu Omar (=Umar Ibn alKhattab, um outro sogro de Maomé, pai de Hafsa, que terá sido
assassinado por um escravo cristão, em 644), seguindo-se
Othman (Uthman ibn Affan – ou Osman, como dizem outros – do
clã omíada, ele próprio também assassinado em 656, por ter
servido demasiado bem, ao que parece, os interesses da sua
família e descuidar os da Umma), e depois Ali (ibn Abu Talib,
656-661), um primo e genro de Maomé, associado por alguns à
morte de Othman, mas que outros consideram, como veremos, o
único sucessor legítimo do profeta.
Em 661, o governador árabe da síria, Mu-Awiyah, do clã dos
omíadas, aproveitando, ou talvez chefiando, uma revolta que
culminou com o assassinato de Ali (por dois kharijitas, grupo de
dissidentes do exército de Ali, considerados os “puritanos do
Islão”), proclamou-se ele próprio califa, instalou a capital em
Damasco e fundou o califado omíada, designação que vem do
nome Umayya, antepassado de Mu-Awiyah, permitindo que os
aristocratas quraish, que em Meca se tinham oposto a Maomé,
voltassem a ocupar o poder.
O chamado “grande cisma” do Islão, que além de uma religião se
tornara num sistema político, depois chamado “islamismo”, tinha
nascido após a morte de Maomé, em torno de quem deveria ser o
líder da comunidade islâmica. Os partidários de Ali (do árabe
'shiat Ali', de onde vem o nome de “xiitas” pelo qual passaram a
ser conhecidos) não discutem a legitimidade dos três primeiros
califas (Abu Bakr, Omar e Othman) como chefes políticos, mas
sustentam que o verdadeiro sucessor do profeta como chefe
religioso era Ali, de quem os sucessores deveriam descender (de
Ali e de Fátima, filha do Profeta e da primeira mulher deste,
Khadijah), porque só quem descendia de Maomé teria o direito de
interpretar o Alcorão e deveria guiar a comunidade islâmica,
tendo Ali sido encarregado por Alá de transmitir esse cargo aos
seus descendentes. É o chamado legitimismo, princípio da
doutrina política do xiismo. Os xiitas acreditam que a missão de
guiar os crentes não acabou com Maomé, que Alá não os
abandonaria, o que legitima os seus líderes, que têm que ser
nomeados pelo respetivo antecessor, para continuar a interpretar
o Alcorão. Por outro lado, os xiitas mantêm a tradição cultural e
popular de adorar as sepulturas de santos, cuja intercessão junto
de Alá consideram vital para a salvação.
Mas o xiismo, que logo ficou em minoria no universo islâmico,
acabou por se dividir e subdividir em diversos movimentos ao
longo da história, constituindo hoje cerca de 10 a 15% dos mil e
muitos milhões de muçulmanos.
Ao contrário dos xiitas, os seguidores da outra grande corrente do
Islão, os sunitas, entendem que a revelação das leis de Alá, no
Alcorão, e a condução dos muçulmanos através da Sunna
terminou com Maomé, considerando anti-islâmica a prática de
adoração de sepulturas de “santos”. Logo de início, os sunitas
terão defendido a escolha de Abu Bakr como sucessor de Maomé
na liderança da Umma, em lugar de Ali e seus descendentes.
Diziam mesmo que a “Grande Discórdia”, a Fitna, se deveu à
insistência na sucessão de Ali sem o acordo da maioria,
contrariando a tradição da escolha do melhor qualificado dentro
da família ou da tribo.
Os sunitas (de Ahl al-Sunna) também reconhecem a legitimidade
dos quatro primeiros califas, mas fundamentam a sua fé no
Alcorão e na Sunna – a tradição profética, a prática de Maomé,
relatada pelos seus companheiros, ou seja, tudo o que o profeta
disse, fez ou consentiu, os conhecimentos, usos e costumes
passados de geração para geração, avalizados pelas autoridades
religiosas de dentro da comunidade. Defendem um sistema
codificado da lei islâmica, um califado eletivo, e não dinástico,
acreditam na unidade da comunidade islâmica, aceitam a ordem
estabelecida, que a autoridade doutrinal muda de mãos com o
califado, e que qualquer verdadeiro crente poderá ser o sucessor
do Profeta, desde que obtenha o consenso da maioria. Desconfiam
dos excessos de todos os extremistas e representam hoje cerca de
85% dos muçulmanos, reivindicando a conciliação do Alcorão, a
Sunna e o consenso da comunidade (= ijma). A manutenção da
unidade da comunidade transnacional (Umma) é para os sunitas
da maior importância, e fica a cargo da eficiência política do
califa a quem é entregue a liderança. Ao contrário, para os xiitas
a legitimidade da chefia pertence ao Imam (e não “imam”, que,
escrito com letra minúscula, se refere apenas a alguém formado
em teologia, que pode conduzir a oração de sexta-feira) o “Homem
Santo” que consideram intermediário entre Allah e os crentes, e
que é o líder político e religioso.
Portanto, Ali foi, como vimos, o quarto califa (depois de Abu Bakr,
Omar e Othman (ou Osman)), mas acabou por ser assassinado à
porta da mesquita de Kufa, para onde se retirara, sendo por
alguns acusado de cumplicidade na morte do seu antecessor.
Mu-Awiyah, o governador de Damasco que mencionámos, tido
como o chefe da vingança contra Ali, proclamou-se califa. E
entretanto, foram também mortos os filhos de Ali: Hassan teria
sido envenenado, depois de ter negociado a renúncia à sucessão;
e o irmão Hussein terá morrido (em Karbala, 680) numa batalha
contra os usurpadores do califado.
Mu-Awiyah nomeou depois o filho como príncipe herdeiro,
introduzindo o princípio dinástico (contrariando a escolha
através de uma eleição na Majlis al Ummah, órgão que
congregava os líderes das principais tribos e, mais tarde, das
províncias).
Os sunitas apoiaram o califa Mu-Awiyah e os omíadas, que os
xiitas recusavam; como vimos, estes não chamavam, sequer,
“Califa” ao sucessor do Profeta, mas sim “Imã”.
Mas a cisão entre sunitas e xiitas seria, afinal, a primeira das
muitas divisões ocorridas entre os muçulmanos.
Como dizíamos, depois dos quatro califas que sucederam a
Maomé, vieram as duas primeiras dinastias sunitas. O califado
passou então a ser hereditário, deixando de existir a proximidade
inicial entre governantes e governados, com os novos califas a
assumir procedimentos semelhantes aos de reis e imperadores.
Essa é a razão que leva os atuais muçulmanos, na sua maioria, a
considerar que a tomada do poder pela dinastia omíada
determinou o fim dos “califas virtuosos”.
Mas a verdade é que foi a dinastia omíada, essa primeira
dinastia hereditária de califas do Islão (661-750), que construiu o
Império Árabe. Mu-Awiyah e os seus sucessores, Abd al-Malik e
Hicham, considerados grandes administradores, começaram por
reconquistar a parte oriental da península aos dissidentes xiitas
(que resistiam ao novo regime e tiveram de passar à
clandestinidade); depois (inspirados pelos gregos e pelos persas
que tinham vencido), os califas omíadas souberam fazer crescer e
progredir os territórios conquistados, que transformaram num
império islâmico, conseguindo até a conversão de alguns vultos
não árabes.
Porém, em 749, aproveitando o declínio da autoridade omíada, foi
aclamado um novo califa, Abu-al-Abbas, numa mesquita de Kufa,
no Iraque, que, embora sunita, anunciou o regresso à via
ortodoxa, apelando para os xiitas e demais opositores dos
omíadas, que foram derrotados em 750, tendo o novo líder
começado por executar o último califa daquela dinastia e
massacrado a família deste (num banquete, para o qual os
convidara), dando início à dinastia abássida, que passou a
dominar o mundo árabe nos quase dois séculos seguintes. A
capital do império voltou a mudar, desta vez para Bagdad, que
era até então uma aldeia cristã, junto ao rio Tigre, no Iraque.
Da família omíada reinante apenas escapou o príncipe Abd-alRahman, que fugiu para o Magrebe e foi depois, em 756, chamado
a intervir na Andaluzia, onde os berberes estavam implantados
desde 711, e onde fundou uma nova dinastia omíada, centrada no
emirado (depois califado) de Córdoba (756-1031), que se tornou
na maior cidade da Europa, rivalizando com Bizâncio e com
Bagdad. Em 929, no apogeu de Córdoba, Abd-al-Rahman III
proclamou-se califa, reagindo contra o califado xiita fatímida
(909-1171), que estava ligado ao sétimo imã, Ismail, e se dizia
descendente de Fátima, filha de Maomé e casada com Ali, tendo
este califado começado por se implantar no Magrebe, para depois
conquistar o Egipto (969), onde instalou a nova capital, o Cairo,
estendendo-se depois para a Síria, a Palestina e o Hedjaz.
A enorme expansão da civilização islâmica pôs em contacto
pessoas com línguas, culturas e formas de vida diferentes, que se
unificaram ao abrigo da religião muçulmana e da língua árabe,
que se impôs e ganhou prestígio, sendo adoptada por muitos
cristãos e judeus. Como sabemos, muitas das obras gregas e
romanas só foram conhecidas na Europa através das traduções
árabes.
A literatura árabe propriamente dita terá começado com a escrita
do Alcorão, que influenciou as obras posteriores. Os árabes
cultivaram a poesia e escreveram muitos livros de viagens, de
história e de geografia, e distinguiram-se nas fábulas e pequenos
contos, de que se destacam os relatos das Mil e Uma Noites,
provenientes de vários países, como a Pérsia e a Índia, e de
diferentes épocas, algumas (como “Ali Babá e os 40 Ladrões” ou o
“Aladino”) acrescentadas mais tarde.
Criaram grandes bibliotecas, como as de Bagdad, de Córdova e do
Cairo.
Trouxeram de países distantes, como a China e a Índia, artigos
desconhecidos no Ocidente, como o papel, a pólvora, a bússola e o
astrolábio, desenvolveram a matemática, a astronomia, a
química, a medicina.
Não tendo as primeiras tribos nómadas seguidoras do Islão uma
tradição artística, os árabes aprenderam a fundir e sintetizar
algumas das características da arte dos povos conquistados,
criando um estilo próprio, ainda hoje reconhecível, com a
utilização de materiais pobres e pouco duradouros, como a
madeira, o tijolo, o gesso, o metal, o vidro esmaltado, a cerâmica e
os azulejos, e uma decoração criativa que preenche todos os
espaços. Trabalhavam também o marfim, o couro e o bronze.
Unidos pela língua, os islamitas passaram por fases de domínio
estrangeiro, a partir do século XI, e dividiram-se em regiões de
predomínio árabe, persa e turco.
Numa rápida revisão histórica, depois dos chamados "Califas
ortodoxos", eleitos por consenso e aceites por todos, Abu
Bakr (632-634), Omar (634-644), Otman (644-656) e Ali (656661), o califado passou a ser assumido, basicamente, por quem
tinha força para chegar ao poder, seguindo-se diversas dinastias
principais, por vezes paralelas: a dinastia omíada, em Damasco
(661-750), de orientação sunita, seguida pela dinastia abássida,
primeiro em Kufa e depois em Bagdad (750-1258), e mais tarde
no Cairo (1260-1517), a dinastia fatímida, de orientação xiita
ismaelita, em Cairuan, no Norte de África e no Egito (909-1171),
a dinastia omíada de Córdoba, de orientação sunita (929-1031),
que em 1031 se desagregou em taifas, pequenos reinos
muçulmanos independentes; a dinastia almóada, no Norte de
África e sul da Península Ibérica (1145-1269). Em 1258 os
Mongóis chegam a Bagdad e massacram os abássidas, tendo um
dos seus califas conseguido fugir e refugiar-se no Cairo, entre os
mamelucos. A dinastia otomana (nome que deriva de “filhos de
Osman”) (1517-1924) de orientação sunita, que terá construído
o Império Otomano – originária de um clã nómada que emigrara
para a Anatólia e que, a partir do fim do séc. XIV e antes da
tomada de Constantinopla (1453), ocupara os Balcãs. Ao destruir
o sultanato mameluco do Egito, em 1517, o sultão Selim I levou
para Istambul o último califa fantoche abássida do Cairo e
exigiu-lhe a concessão do título (de califa), passando Selim I a ser
o chefe supremo de todos os muçulmanos.
Como dissemos, depois dos omíadas, em 661, terem tomado o
poder entre os muçulmanos e transferido a capital para Damasco,
na atual Síria, a dinastia abássida chegou ao poder no ano de 750
e levou a capital para Bagdad.
Passados cerca de 200 anos, o Califado dividiu-se em dois e,
alguns anos depois, em três, começando então a desintegrar-se,
até que, no final do século XII, o sultão do Egito, Saladino, o
reestruturou através de alianças entre os vários estados, e
reiniciou o processo de expansão.
No seguimento do conflito entre o Califado Fatímida e o Califado
Abássida, outros líderes muçulmanos começaram a reivindicar o
título de califa. A progressiva perda de poder dos abássidas é
acompanhada pela imposição do poder turco, com a entrada dos
seljúcidas em Bagdad, em 1055, a colocação dos califas sob a sua
tutela e a exigência do seu reconhecimento como sultões, ou seja,
os verdadeiros governantes, senhores do poder temporal, políticomilitar, que volta a separar-se do poder espiritual, deixado ao
califa.
Mas tanto a oriente como a ocidente, vão aparecendo reinos
independentes. Os mamelucos, escravos militares comprados
pelos aiúbidas (de origem curda) para ajudar na defesa do
território (no Egito e na Síria), estabelecem-se no Cairo em 1250
vencem os mongóis, que expulsam do Próximo Oriente em 1260,
expulsando depois os cruzados a quem conquistam Acre em 1291.
No ocidente, os marínidas assumem o poder em Fez e os násridas
em Granada, fazendo florescer brilhantemente os respetivos
territórios.
Até que o poder marínida vai enfraquecendo no Magrebe, os Reis
Católicos tomam Granada, em 1492, e os mamelucos são
derrubados pelos turcos otomanos, em 1517, passando o poder
otomano (os “filhos de Osmão”, ou Otomão, que a partir do final
do século XIII vão dominando a Anatólia) a ser visto por todos
como a entidade política islâmica mais poderosa, e assim se
manteve até à Primeira Guerra Mundial.
Quando Mustafá Kemal, presidente laico da nova República da
Turquia aboliu o Império Otomano, em 1923, deixou de existir o
título de califa.
E só há dois anos, em 29 junho de 2014, um grupo armado sunita
que passou a controlar grandes áreas do Iraque e da Síria,
resolveu anunciar a criação de um novo "califado", que
abrangeria o Iraque e a Síria, e incitou outros grupos a jurar
lealdade a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, que
passou a chamar-se Abu Bakr al-Baghdadi, "o califa", um
ambicioso extremista iraquiano que se dizia "líder para os
muçulmanos em todos os lugares". O porta-voz do grupo, Abu
Mohamed al-Adnani decretou que "a legalidade de todos os
emirados, grupos, estados e organizações torna-se nula pela
expansão da autoridade do califa e com a chegada das suas
tropas para as suas áreas", acrescentando: "Ouça o seu califa e
obedeça. Apoie seu Estado, que cresce a cada dia.''
Deve perceber-se que o desenho atual do mapa do Médio Oriente
começou a ser feito logo depois da Grande Guerra de 1914-18,
com o desmembramento do Império Otomano, com base no
Acordo Sykes-Picot (de 1916), na Declaração Balfour (1917) e no
Tratado de Versailles (1919).
No período entre as duas guerras mundiais, as potências
europeias dominaram totalmente o Médio Oriente e o Norte de
África, onde iam amadurecendo os nacionalismos, que depois se
impuseram em vários países árabes.
Com a 2ª Guerra Mundial, os E.U.A. e a União Soviética
emergiram como as duas superpotências, que passaram a
dominar o mundo e a gerir as suas influências também no Médio
Oriente.
A proclamação do Estado de Israel, em 1948, e a guerra que se
seguiu, com pesadas derrotas para o Egito, Jordânia, Síria,
Líbano e Iraque, representaram uma tragédia para o mundo
árabe, que responsabilizou os E.U. e o Reino Unido.
O crescimento do nacionalismo árabe só parou com a Guerra dos
Seis Dias (1967), onde Israel mostrou ter-se tornado na mais
forte potência militar da região. O prestígio de Nasser ficaria
profundamente diminuído e o seu sucessor à frente do Egito,
Anwar Sadate viria a concluir os acordos de paz com Israel, em
1978 (Camp David), e a acabar praticamente com o nacionalismo
árabe, o que levou à expulsão do Egito da Liga Árabe, que
transferiu a sede do Cairo para Túnis. Também o baathismo, que
sonhava igualmente com uma Nação Árabe, morreu quando o
Iraque de Saddam Hussein invadiu o vizinho baathista Irão, em
1980, iniciando uma terrível guerra de 8 anos, que causou um
milhão de mortos e custos de centenas de milhares de milhões de
dólares. Na origem desta guerra estava o controlo do Golfo
Pérsico, e o medo de Saddam de que a maioria xiita iraquiana
fosse contagiada pela revolução xiita iraniana, que em 1979
depôs o Xá Reza Pahlevi.
Muito haveria a dizer sobre essa revolução iraniana e sobre
diversos outros acontecimentos de grande importância dentro da
história mais recente do Islão e dos islamismos, como a Guerra do
Golfo (1990-1991), que obrigou o Iraque a retirar do invadido
Kuwait,
o
aparecimento
da
Al-Qaeda,
que
nascera
no
Afeganistão, então dominado pela União Soviética, e a atuação
que culminou com a criminosa destruição das torres gémeas em
N.Iorque, a igualmente criminosa invasão do Iraque sob o falso
pretexto de produção de armas de destruição maciça e o caos que
se seguiu; já em 2011, começariam as chamadas “primaveras
árabes”, com as pouco primaveris consequências; e o ocidente
voltou a dar uma “ajudinha” na destruição da Líbia e de Kadhafi
e no regresso tribal posterior, além da atual quase destruição da
Síria e de Assad, e tantas outras desastrosas intervenções,
sempre sob o virtuoso pretexto de “ajudar a levar a democracia”
aos pobres intervencionados...
Mas vamos concentrar-nos, por ora, no tremendo papel que o
mundo não muçulmano tem desempenhado no crescimento do
extremismo islâmico, aparecendo como uma real ameaça externa
que leva os fundamentalistas a exortar as populações, sobretudo
os mais jovens e os mais social ou economicamente fragilizados, a
restaurar os valores tradicionais como um mecanismo de defesa.
A verdade é que a tentativa de secularizar e aproximar os países
muçulmanos dos valores ocidentais, depois da derrota e divisão
do império otomano, em vez da prosperidade e do progresso que
os estrangeiros anunciavam, mostrou novos tiranos e ditadores,
novas elites que esmagaram e humilharam as massas em
proveito próprio, levando ao renascimento do fundamentalismo,
que soube apresentar a restauração da lei islâmica como um
programa político capaz de recuperar a dignidade perdida e
trazer bem-estar e uma melhor distribuição da riqueza.
Como refere John Owen, o Islão político, o islamismo, ideologia
que defende o engrandecimento da comunidade muçulmana
através do estabelecimento da lei islâmica imposta pelo Estado, a
sharia, está a redefinir o mundo muçulmano, aproveitando o
confronto com os que rejeitam a sharia e com os nãomuçulmanos, em lutas, por vezes violentas, que alimentaram as
revoluções no Egito, em 1952, e no Irão, em 1979, bem como os
ataques da Al-Qaeda em 2001, a chamada Primavera Árabe de
2011 e a ascensão assustadora de grupos radicais islamitas como
o Daesh, o auto-proclamado Estado Islâmico (ISIS, que primeiro
se chamou EIIS, Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e EIIL,
Estado Islâmico no Iraque e no Levante), que, tanto quanto se
sabe, teve origem na criminosa intervenção de 2003 no Iraque,
que conduziu à ligação de diversos movimentos relacionados com
o chamado “terrorismo de matriz islâmica” e com a Al-Qaeda, de
Abu Zarqawi. Com a morte deste, em 2006, Abu Bakr alBaghdadi substituiu-o, mas em discordância com a direção, que
levou à separação definitiva quando da morte de Bin Laden, em
2011. Depois de vários episódios de uma história obviamente
atribulada, o dito “Estado Islâmico” espantou o mundo quando,
no verão de 2014, conquistou rapidamente 1/3 do território
iraquiano, derrotando de forma humilhante o exército que os
E.U. formaram, financiaram e equiparam. Seguiram-se as
criminosas execuções e exibições de terror, através de encenações
escabrosas publicitadas através da internet e ampliadas com a
cumplicidade de meios de comunicação sem critério.
Alardeando um falso cumprimento dos preceitos da religião
muçulmana, que interpretam de forma grosseira, primária e
distorcida, apareceram a partir da Al-Qaeda, com “princípios”
semelhantes, saídos da ideologia pan-islâmica de Sayyid Qutb,
antigo líder da Irmandade Muçulmana (a ideia é alargar o
modelo teocrático radical islâmico de governo no mundo, através
do terrorismo) mas reclamam um território, uma pretensa
administração pública rudimentar e um exército, proclamando
um novo califado, que anunciam querer expandir por todo o
Médio Oriente, sujeitar à sharia e estabelecer ligações na Europa
e noutras regiões, obtendo poder através do terror. Na verdade,
essa existência territorial permitiu que o Daesh pudesse começar
a ser combatido militarmente, primeiro no Iraque, pelo exército
iraniano e pelas milícias curdas – dos peshmergas do Curdistão
iraquiano, do YPG (Partido da União Democrática) autonomista
sírio e do PKK Partido dos Trabalhadores do Curdistão) turcoiraquiano –, com o apoio aéreo dos E.U.A. e de alguns dos países
islâmicos; e hoje na Síria, depois de o Ocidente ter começado a
perceber a importância do papel de Assad, permitindo o decisivo
apoio aéreo russo ao avanço das tropas sírias na recuperação do
respetivo território.
O Daesh, que muitos dizem ter sido criado e financiado, ou ser,
pelo menos, largamente ajudado quer pelos EUA quer por Israel,
é muito popular entre os jihadistas radicais – mais do que a
Jabhat al-Nusra, criada em 2012 pelo próprio Bagdadi, então a
partir da Al-Qaeda no Iraque, para ajudar, através do uso da
violência, na criação de um estado islâmico transnacional, e que
foi ganhando força até que Bagadadi decidiu ser oportuno fundir
a Nusra com a Al-Qaeda no Iraque, expandindo a organização
sem respeitar fronteiras e decretando que os dois polos passariam
a chamar-se Estado Islâmico do Iraque e al-Sham (a “Grande
Síria”), mas o líder da Nusra, o sírio Mohammed al-Jolani,
recusou tal fusão, sublinhando as diferenças.
Como noutros cenários de guerra, estes grupos extremistas
ganham facilmente popularidade misturando a exibição da força
com a dependência criada junto das necessitadas populações, que
subjugam sobretudo através do medo, aterrorizando quem se
opõe e dando dinheiro aos apoiantes.
O que não podemos é esquecer o papel que nesta guerra tem sido
desempenhado pelos E.U.A. e países como a Turquia, ou mesmo
Israel, muitas vezes enquadrados pela Nato, como tem acontecido
no conflito sírio, a propósito do qual José Goulão sublinhou, num
recente artigo, a pouca atenção dada à notícia de que no dia 18 de
dezembro último, as forças libertadoras da zona leste de Alepo
(na Síria) prenderam pelo menos 14 agentes da Nato, de
nacionalidades norte-americana, britânica, francesa, israelita,
turca e saudita, entre outras, escondidos num bunker, de onde
dirigiam os chamados “rebeldes sírios”, ou seja, os bandos da AlQaeda e outros grupos terroristas. A gravidade do sucedido
determinou uma reunião de emergência do Conselho de
Segurança da ONU, que reuniu à porta fechada logo no dia 19 de
dezembro.
Na mesma altura apareceu morto Yves Chandelon, um auditor
da NATO que investigava as pistas de financiamento do
terrorismo, tendo a morte sido noticiada como suicídio, versão
que os familiares logo vieram recusar, pondo a nu diversos
indícios de falsidade, reforçados pela má encenação constatada,
que colocou Chandelon, canhoto, com uma arma encontrada na
mão direita, numa localidade que não era suposto frequentar,
longe da residência e do local de trabalho, sabendo-se ainda que
vinha recebendo sérias ameaças telefónicas…
Aliás, também o turco Erdogan, irritado com o aliado americano,
veio a público anunciar as inúmeras provas fotográficas do apoio
dos E.U.A. aos terroristas da Al-Qaeda e do Daesh, que não
destoa, como sabemos, de tantas outras desastradas iniciativas
internacionais anteriores, nomeadamente em países islâmicos,
como no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, etc., provocando a
morte e deslocações forçadas de milhões e milhões de pessoas.
E não restam dúvidas sobre o enorme risco de difusão do
fundamentalismo por outras regiões onde a guerra civil ou a
destruição do Estado permitam a sua implantação, como na
Líbia, nas zonas desérticas do Norte de África, no norte da
Nigéria ou no Cáucaso e Ásia Central.
Mas insisto na distinção entre fundamentalismo e terrorismo, e
na necessidade de desfazermos a atual confusão generalizada do
fundamentalismo islâmico com o terrorismo de matriz islâmica, o
que podemos conseguir com a ajuda do trabalho já citado de
Teresa de Almeida e Silva, que caracteriza o fundamentalismo
islâmico, além do mais, pelo totalitarismo com que abrange e
regula todos os aspetos da vida social pública e privada, pela
visão literalista da shari’a e pela forma coerciva como é imposto.
E as suas causas estarão, desde logo, no fracasso da tentativa de
imposição dos modelos políticos ocidentais ao mundo muçulmano,
constituindo uma reação ao modelo democrático e liberal do
capitalismo, mas também ao modelo marxista e à chamada
“terceira via” do modelo terceiro-mundista, fracasso que terá
levado ao regresso aos fundamentos da fé, na defesa da qual, por
vezes de forma violenta, se originou o moderno “fundamentalismo
islâmico”.
Outros autores (como Coggiola, Lara e Pinto, citados por Teresa
A. Silva) apontam como causa do fundamentalismo islâmico: a
divisão do Império Otomano em vários Estados Independentes,
na sequência da I Guerra Mundial; a crise de identidade do
mundo árabe; uma reação ao laicismo, ao reformismo e à
secularização tão advogados a partir dos anos 20 do século XX;
uma
reação
xenófoba
contra
os
modelos
impostos
pelos
estrangeiros; o sentimento de humilhação pela subjugação
militar, económica e social imposta pelas grandes potências
ocidentais; a repulsa pelo colonialismo, pelo neocolonialismo e
pelo socialismo marxista; e a crise económica provocada pelo
êxodo rural e pela urbanização explosiva, criando bolsas de
pobreza urbana com rutura das infraestruturas e dos serviços,
aparecendo a manutenção das tradições culturais e religiosas
patrocinada pelo Islão como única referência válida contra o
desenraizamento sentido no ambiente hostil das grandes cidades.
Há quem entenda que para liquidar o monstro Daesh é
necessário analisar e compreender as condições que o originaram
e acabar com elas, e que isso passaria também por restabelecer o
equilíbrio entre sunitas e xiitas no Médio Oriente.
Outros garantem que seria essencial impedir Erdogan de manter
o apoio dado, quer ao Daesh (que diz temer menos do que os
curdos…), quer à Frente al-Nusra, ramo sírio da Al-Qaeda, e a
outros grupos rebeldes de igual ideologia islamo-conservadora.
Mas a realidade que se vive naquela zona do globo é muito mais
complexa do que aqui poderíamos alguma vez descrever…
Para dar uma pequena ideia de uma das vertentes desta
confusão, um dos maiores problemas do Daesh é a falta de
munições para o tremendo arsenal que possuem, existindo um
constante atropelo de vendedores de armas e contrabandistas
para conseguirem mais contratos. Os países do Golfo Pérsico vão
enviando para os grupos rebeldes das suas preferências camiões
carregados de munições, que atravessam a fronteira turca, e que
são vendidos por combatentes corruptos a traficantes locais, que
se socorrem de uma rede de outros contrabandistas e de
camionistas para encobrir munições em camiões de hortaliças e
de materiais de construção, que igualmente servem para desviar
munições enviadas por Moscovo e por Teerão para o regime de
Assad… Com as dificuldades económicas de toda a região é
praticamente impossível acabar com este tráfico, onde até os
inimigos podem ser aliados, porque ali, por maioria de razão, o
dinheiro passa por cima de tudo e de todos…!
Voltando ao conflito que opõe o xiismo e o sunismo, que
continuam a constituir as duas grandes correntes do Islão, com
as muitas divisões e variantes de ambas, mantêm-se as
divergências doutrinais e políticas entre elas. Os xiitas, apesar de
serem a maioria no Irão e no Iraque, representam apenas entre
10% a 15% dos cerca de mil e quinhentos milhões de muçulmanos
atuais, contra 85 a 90% de sunitas.
Como vimos, o cisma entre estas duas correntes religiosas tem
origens remotas na sucessão do profeta Maomé, que morreu no
ano de 632, onde hoje se situa a atual Arábia Saudita, um país
que permanece a grande referência do sunismo na sua estrita
variante wahhabita.
Uma das últimas erupções desse conflito histórico e um sinal de
que o confronto entre essas duas grandes correntes está longe de
terminar é a recente execução, pelo regime da Arábia Saudita, de
Nimr Baqer al-Nimr, um líder religioso da minoria xiita que
criticava a família real saudita, execução que motivou um ataque
à embaixada saudita na capital iraniana e o corte de relações
diplomáticas entre Riade e Teerão.
Lembramos que os xiitas consideram Ali, genro e primo do
profeta, como o sucessor legítimo de Maomé e definem como
ilegítimos os três califas sunitas (omíadas) que lhe sucederam na
liderança da "comunidade dos fiéis".
A disputa pelo título de califa, literalmente o sucessor e
representante do profeta Maomé, está na origem da fratura, que
se prolonga há quase 14 séculos, para além de uma interpretação
diversa dos textos do Alcorão, o Livro Sagrado.
O sunismo (de sunna = os preceitos baseados nos ensinamentos
de Maomé), que prevaleceu maioritário nas suas diversas
expressões, sugeria genericamente que todo o crente poderia ser o
sucessor do profeta, se para tal obtivesse o necessário acordo
entre a comunidade islâmica.
O xiismo (o "partido de Ali"), defendia pelo contrário a sucessão
"dinástica", uma linha sucessória dos familiares do profeta,
apesar de não existir no islamismo clássico o conceito de
hierarquia.
O período inicial de expansão do Islão, em particular em direção
a oriente, coincide com as lutas intestinas pelo poder políticoreligioso, que desembocam numa guerra civil quando o terceiro
califa sunita (Otman Ibn Affan, do clã dos omíadas) é assassinado
em 656 por um rival, também sunita.
A corrente xiita considerou este atentado como a oportunidade
para impor Hussein, filho mais novo de Ali e Fátima e neto de
Maomé, na liderança do califado.
Hussein dirigiu uma rebelião para impedir que o califa sunita
Yazid assumisse o trono. A rebelião foi destroçada na batalha de
Kerbala (no atual Iraque) e o líder xiita degolado. Ainda hoje, a
'Ashura', que celebra o assassinato de Hussein, constitui uma das
mais fortes manifestações religiosas do xiismo. Como vimos, foi
essa sequência de acontecimentos que o então governador na
Síria, Mu-Awiyah, aproveitou para se proclamar califa, iniciando
a dinastia omíada.
E quem são, hoje, os sunitas e os xiitas?
Atualmente existem apenas quatro países com maioria de
população xiita: o Irão, principal referência sobretudo após a
revolução islâmica de 1979 (93,6%), o Iraque (66,92%), o Bahrein
(74,29%) e o Azerbaijão (85%).
O xiismo está ainda presente de forma significativa no Iémen,
(45%) – um país do sul da península arábica, em cuja guerra civil
a Arábia Saudita se envolveu e tem combatido os 'huthis' xiitas,
no Líbano (43,59%), com destaque para o poderoso movimento
radical Hezbollah, envolvido na guerra da Síria ao lado das forças
do Presidente Bashar Al-Assad (da minoria alauita, uma
derivação do xiismo), no Kuwait (30%), ou na Turquia (21%),
através da minoria alevita, outro ramo desta corrente religiosa.
Também há xiitas nos turbulentos Afeganistão e Paquistão, onde
o xiismo é seguido, respetivamente, por 19,3% e 24% dos crentes,
e na Arábia Saudita, onde constituem cerca de 15% da população.
Os talibãs e os grupos 'jihadistas' mais radicais, apesar da
desconfiança da maior parte dos sunitas relativamente aos
excessos extremistas, reivindicam-se do sunismo, incluindo a Al-
Qaeda e o Estado Islâmico, para além do Hamas, a formação
palestiniana fundamentalista que domina a Faixa de Gaza.
Muitas destas correntes têm merecido o apoio político e
financeiro da Arábia Saudita, a grande referência do sunismo no
mundo árabe, que muitos teóricos referem como sendo o
verdadeiro “Estado Islâmico”.
Na verdade, os principais centros religiosos sunitas são na Arábia
Saudita, as universidades islâmicas de Meca e de Medina e no
Egito, o Centro Al-Azhar, no Cairo. E na Arábia Saudita, como no
Qatar, domina a escola de jurisprudência islâmica mais
inflexível, a Escola Hanbalita, fundada por Ahmad ibn Hanbal
(780-855), que perdeu adeptos até ao século XIV, porque quis ser
universalmente obrigatória, mas teve entre os seus célebres
representantes Muhammad ibn Abd al-Wahhab (séc.XVIII), que
foi o impulsionador do wahhabismo.
Pode dizer-se que, atualmente, o grande confronto entre sunismo
e xiismo decorre em três países: Iraque, Síria e Iémen, com o
envolvimento das duas grandes potências regionais, Arábia
Saudita e Irão, que apoiam os dois campos em confronto, e num
contexto de intervenções militares externas.
No Iraque, a maioria xiita, no poder e com a complacência
iraniana, tenta opor-se à rebelião dos sunitas, em particular aos
avanços do Estado Islâmico (sunita), com registos de represálias e
graves abusos dos direitos humanos sobre as populações civis
cometidos de parte a parte.
E, para além do Iémen, a Síria, um país onde a maioria da
população é sunita, também se tornou palco de um confronto
feroz entre o Governo de Damasco, dominado pela minoria
alauita (proveniente do xiismo) e a miríade de grupos rebeldes
sunitas, mais ou menos fundamentalistas, o que opõe, uma vez
mais, Riade e Teerão. À semelhança do que se passa no Iraque, a
repressão das rebeliões fomentadas pela maioria sunita síria,
afastada do poder, serviu igualmente de pretexto para o início da
revolta de março de 2011 e da guerra civil, que prevalece,
alimentada pela crescente e determinante intervenção de
diversas potências – numa região que sempre foi, também, alvo
da cobiça dos impérios europeus, que a retalharam entre si após a
I Guerra Mundial, depois seguidos pelos Estados Unidos, e mais
recentemente pela Rússia, noutro contexto –, interferências que
potenciam a divisão entre as referidas duas fações religiosas do
Islão.
Com a declaração do conflito aberto entre a Arábia Saudita e o
Irão, a imprensa nacional e internacional teve necessidade de vir
explicar o que separa os xiitas dos sunitas, referindo todas as
publicações que as diferenças entre os dois grupos resultam de
uma divisão política inicial sobre a atribuição da missão de
governação e liderança da comunidade islâmica. Na verdade, a
separação começa por aí, mas o xiismo, além de impor o
entendimento de Ali como sucessor do Profeta Maomé, considera-
o como a única autoridade incumbida da tarefa de iniciar toda
uma teosofia, ligada ao conceito de Imamato, diferente daquela
que os sunitas defendem. Trata-se de um evento crucial na
história da divisão entre sunitas e xiitas, cuja compreensão
possibilitará o entendimento dos vários xiismos hoje existentes, e
a consequente relevância que terão na organização social,
religiosa e política de vários estados muçulmanos; e, por outro
lado, impedirá que se confunda o Imam (ou Imã) com o Papa ou o
Padre, e o Imamato com Igreja – como fez o Jornal de Negócios
quando, há semanas, se referia ao Aga Khan, o Imã dos
Ismaelitas que vai passar a ter a sua sede em Portugal…
Efetivamente, numa sociedade beduína de tipo tribal e préislâmica, a liderança era sempre a do homem mais velho, a quem
se reconhecia a sabedoria e a capacidade de governação. Maomé
tinha quatro companheiros mais próximos – os califa rashidun –
ou líderes divinamente orientados, sendo AbuBakr o mais velho e
Ali o mais novo.
Para uns muçulmanos, o Profeta já teria deixado em vida a
Revelação e os seus exemplos, para que o Islão pudesse continuar
e o mais lógico seria reconhecer a continuidade da liderança ao
mais velho companheiro do profeta.
A aceitação dos 3 primeiros califas como governantes políticos, foi
pacífica para Ali e para os seus seguidores. O que os xiitas não
aceitaram foi que algum deles substituísse Ali como o
representante direto do Profeta na liderança religiosa. O grupo
que decidiu seguir as Sunna, ou os conhecimentos, práticas e
costumes transmitidos de geração para geração, ficou por isso
conhecido como sunitas.
Para os Shi’at Ali – xitas – a governação política poderia caber a
AbuBakr, mas Ali era o líder religioso a quem cabia o Imamato.
O Imam (Imã) é, no entendimento dos xiitas, o líder nomeado
pelo seu antecessor, de linhagem genealógica direta, e pela via de
Fátima, filha do Profeta, e é a luz manifesta de Deus (nur-u
mubeen), aquele que tem a prerrogativa máxima na interpretação
e adaptação do significado qurânico à vida dos crentes. Para Ali,
como explicou aos seus seguidores, “o Alcorão consiste num livro
de compilações inscrito entre duas capas, e não fala uma língua;
por isso, não pode dispensar um intérprete”.
Para os xiitas, o Imam Ali e todos os descendentes da linhagem
de Fátima, apontados pelo antecessor, e em linha hereditária,
assumiam a tarefa de passar da Tafsir (ciência do significado
literal do Alcorão e do seu contexto) para a Ta’wil (análise da
dimensão mais interna e significados mais profundos da
revelação).
No xiismo o Imam convida os crentes a partir para a descoberta
dos significados que poderão estar entre os “tesouros escondidos”
no Alcorão. O Imam apela ao uso da Aql,. Este conceito é
equivalente ao Intelecto em vez de razão, aliás tal como é
entendido no cristianismo latino. É um significado muito parecido
com o de nous da tradição grega. Ou seja o Intellectus/nous é
aquele que é capaz de uma visão contemplativa das realidades
transcendentes; enquanto a razão trabalha com a lógica e cria
conceitos mentais dessas realidades. Assim, “se com o intelecto se
é capaz de contemplar ou ‘ver’ o Absoluto, com a razão só somos
capazes de pensar sobre ele”.
Foi este xiismo que representou um desafio intelectual e
espiritual para os muçulmanos. Perante um texto “silencioso” só
podemos “ouvi-lo falar” através de um intérprete: o intelecto.
Esta relação entre o intelecto e a revelação exclui todo o tipo de
literalismo ou de leituras superficiais, e previne qualquer
significado óbvio ou unilateral. O desafio para os xiitas que
seguiam Ali era o de procurar os significados múltiplos que
poderiam estar subjacentes ao texto, e aceitar que o Imam,
dotado da Alma Universal, a mesma que esteve em Maomé e em
todos os profetas que o antecederam, é aquele que consegue fazer
a leitura mais correta e adequada do contexto e do significado da
revelação.
Já vimos que o xiismo, tal como o próprio Islão, não é nem
homogéneo nem estático. A história dos muçulmanos, sunitas e
xiitas, é feita de continuidades e rupturas. Por isso encontramos
vários tipos de sunismo e vários tipos de xiismos.
Os xiismos mais conhecidos são o Duodécimano, que aguarda a
chegada do Messias, e é maioritariamente Iraniano, e o
Septimano ou xiismo Ismaelita, apolítico, sem Estado, e liderado
pelo Príncipe Aga Khan IV.
A
razão
por
que
é
importante
perceber
o
xiismo
na
espiritualidade iniciada por Ali e depois seguida por vários outros
Imames (ou Imãs), e também por inúmeros pensadores sunitas e
sufis, é porque ajuda a perceber muito do desenvolvimento do
pensamento filosófico e científico dos muçulmanos num ambiente
de notável humanismo, que marcou a história da importância da
civilização islâmica.
O período de Humanismo e do Renascimento na Idade Buyida,
tal como descreve de forma fascinante Joel Kraemer, é aquele
onde acontece o verdadeiro diálogo inter-religioso: o que inclui
crentes e descrentes, e que precede o Renascimento na Europa. É
um tempo onde todas as dinastias que governavam o mundo
islâmico, incluindo a Fatímida, governada por Ismaelitas, eram
xiitas (segundo eles). E era no espírito do xiismo inaugurado por
Ali que todas elas repudiavam os dogmas ou outros tipos de
fundamentalismos, e patrocinavam o saber humanista. É um
tempo em que a historiografia ocidental europeia designa como
“Idade Média”; aquele que fica entre a “Antiguidade” e a
“Modernidade”, e onde parece que nada aconteceu.
Mas não é essa a opinião de Joel Kraemer, Heinz Halm, Henry
Corbin, Paul Walker, Joseph Van Ess, e outros que têm estudado
o impacto deste tipo de espiritualidade universal, preconizada por
Ali, desenvolvida pelos muçulmanos xiitas ismaelitas e sunitas
sufis, e que estimulou a intelectualidade, a ciência, e influenciou
definitivamente a história do pensamento moderno na Europa e
no Ocidente em geral. Para estes estudiosos do islão e do xiismo,
foi essa busca de conhecimento que serviu depois para a
construção de uma Europa Renascentista e Iluminista, a mesma
que partiu com o astrolábio, a astronomia, a álgebra, e o
telescópio, para a descoberta do mundo.
Neste contexto, também me parece muito interessante a
perspetiva de Ziauddin Sardar, presidente do Muslim Institute
britânico, organização que promove o conhecimento e o debate, e
editor do Critical Muslim, revista trimestral sobre ideias e
pensamento islâmico contemporâneo, recentemente entrevistado
em Lisboa por Sofia Lorena, jornalista do Público, que refere a
marginalização da tradição intelectual e tradicional do Islão nas
sociedades muçulmanas, nos séculos XIV-XV, dando como
exemplo a ideia da teologia racional, da necessidade de
relacionamento do dogma com a razão, da justificação daquilo em
que acreditamos através do pensamento racional. Explica que
“estas ideias foram abandonadas por uma técnica chamada
‘fechar as portas da itjihad’ (= raciocínio independente)”, o que
terá acontecido ao longo de muitos anos, com a ajuda de califas
que recusavam o pensamento racional e perseguiam todos os que
questionavam a autoridade, a que hoje se chama dissidentes.
Lembra Sardar o “credo Qhadir” do califa abássida Al-Qhadir,
que proibia que se fizessem perguntas racionais, como as que
discutiam se o Alcorão tinha sido criado.
Porque se foi criado, na História, tem um contexto histórico e
precisa de ser interpretado à luz desse contexto. Ao contrário, se
não fosse criado teria de ser lido literalmente.
Também a sharia, a lei islâmica, para a maioria dos muçulmanos
é divina, quando, na verdade, é uma construção humana, na
História, construída no século IX, quase 250 anos depois da morte
do
Profeta.
Entende
Ziauddin Sardar que
havia, então,
racionalismo na cultura muçulmana, não havia sharia nem os
hadiths (= conjunto de ditos de Maomé), pois estavam na altura a
“reuni-los”.
“Nesse período clássico inicial, a sociedade islâmica fervilhava de
ideias, pensamento e aprendizagem. Quando a sharia foi
formulada, os teólogos inventaram uma espécie de truque para
aumentar a confiança nestas regras, sugerindo que a sharia era
divina. Mas a maior parte da sharia vem dos ditos do Profeta,
que são fabricados (…), são uma espécie de dogma manufaturado,
o que pode ser demonstrado muito claramente. Por exemplo, a
sharia diz que um apóstata (= alguém que abandona a religião)
deve ser morto, mas o Corão diz que não há pertença compulsiva
ao Islão. A sharia diz que a mulher tem um estatuto inferior e
deve cobrir-se, mas o Corão diz que homem e mulher são iguais.
Há muitos aspetos em que a sharia está em contradição com o
Corão. Afirmar que a sharia é divina é totalmente ridículo e
grande parte do fundamentalismo vem de aceitar a sharia como
lei divina”.
Mas, além destas “razões internas” para se desconhecer o
contributo histórico mais positivo da civilização islâmica, Sardar
refere como a História do Ocidente conta, por exemplo, o começo
da história da ciência na Grécia e esquece depois tudo o que se
passou até ao Iluminismo, quando este “nunca teria acontecido
sem a filosofia e o pensamento muçulmanos”, sem “a literatura
adab, a literatura da ética e do humanismo, que criou
universidades, instituições académicas, professores, condutas de
boa governação”. Para ele, “não haveria Europa sem Islão” e os
jovens continuam sem saber nada desta relação, esquecendo, por
exemplo, em Portugal, a História comum com os muçulmanos,
para apenas recordar as Cruzadas e a Reconquista e com
interpretações pouco objetivas. Como também se ensina, em
Portugal, que os navios (dos Descobrimentos) partiram para
descobrir novos mundos, em África, no Brasil… Mas não se diz o
que fizeram aos povos ‘descobertos’. Não se ensina na Europa a
verdade do colonialismo, em toda a sua brutalidade, como se
tivéssemos feito bem e civilizado esses países, quando “muito do
sofrimento que ainda existe em alguns é um produto do que os
europeus lá fizeram”. São mitos que ajudam a perpetuar a
opressão e a injustiça.
Também “o fundamentalismo atual não tem nada a ver com o
início do islão nem com a sua herança racional”. Para Sardar,
esse fundamentalismo vem da Arábia Saudita e da ideologia
wahhabita. “Até 1925-1930, havia diferentes tradições do islão e
pessoas que concordavam com umas e com outras. Havia jihads,
mas tinham princípios éticos, eram lutas contra o colonialismo e
o imperialismo, com regras claras: era proibido atacar civis,
matar mulheres e crianças, matar prisioneiros. Mas quando a
Arábia Saudita se tornou numa petro-monarquia e começou a
exportar a sua ideologia, tudo mudou.” Os sauditas construíram
mesquitas e madrassas (= escolas corânicas), incentivaram os
estudos em Meca e Medina e enviaram imãs (=quem lidera as
orações), professores e livros, exportando o wahhabismo para
todo o mundo muçulmano. “Até aos anos de 1920, os wahhabitas
eram uma seita minoritária (…) considerados fanáticos iletrados
sem
relevância.
Mas
esta
seita
tornou-se
na
ortodoxia
muçulmana”, quer pela ignorância que leva muitos muçulmanos
a venerar a Arábia Saudita por ter no seu território Meca e
Medina, quer pelo apoio que este país e os estados do Golfo
recebem da América, do Reino Unido, da França, da Alemanha,
por motivos económicos e militares, ignorando o fanatismo e
dando-lhe liberdade de ação.
“Wahhabismo e salafismo são quase iguais na defesa da
interpretação literal do Corão e na aceitação da sharia como
divina, e estão na base da ideologia da maioria dos grupos
terroristas como a Al-Qaeda e o autodenominado Estado
Islâmico.
Quando as pessoas perguntam de onde vem o ISIS (= Estado
Islâmico do Iraque e de al-Shams, como eles diziam chamar-se
antes de se declararem um califado, no verão de 2014) e como
apareceu tão depressa, a resposta é simples. “O ISIS não
apareceu do nada, sempre existiu, (…) é a Arábia Saudita”. As
leis e as atrocidades são as mesmas com uma só diferença: A
Arábia Saudita pratica as atrocidades atrás da cortina e o ISIS
transforma-as em vídeo no YouTube. No ano passado terão sido
executadas mais pessoas na Arábia Saudita (151) do que pelo
Estado Islâmico. Mas quando o rei Abdullah morreu, o primeiroministro britânico e outros foram à Arábia Saudita e as
bandeiras foram colocadas a meia haste…
Sardar acha que os bombardeamentos sobre o ISIS matam civis
pelo meio e contribuem para a radicalização, acabando alguns dos
bombardeados por fugir e juntar-se a grupos terroristas. Para
matar o monstro seria preciso acabar com o wahhabismo saudita.
Os pregadores extremistas, que há 20 anos radicalizavam os
jovens pregando numa mesquita, acedem agora a centenas de
milhares de pessoas por canais de YouTube ou de televisão. Só
no Reino Unido haverá “56 canais digitais que são basicamente
canais de oração com doidos fundamentalistas a pregar lixo.
Depois ainda há o Facebook e o Twitter. (…) A maioria destes
pregadores são sauditas ou qataris, ou foram educados na Arábia
Saudita.”
“Ser muçulmano ortodoxo passou a significar (…) ser wahhabita.”
Mas, se o Daesh (como outros grupos extremistas ditos islâmicos
são realmente apoiados, direta ou indiretamente pela Arábia
Saudita, são-no igualmente pelo Qatar, como garantia a própria
ex-secretária de Estado Hillary Clinton ao seu chefe de
campanha, em 2014, em e-mail citado e mostrado pelo jornalista
e escritor australiano Julian Assange (do WikiLeaks…), em
recente entrevista. Onde também são confirmadas as milionárias
doações feitas por diversos países islâmicos à Fundação Clinton,
enquanto Hillary Clinton era Secretária de Estado e o
Departamento de Estado norte-americano aprovava a maior
venda de armas da história, sobretudo à Arábia Saudita que,
nesse período comprou aos EUA mais de 18 biliões de dólares de
armas. Vendidas, basicamente, às mesmas pessoas que, tendo
financiado largamente a Fundação Clinton, ajudaram a criar,
financiaram e continuam a alimentar o Daesh, ISIS ou ISIL…!
Certo é que, sendo a religião um importante veículo de condução
de massas, e estando, no islamismo, ligada ao poder político, é
aproveitada pelos ativistas radicais islâmicos como arma contra
os não muçulmanos, sobretudo pelo fundamentalismo, com raízes
religiosas, que, na linha de Hassan al-Banna e de Sayyid Qutb,
no Egito, ou Ruhollah Komeini, no Irão, tem conseguido
instrumentalizar a religião para alcançar objetivos políticos bem
“terrenos”.
Mas, insistimos, apesar da ligação íntima entre religião e política
na maior parte do mundo islâmico, há que saber distinguir o
Islão, a religião professada por cerca de 1500 milhões de pessoas
em todo o mundo, dos vários islamismos hoje existentes. E não se
trata apenas da divisão entre sunitas e xiitas, como vimos. Podese dizer que estes dois grandes grupos também têm dentro de si
diversas formas de encarar as respetivas missões, enquanto
crentes e como políticos. Mas os islamismos, as diferentes formas
de advogar o Estado Islâmico, vão desde a simples defesa de um
Estado que assuma a tarefa de proteger os muçulmanos e a sua
religião, até aos fundamentalismos, mais ou menos radicais,
terroristas, etc.
Parece claro que, além da fé em Allah, pouco mais une os
muçulmanos, e não é a religião deles que deve preocupar os nãomuçulmanos, mas antes as condições que permitiram o retrocesso
civilizacional que leva aos atos terroristas que conhecemos.
Mas apesar de todas as divisões de que falámos, e de muitas
outras que separam os muçulmanos, os islamitas têm sabido
aproveitar ao longo da história os erros “dos de fora” para resistir
e se fortalecer. Foi assim que conseguiram unir as pequenas
tribos arábicas, conquistar os povos e impérios vizinhos, estender
as fronteiras do Atlântico ao rio Indo, reagir aos ataques dos
cruzados e dos mongóis, bem como a todas as posteriores
investidas
de
que
falámos,
nomeadamente
após
o
desmembramento do Império Otomano e a criação das fronteiras
desenhadas pelas potências ocidentais vencedoras da I Guerra
Mundial.
A insistência nas tentativas de impôr valores e formas exteriores
de civilização, parece totalmente desadequada, como continua a
evidenciar o número crescente dos que se vão convertendo ao
islamismo, ou mesmo ao fundamentalismo islâmico.
Que fazer, então?
Muitos respondem com a segregação ou com a guerra.
Mas, para quem acredita que o ser humano pode melhorar o
presente e tem futuro, o caminho poderá passar, ao contrário,
pela construção de pontes e plataformas que viabilizem a
insistência na procura das condições políticas, sociais e
económicas que a todos, muçulmanos naturalmente incluídos,
permitam afastar as pesadas ameaças que sentimos espreitar, e
encontrar, nas diversas áreas, os valores e as soluções para um
verdadeiro desenvolvimento, digno e equitativo, da humanidade.
Bibliografia: História Universal (Público / Salvat), vol. 9 – A Expansão Muçulmana;
História do Mundo – No Tempo das Grandes Invasões; História Universal (Círculo de
Leitores), Vol. II; História Universal (Publicações Europa-América), vol. 6 – Das grandes
invasões bárbaras às cruzadas; Para compreender o Islão - Revista História (número
especial); Público, entrevista de Ziauddin Sardar, por Sofia Lorena; ABCedário do Islão Público; Courrier Internacional; J.M.Roberts, Breve História do Mundo, vol.II, Editorial
Presença; O Mundo Árabe, de Maomé ao Império Otomano - Seleções do Reader’s Digest;
textos diversos publicados na Net; John M. Owen, O Islão Político, ontem e hoje - Bertrand
Editora; Jaime Nogueira Pinto, O Islão e o Ocidente - D.Quixote; Teresa de Almeida e Silva,
Islão e Fundamentalismo Islâmico - Pactor; Islão – Guerras Sem Fim (de diversos autores) Cadernos D. Quixote.