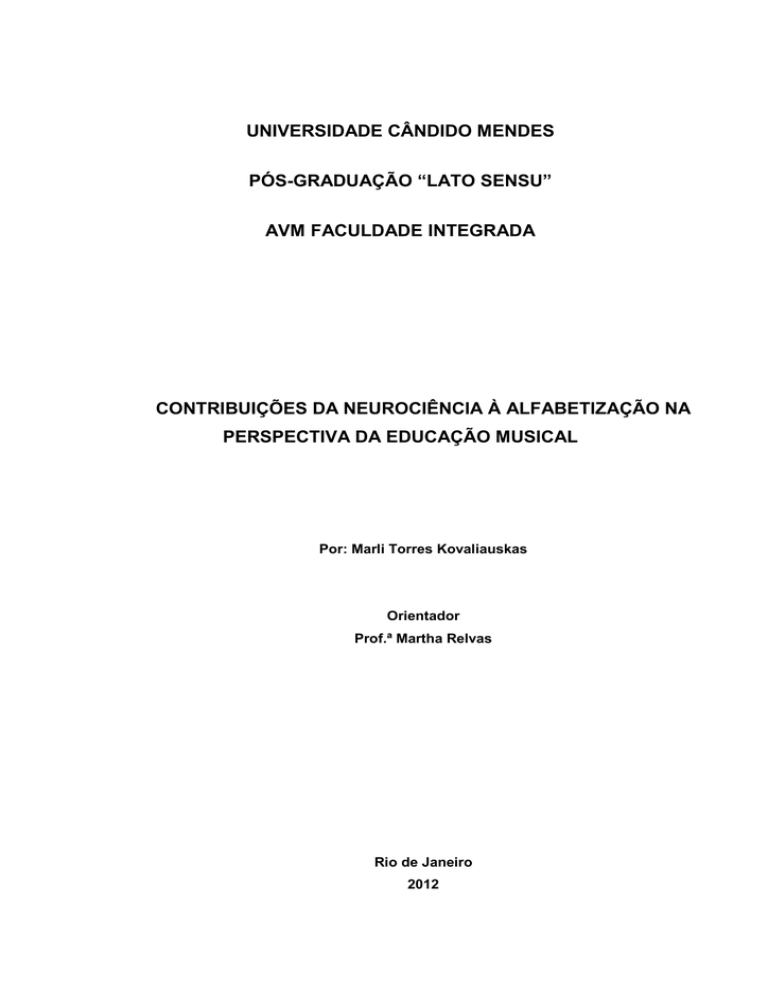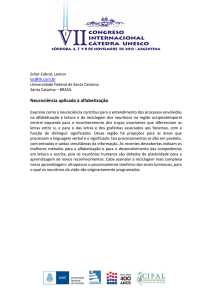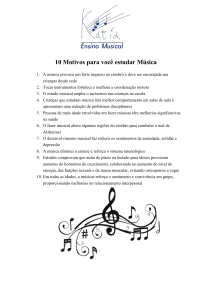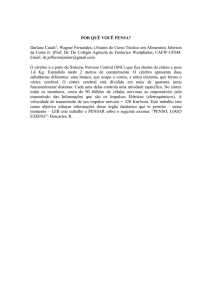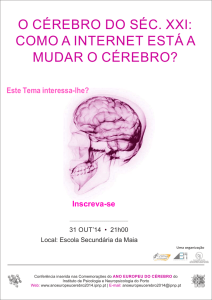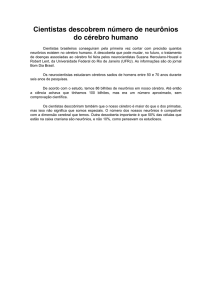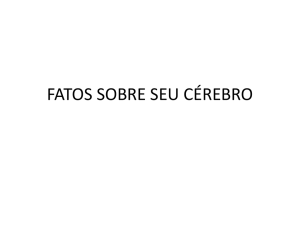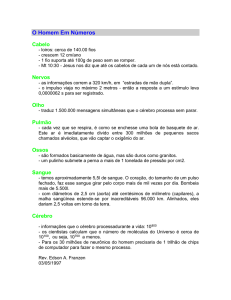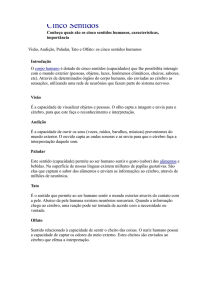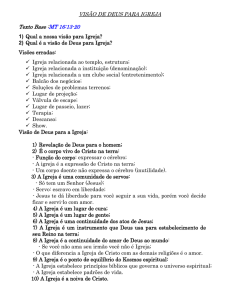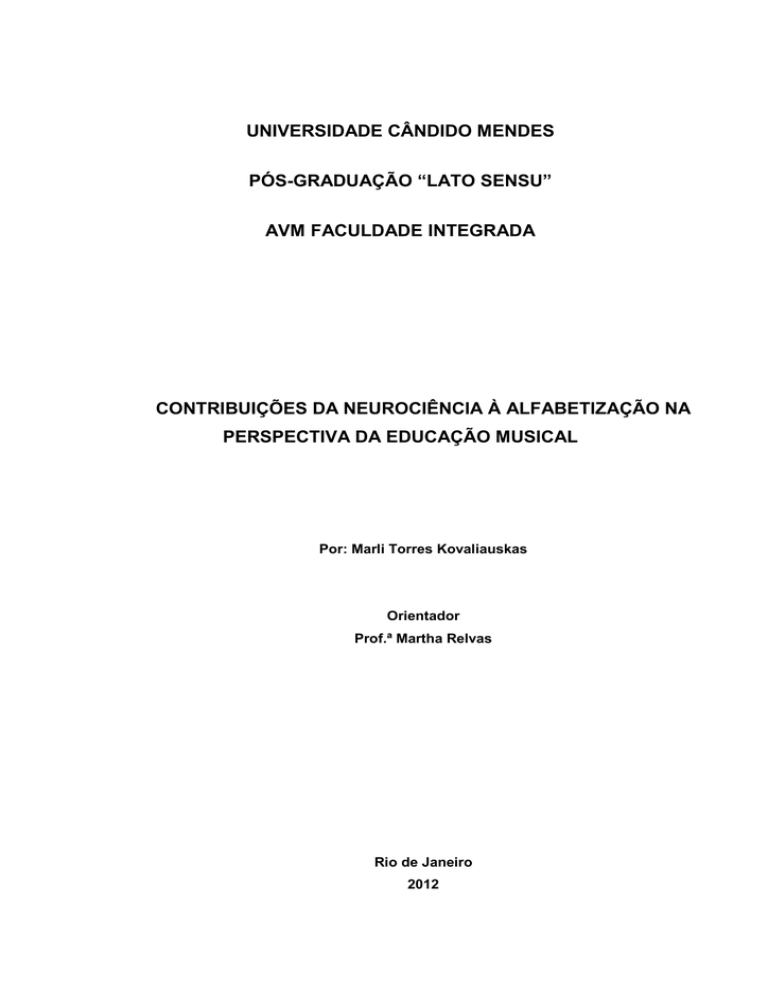
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA À ALFABETIZAÇÃO NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MUSICAL
Por: Marli Torres Kovaliauskas
Orientador
Prof.ª Martha Relvas
Rio de Janeiro
2012
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA À ALFABETIZAÇÃO NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MUSICAL
Apresentação de monografia à AVM Faculdade Integrada como
requisito parcial para obtenção do grau de especialista em
Neurociências Pedagógicas
Por: Marli Torres Kovaliauskas
2
AGRADECIMENTOS
Agradeço Josete e Jakeline, pois foi a minha mola propulsora
que apresentaram e me incentivaram a fazer o curso de
Neurociências na AVM, pois há tempos tinha interesse de
conhecer o funcionamento do cérebro humano.
Agradeço também a todos os professores do curso que
contribuíram para eu ver novos horizontes e em especial a
professora
Marta
Relvas
que
com
sua
paixão
pela
neurociência é responsável pelas minhas novas plasticidades
cerebrais me contaminando e me abrindo novos caminhos.
3
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho em especial a meu marido Juracy
Bezerra, pela sua dedicação e compreensão ao êxito deste
ideal, me apoiando e me conduzindo todas as aulas, não
deixando desistir.
Aos meus filhos Henrique, Júlia e Vitor, que souberam abrir
mão dos seus momentos com a mãe, para que me realizasse
pessoalmente. Nos momentos mais difíceis desta caminhada
me deram inspiração e apoio.
4
RESUMO
O objetivo do trabalho é demonstrar os mecanismos de funcionamento do
cérebro humano mediante a comunicação, visando mostrar o comportamento do
cérebro mediante a leitura, escrita e a música, tal como a neurociência o entende
hoje.
A música deve ser considerada uma verdadeira linguagem de expressão,
que contribui na formação global da criança, além de estimular o equilíbrio, a
criatividade, a sensibilidade, a autoestima. Conclui-se que a música é uma das
formas mais importante da expressão humana, o que por si só justifica sua
presença no processo de alfabetização.
Com este trabalho também é possível avaliar a contribuição da música para
a compreensão do processo ensino-aprendizagem na alfabetização e no equilíbrio
psicossomático a partir das contribuições das Neurociências. Os avanços
científicos parecem indicar a importância da música para facilitar a alfabetização,
a atenção e o ritmo.
Palavras-chaves: Alfabetização, Música e Neurociências.
5
METODOLOGIA
Este
trabalho
constitui-se
num
estudo
de
produção
teórica
de
pesquisadores, realizado através da metodologia de revisão bibliográfica, que
revela
a
importância
do
conhecimento
das
bases
neurobiológicas
da
aprendizagem, por parte de profissionais ligados à educação e à aprendizagem
em geral. Focando principalmente em conteúdos informativos de como é a
percepção da música pelo cérebro humano age, reforça e compõem a construção
da aprendizagem.
A metodologia utilizada caracteriza-se como abordagem exploratória do
tema baseada em pesquisa bibliográfica de autores como
Roberto Lent, Elvira
Lima, Oliver Sacks, , entre outros relacionados em referências bibliográficas.
6
SUMÁRIO
AGRADECIMENTOS ....................................................................................... 3
DEDICATÓRIA .............................................................................................. 4
RESUMO ...................................................................................................... 5
METODOLOGIA ............................................................................................. 6
SUMÁRIO .................................................................................................... 7
INTRODUÇÃO: ............................................................................................. 8
CAPÍTULO I – PROCESSO DA APRENDIZAGEM .................................................. 9
1.1 As Teorias da Aprendizagem................................................................ 10
1.1.1 – Teoria Sócio Interacionista – Vygotsky ......................................... 11
1.1.2 – A Teoria Psicogenética - Henry Wallon....................................... 13
1.1.3 - A Teoria da Construção do Conhecimento – Jean Piaget ................. 15
1.2 - Processo de Aquisição da leitura e Escrita .......................................... 18
1.3 - O Papel do professor no Processo de Aprendizagem ........................... 24
CAPITULO II – EDUCAÇÃO MUSICAL NO ENSINO FUNDAMENTEAL, UMA QUESTÃO
APENAS DE CUMPRIR A LEI? .................................................................................. 27
2.1 – A Linguagem Musical ....................................................................... 28
2.2 - A Musica no Contexto Escolar ............................................................ 31
2.3 – A Música e a Alfabetização ............................................................... 34
CAPÍTULO III – A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA ....................................... 37
3.1 – Sistema Nervoso ............................................................................. 38
3.2 – O cerébro Humano .......................................................................... 40
3.2.1 – O Cérebro - Telencéfalo e o diencéfalo ....................................... 42
3.2.1.1 – O Telencéfalo ........................................................................ 42
3.2.1.2 - O Diencéfalo ........................................................................... 45
3.2.1.3 – O Sistema Límbico .................................................................. 47
3.3 – Tronco Eencefalo – Mesencéfalo, Ponte e Bulbo .................................. 50
3.3.1 – Mesencéfalo .............................................................................. 51
3.3.2 – A Ponte .................................................................................... 51
3.3.3 – O Bulbo ou Medula Oblonga ........................................................ 51
3.4 – Cerebelo ........................................................................................ 52
CAPÍTULO IV – A NEUROCIENCIA, A ALFABETIZAÇÃO E A MÚSICA ................... 53
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 57
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................... 59
INDICE ...................................................................................................... 62
7
INTRODUÇÃO:
O presente trabalho busca informações sobre a importância da música no
processo de alfabetização, sua aplicação e seus benefícios no desenvolvimento do
indivíduo. Visto que a música, com maior ou menor intensidade está na vida do
ser humano, ela desperta emoções e sentimentos de acordo com a capacidade de
percepção que ele possui para assimilar a mesma. A música não é somente uma
associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento que pode fazer a
diferença nas instituições de ensino, pois ela desperta o indivíduo para um mundo
prazeroso e satisfatório para a mente e para o corpo que facilita a aprendizagem
e também a socialização do mesmo.
Através de estudos, sabe-se como o cérebro humano aprende, com ele é
estimulado e segundo a neurociência, o que é acompanhado de prazer parece
ficar gravado mais profundamente no espírito.
Com esta pesquisa foi possível também traças um paralelo entre as teorias
da aprendizagem e a neurociência. Segundo Wallon a emoção é o primeiro e mais
forte vínculo entre os indivíduos. Para neurociência revelam que as emoções
estão presentes nos diversos tipos de aprendizagem, pois só se aprende com a
formação de novas memórias modulados pela emoção. O sistema límbico, de
onde se originam as nossas emoções, participa, dos processos de aprendizagem.
Vygotsky afirma a aprendizagem se consolida fundamentalmente com a
influencia do meio social e cultural. Destaca que o individuo progride pela
apropriação da cultura através das interações sociais cuja vivência favorece a sua
interiorização. Na vertente da neurociência as práticas culturais da infância tem a
função de formar estruturas na memória da criança, bem como, através do
exercício da função simbólica, acumular acervos de memória necessários para a
formação da pessoa, sua identidade e sua inserção no meio social.
No estudo de Piaget, constata que o desenvolvimento humano é uma
adaptação ao meio e possui dois mecanismos opostos, mas complementares, que
garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. Já no
estudo da neurociência só há aprendizagem quando envolve a criação de novas
memórias ou a ampliação de memórias já existente.
8
CAPÍTULO I – PROCESSO DA APRENDIZAGEM
O ser humano realiza aprendizagem de naturezas diversas durante sua
vida. Seu desenvolvimento é resultante de uma contínua transformação de sua
interação com o meio. Vygotsky, ao longo dos seus estudos, preocupou-se
fundamentalmente com a aprendizagem e a influência do ambiente social e
cultural nos processos de aprendizagem. Para ele, a direção essencial do
desenvolvimento não vai do individual para o social, mas do social para o
individual. Sem deixar de reconhecer a importância fundamental da atividade
individual, destaca que o indivíduo progride pela apropriação da cultura através
das
interações
sociais,
cuja
vivência
favorece
a
sua
interiorização.
Tal
interiorização corresponde à reconstrução interna de uma operação externa e,
nesse sentido, o desenvolvimento é uma sócio-construção.
Para desenvolver-se saudavelmente o ser humano necessita de certos
estímulos, no momento adequado e na medida certa. No caso da criança, isto é
especialmente verdadeiro, tendo em vista que a criança que recebe uma
estimulação inadequada pode sofrer alterações no desenvolvimento integrativo
de seu organismo como ser humano.
Vygotsky defende que,
A atividade do sujeito é fundamental, enquanto processo de
transformar o meio mediante o uso de instrumentos, destacando
dois tipos de mediadores: as ferramentas que atuariam
diretamente sobre os estímulos e os signos ou símbolos que
modificam o próprio sujeito e, através deste, os estímulos. É a
cultura que proporciona ao indivíduo as ferramentas de que
necessita para modificar o seu meio, adaptando-se ativamente a
ele. A cultura é constituída por sistemas de símbolos que medeiam
as nossas ações, sendo a linguagem o sistema de signos mais
utilizado. (2003, p. 43).
Portanto, a linguagem tem um papel essencial, pois, além de ser um
instrumento do pensamento, é um fator de desenvolvimento do próprio
pensamento ao funcionar como instrumento de mediação entre os indivíduos e a
realidade onde se inserem. O ser humano tem potencialmente um vasto caminho
de desenvolvimento. A direção a ser tomada do seu desenvolvimento será fruto
9
do meio em que ele nasce, de suas práticas culturais, das possibilidades de
acesso de informações existente no seu contexto e estímulos recebidos.
1.1 AS TEORIAS DA APRENDIZAGEM
Aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido
através
da
experiência
construída
por
fatores
emocionais,
neurológicos,
relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre estruturas
mentais e o meio ambiente.
As teorias de aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos
atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do
homem, e tentam explicar a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo
conhecimento. A aprendizagem não seria apenas inteligência e construção de
conhecimento, mas, basicamente, identificação pessoal e relação através da
interação entre as pessoas.
O desenvolvimento da criança, desde que nasce, é a função da cultura e da
herança biológica da espécie. Ao ter uma aprendizagem nova, a criança se vale
de disposições internas do desenvolvimento e do meio lhe oferece como
possibilidades para a consolidação da aprendizagem.
O ser humano nasce potencialmente inclinado a aprender, necessitando de
estímulos externos e internos (motivação, necessidade) para o aprendizado.
O objetivo da aprendizagem é a mudança de comportamento e este se dá
no domínio cognitivo (ligados a conhecimentos, informações ou capacidades
intelectuais); domínio afetivo, (relacionados a sentimentos, emoções, gostos ou
atitudes); domínio psicomotor (que ressaltam o uso e a coordenação dos
músculos). No domínio cognitivo temos as habilidades de memorização,
compreensão, aplicação, análise, síntese e a avaliação. No domínio afetivo temos
habilidades de receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização.
No domínio psicomotor apresentamos habilidades relacionadas a movimentos
básicos fundamentais, movimentos reflexos, habilidades perceptivas e físicas e a
comunicação não discursiva.
É importante compreender o modo como às pessoas aprendem e as
condições necessárias para a aprendizagem, bem como identificar o papel de um
professor, por exemplo, nesse processo. Estas teorias são importantes porque
10
possibilita ao professor adquirir conhecimentos, atitudes e habilidades que lhe
permitirão alcançar melhor os objetivos do ensino.
1.1.1 – Teoria Sócio Interacionista – Vygotsky
VYGOTSKY (2007) enfatizava o processo histórico-social e o papel da
linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Sua questão central é a aquisição de
conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Para o teórico, o sujeito é
interativo, pois adquire conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais e
de troca com o meio, a partir de um processo denominado mediação. O princípio
de mediação faz com que o indivíduo ao estabelecer relações, necessariamente
precisa contar com um elemento intermediário, e essa mediação entre o sujeito e
o objeto, pode sofrer a intervenção, logo, o que antes era apenas estímuloresposta, agora se tornar mais complexo com a presença do elemento mediador.
Segundo
VYGOTSKY
(2007),
o
desenvolvimento
principalmente
o
psicológico/mental (que é promovido pela convivência social, pelo processo de
socialização, além das maturações orgânicas) – depende da aprendizagem na
medida em que se dá por processos de internalização de conceitos, que são
promovidos pela aprendizagem social, principalmente aquela planejada no meio
escolar. Para Vygotsky, não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie
para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes e práticas
específicas que propiciem esta aprendizagem. A criança não se desenvolverá com
o tempo, pois esta não tem, por si só, instrumentos para percorrer sozinho o
caminho do desenvolvimento, que dependerá das suas aprendizagens mediante
as experiências a que foi exposta. Ela é reconhecida como ser pensante capaz de
vincular sua ação à representação de mundo que constitui sua cultura, sendo a
escola um espaço e um tempo onde este processo é vivenciado, onde o processo
de ensino-aprendizagem envolve diretamente a interação entre sujeitos.
Para VYGOTSKY (2007), há a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), é
a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado pela
capacidade
de
resolver
problemas
independentemente,
e
o
nível
de
desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de solucionar problemas
com ajuda de um parceiro mais experiente. São as aprendizagens que ocorrem
na ZDP que fazem com que a criança se desenvolva ainda mais.
11
Quando se pretende definir a relação entre o processo de
desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem, não
podemos limitar-nos a um único nível de desenvolvimento. Tem de
se determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento de uma
criança, já que, se não, não se conseguirá encontrar a relação
entre desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem em
cada caso específico. Ao primeiro destes níveis chamamos nível de
desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível de
desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se
conseguiu como resultado de um específico processo de
desenvolvimento já realizado (VYGOTSKY, 2001, p. 111).
É justamente nesta zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem
vai ocorrer. A função de um educador escolar, por exemplo, seria, então, a de
favorecer esta aprendizagem, servindo de mediador entre a criança e o mundo.
Como foi destacado anteriormente, é no âmago das interações no interior do
coletivo, das relações com o outro, que a criança terá condições de construir suas
próprias estruturas psicológicas.
VYGOTSKY (2007) faz uma relação com o aprendizado escolar e enfatiza a
importância de se conhecer o nível de desenvolvimento da criança a fim de que
se possa definir o ensino para o avanço de determinada etapa intelectual,
estimulando novas conquistas psicológicas, com isso, Vygotsky deixa claro o
papel fundamental da escola no desenvolvimento do indivíduo, destacando o
professor como sendo a personagem que interfere diretamente na zona de
desenvolvimento proximal dos alunos.
A convivência com grupos de pessoas possibilita a criança a observar,
comparar, imitar, a fim de que ela mesma, a partir do outro, crie possibilidades
de ampliar sua capacidade e consequentemente expandir o seu desenvolvimento.
Partindo do princípio de que as crianças, principalmente as mais novas,
possuem um comportamento determinado pelas ações concretas, Vygotsky toma
o
brinquedo
como
um
elemento
indispensável
no
desenvolvimento
e
aprendizagem infantil, isto porque, é nas brincadeiras, mais precisamente
aquelas
de
“faz
de
conta”
que
se
possibilita
elaborar
uma
Zona
de
Desenvolvimento Proximal.
VYGOTSKY
(2007)
afirma
que
o
desenvolvimento
da
linguagem
é
importante para a formação do sujeito. A linguagem, para este autor é a principal
mediadora dos sujeitos com o mundo, sendo, assim, essencial na constituição do
sujeito enquanto humano. A linguagem apresenta a função de generalizar o
12
pensamento, assim o homem durante sua ação coletiva está sujeito à
socialização, tornando-se indispensável à presença da linguagem, visando
oferecer oportunidades de comunicação entre os seres humanos.
De acordo com a perspectiva vygotskyiana o processo de transformação
dos significados não para durante o desenvolvimento do indivíduo, pois existe a
continuidade que tende a diminuir a partir das experiências vivenciadas e estas
são enriquecidas e influenciadas pelos conceitos adquiridos na cultura e no
conhecimento escolar. Segundo Vygotsky, a transformação dos significados das
palavras está relacionada ao significado propriamente dito e ao sentido, ou seja,
o significado é a compreensão das palavras de forma objetiva, enquanto que o
sentido varia de acordo com as experiências vivenciadas por cada indivíduo.
Para VYGOTSKY ( 2007), a elaboração de métodos eficazes de ensino para
crianças só é possível quando se entende o desenvolvimento da formação de
conceitos científicos. Para isso, inicialmente é necessário saber que:
um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas
formadas pela memória, é mais do que um simples hábito mental;
é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser
ensinado por meio de treinamento, só podendo ser realizado
quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver
atingido o nível necessário (VYGOTSKY, 1998, p. 104).
Assim, percebe-se que o mero treino de habilidades não traz para a criança
grandes avanços em seu processo de aprendizagem. É necessário um trabalho
que se preocupe com as condições reais de desenvolvimento da criança, focando
naquilo que ainda não foi internalizado pelo sujeito.
Percebe-se, assim, que os estudos desenvolvidos por Vygotsky reconhecem
a importância do desenvolvimento para a aprendizagem e que a sua relação com
este é de interdependência, isto é, a aprendizagem necessita de certo grau de
maturação do desenvolvimento.
1.1.2 – A Teoria Psicogenética - Henry Wallon
Henry Wallon compartilha com Vygotsky a mesma matriz epistemológica, o
materialismo histórico e dialético, sendo que, para Wallon, a emoção é o principal
mediador, enquanto que, em Vygotsky, o sistema de signos e símbolos ocupa tal
papel.
13
Segundo Wallon, a emoção é o primeiro e mais forte vínculo entre os
indivíduos. É fundamental observar o gesto, a mímica, o olhar, a expressão facial,
pois são constitutivos da atividade emocional.
Wallon dedicou grande parte de seu trabalho ao estudo da afetividade,
adotando,
além
disso,
uma
abordagem
fundamentalmente
social
do
desenvolvimento humano.
As relações da criança com o mundo exterior são, desde o início, relações
de sociabilidade, visto que, ao nascer, não tem "meios de ação sobre as coisas
circundantes, razão porque a satisfação das suas necessidades e desejos tem de
ser realizada por intermédio das pessoas adultas que a rodeiam. Por isso, os
primeiros sistemas de reação que se organizam sob a influência do ambiente, as
emoções,
tendem
a
realizar,
por
meio
de
manifestações
consoantes
e
contagiosas, uma fusão de sensibilidade entre o indivíduo e o seu entourage"
(WALLON, 1971, p. 262)
Através desta interação com o meio humano, a criança passa de um estado
de total sincretismo para um progressivo processo de diferenciação, onde a
afetividade está presente, permeando a relação entre a criança e o outro,
constituindo elemento essencial na construção da identidade. Da mesma forma, é
ainda através da afetividade que o indivíduo acessa o mundo simbólico,
originando a atividade cognitiva e possibilitando o seu avanço. São os desejos, as
intenções e os motivos que vão mobilizar a criança na seleção de atividades e
objetos. Para Wallon (1978), o conhecimento do mundo objetivo é feito de modo
sensível e reflexivo, envolvendo o sentir, o pensar, o sonhar e o imaginar.
WALLON (1968) defende que, no decorrer de todo o desenvolvimento do
indivíduo,
a
afetividade
tem
um
papel fundamental. Tem
a
função
de
comunicação nos primeiros meses de vida, manifestando-se, basicamente,
através de impulsos emocionais, estabelecendo os primeiros contatos da criança
com o mundo.
WALLON (1978), afirma que a criança acessa o mundo simbólico por meio
das manifestações afetivas que permeiam a mediação que se estabelece entre ela
e os adultos que a rodeiam. Defende que a afetividade é a fonte do
conhecimento.
Nesse sentido, também entende as emoções numa perspectiva genética e
de desenvolvimento. Para ele, à medida que o indivíduo se desenvolve, as
14
emoções vão encontrando forma de expressão mais complexa. O que, no início,
era comunicado através do corpo, com conquistas como aquisição da marcha, da
linguagem oral, da intencionalidade, da capacidade de representação, etc.
ganhando maior enriquecimento e complexidade nas maneiras de expressão.
Surgem novas formas (palavras e ideias) além do contato corporal. As conquistas
intelectuais são incorporadas à afetividade, dando-lhe um caráter cognitivo.
A presença contínua da afetividade as interações sociais, além da sua
influência nos processos de desenvolvimento cognitivo, influenciam também nas
interações que ocorrem no contexto escolar. A afetividade se constitui como um
fator de grande importância na determinação da natureza das relações que se
estabelecem entre os sujeitos (aluno) e os diversos objetos de conhecimento
(áreas e conteúdos escolares), bem como na disposição dos alunos diante das
atividades propostas e desenvolvidas.
O olhar do professor para o seu aluno é indispensável para a construção e
o sucesso da sua aprendizagem. Isto inclui dar credibilidade assuas opiniões,
valorizar sugestões, observar, acompanhar seu desenvolvimento e demonstrar
acessibilidade, disponibilizando mútuas conversas.
As relações afetivas se evidenciam, pois a transmissão do
conhecimento implica, necessariamente, uma interação entre
pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma relação de
pessoa para pessoa, o afeto está presente. (Almeida, 1999)
1.1.3 - A Teoria da Construção do Conhecimento – Jean Piaget
O objetivo de Piaget era entender como se dá o processo da construção do
conhecimento, e seus processos de produção. Não apenas para uma discussão
filosófica, mas sim pelo lado da ciência, apesar de não ser considerado um
cientista experimental, o que lhe acarretou muitas críticas por parte da classe
científica, mas utilizou uma abordagem clinica não experimental, e através de
observações sistemáticas a respeito de como se construía o conhecimento, desde
o nascimento de uma criança, especialmente observando seu próprio filho,
produziu relevantes conhecimentos científicos no campo da psicologia do
desenvolvimento.
PIAGET afirma que não se pode comparar a maneira que uma criança
raciocina com a de
um adulto, pois
a criança ainda está aprendendo
15
gradativamente o ser e estar no mundo, aprendendo com a experiência, e assim
ela vai gradativamente construindo seu conhecimento, indo do menos complexo
ao mais complexo, edificando neste caso a inteligência. De acordo com as
considerações apresentadas por SEBER (apud RIBEIRO,1997) “o organismo
interage continuamente com os objetos do meio” (p.52), e neste caso as relações
desenvolvidas pela criança no ambiente em que se insere, são significativas no
processo de desenvolvimento cognitivo.
Segundo PIAGET a criança não é um pequeno adulto, neste caso sua
inteligência é construída gradativamente, estruturando e equilibrando a sua
atividade mental, que compreende aspectos motores, intelectuais, uma parte do
afetivo e também as dimensões individual e social, sendo estas estruturas
variáveis.
O primeiro passo existente no processo do desenvolvimento humano, em
que pode ser observado o processo mental, está nos movimentos / exercício,
reflexo que as crianças possuem, denominado por Piaget de sensório-motores.
No
período
sensório-motor
(0
a
2
anos)
a
criança
não
elabora
pensamentos, não estabelece afetividade ligada a representações de pessoas e
objetos na ausência deles, ou seja, ela só manifesta suas emoções se estiver na
presença da pessoa ou do objeto, constituindo-se uma inteligência prática.
Neste período o desenvolvimento mental é determinante para a elaboração
das subestruturas cognitivas que servirão de base para a construção de sua
percepção e intelecto, também a criança reunirá um conjunto de reações afetivas
elementares que irão determinar parcialmente a sua afetividade posterior.
Parra PIAGET, o que marca a passagem do período sensório-motor para o
pré-operatório (2 a 7 anos) é o aparecimento da função simbólica ou semiótica,
ou seja, é a emergência da linguagem. Nessa concepção, a inteligência é anterior
à emergência da linguagem e por isso mesmo "não se pode atribuir à linguagem
a
origem
da
lógica,
que
constitui
o
núcleo
do
pensamento
racional"
(TERRA.2000). Na linha piagetiana, desse modo, a linguagem é considerada
como uma condição necessária, mas não suficiente ao desenvolvimento, pois
existe um trabalho de reorganização da ação cognitiva que não é dado pela
linguagem.
No período das operações concretas, ente 7 e 12 anos, o egocentrismo
intelectual e social (incapacidade de se colocar no ponto de vista de outros) que
16
caracteriza a fase anterior dá lugar à emergência da capacidade da criança de
estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes
(próprios e de
outrem ) e de integrá-los de modo lógico e coerente. Outro aspecto importante
neste estágio refere-se ao aparecimento da capacidade da criança de interiorizar
as ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente e não mais
apenas através de ações físicas típicas da inteligência sensório-motor (se lhe
perguntarem, por exemplo, qual é a vareta maior, entre várias, ela será capaz de
responder acertadamente comparando-as mediante a ação mental, ou seja, sem
precisar medi-las usando a ação física).
Contudo, embora a criança consiga raciocinar de forma coerente, tanto os
esquemas conceituais como as ações executadas mentalmente se referem, nesta
fase, a objetos ou situações passíveis de serem manipuladas ou imaginadas de
forma concreta.
Para PIAGET, no período das operações formais (12 em diante) a criança,
amplia as capacidades conquistadas na fase anterior, consegue raciocinar sobre
hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas conceituais
abstratos e através deles executar operações mentais dentro de princípios da
lógica formal. A criança adquire capacidade de criticar os sistemas sociais e
propor novos códigos de conduta: discute valores morais de seus pais e constrói
os seus próprios (adquirindo, portanto, autonomia).
De acordo com a tese piagetiana, ao atingir esta fase, o indivíduo adquire a
sua forma final de equilíbrio, isto é, ele consegue alcançar o padrão intelectual
que persistirá durante a idade adulta. Isso não quer dizer que ocorra uma
estagnação das funções cognitivas, a partir do ápice adquirido na adolescência,
esta será a forma predominante de raciocínio utilizada pelo adulto. Seu
desenvolvimento posterior consistirá numa ampliação de conhecimentos tanto em
extensão como em profundidade, mas não na aquisição de novos modos de
funcionamento mental.
Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a
ação do sujeito sobre o objeto, isto quer dizer que o conhecimento humano se
constrói na interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar
sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da
ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer são
construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em
17
momentos sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação ocorre através da
organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e sensações,
selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A
adaptação possui dois mecanismos opostos, mas complementares, que garantem
o processo de desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. Segundo Piaget,
o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação,
ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo.
A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas
disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são
incorporadas à atividade do sujeito. É o processo cognitivo de colocar (classificar)
novos eventos em esquemas existentes. É a incorporação de elementos do meio
externo (objeto, acontecimento,...) a um esquema ou estrutura do sujeito.
Em outras palavras, é o processo pelo qual o indivíduo cognitivamente capta o
ambiente e o organiza possibilitando, assim, a ampliação de seus esquemas.
Na assimilação o indivíduo usa as estruturas que já possui.
A acomodação é a modificação dos esquemas para assimilar os elementos
novos. É a modificação de um esquema ou de uma estrutura em função das
particularidades do objeto a ser assimilado. A acomodação pode ser de duas
formas, visto que se pode ter duas alternativas: criar um novo esquema no qual
se possa encaixar o novo estímulo, ou modificar um já existente de modo que o
estímulo possa ser incluído nele.
Após ter havido a acomodação, a criança tenta novamente encaixar o
estímulo no esquema e aí ocorre a assimilação. Por isso, a acomodação não é
determinada pelo objeto e sim pela atividade do sujeito sobre este, para tentar
assimilá-lo. O balanço entre assimilação e acomodação é chamado de adaptação.
1.2 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA
O processo de alfabetização inclui muitos fatores, e quanto mais ciente
estiver o professor de como se dá o processo de aquisição de conhecimento, de
como a criança se situa em termo de desenvolvimento emocional, de como vem
evoluindo o seu processo de interação social, da natureza e da realidade
linguística no momento em que está acontecendo á alfabetização, mais condições
terá esse professor de encaminhar de forma agradável e produtiva o processo de
aprendizagem da criança.
18
Alfabetização é o processo pelo qual as pessoas aprendem a ler e a
escrever. Entretanto, esse aprendizado vai muito além de
transcrever a linguagem oral para a linguagem escrita. Alfabetizarse é muito mais do que reconhecer as letras e saber decifrar
palavras. Aprender a ler e a escrever é apropriar-se do código
linguístico-gráfico e tornar-se, de fato, um usuário da leitura e da
escrita. (CAGLIARI, 1989).
Ler é um processo cultural. A alfabetização relaciona-se ao contexto
histórico-social. É um processo dividido em várias etapas, em que se desenvolve
não apenas o conhecimento da língua falada e escrita, como também a
compreensão, a conscientização, o uso dos mais diversos símbolos e linguagens.
A criança quando vai para a escola, já possui alguns conhecimentos sobre
a leitura, pois, observa no seu cotidiano a leitura de jornais, embalagens..., ela já
trabalha cognitivamente (isto é, procura compreender) desde muito cedo
informações das mais variadas procedências.
Quando alguém ler uma história para ela, diz-lhe que esta ou aquela forma
é uma letra ou um número, escreve seu nome para ela..., essas informações são
obtidas através de sua participação de atos sociais dos quais fazem parte o ler e
escrever.
Dessa forma, podemos verificar que essa criança quando chega à escola
para aprender a ler, já viu muitas coisas escritas e provavelmente sabe que a
escrita quer dizer alguma coisa, embora não perceba exatamente de que maneira
os sinais escritos no papel funcionam para transmitir uma mensagem.
A escola não alfabetiza, ela dá continuidade a um processo de
alfabetização já em pleno desenvolvimento. (FREIRE. 1994)
Segundo SOARES (2001), a criança aprende a escrever agindo e
interagindo com a língua escrita, experimentando escrever, fazendo o uso de
seus conhecimentos prévio sobre a escrita, levantando e testando hipóteses
sobre a correspondência entre o oral e a escrita. Observa-se que, antes da
aquisição da linguagem, as crianças interpretam o comportamento dos outros e
respondem a eles, fazendo parte de interações que implicam reciprocidade.
As crianças compreendem que as palavras não são simplesmente utilizadas
em determinadas situações, mas sim que elas referem. Para que isto aconteça,
elas devem dispor de representações mentais ou de conceitos que representem
aquilo que a palavra denota. Todo interlocutor realiza sua própria interpretação
dos enunciados dos demais a partir das representações de seu sistema cognitivo.
19
Isto é, estabelece um significado subjetivo, baseado em seu sistema de
interpretação de significados.
Cabe
lembrar
conhecimentos
que
prévios
de
as
escolas
cada
devem
criança,
pois
levar
em
assim
a
consideração
escrita
os
torna-se
significativa. A aquisição da escrita e o desenvolvimento das habilidades de
utilização do sistema só serão adquiridos quando a criança compreender a
utilidade da leitura e escrita para sua interação pessoal. No processo de
alfabetização a criança irá construir o seu conhecimento sobre leitura e escrita,
como sujeito ativo e pensante. Esta construção não é simples, trata-se de uma
aprendizagem complexa e subjetiva, mas não solitária, pois exige uma troca de
informações, estímulos e motivação.
Essa apropriação do conceito da leitura e da escrita obriga o aluno a
formular hipóteses e a enfrentar contradições e diferenças entre sua construção
pessoal e a escrita alfabética que encontra em seu ambiente escolar e social.
Segundo SOARES (2010) para que a experimentação e exploração
aconteçam de forma positiva, torna-se necessário passar pelos ”erros” próprios
do processo de construção de conhecimento, erros estes que são as hipóteses
formuladas pela própria criança e que ajudam a avançar no processo de aquisição
da escrita.
Estes erros construtivos quando confrontados com as experiências
convencionais, darão conflitos cognitivos que funcionam como
motor da aprendizagem, isto se a criança for tratada pelo professor
como capaz de pensar e fazer as atividades de leitura e escrita.
(SOARES. p. 40)
Na aprendizagem da leitura e da escrita as crianças têm como ponto de
partida o sentido do mundo e dos objetos que a cercam, por que aprendem
pensando e estabelecendo as relações sobre as características da linguagem
presente a seu redor.
O aspecto fundamental é a compreensão da vinculação fala / escrita, isto
é, a fala é representada por sinais gráficos – as letras. Para os adultos parecem
óbvio que uma palavra (agrupamento de sinais gráficos) corresponda aos sons da
fala. Mas a criança precisa “reinventar” esse processo para caminhar na
construção do código linguístico.
Segundo FERREIRO (1995) a necessidade de representação mediante
símbolos e expressa pela escrita em que o código auxilia os seres humanos no
20
processo de comunicação, instalado na sociedade letrada. Através da escrita, é
possível o individuo expressar o pensamento e historicamente esta invenção
assume relevante papel no processo de escolarização do ser humano.
FERREIRO (apud COSTA. 1991), em sua pesquisa constatou que as
crianças utilizam dois critérios essenciais para que se possa ler. O primeiro é o
critério de ”quantidade suficiente de caracteres”, onde para as crianças a
presença de letras por si só não é condição suficiente para que algo possa ser
lido, em sua concepção só podemos ler algo que possua pelo menos três letras
identificáveis, caso o contrário, ela não admite que se possa ler. Na concepção de
um adulto é óbvio que uma letra é sempre uma letra em qualquer contexto que
se apresente. Já a criança vê isso de outra maneira, para ela uma forma gráfica
pode ser uma coisa ou outra em função do texto. Para que algo seja uma letra é
preciso que esteja com outras letras. E o outro critério de leitura é “variedade de
caracteres” onde a criança utiliza para que um escrito sirva para ser lido, não
basta apenas que existam caracteres identificáveis como as letras. É preciso que
exista certa quantidade de caracteres, variáveis entre dois e quatro, e que na
maioria dos casos situa-se em três. Além desse critério, existe outro que tem
grande importância: se todos os caracteres são iguais, ainda que haja um
número suficiente, não significa que pode oportunizar um ato de leitura.
As estruturas da inteligência se constroem progressivamente, através da
contínua interação entre o sujeito e o mundo externo. Tais estruturas se
organizam sucessivamente durante o desenvolvimento intelectual, são formas de
equilíbrio, apresentando cada uma dessas formas um progresso com relação as
que a precederam.
O desenvolvimento intelectual é subdividido conceitualmente em estágios
que obedecem a uma ordem sequencial necessária, verificando-se em cada um
deles, o aparecimento de estruturas de conjunto que caracterizam as novas
formas de comportamento que surgem. Queremos dizer que, a estrutura mental
é caracterizada pela determinação precisa de algumas propriedades.
FERREIRO (1986), define 4 níveis na psicogênese da alfabetização, a
saber; Pré-silábico, Silábico, Silábico-Alfabético e Alfabético.
No nível pré-silábico a criança não registra traços no papel com a intenção
de realizar o registro sonoro do que foi proposto para a escrita. A criança ainda
não consegue compreender a relação existente entre registro gráfico e aspecto
21
sonoro da fala. Neste início, as crianças produzem riscos típicos do ambiente
alfabetizador.
Este nível é caracterizado como pré-silábico para marcar a existência de
estágios prévios onde a criança não demonstra a intenção deliberada de registrar
a pauta sonora da linguagem. Possui como característica a estratégia utilizada
pela criança ao reproduzir o tamanho do objeto referido, fazendo corresponder a
ele um traço maior ou menor, na dependência do referente a palavra a ser
escrita.
Algumas crianças possui a necessidade de encontrar apoio que garanta o
significado no momento da leitura e que, as fazem parecer desenho a escrita. O
desenho é clara estratégia de remissão ao conteúdo registrado.
Neste nível as letras, palavras, frases e textos não são claramente
definidos. A criança percebe que as letras servem para escrever. Mas não sabe
como isso ocorre. Na fase pré-silábica a criança acredita que as letras ou sílabas
não se repetem na mesma palavra.
No nível silábico a criança trabalha com a hipótese de que a escrita
representa partes sonoras da fala, e constata que uma palavra é escrita sempre
da mesma maneira, com as mesmas letras e uma mesma ordem.
A definição do nível silábico é a segmentação quantitativa das palavras em
tantos sinais gráficos quantas são as vezes que se abre a boca para pronunciálas.
A criança neste nível escreve para cada sílaba oral uma letra e nas frases
cada palavra é representada por uma letra, resolvendo temporariamente o
problema da escrita.
A partir daí surge o que FERREIRO e TEBEROSKY afirmam (1986) de
hipótese silábica.
“Este nível é caracterizado pela tentativa de dar valor sonoro a
cada uma das letras que compõem uma escrita. Nesta tentativa a
criança passa por um período da maior importância evolutiva: cada
letra vale por uma sílaba (...) a criança dá um salto qualitativo com
respeito aos níveis precedentes”. (p.193)
O nível silábico alfabético ocorre o momento de transição em que a criança,
sem abandonar as características anteriores, ensaia alguns segmentos da análise
da escrita em termos dos fonemas (escrita alfabética). Se comparação a escrita
feita pela criança neste nível com os antecedentes da concepção silábica, pode-se
22
observar a existência de acréscimo de letras, ao invés de omissão. A criança já
consegue agregar mais letras à escrita, tentando aproximar-se do princípio
alfabético, onde os sons da fala não registrados pelo uso de mais de uma letra.
Ferreiro e Teberosky (1986, p. 196) diz que (...) “a hipótese silábica é uma
construção original da criança, que não pode ser atribuída, a uma transmissão
por parte do adulto”.
A criança no estágio alfabético realiza sistematicamente uma análise
sonora dos fonemas das palavras que vai escrever. Há o alcance da legibilidade
da escrita produzida, já que esta poderá ser mais facilmente compreendida pelos
adultos.
Este nível é o momento em que deve haver uma estruturação de vários
elementos que compõe o sistema de escrita. Neste instante, há necessidade de
distinguir, basicamente algumas unidades linguísticas, tais como: letras, sílabas e
frases.
O que a criança consegue alcançar neste nível, não significa a superação
de todos os problemas, pois, ainda há um amplo conteúdo a ser dominado: as
regras normativas da ortografia.
Na descoberta da escrita alfabética, FERREIRO E TEBEROSKY (apud
COSTA, 1996) identificam o final desta evolução, afirmando que:
“Ao chegar a este nível, a criança já frequentou, a barreira do
código; compreendeu que cada um dos caracteres da escrita
corresponde a valores sonoros menores que a sílaba, e realiza
sistematicamente uma análise dos fonemas das palavras que vai
escrever. Isto não quer dizer que todas as dificuldades tenham sido
superadas: a partir desse momento a criança se defrontará com as
dificuldades própria da ortografia, mas não terá problemas de
escrita, no sentido escrito”(p. 213).
CHOMSKY (apud GÓES, 2009) demonstra que a criança de seis a sete
anos, quando vai alfabetizar-se, já possui um notável conhecimento da língua
através da qual se expressa, já demonstra total domínio sobre seus aspectos
básicos. No caso da discriminação dos fonemas, por exemplo, não se trata de
algo que deva ser ensinado às crianças, trata-se, sim, de fazer com que as
crianças tomem consciência de uma distinção que elas já realizam ao produzir ou
compreender enunciados num determinado idioma. O alfabetizando passa a ser
considerado
como
possuidor
de
instrumentos
que
lhe
permitem
buscar
ativamente compreender a natureza dos fatos linguísticos e não apenas
responder passivamente a estímulos externos. Nessa perspectiva, também os
23
atos de leitura e escrita deixam de ser considerados como mero exercício de
decodificação de letras e sons.
É necessário entender a alfabetização como um processo de apropriação
do conhecimento da língua escrita, em que a criança, gradativamente, irá ampliar
e rever suas formas de ler o mundo e representá-lo. Com o domínio de um
sistema de código, a criança ampliará indefinidamente sua possibilidade de
cognição.
A alfabetização, anteriormente tomada como mera atividade mecânica,
individualista e desvinculada de outros conhecimentos, prioriza apenas o aspecto
gráfico da língua escrita. Hoje, assumindo um sentido mais amplo, alfabetizar é
interagir com o mundo por intermédio da língua escrita. Esse processo não se
limita ao reconhecimento e à utilização de símbolos como simples tarefa de
codificação
e
decodificação.
Sendo
a
linguagem
um
instrumento
de
representação, é por ela que se expressa a visão do mundo daquele que fala.
1.3 - O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
No processo de alfabetização o papal do professor é ser mediador entre a
criança e o texto (objeto de conhecimento). Nessa mediação o professor deixa de
ser o único detentor e transmissor de conhecimento. Sua intervenção é planejada
de forma que favoreça a ação do aluno sobre o texto. Esta mediação exige um
conhecimento do processo de construção do conhecimento, para identificar o que
criança já sabe, como pensa, como lê e escreve o que significa os desempenhos e
como agir para que continue evoluindo para os níveis seguintes.
[...] o ato de educar não é uma doação de conhecimento do
professor aos educandos, nem transmissão de ideias, mesmo que
estas sejam consideradas muito boas. Ao contrário, é uma
contribuição "no processo de humanização". Processo este de
fundamental papel no exercício de educador que acredita na
construção de saberes e de conhecimentos para o desenvolvimento
humano, e que para isso se torna um instrumento de cooperação
para o crescimento dos seus educandos, levando-os a criar seus
próprios conceitos e conhecimento. (FREIRE, 1990 apud ROCHA,
2004)
Para PEIXOTO (apud ROCHA, 2005) o professor no processo de aquisição
da leitura e escrita deve investigar as práticas sociais que fazem parte do
cotidiano do aluno, adequando-as à sala de aula e aos conteúdos a serem
24
trabalhados; planejar suas ações visando ensinar para que serve a linguagem
escrita e como o aluno poderá utilizá-la;
desenvolver no aluno, através da
leitura, interpretação e produção de diferentes gêneros de textos, habilidades de
leitura e escrita que funcionem dentro da sociedade; incentivar o aluno a praticar
socialmente a leitura e a escrita, de forma criativa, descobridora, crítica,
autônoma e ativa, já que a linguagem é interação e, como tal, requer a
participação transformadora dos sujeitos sociais que a utilizam; recognição, por
parte do professor, implicando assim o reconhecimento daquilo que o educando
já possui de
conhecimento
empírico,
e
respeitar, acima de
tudo, esse
conhecimento; não ser julgativo, mas desenvolver uma metodologia avaliativa
com certa sensibilidade, atentando-se para a pluralidade de vozes, a variedade
de discursos e linguagens diferentes; avaliar de forma individual, levando em
consideração as peculiaridades de cada indivíduo; trabalhar a percepção de seu
próprio valor e promover a autoestima e a alegria de conviver e cooperar; ativar
mais do que o intelecto em um ambiente de aprendizagem, ser professor
aprendiz tanto quanto os seus educandos; e reconhecer a importância do
letramento, e abandonar os métodos de aprendizado repetitivo, baseados na
descontextualização.
Segundo VYGOSTSKY (apud GÓES, 2005), “a escrita deve ter significado
para as crianças, uma necessidade intrínseca deve ser despertada nelas e a
escrita deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida. Só
então se pode estar certo de que ela se desenvolverá não como habito de mãos e
dedos, mas como forma nova e complexa da linguagem”. Portanto, ao trabalhar
com a música, o professor estará permitindo que a criança interaja com diversos
tipos
de
textos
de
forma
lúdica
e
prazerosa,
tornando-os
então
mais
significativos.
Trabalhar
com
homônimos
através
de
brincadeiras
e
adivinhações
enriquece o vocabulário. O uso de rimas nas poesias diverte as crianças,
chamando a atenção para o seu som e facilitando a relação oralidade versus
escrita. A música exerce grande influência sobre a criança, por isso os jogos
ritmados devem ser aproveitados e incentivados na escola. Música é linguagem.
As experiências musicais favorecem a organização do pensamento da criança.
Quando mais ela tem oportunidade de comparar as ações executadas e as
25
sensações obtidas através da música, mais sua inteligência e seu conhecimento
vão se desenvolvendo.
O trabalho com o texto é realizado visando à compreensão da função da
escrita enquanto representação de palavras, para a sistematização necessária ao
domínio do código escrito. A produção de textos pode ser individual ou coletiva.
Uma das formas de escrita de texto individual é o próprio desenho do aluno, que
permite a expressão de ideias, sentimentos e emoções. Toda representação que a
criança faz, carregada de significação, é um texto. Na fase de alfabetização, a
criança é capaz de produzir textos espontâneos. Nesse momento é importante
deixá-la criar, não se preocupando excessivamente com a ortografia, para não
destruir o estímulo à produção. A produção do texto coletivo é o momento em
que cada criança tem oportunidade de expressar ao grande grupo suas ideias e
vivenciar a escrita convencional feita pelo professor. O texto coletivo permite que
a criança reflita sobre as linguagens oral e escrita, observando que tudo o que se
diz pode ser escrito.
Assim, considera-se que a produção da linguagem escrita não poderá
ser um processo natural, pois sua apropriação só se efetivará por meio das
relações sociais e pela interferência do professor, o qual já possui um
conhecimento cientifico socialmente produzido.
A leitura é uma atividade muito importante, pois é com seu auxilio que se
adquirem conhecimentos para melhor compreender a realidade. É, assim,
imprescindível na vida diária das pessoas, que direcionem essa leitura conforme
suas necessidades e interesses. Deve-se trabalhar na escola diferentes tipos de
texto, pois cada um tem uma função especifica e é escrito de forma diferenciada.
A produção de um texto escrito envolve problemas específicos de
estruturação do discurso, de coesão, de argumentação, de
organização, de ideias e escolha de palavras, dos objetivos e do
destinatário do texto etc. (CAGLIARI, 1990).
26
CAPITULO II – EDUCAÇÃO MUSICAL NO ENSINO FUNDAMENTEAL,
UMA QUESTÃO APENAS DE CUMPRIR A LEI?
Em agosto de 2008, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei
nº 11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de
educação básica, significa uma formação mais humanística dos estudantes, na
qual serão desenvolvidas habilidades motoras, de concentração e a capacidade de
trabalhar em grupo, de ouvir e de respeitar o outro. Os sistemas de ensino
brasileiro têm até 2012 para se adaptarem às exigências estabelecidas.
A nova legislação altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
fazendo da música o único conteúdo obrigatório, porém não exclusivo. As demais
áreas artísticas deverão ser contempladas dentro do planejamento pedagógico
das escolas.
A educação Musical atualmente cumpre apenas um papel funcional em
grande parte das escolas, onde a Educação Musical está ausente. A Arte,
considerada atividade educativa com o nome de Educação Artística, na Lei
5692/71, hoje é concebida como componente curricular obrigatório em toda a
Educação Básica, conforme os Artigos 26 e 32 da LDBEN 9394/96. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (vol. 6), referencial nacional para a formação escolar,
apresentam a arte e suas modalidades - Artes Visuais, Teatro, Música e Dança todas com objetivos e conteúdos próprios.
Entretanto, o que vemos na realidade é uma situação muito distinta. Como
demonstram as pesquisas a Educação Musical não está presente nas escolas. Os
professores especialistas não são suficientes para atender às necessidades, e a
formação pedagógico-musical está ausente da formação de professores para os
anos iniciais do Ensino Fundamental.
27
2.1 – A LINGUAGEM MUSICAL
A linguagem musical está sempre presente na vida do ser humano desde
muito tempo faz parte da educação de crianças e adultos. Está presente em todas
as regiões do globo, em todas as culturas, em todas as épocas, ou seja, a música
é uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço.
A presença da música na vida dos seres humanos é incontestável. Ela tem
acompanhado a história da humanidade, ao longo dos tempos, exercendo as mais
diferentes funções. Nas sociedades primitivas a música e dança expressam
alegrias, tristezas, inquietações de uma comunidade. As pessoas cantavam e
dançavam para expressar suas emoções; a música era indispensável à vida
grupal.
A música além de poderoso instrumento no auxilio ao desenvolvimento
cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio afetivo, ajuda no raciocínio lógicomatemático, contribui para a compreensão da linguagem e desenvolvimento da
comunicação, percepção de sons sutis e para o aprimoramento de outras
habilidades. Além do que a música é um dos estímulos mais potentes para os
circuitos do cérebro e como atividade desenvolvida essencialmente em grupo nas
escolas, possui um apelo irresistível à socialização. Ela atinge a motricidade e a
sensorialidade por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a
afetividade.
Aristóteles foi um dos primeiros a propor a educação musical acreditando
que “Graças a ela nós desenvolvemos uma importante qualidade em nossas
personalidades” e que "pelo ritmo e pela melodia nasce uma grande variedade
de sentimentos" também que "a música pode ajudar na formação do caráter" e
que "se pode distinguir os gêneros musicais por sua repercussão sobre o caráter”.
A música pode contribuir para tornar esse ambiente mais alegre e
favorável à aprendizagem, afinal “propiciar uma alegria que seja vivida no
presente é a dimensão essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos
alunos sejam estimulados, compensados e recompensados por uma alegria que
possa ser vivida no momento presente” (SNYDERS, 1992, p. 14).
A música também deve ser estudada como matéria em si, como linguagem
artística, forma de expressão e um bem cultural. A escola deve ampliar o
conhecimento musical do aluno, oportunizando a convivência com os diferentes
gêneros, apresentando novos estilos, proporcionando uma análise reflexiva do
28
que lhe é apresentado, permitindo que o aluno se torne mais crítico. Conforme
MÁRSICO (1982, p.148) “[...] uma das tarefas primordiais da escola é assegurar
a igualdade de chances, para que toda criança possa ter acesso à música e possa
educar-se musicalmente, qualquer que seja o ambiente sócio-cultural de que
provenha”.
O homem está numa atividade permanente de transformação do mundo e
de si mesmo; portanto, a prática fundamental do homem tem um caráter criador.
O homem cria novas necessidades e a própria vida invalida as soluções
existentes. No entanto, as soluções alcançadas têm um tempo de validade. Neste
tempo é que temos a repetição como atividade relativa, transitória, sempre
aberta à possibilidade e necessidade de ser substituída (VÁSQUEZ, 1977).
A Educação musical é um processo dinâmico que deve considerar o
discurso musical dos alunos. Neste sentido, há espaço para a escolha, para a
tomada de decisões, para a exploração pessoal.
Segundo SWANWICK (Apud 2003): “[...] a música nasce em um contexto
social; entretanto, por sua natureza metafórica, não é apenas um reflexo da
cultura, mas pode ser criativamente interpretada e produzida” (p. 113). Ela
existe em contextos funcionais, contribuindo para a reprodução cultural e para a
integração do grupo social.
Contudo, a música também tem caráter de mudança e inovação:
“[...] a música não somente possui um papel na reprodução
cultural e afirmação social, mas também potencial para
promover o desenvolvimento individual, a renovação cultural,
a evolução social, a mudança” (ibid, p. 40).
A música possibilita diversidade de estímulos. Ela, por seu caráter
relaxante, pode estimular a absorção de informações, isto é, a aprendizagem. As
atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma,
desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também permitem a
comunicação com o outro. WEIGEL (1988) afirma que certas atividades podem
contribuir como reforço no desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e
sócio afetivo da criança.
De
acordo
com
WEIGEL
(1998)
a
educação
musical
ajuda
no
desenvolvimento cognitivo/ linguístico na medida em que a criança aproveita as
situações que ela tem oportunidade de experimentar em seu dia a dia. Dessa
29
forma, quanto maior a riqueza de estímulos que ela receber melhor será seu
desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, as experiências rítmicas musicais que
permitem uma participação ativa (vendo, ouvindo, tocando) favorecem o
desenvolvimento dos sentidos das crianças. Ao trabalhar com os sons ela
desenvolve sua acuidade auditiva; ao acompanhar gestos ou dançar ela está
trabalhando a coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar sons ela esta
descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o ambiente em que
vive.
As atividades musicais oferecem também inúmeras oportunidades para que
o desenvolvimento psicomotor da criança, fazendo com que ela aprimore sua
habilidade
motora,
aprenda
a
controlar
seus
músculos
e
mova-se
com
desenvoltura. O ritmo tem um papel importante na formação e equilíbrio do
sistema nervoso. Isto porque toda expressão musical ativa age sobre a mente,
favorecendo a descarga emocional, a reação motora e aliviando as tensões.
Qualquer movimento adaptado a um ritmo é resultado de um conjunto completo
(e complexo) de atividades coordenadas. Por isso atividades como cantar fazendo
gestos, dançar, bater palmas, pés, são experiências importantes para a criança,
pois elas permitem que se desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora,
fatores importantes também para o processo de aquisição da leitura e da escrita.
A música ajuda o desenvolvimento sócio afetiva da criança de forma que
forma-se sua identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo
buscando integrar-se com os outros. Nesse processo a autoestima e a auto
realização
desempenham
um
papel
muito
importante.
Através
do
desenvolvimento da autoestima ela aprende a se aceitar como é, com suas
capacidades
e
limitações.
As
atividades
musicais
coletivas
favorecem
o
desenvolvimento da socialização, estimulando a compreensão, a participação e a
cooperação. Dessa forma a criança vai desenvolvendo o conceito de grupo. Além
disso, ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe deem prazer, ela
demonstra
seus
sentimentos,
libera
suas
emoções,
desenvolvendo
um
sentimento de segurança e auto realização.
30
2.2 - A MUSICA NO CONTEXTO ESCOLAR
Na sala de aula trabalhar com a música é uma proposta que vai além do
aspecto
motivador,
visto
que
abre
espaço
para
uma
diversidade
de
oportunidades, contribuindo para o desenvolvimento pleno da criança. Ao inserir
a música na prática diária do ambiente educativo, a mesma pode tornar-se um
importante elemento auxiliador no processo de aprendizagem da escrita e da
leitura criando o gosto pelos diversos assuntos estudados, desenvolvendo a
coordenação motor – o ritmo, auxiliando na formação de conceitos, no
desenvolvimento da autoestima e na interação com o outro.
A linguagem musical, assim como outras formas de linguagens, contribui
para desenvolvimento integral da criança, desenvolvimento esse que ocorre
simultaneamente ao processo de apreensão de conhecimentos, em qualquer
atividade didática pedagógica. Quando a aprendizagem tem o envolvimento da
música ela se torna significativa para a criança. Ao pensar em música como um
recurso para auxiliar o processo de aquisição da linguagem oral e escrita, bem
como estimulador nas expressões orais, pictóricas, corporais dentre outras, temse a clareza de que essa proposta não poderá caminhar solitária e nem
considerar que a música tem um fim em si mesma, mas que está aberta a novas
modificações.
De acordo com os documentos do Referencial Curricular para a Educação
Infantil (RCNEI):
A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras
capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e
pensamentos, por meio da organização e relacionamento
expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente
em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e
comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas,
políticas etc. (BRASIL, 1998, p. 45).
Independentemente do seu papel dentro da sociedade, a música exerce
forte atração sobre os seres humanos, fazendo mesmo que de forma inconsciente
que nos relacionemos com ela, muitas vezes quando a ouvimos começamos a nos
familiarizar, movimentando o corpo ou cantarolando pequenas partes da melodia.
As crianças quando brincam ou interagem com o universo sonoro, acabam
descobrindo mesmo que de maneira simples, formas diferentes de se fazer
música. De acordo com Joly (2003):
31
A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o
mundo que descobre a cada dia e é dessa forma que faz
música: brincando. Sempre receptiva e curiosa, ela pesquisa
materiais sonoros, inventa melodias e ouve com prazer a
música de diferentes povos e lugares. (p. 116).
Em todas as culturas as crianças brincam com músicas, jogos e brinquedos
musicais que são transmitidos por tradição oral, persistindo nas sociedades
urbanas nas quais a formação da cultura de massa é muito intensa, pois são
fontes das vivências e desenvolvimento expressivo musical (BRASIL, 1998, p.17).
A
música,
entendida
como
uma
linguagem
artística,
organizada
e
fundamentada, é uma prática social, pois nela estão inseridos valores e
significados atribuídos aos indivíduos e a sociedade que a constrói e dela se
ocupam. A linguagem musical vem sendo cada vez mais estudada e analisada,
pois representa uma excelente motivação inserida na prática pedagógica das
escolas.
Para DELALANDE (apud PIRES, 2005), desde os primeiros dias da vida,
elas são atraídas pelos sons musicais e manifestam-se de diversas maneiras,
como sorrisos, interagindo com os sons através dos movimentos corporais, como
palmas e toques nos brinquedos sonoros. São movimentos que se repetem e se
transformam, manifestando sensações de prazer ou não conforme os sons
presentes no ambiente.
A música é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se
comunicar por meio de gestos, sons, e mais tarde representar determinado papel
na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Amadurecem
algumas capacidades de socialização, por meio da interação e utilização e
experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998). Para Brito (2003), o
processo de musicalização dos bebês e crianças começa de forma espontânea,
intuitivamente, através do contato com variedades de sons do nosso cotidiano.
Sendo a música uma linguagem, devemos adotar o mesmo procedimento
utilizado no desenvolvimento da linguagem falada, ou seja, expor a criança à
linguagem musical, dialogando e encorajando atividades relacionadas com a
descoberta e a criação de novas formas de expressão musical.
32
Segundo o Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCN, 1998), o
contado com a expressão musical desde os primeiros anos de vida é o ponto de
partida para o processo de musicalização. Proporcionar vivências com as quais a
criança possa ouvir, cantar, brincar de roda, brinquedos rítmicos, são atividades
que estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, que é um
excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da
autoestima, autoconhecimento e
integração social. A prática musical nos
primeiros anos de vida poderá ser trabalhada de forma lúdica, ou seja, por meio
da imitação de vozes de animais, ruídos, sons corporais, palmas, batidas dos pés,
por brinquedos cantados rítmicos, cantigas de ninar, rodas e cirandas, jogos, etc.
A socialização infantil precisa ser compreendida como social e coletiva, pois
o desenvolvimento de apropriação de sua cultura se dá na interação com os
outros. Ela entra no sistema social, ao interagir e negociar com os outros,
estabelecer compreensões que ser torna conhecimento social que constrói
continuamente e em conjunto.
A
Educação
Musical,
na
concepção
de
Swanwick,
é
uma
prática
contextualizada, baseada numa relação entre professor, a criança e música,
considerando a realidade, a cultura musical do aluno e o meio cultural mais
amplo “A música que as crianças tocam, cantam e escutam será música real –
não ‘música de escola’, especialmente manufaturada” (1993, p.29). O autor
propõe a ‘conversação’ do pensamento musical de outras épocas e lugares, que
pode levar à aproximação com a diversidade musical do mundo atual e ao
respeito às diferenças individuais e aos grupos sociais (idem, 2003). O educador
musical, nesse caso, promove trocas musicais, encontrando pontos comuns entre
os diversos tipos de música para ampliar o repertório e aprofundar a relação do
aluno com a música.
A música na escola não se justifica apenas em função da reprodução
cultural; ela precisa contribuir para a transformação e a emancipação dos alunos.
Isto significa, em termos musicais, tratar a música como discurso, o que pode ser
avaliado na prática musical pelo alcance das camadas material, expressão, forma
e valor, pela capacidade de fazer escolhas musicais e pela fluência para uma
experiência musical com sentido. Significa também um encontro com um
repertório diversificado, outros estilos e culturas.
33
Para que a Educação Musical seja uma prática criadora, deve gerar um
produto novo e único. Tal produto é a transformação do aluno por meio de sua
relação com a música, que leva à compreensão de si mesmo, da diversidade de
sua própria cultura e de culturas mais distantes e ao respeito ao outro e a sua
cultura.
O professor pode contribuir, trazendo a música para o primeiro plano e
mediando trocas significativas, por meio da audição focada, da discussão sobre o
que ouviram e sentiram, estabelecendo comparações entre a música ue eles já
conhecem e outros tipos de música, para que os alunos vivam e compreendam a
diversidade de sua própria cultura, bem como a das culturas mais distantes. Os
conhecimentos de e sobre música, literatura podem contribuir neste sentido e são
possíveis de ser desenvolvidos.
2.3 – A MÚSICA E A ALFABETIZAÇÃO
Para GÓES (2009), a música atrai e envolve as crianças, pois eleva a
autoestima, estimula diferentes áreas do cérebro, aumenta a sensibilidade, a
criatividade, à capacidade desconcentração e ajuda na fixação de dados. Por isso
está sendo cada vez mais usada pelas escolas como eixo norteador do processo
de alfabetização.
A criança no período de alfabetização se beneficia do ensino da linguagem
musical quanto as atividades propostas que contribuem para a coordenação
motora, imitação de sons e gestos, atenção e percepção, memorização,
raciocínio, da linguagem e expressão corporal, enfim atividades que contribuam
de diversas maneiras de adquirir conhecimentos.
As músicas são fortes aliadas também na hora de ensinar as crianças a ler
e a escrever. A medida que a criança tenha familiaridade com textos conhecidos e
apreciados por elas facilita a alfabetização. Percebe que a combinação de
determinadas letras resulta em cada uma das palavras do refrão de uma música
conhecida e que é muito mais gostoso e interessante do que aprender a ler e
escrever palavras isoladas. Isso aumenta a capacidade de compreensão da
criança que, assim, tem mais possibilidades de interpretar e conhecer o mundo
em que vive. É importante que a criança seja incentivada constantemente a se
expressar na língua escrita, ainda que não domine totalmente o código
34
convencional, pois ao escrever irá adquirindo maiores conhecimentos sobre a
língua, com o auxilio do professor.
O uso de rimas nas poesias diverte as crianças, chamando a atenção para
o seu som e facilitando a relação oralidade versus escrita. A música exerce
grande influência sobre a criança, por isso os jogos ritmados devem ser
aproveitados e incentivados na escola. Música é linguagem. As experiências
musicais favorecem a organização do pensamento da criança. Quando mais ela
tem oportunidade de comparar as ações executadas e as sensações obtidas
através
da
música,
mais
sua
inteligência
e
seu
conhecimento
vão
se
desenvolvendo.
As músicas também são fortes aliadas para ensinar a ler e a escrever. A
familiaridade com textos conhecidos e apreciados pelas crianças faz com que ela
se expresse na língua escrita, mesmo que não domine totalmente o código
convencional, pois ao escrever irá adquirindo maiores conhecimentos sobre a
língua.
A música sempre foi uma maneira para as crianças a lembrar de histórias e
aprender sobre o mundo em torno deles. Usando a música como um estímulo
pode afetar as emoções e tornar as informações mais fáceis de lembrar. A música
também cria um ambiente que seja propício à aprendizagem. Pode reduzir o
estresse, aumentar o interesse, e preparou o palco para ouvir e aprender. As
semelhanças entre a alfabetização e o desenvolvimento musical são muitos.
Portanto, o ensino que combina música com a instrução artes da
linguagem pode ser o mais eficaz. Além disso, é importante experimentar muitas
conexões entre a alfabetização na língua e a música. Faz-se necessário assim
ampliar o conceito de alfabetização da criança, desenvolvendo uma política
estética, alegre e afetiva, e que as linguagens expressivas do desenho, da
música, da dança e da brincadeira sejam instrumentos simbólicos de leitura e
escrita do mundo afetivo, cultural e social da criança. Reencantar a educação e a
vida. Não se trata apenas de fazer dança, música ou brincadeira na escola. Tratase de uma metodologia que integre a identidade afetiva da criança como ser vivo
alegre e cheio de vontade de descobrir muito mais do mundo que a cerca.
A música tem como objetivo primordial criar condições e dar oportunidades
de experiência e de expressão rítmica. A ênfase não recai sobre a perfeição nas
35
realizações musicais da criança, mas na alegria que ela traz e nas possibilidades
de comunicação que proporciona.
A música é essencialmente uma arte auditiva, que existe somente no
tempo: portanto a arte de escutar exige uma atenção, sustentada e concentrada,
porém muito pouco se tem feito no sentido de desenvolver nas crianças hábitos
de ouvir, e se tem descuidado da compreensão auditiva.
(...) “é preciso que a criança aprenda a ouvir, para poder
sentir que cabe a ela recriar novamente ao repetir [...] é
preciso que os que a ouvem saibam que assistem a um ato
de criação”. Queluz, apud Rosa (1984: 64-65)
A criança aprende brincando, experimentando, fazendo, cantando e por
isso a necessidade de atividades que façam com que o movimento e o recriar
sejam imprescindível para o seu desenvolvimento: afetivo, físico e psicomotor.
A música desenvolve o pensamento e a linguagem, oferecendo à criança,
condições de descobrir os sons que a rodeia e os sons que ela pode criar,
podendo se comunicar e se expressa através deles.
36
CAPÍTULO III – A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA
Nas últimas décadas o cérebro vem se tornando, mais que um órgão, um
ator social. O espetacular progresso das neurociências, a popularização pela
mídia
de
imagens
e
informações
que
associam
a
atividade
cerebral
a
praticamente todos os aspectos da vida, e certas características estruturais da
sociedade atual têm produzido no imaginário social uma crescente percepção do
cérebro como detentor das propriedades e autor das ações que definem o que é
ser alguém. O cérebro responde cada vez mais por tudo aquilo que outrora nos
acostumamos a atribuir à pessoa, ao indivíduo, ao sujeito. Inteiro ou em partes,
surgiu como o único órgão verdadeiramente indispensável para a existência do
self e para definir a individualidade. Com isso, o ser humano tornou-se o que
alguns definem como "sujeito cerebral".
A importância das neurociências nas mais diversas áreas é objeto de
pesquisas diversas que mostram como sua influência não só introduz um tema a relevância do cérebro para cada disciplina específica - como reorganiza o
próprio debate interno. Ecce córtex (apud ORTEGA,2006) mostra como o cérebro
adquiriu significados
diferentes
em áreas
diversas (anatomia, psiquiatria,
antropologia, psicologia, psicologia e arte), nas quais vem sendo incorporado
como forma de exprimir ou encarnar princípios e programas próprios a cada uma
delas.
O cérebro é obviamente crucial para as propriedades que definem a
personalidade humana e as trocas sociais, tais como linguagem e consciência. E o
avanço das pesquisas demonstra com informações cada vez mais precisas as
bases biológicas e neurais das diversas modalidades da experiência subjetiva.
O cérebro humano pode fazer uma série de juízos inconscientes sobre
outras pessoas, reconhecendo seus rostos, avaliando suas emoções e analisando
seus movimentos numa fração de segundo.
Nos últimos anos, os neurocientistas vêm mapeando as redes que
possibilitam essa inteligência social e uma das mais extraordinárias descobertas
que fizeram foi a de que a imagem do cérebro quando pensa sobre os outros não
é nada diversa da imagem do cérebro quando pensa em si mesmo.
37
3.1 – SISTEMA NERVOSO
No tecido nervoso, os neurônios são as unidades funcionais, são eles as
células excitáveis cuja atividade elétrica é comunicada a outras células. Essa
comunicação é direcional - ou seja, tem sentido de entrada e saída em cada
neurônio - devido à estrutura dos neurônios e à distribuição de receptores e
canais iônicos em sua superfície.
Os neurônios tem a forma e tamanho variáveis e são constituídos por um
corpo celular, ou pericário, onde se
encontra o núcleo e por prolongamentos
celulares, que podem ser os dendritos e axônio.
Assim, neurônios recebem sinais pelos dendritos; integram esses sinais
nos dendritos e no corpo celular; e, dependendo do resultado dessa integração,
disparam potenciais de ação em seu axônio, que transmite a atividade aos
neurônios seguintes.
Como resultado da excitabilidade dos neurônios e da conectividade entre
eles (axônio de um sobre os
dendritos
atividade
dos
de
outros),
um
a
neurônio
influencia a dos outros - e, por
sua vez, é influenciada pela
atividade de dezenas, centenas
ou
mesmo
milhares
deles.
Como são raríssimos os neurônios que
ficam silenciosos por mais do que uns
Figura 1: Neurônio
(Fonte: http://aendorfina.blogspot.com;2012)
poucos segundos, é possível pensar no sistema nervoso como um conjunto de
neurônios permanentemente ativos, trocando sinais o tempo todo.
Estes sinais são chamados de sinapse. As sinapses são as regiões de
comunicação entre os neurônios, ou mesmo entre neurônios e células musculares
e epiteliais glandulares. A atividade elétrica de um neurônio, distribuída por seu
axônio, pode se espalhar diretamente a neurônios vizinhos que tenham contato
físico (e, portanto elétrico) com aquele neurônio. Isso acontece com bastante
frequência no sistema nervoso durante a gestação. No entanto, a maioria dos
neurônios no sistema nervoso da criança ou adulto não tem continuidade elétrica
38
entre si: ao contrário, eles são separados por fendas, o que impede a passagem
de eletricidade diretamente de um para o outro.
O que permite que a atividade elétrica de um neurônio influencie a
atividade elétrica do neurônio seguinte é
a transmissão sináptica, o processo de
transformação de um sinal elétrico em
um sinal químico, e deste sinal químico
de volta em um sinal elétrico, em outro
neurônio. A sinapse, portanto, é esse
local onde a atividade de um neurônio é
capaz de influenciar a atividade do outro
neurônio. Os neurônios, principalmente
através de suas terminações axônicas,
entram
Figura 2: Sinapse
(http://www.portalsaofrancisco.com.br,2012)
em
contato
com
outros
neurônios, passando-lhes informações.
Os locais de tais contatos são denominados sinapses. Ou seja, os neurônios
comunicam-se uns aos outros nas sinapses – pontos de contato entre neurônios,
no qual encontramos as vesículas sinápticas, onde estão armazenados os
neurotransmissores. A comunicação ocorre por meio de neurotransmissores –
agentes
químicos
liberados
ou
secretados
por
um
neurônio.
Os
neurotransmissores mais comuns são a acetilcolina e a norepinefrina. Outros
neurotransmissores do SNC incluem a epinefrina, a serotonina, o GABA e as
endorfinas.
Os neurônios não se distribuem igualmente por todo o tecido nervoso.
Seus corpos celulares (que contêm o núcleo da célula) e os dendritos (que são
arborizações locais) se agrupam em algumas regiões do encéfalo e da medula
espinhal, que por isso adquirem uma coloração mais intensa. Na substância
cinzenta, os corpos celulares dos neurônios podem ficar agrupados em camadas
(e então ela se chama córtex), em aglomerados globosos (e então ela se
chama núcleo), ou podem ficar dispersos, sem nenhuma organização particular (e
nesse caso se diz que a estrutura é uma rede, ou retículo, ou formação reticular).
Outras regiões do tecido nervoso podem conter quase exclusivamente
axônios de neurônios. Quando esses axônios são revestidos de mielina, o tecido
ganha uma coloração esbranquiçada, daí o nome de substância branca que essas
39
estruturas
recebem.
A
substância
branca,
portanto,
é
uma
região
de
conectividade entre partes do sistema nervoso.
3.2 – O CERÉBRO HUMANO
Durante a evolução do ser vivo os primeiros neurônios surgiram na
superfície externa do organismo, tendo em vista que a função primordial do
sistema nervoso é de relacionar o animal com o ambiente. O sistema nervoso dos
vertebrados tem origem no folheto embrionário mais externo do embrião, o
ectoderma.
Na espécie humana isto acontece na terceira semana de vida, quando
parte do ectoderma se transforma no neuroectoderma, formando a chamada
placa neural. Sabe-se que a formação da desta placa e a subsequente formação
do tubo neural, tem importante papel à ação indutora da notocorda e do
mesoderma.
A placa neural cresce progressivamente, torna-se mais espessa a adquire
um sulco longitudinal denominado sulco neural que se aprofunda para formar a
goteira neural. Os lábios da goteira neural se fundem para formar o tubo neural.
O ectoderma não diferenciado, então, se
fecha sobre o tubo neural, isolando-o
assim do meio externo. No ponto em que
este ectoderma encontra os lábios da
goteira neural, desenvolvem-se células que
formam
de
cada
lado
uma
lamina
longitudinal denominada crista neural. O
tubo neural dá origem a elementos do
Figura 3: Desenvolvimento do Tubo Neural
sistema nervoso central, enquanto a crista
(Fonte:http://www.auladeanatomia.com,2012.
dá origem a elementos do sistema nervoso
periférico, além de elementos não pertencentes ao sistema nervoso.
Em sua região anterior, o tubo neural sofre dilatação, dando origem
ao encéfalo primitivo. Em sua região posterior, o tubo neural dá origem à medula
espinhal. O canal neural persiste nos adultos, correspondendo aos ventrículos
cerebrais, no interior do encéfalo, e ao canal do epêndimo, no interior da medula.
40
Durante o desenvolvimento embrionário, verifica-se que a partir da
vesícula única que constitui o encéfalo primitivo, são formadas três outras
vesículas:
a
primeira,
denominada prosencéfalo
segunda, mesencéfalo (encéfalo
médio)
e
a
(encéfalo
anterior);
a
terceira, rombencéfalo (encéfalo
posterior).
O prosencéfalo e o rombencéfalo sofrem estrangulamento, dando origem,
cada um deles, a duas outras vesículas. O mesencéfalo não se divide. Desse
modo, o encéfalo do embrião é constituído por cinco vesículas em linha reta. O
prosencéfalo divide-se em telencéfalo (hemisférios cerebrais) e diencéfalo
(tálamo e hipotálamo); o mesencéfalo não sofre divisão e o romboencéfalo
divide-se em metencéfalo (ponte e cerebelo) e mielencéfalo (bulbo). As divisões
do
Sistema Nervoso Central (S.N.C) se definem já na sexta semana de vida
fetal.
Esquema 1 : Desenvolvimento do SNC
Fonte:http://www.auladeanatomia.com,2012.
O SNC divide-se em encéfalo e medula. O encéfalo corresponde ao
telencéfalo
diencéfalo
(hemisférios
(tálamo
e
cerebrais),
hipotálamo),
cerebelo, e tronco cefálico, que se
divide em: bulbo, situado caudalmente;
mesencéfalo, situado cranialmente; e
ponte, situada entre ambos.
O sistema nervoso central é a parte do
organismo de maior importância devido às
Figura 4: Sistema Nervoso Central
(Fonte:http://www.auladeanatomia.com,2012.
41
complexas funções desempenhadas por este sistema. Além da dificuldade de
compreensão das funções desempenhadas pelo cérebro, há uma grande
dificuldade de identificação estrutural dentro deste órgão: é um órgão compacto
com enormes variações e classificações anatômicas.
3.2.1 – O Cérebro - Telencéfalo e o diencéfalo
O
telencéfalo
e
o
diencéfalo
formam o cérebro, que corresponde ao
prosencéfalo. O cérebro é a parte mais
desenvolvida do encéfalo e ocupa cerca
de 80% da cavidade craniana. A camada
cinzenta mais externa do cérebro é
formada
pelo
corpo
celular
dos
neurônios,
ou
seja,
a
parte
dos
neurônios
que
fazem
sinapses
com
Figura 5: Cérebro Humano
(Fonte:http://www.auladeanatomia.com,2012.
vários outros neurônios. Essa camada é chamada de córtex cerebral. Devido às
inúmeras sinapses (ligações entre neurônios) que ocorrem no córtex, é possível
realizar as muitas funções do cérebro.
3.2.1.1 – O Telencéfalo
O telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo,
e uma pequena linha mediana situada na
porção anterior do III ventrículo.
Os
dois
hemisférios
incompletamente
longitudinal
formado
do
por
cerebrais
separados
cérebro,
uma
larga
cujo
são
pela fissura
assoalho
faixa
de
é
fibras
comissurais, denominada corpo caloso, principal
meio de união entre os dois hemisférios. Os
hemisférios possuem cavidades, os ventrículos
laterais direito e esquerdo, que se comunica
Figura 6: Hemisférios Cerebrais
(Fonte:http://www.auladeanatomia.com,2012).
com
o
III
ventrículo
pelos
forames
interventriculares.
42
O cérebro é dividido em hemisférios esquerdo e direito, sendo o primeiro
dominante em 98% dos humanos, é responsável pelo pensamento lógico e
competência comunicativa. Isso porque nele estão duas áreas especializadas,
a Área de Broca, córtex responsável pela motricidade da fala; e a Área de
Wernick, córtex responsável pela compreensão verbal. Já o hemisfério direito é
quem cuida do pensamento simbólico e da criatividade. Nos canhotos estas
funções destinadas aos hemisférios estão trocadas.
A conexão entre os dois hemisférios é feita pela fissura sagital ou interhemisférica, onde está localizado o corpo caloso. Essa estrutura, composta por
fibras
nervosas
brancas
(axônios
envolvidos
em
mielina) faz uma ponte para a troca de informações
entre as muitas áreas do córtex cerebral. Ambos os
hemisférios possuem um córtex motor, que controla e
coordena a motricidade voluntária. O córtex motor do
hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo
do indivíduo, enquanto que o do hemisfério
Figura 7: Corpo Caloso
(Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br,2012.
esquerdo controla o lado direito. Um trauma
nesta área pode causar fraqueza muscular ou paralisia no indivíduo.
Em cada hemisfério
é
possível observar uma camada
externa de substância cinzenta,
o córtex cerebral, formado por
neurônios e por células glia, e
uma
branca,
que
centro,
ocupa
o
constituída
principalmente por axônios e
também
diferentes
cerebral
quatro
por
células
partes
estão
lobos
glia. As
do
córtex
divididas
em
cerebrais
distintos: O lobo frontal que fica
localizado na região da testa; o
Figura 8: Lobos Cerebrais
(Fonte:http://www.auladeanatomia.com,2012.
lobo occipital, na região da nuca; o lobo parietal, na parte superior central da
cabeça; e os lobos temporais, nas regiões laterais da cabeça.
43
No lobo frontal, localizado na parte da frente do cérebro (testa), acontece
o planejamento de ações e movimento, bem como o pensamento abstrato. Nele
estão incluídos o córtex motor e o córtex pré-frontal.
O lobo frontal do cérebro é a parte da frente dos hemisférios cerebrais
(direito e esquerdo).
O córtex pré-frontal é responsável pelo raciocínio, pensamento, razão,
consciência, vontade, capacidade de decisão, etc. Para realizar essas funções ele
recebe impulsos nervosos de outras partes do sistema nervoso central.
O córtex motor controla e coordena a motricidade voluntária, sendo que o
córtex motor do hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo do
indivíduo, enquanto que o do hemisfério esquerdo controla o lado direito. Um
trauma nesta área pode causar fraqueza muscular ou paralisia.
A aprendizagem motora e os movimentos de precisão são executados pelo
córtex pré-motor, que fica mais ativa do que o restante do cérebro quando se
imagina um movimento sem executá-lo. A atividade no lobo frontal de um
indivíduo aumenta somente quando este se depara com uma tarefa difícil em que
ele terá que descobrir uma sequência de ações que minimize o número de
manipulações necessárias para resolvê-la.
A decisão de quais sequências de movimento ativar e em que ordem, além
de avaliar o resultado, é feito pelo córtex-frontal, localizado na parte da frente do
lobo frontal. Suas funções incluem o pensamento abstrato e criativo, a fluência
do pensamento e da linguagem, respostas afetivas e capacidade para ligações
emocionais, julgamento social, vontade e determinação para ação e atenção
seletiva.
Os lobos occipitais são localizados na parte inferior do cérebro e cobertos
pelo córtex cerebral, os lobos occipitais processam os estímulos visuais, daí
também serem conhecidos por córtex visual. Possuem várias subáreas que
processam os dados visuais recebidos do exterior depois destes terem passado
pelo tálamo, uma vez que há zonas especializadas a visão da cor, do movimento,
da profundidade, da distância e assim por diante. Depois de passarem por esta
área, chamada área visual primária, estas informações são direcionadas para a
área de visão secundária, onde são comparadas com dados anteriores,
permitindo assim o indivíduo identificar, por exemplo, um gato, uma moto ou
uma maçã. O significado do que se vê, porém, é dado por outras áreas do
44
cérebro, que se comunicam com a área visual, considerando as experiências
passadas e nossas expectativas. Isso faz com que o mesmo objeto não seja
percepcionado da mesma forma por diferentes indivíduos.
Os lobos temporais se localiza na zona acima das orelhas e com a função
principal de processar os estímulos auditivos encontram-se os lobos temporais.
Como acontece nos lobos occipitais, as informações são processadas por
associação. Quando a área auditiva primária é estimulada, os sons são
produzidos e enviados à área auditiva secundária, que interage com outras zonas
do cérebro, atribuindo um significado e assim permitindo ao indivíduo reconhecer
ao que está ouvindo.
Os lobos parietais estão localizados na região superior do cérebro,
constituídos por duas subdivisões, a anterior e a posterior. A primeira, também
chamada de córtex somatossensorial, tem a função de possibilitar a percepção de
sensações como o tato, a dor e o calor. Por ser a área responsável em receber os
estímulos obtidos com o ambiente exterior, representa todas as áreas do corpo
humano. É a zona mais sensível, logo ocupa mais espaço do que a zona
posterior, uma vez que tem mais dados a serem interpretados, captados pelos
lábios, língua e garganta. A zona posterior é uma área secundária e analisa,
interpreta e integra as informações recebidas pela anterior, que é a zona
primária, permitindo ao indivíduo se localizar no espaço, reconhecer objetos
através do tato etc.
3.2.1.2 - O Diencéfalo
O diencéfalo é uma estrutura ímpar
que só é vista na porção mais inferior de
cérebro. Ao diencéfalo compreendem as
seguintes
partes:
tálamo,
hipotálamo,
epitálamo e subtálamo, todas relacionadas
com o III ventrículo.
O diencéfalo, formado por vários
núcleos.
conjunto,
Os
maiores
formam
são
os
o tálamo,
que,
em
passagem
Figura 9: Diencéfalo
(Fonte: http://www.cerebronosso.bio.br,2012.
obrigatória para quase toda a informação que é encaminhada ao córtex cerebral.
Abaixo dele fica o hipotálamo, estrutura vital que recebe o tempo todo
45
informações sobre o estado funcional do corpo e regula todos os sistemas que
são capazes de modificar o funcionamento do corpo, inclusive através do
comportamento. Acima do tálamo fica a glândula pineal, ou epitálamo, que
também ajuda a integrar o funcionamento de corpo e cérebro. O diencéfalo é
uma estrutura que fica situada no “centro” do encéfalo, isto é, entre o tronco
cerebral e o telencéfalo e abaixo do corpo caloso. É formado pelo o hipotálamo.
Sua importância se deve sobre tudo, a sua relação com a hipófise, a qual regula o
funcionamento hormonal do corpo.
Segundo GAZZANIGA (2005), o hipotálamo é uma das regiões mais vitais
do cérebro. Ele recebe input e projeta sua influencia para quase todas as partes
do corpo. Está ligado a motivação e comportamentos que foram gerados por
esta. O hipotálamo se relaciona com a medula espinhal por onde governa muitos
órgãos e funções internas e também controla a hipófise ou a glândula pituitária, a
qual comanda outras glândulas do organismo produzindo um efeito cascata. O
hipotálamo é imprescindível para a regulação hormonal. Outra característica do
hipotálamo é comandar o desenvolvimento sexual e reprodutivo.
O hipotálamo também responsável pela homeostase corporal. Ele faz
ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, atuando na ativação de
diversas glândulas endócrinas. É o hipotálamo que controla a temperatura
corporal, regula o apetite e o balanço de água no corpo, o sono e está envolvido
na emoção. Tem amplas conexões com as demais áreas do prosencéfalo e com o
mesencéfalo. Aceita-se que o hipotálamo desempenha, ainda, um papel nas
emoções. Especificamente, as partes laterais parecem envolvidas com o prazer e
a raiva, enquanto que a porção mediana parece mais ligada à aversão, ao
desprazer e à tendência ao riso (gargalhada) incontrolável.
O tálamo, com comprimento de cerca de 3 cm, compondo 80% do
diencéfalo, consiste em duas massas ovuladas pareadas de substância cinzenta,
organizada em núcleos, com tratos de substância branca em seu interior. Em
geral, uma conexão de substância cinzenta, une as partes direita e esquerda do
tálamo.
Todas as mensagens sensoriais, com exceção das provenientes dos
receptores do olfato, passam pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral. Esta
é uma região de substância cinzenta localizada entre o tronco encefálico e o
cérebro. O tálamo atua como estação retransmissora de impulsos nervosos para
46
o córtex cerebral. Ele é responsável pela condução dos impulsos às regiões
apropriadas do cérebro onde eles devem ser processados. O tálamo também está
relacionado com alterações no comportamento emocional; que decorre, não só da
própria atividade, mas também de conexões com outras estruturas do sistema
límbico
(que
regula
as
emoções).
O Epitálamo ajuda a integrar o
funcionamento
de
cérebro.
Seu
evidente
é
glândula
endócrina
corpo
elemento
a glândula
de
e
mais
pineal,
forma
piriforme, ímpar e mediana, que
Figura 10: Estrutura do Diencéfalo
(Fonte: http://www.salonhogar.net,2012.
repousa sobre o tecto mesencefálico.
No epitálamo localiza-se a glândula pineal
(órgão endócrino) que secreta a melatonina desempenhando importante papel no
ritmo diário e no sono.
3.2.1.3 – O Sistema Límbico
O sistema límbico é um grupo de estruturas que inclui hipotálamo, tálamo,
amígdala, hipocampo, os corpos mamilares e o giro do cíngulo. Todas estas áreas
são muito importantes para a emoção e
reações emocionais. O hipocampo também é
importante para a memória e o aprendizado.
Sua função está ligada ao comportamento
emocional, memória, aprendizado, emoções e
vida vegetativa.
Em 1937, o neuroanatomista James
Papez publicou seu trabalho que propunha
uma nova teoria para explicar o mecanismo
Figura 11: Circuito de Papez
da emoção. Este mecanismo envolveria as
(Fonte: http://www.alfinal.com 2012.)
estruturas do lobo límbico, hipotálamo, tálamo, amígdala, hipocampo, os corpos
mamilares e o giro do cíngulo, hoje conhecido como circuito de Papez. Estas
estruturas compreenderiam um mecanismo harmonioso, que não só elaboraria o
processo subjetivo central da emoção, mas também participaria de sua
47
expressão. Estruturas do lobo límbico, do hipotálamo e do tálamo, todas unidas
por um circuito. Estas estruturas compreenderiam um mecanismo harmonioso,
que não só elaboraria o processo subjetivo central da emoção, mas também
participaria de sua expressão.
As estruturas envolvidas com a emoção se interligam intensamente e que
nenhuma delas é exclusivamente responsável por este ou aquele tipo de estado
emocional.
As amigdalas cerebrais são pequenas estruturas em forma de amêndoa,
situada
inferior
dentro
do
da
lobo
região
antero-
temporal,
se
interconecta com o hipocampo, os
núcleos septais, a área pré-frontal e o
núcleo dorso-medial do tálamo. Essas
conexões garantem seu importante
desempenho na mediação e controle
das atividades emocionais de ordem
Figura 12: Localização da amigdala cerebral
(Fonte:http://www. http://cienciahoje.uol.com.br ,2012.
maior, como amizade, amor e afeição,
nas
exteriorizações
do
humor
e,
principalmente, nos estados de medo e ira e na agressividade. A amigdala é
fundamental para a autopreservação, por ser o centro identificador do perigo,
gerando medo e ansiedade e colocando o animal em situação de alerta,
aprontando-se para se evadir ou lutar. A destruição experimental das amigdalas
(são duas, uma para cada um dos hemisférios cerebrais) faz com que o animal se
torne
dócil,
sexualmente
discriminativo,
afetivamente
descaracterizado
e
indiferente às situações de risco. O estímulo elétrico dessas estruturas provoca
crises de violenta agressividade. Em humanos, a lesão da amígdala faz, entre
outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma
informação vinda de fora, como a visão de uma pessoa conhecida. Ele sabe quem
está vendo mas não sabe se gosta ou desgosta da pessoa em questão.
Localizada na profundidade de cada lobo temporal anterior, funciona de modo
íntimo com o hipotálamo. É o centro identificador de perigo, gerando medo e
ansiedade e colocando o animal em situação de alerta, aprontando-se para fugir
ou lutar.
48
Hipocampo é uma estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro
humano, considerada a principal sede da memória e importante componente do
sistema límbico. Além disso, é relacionado com a navegação espacial. Esta
estrutura parece ser muito importante para converter a memória em curto prazo
em memória em longo prazo. O hipocampo atua em interação com amígdala e
está mais envolvida no registro e decifração dos padrões perceptuais do que nas
reações emocionais.
A memória e os mecanismos pelos quais esta se forma e se mantém
sempre despertaram a curiosidade humana, porque são as nossas lembranças
que nos fazem indivíduos únicos. Estudos
feitos têm demonstrado que certos compostos
orgânicos
nitrogenados,
as
poliaminas
(particularmente a espermidina, encontrada
em todas as células eucarióticas, incluindo
células do sistema nervoso de vertebrados),
têm
ação
relevante
na
modulação
do
aprendizado e da memória.
Há evidências de que, dependendo do
tipo de memória, sua formação envolve mais
de um mecanismo bioquímico. Também se
Figura 13: Localização do hipocampo
constatou que os mecanismos pelos quais
(Fonte: http://pt.wikipedia.org, 2012.)
formamos a memória de um fato (aprendizado)
são diferentes dos que usamos para evocá-la (lembrança). Experiências mostram
que a formação da memória de longa duração depende de eventos relacionados à
síntese protéica. O aumento na síntese protéica é apenas uma das modificações
cerebrais observadas durante o processo de formação de memória. Antes desse
aumento ocorrem alterações na liberação de neurotransmissores, moléculas
responsáveis pela comunicação entre os neurônios, e na eficiência dessa
comunicação em certas estruturas cerebrais (como o hipocampo, o córtex
cerebral e outras). Estes parecem ser eventos neuroquímicos primários para a
formação da memória.
Um dos principais neurotransmissores liberados pelos neurônios localizados
nas áreas cerebrais envolvidas na formação da memória é o glutamato. Ao ser
liberado, ele se liga a receptores específicos nos neurônios-alvos, provocando
49
alterações que ativam mecanismos relacionados à síntese protéica e levam tais
neurônios a formar novas conexões com outros. Essa alteração nas conexões
neuronais tem sido chamada de ‘plasticidade sináptica’. Tais processos podem ser
modulados não só pelo glutamato, mas também por outros neurotransmissores,
entre eles dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, ácido gamaaminobutírico e poliaminas. Estes são liberados por neurônios presentes no
hipocampo ou em estruturas cerebral adjacentes, como a amígdala, envolvida na
percepção e modulação do medo e de outras emoções.
Lesões no hipocampo impedem a pessoa de construir novas memórias e a
pessoa tem a sensação de viver num lugar estranho onde tudo o que
experimenta simplesmente se desvanece, mesmo que as memórias mais antigas
anteriores à lesão permaneçam intactas.
A importância dos núcleos na regulação do comportamento emocional
possivelmente decorre não de uma atividade própria, mas das conexões com
outras estruturas do sistema límbico. O núcleo dorso-medial conecta com as
estruturas corticais da área pré-frontal e com o hipotálamo. Os núcleos anteriores
ligam-se aos corpos mamilares no hipotálamo (e através destes, via fornix, com o
hipocampo) e ao giro cingulado.
O hipotálamo é parte mais importante do sistema límbico. Além de seus
papéis no controlo do comportamento, essas áreas também controlam várias
condições internas do corpo, como a temperatura, o impulso para comer e beber,
etc. Essas funções internas são em conjunto denominadas funções vegetativas do
encéfalo, e seu controlo está relacionado com o comportamento. Ele mantém vias
de comunicação com todos os níveis do sistema límbico. O hipotálamo
desempenha, ainda, um papel nas emoções. Especificamente, as partes laterais
parecem envolvidas com o prazer e a raiva, enquanto que a porção mediana
parece mais ligada à aversão, ao desprazer e a tendência ao riso (gargalhada)
incontrolável.
3.3 – TRONCO EENCEFALO – MESENCÉFALO, PONTE E BULBO
Tronco encefálico interpõe-se entre a medula e o diencéfalo, situando-se
ventralmente ao cerebelo, ou seja, conecta a medula espinal com as estruturas
encefálicas localizadas superiormente. A substância branca do tronco encefálico
inclui tratos que recebem e enviam informações motoras e sensitivas para o
50
cérebro e também as provenientes dele. O tronco encefálico é responsável
pelas funções de postura e equilíbrio, controle da respiração, frequência
cardíaca, pressão arterial, reflexos alimentares e por conter núcleos motores e
sensoriais executam funções motoras e sensoriais para regiões da face e
cabeça.
O
tronco
encefálico
se
divide
em:
bulbo,
situado
caudalmente,
mesencéfalo, e a ponte situada entre ambos.
3.3.1 – Mesencéfalo
O mesencéfalo está localizado ao lado do tálamo e hipotálamo, e é
responsável pelos reflexos visuais e auditivos. O mesencéfalo se estende da
porção inferior do diencéfalo até a ponte. Como o resto das estruturas do tronco
encefálico, o mesencéfalo recebe e envia
informações motoras
e sensitivas. O
mesencéfalo também contém núcleos que
funcionam como centros reflexos para a
visão e para a audição.
3.3.2 – A Ponte
A ponte se estende do mesencéfalo
até
o
bulbo,
sendo
composta
principalmente por tratos que atuam como
Figura 14: Tronco encefálico
(Fonte: http://www.afh.bio.br 2012.
uma ponte para informações que chega e sai
das diversas formações importantes do encéfalo. A ponte também tem papel
importante na regulação do padrão e ritmo respiratórios. Lesões nessa estrutura
podem causar graves distúrbios no ritmo respiratório.
3.3.3 – O Bulbo ou Medula Oblonga
O bulbo conecta a medula espinhal com a ponte. Contém vários tratos que
atuam recebendo e enviando as informações motoras e sensitivas. Muitos núcleos
importantes estão situados no interior do bulbo, controlando o ritmo cardíaco, a
51
pressão sanguínea e a respiração. Em razão se sua importância com relação às
funções vitais, o bulbo é muitas vezes chamado de centro vital. O bulbo é
também extremamente sensível a certas drogas, especialmente os narcóticos.
Uma dose excessiva de um narcótico causa depressão do bulbo e morte porque a
pessoa para de respirar.
3.4 – CEREBELO
Situado atrás do cérebro está o cerebelo, que é primariamente um centro
para o controle dos movimentos iniciados pelo córtex motor (possui extensivas
conexões com o cérebro e a medula espinhal). Como o cérebro, também está
dividido em dois hemisférios.
Porém,
ao
contrário
dos
hemisférios cerebrais, o lado
esquerdo do cerebelo está
relacionado
com
movimentos
do
os
lado
esquerdo do corpo, enquanto
o
lado
direito,
movimentos
do
com
lado
os
direito
Figura 15: Localização do Cerebelo
do
(Fonte:http://www.auladeanatomia.com,2012.
corpo.
O cerebelo recebe informações do córtex motor e dos gânglios basais de
todos os estímulos enviados aos músculos. A partir das informações do córtex
motor sobre os movimentos musculares que pretende executar e de informações
proprioceptivas que recebe diretamente do corpo (articulações, músculos, áreas
de pressão do corpo, aparelho vestibular e olhos), avalia o movimento realmente
executado. Após a comparação entre desempenho e aquilo que se teve em vista
realizar, estímulos corretivos são enviados de volta ao córtex para que o
desempenho real seja igual ao pretendido. Dessa forma, o cerebelo relacionase com os ajustes dos movimentos, equilíbrio, postura e tônus muscular.
52
CAPÍTULO IV – A NEUROCIENCIA, A ALFABETIZAÇÃO E A MÚSICA
Os avanços e descobertas na área da neurociência ligada ao processo de
aprendizagem é sem duvida, uma revolução para o meio educacional. A
neurociência da aprendizagem, em termos gerais, é o estudo de como o cérebro
aprende. É o entendimento de como as redes neurais são estabelecidas no
momento da aprendizagem, bem como de que maneira os estímulos chegam ao
cérebro, da forma como as memórias se consolidam, e de como temos acesso a
essas informações armazenadas.
Para a criança aprender a ler várias partes do cérebro precisam ser
mobilizadas. Segundo ROCHA (1999), o hemisfério esquerdo especializa-se no
processamento das informações verbais, seriais e temporais, na maioria das
pessoas. O hemisfério direito torna-se dominante nas análises visuais, espaciais e
holísticas. Esta especialização hemisférica determina as características do sistema
neural envolvido na leitura.
Conforme o autor, as palavras encontradas no
campo visual esquerdo seriam identificadas pelo hemisfério direito, sendo
processadas no hemisfério esquerdo. No entanto, a análise das relações espaciais
partilhadas pelas diferentes palavras é mais bem analisada pelo hemisfério
direito. O resultado das análises deste processamento vai de um hemisfério a
outro através das porções posteriores do corpo caloso.
Para ROCHA (1999), a principal área cortical responsável pelo controle da
fonação é chamada de Área de Broca. Conforme o autor, a motricidade dos
músculos da face, língua, faringe e laringe, são controlados pelos nervos
cranianos. Portanto, o papel da área de Broca é organizar os atos motores para
produzir distintos fonemas que constituem palavras de uma frase. O autor afirma
que parte desta informação é enviada, ao mesmo tempo em que é transmitida
para os núcleos dos nervos cranianos. O cerebelo é responsável pela sequencia
dos movimentos na fala e pela monitoração da fonação, ou seja, se o ato motor
foi executado da forma anteriormente planejada.
O aprendizado da leitura depende do envolvimento de várias áreas. Uma
área visual mais específica, denominada occipital, se encarrega em reconhecer as
formas visuais das letras. Essa área deve se relacionar com a área temporal
verbal que produz os sons para que possamos fonar as letras, sílabas e palavras
escritas.
53
Paralelamente, porém, o cérebro cria conexões diretas entre a área visual
de reconhecimento de conjuntos de letras e as áreas de memória semântica.
Dessa forma, a leitura se torna mais rápida e menos trabalhosa, pois ela não
precisa decifrar todas as letras da palavra, descobrir sua pronúncia completa e só
então saber do que se trata aquilo que está escrito. Ela conecta alguns neurônios
envolvidos no reconhecimento de apenas algumas letras da palavra com os
neurônios responsáveis pela sua semântica, e a partir da semântica se torna
capaz de fonar a palavra.
LENT (2002) analisa as imagens cerebrais durante a leitura e detectou a
participação das regiões do córtex visual na face do hemisfério esquerdo e de
regiões parietal e temporal, inclusive a área de Wernick. Houve também a
participação do córtex pré-frontal inferior esquerdo na área de Broca.
Toda informação sensoriais do ser humano, seja visual, tátil, auditivo,
gustativo e olfativo passa pelo tálamo, que é responsável pela condução dos
impulsos às regiões apropriadas do cérebro onde eles devem ser processados.
Este que irá encaminhar o estímulo para o lobo correspondente. Sendo assim ao
iniciar o processo de leitura a criança percebe o estimulo pelo sentido da visão,
este estímulo passa pelo nervo óptico e se encaminha para o tálamo e este
manda a informação para o lobo occipital. Do lobo occipital a mensagem é
enviada para área de Wernick que é a área da compreensão, responsável pelo
conhecimento, interpretação e associação das informações. Ao interpretar fazer
associações esta mensagem é encaminhada para a área de Broca que
é responsável
pelo
processamento
da
linguagem,
produção
da
fala
e
compreensão e a criança consegue ler a palavra.
LIMA (2007) ressalta que para a criança ao conseguir se expressar, esta
fala está carregada de emoção. Estas emoções estão presentes em diversos tipos
de aprendizagem, pois só se aprende com formação e novas memórias e os
processos de memória, por sua vez está modulado pela emoção. Isto quer dizer o
processo de aprendizagem está diretamente ligado ao sistema límbico, parte do
cérebro onde se se originam as emoções, participando de todo o processo de
aprendizagem.
Além desta mobilização é necessário que se formem redes neurais
estáveis para que se criem memórias. Toda aprendizagem envolve novas
memórias ou a ampliação da que se tem. A formação de novas memórias pode
54
estar ligada a processos da percepção ou ligada a processos do pensamento. O
desenvolvimento da memória depende do apoio externo, fornecidos pelos
sentidos.
Ler é compreender, se não há compreensão do significado do que estiver
escrito e não houver a possibilidade de aprimorar do significado a partir de um
trabalho com um texto, não há leitura. Decodificar não é leitura, mas faz parte do
ato de ler, assim como transformar em sons , os símbolos percebidos pela visão.
As redes neurais são formadas a partir da interação da criança com os
produtos culturais de escrita e do ensino dos comportamentos de leitura, além
das atividades que desenvolvam no cérebro os processos necessários para a
compreensão do significado.
VYGOSTSKY e PIAGET acreditam que a linguagem ocorre por uma
predisposição genética, mas a atividade cerebral por si só não basta para
justificar um comportamento linguístico, este resulta de um desenvolvimento
cognitivo
e
de
um conteúdo cultural e
social que
é decisivo
em seu
desenvolvimento.
É a utilização da música e/ou de seus elementos (som, ritmo, melodia e
harmonia) no processo de alfabetização vem facilitar e promover comunicação,
relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão, organização e outros
objetivos, a fim de atender às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e
cognitivas. A música busca desenvolver potenciais e/ou restaurar funções do
indivíduo
para
que
ele
alcance
uma
melhor
integração
intrapessoal
e
consequentemente, uma melhor qualidade de vida.
A música favorece a cognição, a afetividade, a psicomotricidade, a
comunicação e a cooperação, fatores essenciais na alfabetização. Ela facilita a
integração
intra/interpessoal
e
ao
mobilizar
aspectos
biopsicossociais,
desbloqueia emoções, facilitando a emergência de situações conflituosas que
podem ser então, reelaboradas.
A música pode beneficiar a alfabetização em virtude de ela melhorar a
atenção, o ritmo, a organização espaço-temporal, a discriminação auditiva,
reduzir a ansiedade, etc. Kodaly (apud BARRETO, 2005) utilizou o folclore como
base do processo de alfabetização, melhorando o canto, a audição, a leitura e a
escrita. Cabe ao educador, levar o aluno a expressar-se criativamente através
dos elementos sonoros, pois o domínio dos esquemas de expressão, é
55
fundamental para se tornar um ser ativo, critico e criativo, recriando a própria
música PENNA (apud NEGRÃO, 1990). Portanto, a Educação Musical não se
restringe apenas ao estudo ou ensino de um instrumento musical. Ao contrário,
ela visa o desenvolvimento integral do educando.
Há música que possui ritmos característicos os quais são transformados em
estímulos nervosos numa frequência determinada, chegando ao tálamo este
também envia estímulos numa frequência tal para o hipotálamo, córtex préfrontal ou outro centro nervoso no cérebro. O hipotálamo entende essa
frequência como uma ordem para influenciar as glândulas periféricas, através dos
hormônios da hipófise, a fim de liberar seus hormônios, os quais irão aumentar
ou diminuir as funções dos órgãos específicos. De acordo com o ritmo da música,
serão enviados estímulos elétricos em frequências diferentes. Cada frequência
alcança locais diferentes no cérebro e pode influenciar funções diferentes ou
diferentes comportamentos.
Portanto, estímulos nervosos enviados pelo ouvido, provocados pelo som,
chegam até o tálamo e ele envia, também, estímulos nervosos para o centro das
emoções, para o córtex pré-frontal e para o hipotálamo.
A música na escola tem por finalidade ajudar o desenvolvimento infantil e
tudo isto se torna subsídio interessante e imprescindível para nossa compreensão
e ação pedagógica. Os neurônios espelho, que possibilitam a espécie humana
progressos na comunicação, compreensão e no aprendizado. A plasticidade
cerebral, ou seja, o conhecimento de que o cérebro continua a desenvolver-se, a
aprender e a mudar, até à senilidade ou à morte também altera nossa visão de
aprendizagem e educação. Ela nos faz rever o fracasso e as reduzir o índice de
estresse dos educandos, facilitando o processo que conduz ao autoconhecimento
e melhor utilização do potencial individual para ser e estar melhor em domínios
tais como: a independência, a liberdade de mudança, a adaptabilidade, o
equilíbrio, a integração e melhor rendimento em sala de aula. Ela contém um
elemento de prazer; e segundo as neurociências, o que é acompanhado de prazer
parece ficar gravado mais profundamente no espírito. Assim, considerando que a
musicalização parece reduzir o nível estresse da vida diária, favorecendo o
equilíbrio psicossomático, a atenção e o ajuste do tônus.
56
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contribuição da neurociência para a sala de aula é o conhecimento
sobre a memória, o esquecimento, o tempo, o sono, a atenção, o medo, o humor,
a afetividade, o movimento, os sentidos, a linguagem, as interpretações das
imagens que fazemos mentalmente, o "como" o conhecimento é incorporado em
representações dispositivas, às imagens que formam o pensamento, o próprio
desenvolvimento infantil e diferenças básicas nos processos cerebrais da infância,
dificuldades
de
aprendizagem,
pois
existem
inúmeras
possibilidades
de
aprendizagem para o ser humano, do nascimento até a morte.
Ao brincar, a criança mobiliza áreas do cérebro que fazem parte da
aquisição da leitura. Brincadeiras de cantiga levam ao desenvolvimento da rima,
da melodia e do ritmo, que são áreas igualmente mobilizadas pelo ato de ler.
Redes neurais são formadas no córtex motor quando a criança realiza
brincadeiras com movimentos repetitivos, desenvolvendo a coordenação motora
de certos movimentos que serão utilizados para escrever.
Ao
utilizar as
parlendas, advinhas
e
cantigas
infantis
o
professor
desenvolve o léxico e estrutura da fala. Com o suporte cultural a criança terá
mais elementos para apropriar-se da escrita.
O foco da educação tem sido o conhecimento a ser ensinado de maneira
mecânica e igual a todos os alunos, sem a devida atenção à individualidade. Por
sua vez os alunos, acostumados a perceber.
O mundo a partir da visão do docente aceita passivamente essa proposta
pedagógica, desempenhando um papel de receptor de informações, as quais nem
sempre são compreendidas e geram conhecimento. Muitas pesquisas no campo
educativo apontam o professor como um dos principais protagonistas da
educação (DEMO, 2001).
Para a escola, levar em consideração o desenvolvimento do cérebro não é
uma opção teórica, mas uma necessidade, pois a aprendizagem ocorre em função
do desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Quando o educador tem acesso
ao conhecimento do desenvolvimento humano, ele tem a possibilidade de ajustar,
adaptar ou criar suas formas de ensinar.
É fundamental que professores estimulem individualmente a inteligência
das crianças, empregando técnicas que permitam a cada aluno aprender da
57
maneira que é melhor para ele, aumentando sua motivação para o aprendizado.
Educar é promover a aquisição de novos comportamentos. As estratégias
pedagógicas utilizadas pelo educador no processo ensino-aprendizagem são
estímulos que levam à reorganização do sistema nervoso em desenvolvimento, o
que produz as mudanças comportamentais. O educador está cotidianamente
atuando nas transformações neurobiológicas que levam à aprendizagem.
Partindo desse pressuposto, ao professor cabe oferecer, através de sua
prática, um ambiente que respeite as diferenças individuais permitindo que os
educandos se sintam estimulados do ponto de vista intelectual e emocional. Por
isso a necessidade do educador, consciente de seu papel de interventor
responsável pela mediação da informação. Estruturar o ensino de modo que os
alunos possam construir adequadamente os conhecimentos a partir de suas
habilidades mentais. E para isso, é imprescindível que conheçam os significativos
estudos da neurociência, uma vez que esses, sem dúvida, influenciam na
compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem.
Os estudos mostram que o diálogo entre a neurociência e a educação é
mais do que nunca preciso, pois a ciência traz o conhecimento sobre o cérebro
auxiliando o professor na elaboração de uma didática pautada nos processos
mentais em cada período de desenvolvimento do educando.
A neurociência é e será um poderoso auxiliar na compreensão do que é
comum a todos os cérebros e poderá dar respostas a importantes questões sobre
a aprendizagem humana, podendo utilizar as novas descobertas na prática
educativa. A imaginação, os sentidos, o humor, a emoção, o medo, o sono, a
memória são alguns dos temas abordados e relacionados com o aprendizado e a
motivação. A aproximação entre a neurociência e a pedagogia é uma contribuição
valiosa para o professor. O cérebro se desenvolve através dos fatores de ordem
sociocultural, sendo assim ele assume um caráter pessoal, único, pois suas redes
cerebrais são próprias e específicas da historia de vida de cada um.
58
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_gt4%20pdf
/a%20influ%cancia%20da%20linguagem%20musical%20na%20educa%c7%c3o
%20infanti1.pdf , acessado em 25 de janeiro de 2012.
ABREU. Alberto FILOSOFIA, EDUCAÇÃO, SOCIOLOGIA & PSICOLOGIA. In
http://albertoabreu.wordpress.com/2006/07/18/psicologia-da-infancia-de-wallon/
Acessado em 02 de fevereiro de 2012.
ALMEIDA, A. R. S. (1999) A emoção na sala de aula. Campinas: Papirus
BERLESE. Daiane Bolzan, Nossas lembranças para sempre? Estudo revela papel
importante
da
espermidina
na
memória
in
http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/memoria/memoria146.htm acessado
em 02 de fevereiro de 2012.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental, (1998). Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.
Brasília: MEC/SEF, v. 3.
CAVALCANTE, R. Música na cabeça. In: www.habro.com.br, acessado em 10 de
fevereiro de 2004.
COSTA. Mercês do Socorro Rodrigues, Alfabetização: uma análise das dificuldades
encontradas pelos alunos em fase inicial de leitura e escrita in
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/monografias/alfabetizacao_uma_analis
e.pdf acessado em 31 de janeiro de 2012.
FREIRE, P. Pedagogia da esperança. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
GÓES Raquel Santos; A música e suas possibilidades no desenvolvimento da
criança e do aprimoramento do código linguístico.
http://bib.pucminas.br/teses/Educacao_LoureiroAM_1.pdf Acessado em 31de
janeiro de 2012.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=326
Acessado em 31de janeiro de 2012.
http://pt.scribd.com/doc/58331770/MONOGRAFIA-Ana-Rita-10#outer_page_14
Acessado em 03 de janeiro de 2012.
http://revistas.udesc.br/index.php/udescvirtual/article/viewFile/1932/1504
Acessado em 31de janeiro de 2012.
59
http://revistas.udesc.br/index.php/udescvirtual/article/viewFile/1932/1504
Acessado em 21de janeiro de 2012.
http://www.cerebronosso.bio.br/branca-cinzenta/ Acessado em 03 de fevereiro
de 2012
http://www.musicaeadoracao.com.br/efeitos/corpo_mente/musica_desenvolvime
nto.htm Acessado em 31de janeiro de 2012.
http://www.webartigos.com/artigos/contribuicoes-da-neurociencia-para-aformacao-de-professores/4590/ Acessado em 21de janeiro de 2012.
JOLY, Ilza, Zenker, Leme, (2003). Educação e educação musical: conhecimentos
para compreender a criança e suas relações com a música. In:____.
HENTSCHKE, L; DEL BEN, L. (Orgs.). Ensino de música: propostas para pensar e
agir em sala de aula. São Paulo: Ed. Moderna. Cap. 7.
LEITE. Sérgio Antônio da Silva. Afetividade em sala de aula – As condições do
ensino e a mediação do professor in http://www.fe.unicamp.br/alle/textos/SASLAAfetividadeemSaladeAula.pdf. Acessado em 02 de fevereiro de 2012.
LIMA. Maria da Glória Sá, A Afetividade E Suas Relações No processo De Ensino
E Aprendizagem in http://pt.scribd.com/doc/9291600/Afetividade-No-ProcessoEnsino-Aprendizagem. Acessado em 02 de fevereiro de 2012.
MÁRSICO, Leda Osório. A criança e a música: um estudo de como se processa o
desenvolvimento musical da criança. Rio de Janeiro: Globo, 1982.
NEGRÃO. Alexandra Maria Góes, Neurofisiologia da Linguagem: Como O Cérebro
Funciona
na
Comunicação
in
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/artigos_revistas/103.pdf. Acessado
em 02 de fevereiro de 2012
O PROFESSOR ALFABETIZADOR NO CONTEXTO DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL.
http://www.webartigos.com/artigos/o-professor-alfabetizador-no-contexto-daalfabetizacao-no-brasil/19354/ . Acessado em 31 de janeiro de 2012.
OSTRANDER, L. e SCHOEDER, L. Super-aprendizagem pela sugestologia. Rio de
Janeiro: Record, 1978.
60
RIBEIRO. Cristiane. As contribuições de Piaget e Vygotsky para a formação do
professor
(a)
da
educação
infantil
de
0
a
6
anos.
In
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/monografias/as_contribuicoes_de_piag
et_e_vygotsky.pdf acessado em 02 de fevereiro de 2012.
ROCHA, A. F. O Cérebro – Um Breve Relato de sua Função. São Paulo: Fapesp,
1999.
ROCHA. Halline Fialho da; Alfabetizar letrando: Um repensar da aquisição da
língua escrita in http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/let02.pdf acessado em 31
de janeiro de 2012.
SNYDERS, Georges. A escola pode ensinar as alegrias da música? 2. ed. São
Paulo: Cortez, 1994.
SOARES. Magda, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CAMINHOS E DESCAMINHOS.
http://pt.scribd.com/doc/18892732/Artigo-Alfabetizacao-e-Letramento-MagdaSoares1. Acessado em 31de janeiro de 2012.
VIGOTSKY. L.S; A formação social da mente – 7ª ed. São Paulo: Martins
Fontes,2007
WALLON, H. (1989) As origens do pensamento na criança. São Paulo:Manole
WALLON, H. (1998) A evolução psicológica da criança. Lisboa, Edições 70
WEIGEL, Anna Maria Gonçalves. Brincando de Música: Experiências com Sons,
Ritmos, Música e Movimentos na Pré-Escola. Porto Alegre: Kuarup, 1988.
WOODAL & ZIEMBROSKI. Laura e Brenda. Promover a alfabetização através da
Música.
In
http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.songsforteaching.com/lb/literacymusic.ht,
acessado em 25 de janeiro de 2012.
61
INDICE
AGRADECIMENTOS ....................................................................................... 3
DEDICATÓRIA .............................................................................................. 4
RESUMO ...................................................................................................... 5
METODOLOGIA ............................................................................................. 6
SUMÁRIO .................................................................................................... 7
INTRODUÇÃO: ............................................................................................. 8
CAPÍTULO I – PROCESSO DA APRENDIZAGEM .................................................. 9
1.1 As Teorias da Aprendizagem................................................................ 10
1.1.1 – Teoria Sócio Interacionista – Vygotsky ......................................... 11
1.1.2 – A Teoria Psicogenética - Henry Wallon....................................... 13
1.1.3 - A Teoria da Construção do Conhecimento – Jean Piaget ................. 15
1.2 - Processo de Aquisição da leitura e Escrita .......................................... 18
1.3 - O Papel do professor no Processo de Aprendizagem ........................... 24
CAPITULO II – EDUCAÇÃO MUSICAL NO ENSINO FUNDAMENTEAL, UMA QUESTÃO
APENAS DE CUMPRIR A LEI? .................................................................................. 27
2.1 – A Linguagem Musical ....................................................................... 28
2.2 - A Musica no Contexto Escolar ............................................................ 31
2.3 – A Música e a Alfabetização ............................................................... 34
CAPÍTULO III – A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA ....................................... 37
3.1 – Sistema Nervoso ............................................................................. 38
3.2 – O cerébro Humano .......................................................................... 40
3.2.1 – O Cérebro - Telencéfalo e o diencéfalo ....................................... 42
3.2.1.1 – O Telencéfalo ........................................................................ 42
3.2.1.2 - O Diencéfalo ........................................................................... 45
3.2.1.3 – O Sistema Límbico .................................................................. 47
3.3 – Tronco Eencefalo – Mesencéfalo, Ponte e Bulbo .................................. 50
3.3.1 – Mesencéfalo .............................................................................. 51
3.3.2 – A Ponte .................................................................................... 51
3.3.3 – O Bulbo ou Medula Oblonga ........................................................ 51
3.4 – Cerebelo ........................................................................................ 52
CAPÍTULO IV – A NEUROCIENCIA, A ALFABETIZAÇÃO E A MÚSICA ................... 53
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 57
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................... 59
INDICE ...................................................................................................... 62
62