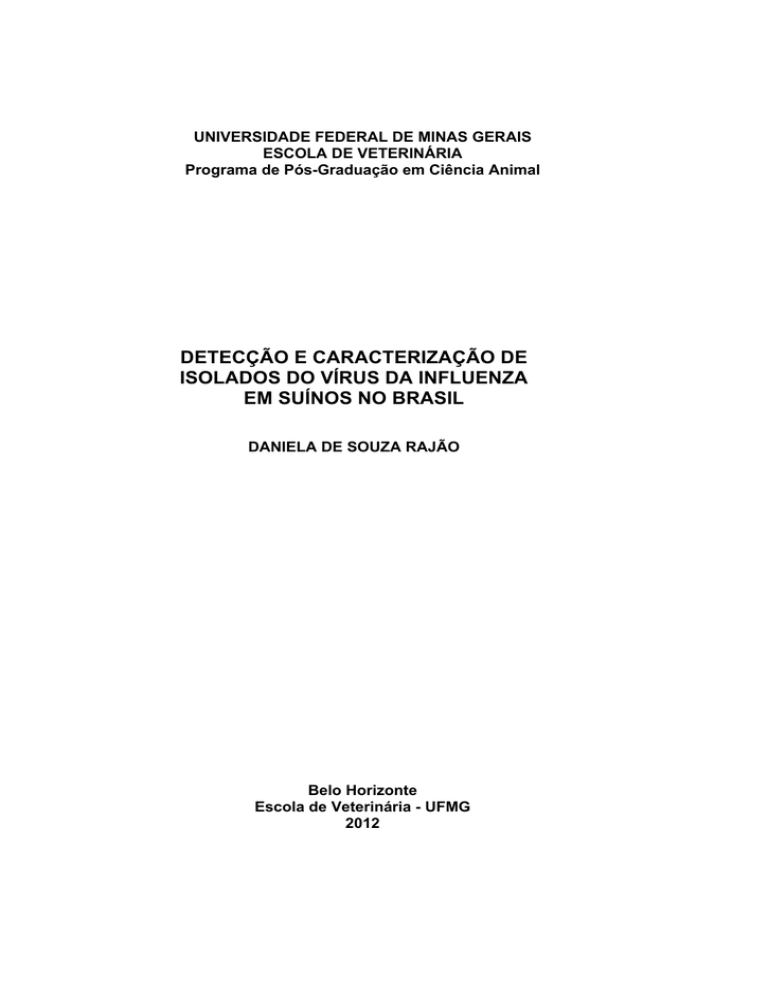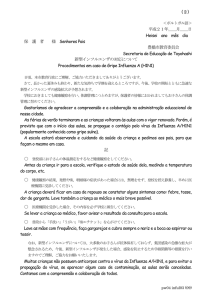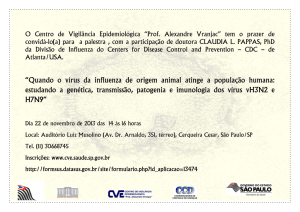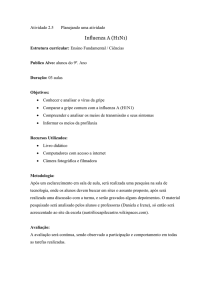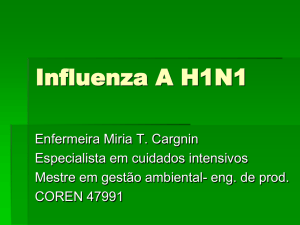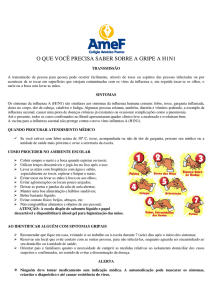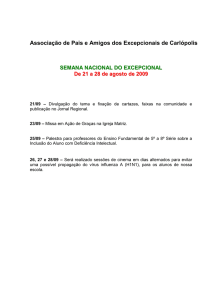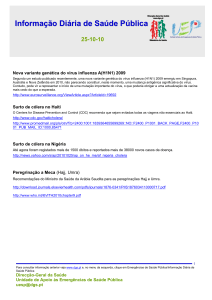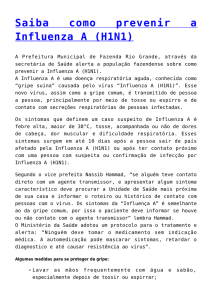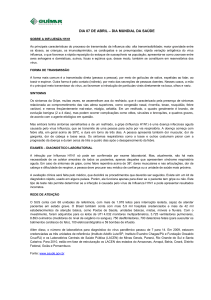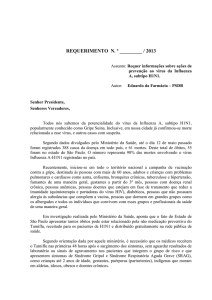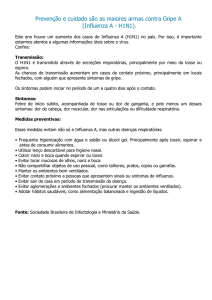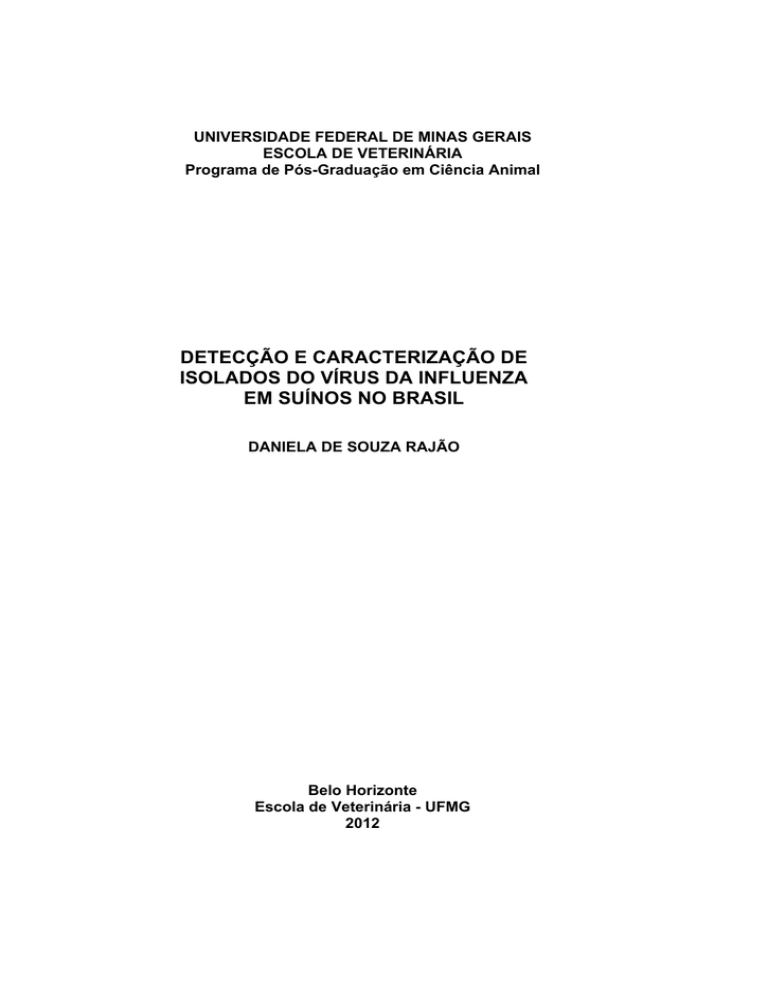
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE VETERINÁRIA
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal
DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
ISOLADOS DO VÍRUS DA INFLUENZA
EM SUÍNOS NO BRASIL
DANIELA DE SOUZA RAJÃO
Belo Horizonte
Escola de Veterinária - UFMG
2012
Daniela de Souza Rajão
DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DO
VÍRUS DA INFLUENZA EM SUÍNOS NO BRASIL
Tese apresentada à Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para
obtenção do grau de Doutor em Ciência Animal.
Área de concentração: Medicina Veterinária Preventiva.
Orientador: Prof. Rômulo Cerqueira Leite
Co-orientadores: Profa. Zélia Inês Portela Lobato
Prof. Roberto Maurício Carvalho Guedes
Belo Horizonte
Escola de Veterinária - UFMG
2012
1
R161d
Rajão, Daniela de Souza, 1983Detecção e caracterização de isolados do vírus da influenza em
suínos no Brasil / Daniela de Souza Rajão. – 2012.
90p. : il.
Orientador: Rômulo Cerqueira Leite
Co-orientadores: Zélia Inês Portela Lobato, Roberto Maurício
Carvalho Guedes
Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola
de Veterinária
Inclui bibliografia
1. Suíno – Doenças – Teses. 2. Vírus da influenza – Teses. 3.
Imunohistoquímica – Teses. 4. Reação em cadeia da polimerase –
Teses. I. Leite, Rômulo Cerqueira. II. Lobato, Zélia Inês Portela. III.
Guedes, Roberto Maurício Carvalho. IV. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Veterinária. V. Título.
CDD – 636.408 96
2
3
4
Dedico esta realização aos meus pais, Cid e Cecília, por serem
meus maiores incentivadores; à minha irmã, Juliana, pelo
companheirismo; ao Thiago, pelo carinho; ao avô Roberto, por
ter sido minha inspiração, mesmo que distante.
5
6
AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, por serem meu exemplo de sucesso e me fazerem querer ser sempre melhor. À
minha irmã e meu cunhado, pela amizade e apoio para desabafar nos momentos de tensão. Ao
Thiago, pelo carinho e por ter entrado na minha vida para torná-la mais feliz. Sem vocês eu não
teria conseguido!
Ao Professor Rômulo Cerqueira Leite, exemplo profissional e principal motivador, sem o qual
esta e outras conquistas não seriam possíveis. Foi o senhor quem fez tudo acontecer!
À Professora Zélia Inês Portela Lobato e ao Professor Roberto Maurício Carvalho Guedes,
essenciais para a realização deste doutorado, pelo incentivo e apoio constantes, pela paciência e
por todos os ensinamentos.
Aos membros da banca, Dra. Janice Reis Ciacci-Zanella, Dr. Jorge Caetano Júnior, Dr. Marcos
Bryan Heinemann e Dr. Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, pelas contribuições para aprimorar
este trabalho.
Aos Laboratórios Ipeve e Microvet, e ao Médico Veterinário José Eustáquio Cavalcante, pelo
fornecimento das amostras utilizadas neste estudo.
À EMBRAPA Suínos e Aves, ao LANAGRO Minas Gerais e ao Dr. Alexandre Machado, pelo
fornecimento das amostras referência de vírus influenza. Ao Dr. Kurt Rossow pelo
fornecimento de controle positivo para a Imuno-histoquímica.
Aos colegas Diego Hussin, Marcela Gasparini e Bruno Brasil pelo imenso auxílio no
desenvolvimento deste estudo, indispensáveis para a conclusão desta tese.
Aos Professores Jenner Karlisson Pimenta dos Reis e Marcos Bryan Heinemann, que fizeram
parte de toda a minha trajetória na Escola de Veterinária e foram essenciais para o meu
crescimento.
Às amigas do Retrolab, Fernanda, Helen, Fabiana e Gissandra, pela ajuda na elaboração deste
trabalho e por tornarem os momentos no laboratório mais prazerosos. Aos demais companheiros
do Retrolab, pelas opiniões e ideias, sempre bem-vindas.
À Dra. Amy Vincent, por abrir as portas para um novo mundo na pesquisa, e por proporcionar
meu crescimento profissional e pessoal ao me receber em seu laboratório. À Dra. Crystal
Loving, não só pelos ensinamentos, mas por fazer a minha estadia nos EUA inesquecível.
Aos amigos do Swine Lab, no USDA, em especial à Pravina Kitikoon, Jamie Henningson, Doug
Braucher e Phill Gauger, pela acolhida e pelos ótimos momentos vividos juntos.
Aos amigos da veterinária e do colégio, em especial às amigas Jú, Flávia, Lets, Marcela e Fê,
pelos maravilhosos momentos de descontração para reduzir a tensão do dia-a-dia.
Aos funcionários do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, em especial ao
Eduardo, Grazielle, Graciela, Anita e Doraci, pela disponibilidade e apoio. Ao Colegiado de
Pós-Graduação, pelo acompanhamento e auxílio.
À CAPES pelo apoio financeiro ao meu doutorado e ao CNPq/Labex pelo apoio financeiro ao
doutorado SWE; ao CNPq e à FAPEMIG, pelo financiamento deste projeto. Ao INCT-Pecuária
pelo apoio a este projeto.
7
SUMÁRIO
ABREVIAÇÕES E SIGLAS ..................................................................................................... 13
RESUMO .................................................................................................................................... 15
ABSTRACT ................................................................................................................................ 16
INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 17
CAPÍTULO 1: REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................... 18
Classificação e caracterização do vírus Influenza ....................................................................... 18
Genes e proteínas virais ............................................................................................................... 19
Restrição de hospedeiros ............................................................................................................. 20
Evolução genética do vírus Influenza .......................................................................................... 20
Histórico do vírus Influenza em suínos ....................................................................................... 21
Epidemiologia .............................................................................................................................. 21
Influenza suína e saúde pública ................................................................................................... 23
H1N1 pandêmico 2009 ................................................................................................................ 24
Patogênese ................................................................................................................................... 24
Sinais clínicos e lesões ................................................................................................................. 25
Resposta imune ............................................................................................................................ 26
Diagnóstico .................................................................................................................................. 27
Prevenção e vacinação ................................................................................................................. 28
CAPÍTULO 2: EVIDÊNCIA SOROLÓGICA DA CIRCULAÇÃO DO VÍRUS
INFLUENZA EM SUÍNOS DE MINAS GERAIS, BRASIL ................................................ 31
Introdução .................................................................................................................................... 31
Material e Métodos ...................................................................................................................... 31
Resultados .................................................................................................................................... 33
Discussão ..................................................................................................................................... 34
CAPÍTULO 3: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO- PATOLÓGICA
DO VÍRUS INFLUENZA EM SUÍNOS NO BRASIL ........................................................... 36
Introdução .................................................................................................................................... 36
Material e Métodos ...................................................................................................................... 36
1. Amostras clínicas ............................................................................................................. 36
2. Isolamento viral em cultivo celular .................................................................................. 37
3. Reação de hemaglutinação (HA)...................................................................................... 38
4. Imunocitoquímica............................................................................................................. 38
5. Titulação viral de amostras isoladas................................................................................. 38
8
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Extração de RNA e transcrição reversa............................................................................ 38
PCR em tempo real .......................................................................................................... 39
Clonagem e construção da curva padrão .......................................................................... 40
Quantificação de amostras positivas pela PCRrt.............................................................. 41
Diagnóstico histológico e imuno-histoquímico ............................................................. 41
Análise estatística .......................................................................................................... 41
Resultados .................................................................................................................................... 42
1. Achados clínicos .............................................................................................................. 42
2. Isolamento viral, hemaglutinação e imunocitoquímica.................................................... 42
3. RT-PCR em tempo real e quantificação ........................................................................... 42
4. Diagnóstico histológico e imuno-histoquímico................................................................ 44
Discussão ..................................................................................................................................... 46
CAPÍTULO 4: PERFIL SOROLÓGICO PARA O VÍRUS DA INFLUENZA EM
GRANJAS COMERCIAIS DE SUÍNOS NO BRASIL .......................................................... 48
Introdução .................................................................................................................................... 48
Material e Métodos ...................................................................................................................... 48
Resultados .................................................................................................................................... 50
Discussão ..................................................................................................................................... 53
CAPÍTULO 5: CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DOS VÍRUS INFLUENZA
ISOLADOS DE SUÍNOS NO BRASIL EM 2009 E 2010 ...................................................... 57
Introdução .................................................................................................................................... 57
Material e Métodos ...................................................................................................................... 58
1. Amostras clínicas ............................................................................................................. 58
2. Extração de RNA e transcrição reversa............................................................................ 59
3. PCR para segmentos HA e NA ........................................................................................ 59
4. Sequenciamento de nucleotídeos e análise filogenética ................................................... 60
Resultados .................................................................................................................................... 61
1. Isolados virais ................................................................................................................... 61
2. Análise filogenética .......................................................................................................... 61
3. Análise de sítios antigênicos e de ligação a receptores .................................................... 62
Discussão ..................................................................................................................................... 69
CAPÍTULO 6: CONCLUSÃO ................................................................................................. 72
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 73
ANEXO I .................................................................................................................................... 87
9
LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Genes dos vírus Influenza A e suas funções...............................................................19
Tabela 2. Ocorrência da influenza suína no Brasil para animais e rebanhos............................. 34
Tabela 3. Títulos de Inibição da Hemaglutinação para rebanhos positivos e negativos............ 34
Tabela 4. Percentual de animais com anticorpos contra múltiplos antígenos de vírus
influenza em Minas Gerais, Brasil............................................................................. 34
Tabela 5. Conjunto de iniciadores e sondas para uso na PCR quantitativa em tempo real para
detectar ácidos nucléicos do vírus influenza após isolamento viral........................... 39
Tabela 6. Caracterização das granjas estudadas......................................................................... 49
Tabela 7. Caracterização das amostras virais estudadas............................................................ 59
Tabela 8. Conjunto de iniciadores para uso na PCR para sequenciamento dos genes
hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA) completos dos vírus Influenza A.......... 60
Tabela 9. Sequências de vírus Influenza A depositadas no GenBank com maior identidade
de nucleotídeos para os vírus isolados de suínos (A/swine/Brazil/1-17/2009 e
A/swine/Brazil/18-20/2010) e de humano (A/Minas Gerais/21/2009)...................... 63
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Diagrama ilustrativo da estrutura do vírus influenza A. HA: hemaglutinina; NA:
neuraminidase; NP: nucleoproteína; M1/M2: matriz; PA: polimerase ácida;
PB1/PB2: polimerase básica....................................................................................... 18
Figura 2. Mapa das mesorregiões em que as granjas estudadas estavam localizadas............... 32
Figura 3. Distribuição dos títulos de anticorpos contra o vírus da influenza suína (SIV)
H1N1, H3N2 SIV e vírus influenza humano H1N1 nas granjas positivas.
Amostras negativas (titulo <40); com título baixo (40 e 80); título médio (160 e
320); e título alto (≥640)............................................................................................. 33
Figura 4. Figura esquematizando os procedimentos realizados para detecção do vírus
influenza em fragmentos de pulmão suíno................................................................ 37
Figura 5. Gráficos de amplificação na PCR em tempo real para detecção de ácidos nucleicos
da proteína ribossomal canina S26 (A) e do vírus influenza (B)................................43
Figura 6. Gráficos representativos da curva padrão da PCR em tempo real quantitativa para
quantificação de ácidos nucleicos do vírus influenza. Gráfico da eficiência da
reação (A) e de amplificação da curva padrão (B)..................................................... 43
10
Figura 7. Fotomicrografias de fragmentos de pulmão suíno com lesões histológicas (A, C,
E) e detecção de antígenos do vírus Influenza A pela Imuno-histoquímica (B, D,
F). (A): Parede bronquial com infiltrado neutrofílico e linfocítico intenso na
lamina própria da mucosa e submucosa, particularmente ao redor de glândulas
bronquiais. Hematoxilina e eosina, 100X. (B): Marcação positiva em vermelho da
nucleoproteína viral no citoplasma de células do epitélio bronquiolar, 200X. (C):
bronquiolite necrotizante com descamação do epitélio bronquiolar devido à
necrose e infiltração linfocitária na lamina própria, 100X. (D): mesma área de C,
corada pela imuno-histoquímica, com intensa marcação no epitélio de
revestimento bronquiolar remanescente, 100X. (E): Intenso infiltrado inflamatório
neutrofílico no lúmen alveolar, associado ao espessamento de septo interlobular
devido ao edema e discreto infiltrado linfocitário, 40X. (F): Intensa marcação
positiva em vermelho para nucleoproteína viral em glândulas (setas) e epitélio
bronquiais, 40X.......................................................................................................... 45
Figura 8. Perfil sorológico para os vírus influenza suíno clássico (cH1N1) e pandêmico
(pH1N1) nas granjas estudadas. As médias geométricas dos títulos de anticorpos
após transformação logarítmica foram comparadas entre as fases de criação das
granjas positivas. Letras diferentes, minúsculas para cH1N1 e maiúsculas para
pH1N1, indicam diferenças significativas (P<0,05). Granjas amostradas antes (G1
a G3a) e após (G3b a G6) a pandemia H1N1 2009 em humanos. A linha
pontilhada indica o ponto de corte.............................................................................. 51
Figura 9. Distribuição dos títulos de anticorpos contra os vírus da influenza clássico
(cH1N1) e pandêmico (pH1N1) das diferentes fases de criação nas granjas
estudadas com resultados positivos. Amostras negativas (titulo <40); com título
baixo (40 e 80); título médio (160 e 320); e título alto (≥640). Diferenças
significativas (P<0,05) entre a distribuição de títulos numa mesma fase de criação
das diferentes granjas estão indicadas por letras diferentes. G3b a G6 = granjas 3b
a 6, que obtiveram resultados positivos na Inibição da Hemaglutinação................... 52
Figura 10. Estados onde estão localizadas as granjas nas quais os vírus influenza foram
isolados. N= número de propriedades analisadas por Estado.....................................61
Figura 11. Análise filogenética dos isolados brasileiros de suínos e de humano. Árvore
construída pelo método Neighbor-Joining de (A): HA (1658nt) e (B): NA
(1363nt). Foram incluídas na análise sequências de genes HA e NA de vírus H1N1
pandêmico e de vírus sazonais H1N1 e H1N2 isoladas de suínos e humanos no
mundo. A análise de HA (A) mostra quatro diferentes clusters (α, β, γ, δ) de vírus
H1 endêmicos em suínos norte-americanos, indicado por chaves à direita da
árvore. Losango fechado: amostras de vírus influenza pandêmico H1N1 2009
isoladas de suínos neste estudo; losango aberto: amostra de vírus influenza
pandêmico H1N1 isolada de humano neste estudo; A/swine/Brazil/12A/2010:
amostra de vírus influenza pandêmico previamente isolada no Brasil....................... 64
11
Figura 12. Dendrograma dos genes HA (A) e NA (B) dos isolados suínos e humano
brasileiros, construída pelo método de Neighbor-Net. Sequências dos genes HA e
NA de vírus pandêmicos humanos e suínos depositadas no GenBank foram
incluídas na análise. Números 1 a 20: isolados suínos; número 21: isolado
humano, destacado por borda preta; quadrado cinza: isolados brasileiros deste
estudo; círculos pretos: sequências depositadas no Genbank e utilizadas como
referência; pH1N1: sequências refêrencia de vírus pandêmicos de humanos;
pH1N1swine: sequências refêrencia de vírus pandêmicos de suínos; quadrado
cinza com borda preta = isolados brasileiros deste estudo idênticos a amostras
depositadas no GenBank............................................................................................ 66
Figura 13. Alinhamento das sequências da hemaglutinina subunidade 1 (HA1) dos isolados
pandêmicos H1N1 suínos e humano brasileiros. As sequências foram alinhadas e
numeradas usando a proteína HA1 madura. Pontos representam aminoácidos
iguais aos da sequência consenso A/Mexico/4108/2009 (número de acesso
GenBank GQ162170). Retângulos grandes: sítios antigênicos (Sa, Sb, Ca1, Ca2 e
Cb); triângulos: resíduos de aminoácidos nos sítios de ligação ao receptor;
asterisco: alteração observada no resíduo 203............................................................ 68
Figura 14. Alinhamento das sequências da proteína neuraminidase (NA) dos isolados
pandêmicos H1N1 suínos e humano brasileiros. Pontos representam aminoácidos
iguais aos da sequência consenso A/Mexico/4108/2009 (número de acesso
GenBank GQ162169). Triângulos: resíduos de aminoácidos associados com
resitência a drogas anti-virais; asteriscos: alterações nos resíduos 106 e 248............ 69
12
ABREVIAÇÕES E SIGLAS
AEC = Amino-etilcarbazol
BALT = Tecido linfoide bronco-associado
CDC = Center for Disease Control and Prevention
cDNA = DNA complementar
cH1N1 = Vírus H1N1 suíno clássico
CO2 = Dióxido de carbono
DNA = Ácido desoxirribonucléico
DNAse = Desoxirribonuclease
dNTP = Desorribonuleotídeo trifosfatado
ECP = Efeito citopático
EDTA = Ácido etilenodiamino tetra-acético
EID50 = Dose infecciosa 50% em ovos
FAO = Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
g = Força centrífuga
HA = Hemaglutinina ou Reação de hemaglutinação
HA0 / 1 / 2 = Hemaglutinina molécula única/ subunidade 1 / subunidade 2
HCL = Ácido clorídrico
HE = Hematoxilina e eosina
HI = Reação de inibição da hemaglutinação
IAV = Vírus Influenza A
IC = Intervalo de confiança
ICQ = Imuno-citoquímica
IF = Imunofluorescência
IFNα = Interferon alfa
IgA / G / M = Imunoglobulina A / G / M
IHQ = Imuno-histoquímica
IL = Interleucina
IM = Intramuscular
KCl = Cloreto de potássio
KH2PO4 = Hidrogenofosfato de Potássio
LANAGRO/MG = Laboratório Nacional Agropecuário de Minas Gerais
M = Matriz ou Molar
MAPA = Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MDCK = Células Madim-Darby de rim canino
MEM = Meio essencial mínimo
MgCl2 = Cloreto de magnésio
MgSO4 = Sulfato de magnésio
MHC = Complexo de Histocompatibilidade Principal
mL = Mililitro
mM = Milimolar
NA = Neuraminidase
NaCl = Cloreto de sódio
NaOH = Hidróxido de sódio
NeuAc α2,3/α2,6 = Ácido siálico N-acetilneuramínicos ligado à galactose α2,3/α2,6
ng = Nanograma
NP = Nucleoproteína
13
NS = Não estrutural
nt = Nucleotídeo
ºC = Graus Celsius
OFFLU = Rede de vigilância em influenza animal
OIE = Organização Mundial de Saúde Animal
OMS = Organização Mundial de Saúde
p/v = Peso por volume
PA = Polimerase ácida
PB1 = Polimerase básica 1
PB2 = Polimerase básica 2
pb = Pares de bases
PBS = Tampão salina fostato
PCR = Reação em cadeia da polimerase
PCV2 = Circovírus suíno tipo 2
pH1N1 = Vírus H1N1 pandêmico
PRCV = Coronavírus respiratório suíno
PRRSV = Vírus da síndrome reprodutiva e respiratória suína
q. s. p. = Quantidade Suficinte Para
RIDT = Teste rápido para detecção do vírus influenza
RNA = Ácido ribonucleico
RNAse = Ribonuclease
RNC = Região não-codificadora
RNP = Complexo ribonucleoproteína
rpm = Rotações por minuto
rt = Tempo real
RT = Transcrição reversa
S26 = Proteína ribossomal canina S26
SFB = Soro fetal bovino
SIV = Vírus influenza suíno
SN = Soroneutralização
TCID50 = Dose infecciosa 50% em cultura de tecido
TNFα = Fator de necrose tumoral alfa
U = Unidades
µg = Micrograma
µL = Microlitro
µm = Micrômetro
µM = Micromolar
14
RESUMO
O vírus influenza A (IAV) é um importante causador de doença respiratória em suínos, mas a
epidemiologia da influenza suína no Brasil ainda é desconhecida. O objetivo deste estudo foi
detectar a infecção pelo IAV em suínos do Brasil; fazer a caracterização de cepas virais
isoladas; e avaliar o perfil sorológico em granjas antes e após a pandemia de 2009. Foram
utilizadas 355 amostras de soro de suínos de 17 granjas de Minas Gerais e 86 amostras de
pulmão de 39 granjas de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná. Dez amostras de soro de cada fase da produção de granjas coletadas antes (3) e
após (4) 2009 foram utilizadas no perfil sorológico. As amostras de soro foram testadas pela
inibição da hemaglutinação (HI) e as amostras de pulmão foram submetidas ao isolamento viral
e à reação em cadeia da polimerase em tempo real (rtPCR). A caracterização genética foi
realizada em 21 isolados. No levantamento sorológico, 158 amostras (44,5%) e 11 granjas
(64,7%) foram positivas para o vírus suíno (SIV) H1N1; 36 animais (10,1%) e quatro granjas
(23,5%) para H3N2 SIV; e 136 animais (38,3%) e 10 granjas (58,8%) para o vírus H1N1
humano. No isolamento viral, 31 amostras foram positivas e 36 na rtPCR. Das 86 amostras de
pulmão, 60 foram submetidas à imuno-histoquímica e 38 (63,3%) foram positivas. No perfil
sorológico, apenas granjas amostradas após 2009 eram positivas e com queda de anticorpos na
creche. Todos os isolados foram agrupados com vírus pandêmicos H1N1. Este estudo comprova
a circulação do IAV em suínos no Brasil, inclusive de vírus humanos, ressaltando a importância
do suíno na epidemiologia da Influenza.
Palavras-chave: Influenza; suíno; granja; inibição da hemaglutinação; PCR; imunohistoquímica; caracterização genética, H1N1 pandêmico, Brasil.
15
ABSTRACT
Influenza A virus (IAV) is an important pathogen causing respiratory disease in pigs. However,
influenza epidemiology in Brazilian pigs is still unknown. The aim of this study was to detect
IAV infection in Brazilian pigs; characterize isolated viruses; and evaluate the serological
profile in swineherds prior and after 2009 pandemics. Serum samples of 355 animals from 17
herds in Minas Gerais and 86 swine lung samples from 39 herds in Minas Gerais, São Paulo,
Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, and Paraná were used. Ten serum samples
from each production phase from herds sampled before (3) and after (4) 2009 were used for the
serological profile. Serum samples were tested by hemagglutination inhibition (HI), and lung
samples were tested by virus isolation and real time polymerase chain reaction (rtPCR). Genetic
characterization was performed in 21 isolates. In the serological survey, 158 animals (44.5%)
and 11 herds (64.7%) were positive for swine virus (SIV) H1N1; 36 animals (10.1%) and 4
herds (23.5%) for SIV H3N2; and 136 animals (38.3%) and 10 herds (58.8%) for human H1N1
virus. Virus was isolated from 31 lung samples and 36 were positive for rtPCR. Sixty lung
samples were tested by immunohistochemistry and 38 (63.3%) were positive. For the
serological profile, only herds sampled after the pandemic were naturally infected and showed
maternal derived antibodies decay in nursery stage. All isolates were clustered with pandemic
H1N1 influenza when sequenced. This study shows influenza virus is circulating in Brazilian
pigs, mainly human origin viruses, and proves the importance of the swine for influenza
epidemiology.
Keywords: Influenza; swine; herd; hemagglutination inhibition; PCR; immunohistochemistry;
genetic characterization, pandemic H1N1, Brazil.
16
INTRODUÇÃO
A Influenza é uma zoonose viral que
representa um problema econômico e para a
saúde pública e animal em todo o mundo. Os
vírus Influenza A infectam várias espécies
de mamíferos e aves, sendo que a
transmissão interespécie pode ocorrer. Os
vírus influenza apresentam alta variabilidade
genética, principalmente nas duas proteínas
principais da superfície viral, hemaglutinina
(HA) e neuraminidase (NA). Essas
alterações genéticas podem levar à formação
de novos subtipos e novas cepas virais
contra os quais a população humana não
possui imunidade, o que pode resultar na
ocorrência de pandemias.
Alguns vírus Influenza estão adaptados à
espécie suína, circulam nos rebanhos suínos
mundiais, e são endêmicos em diversos
países, causando perdas consideráveis na
produção. No Brasil, estudos sobre o vírus
da influenza em suínos são escassos e não
foram capazes de identificar os subtipos e
cepas virais endêmicas, mas comprovaram a
infecção nos rebanhos suínos nacionais.
O suíno pode se infectar tanto com vírus de
origem aviária, quanto de origem humana, e
apresenta potencial para atuar como
hospedeiro intermediário na transmissão de
vírus aviários para humanos. Dessa forma,
essa espécie tem um papel importante na
epidemiologia da Influenza, pois participa na
formação de novos vírus, dificultando o
controle da Influenza em outras espécies.
Existe uma rede de vigilância da Influenza
humana formada por diversos países do
mundo e coordenada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), com o intuito de
monitorar as cepas dos vírus da Influenza
circulantes anualmente nos dois hemisférios
e definir a melhor cepa vacinal. Além disso,
foi criada uma rede de vigilância da
Influenza animal (OFFLU) englobando
diversos países, através da parceria entre a
Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) e a Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO), para
trocar
informações
científicas
e
conhecimentos, com o intuito de reconhecer
e caracterizar cepas do vírus Influenza
infectando animais, promovendo segurança
alimentar mundial e o bem estar animal. A
OMS em associação com a OIE preconizam
o monitoramento da Influenza em suínos
visando identificar vírus tipo aviários
capazes de causar infecção em humanos.
Entretanto, não existe um sistema de
monitoramento do vírus influenza em suínos
no Brasil, medida que é fundamental para
avaliar os efeitos da infecção nos plantéis
nacionais e identificar os variantes virais
existentes.
A pouca informação sobre a infecção pelo
vírus influenza em suínos no Brasil e a não
associação do vírus a surtos respiratórios nos
plantéis nacionais limitam a elaboração e
implantação de medidas preventivas.
Portanto, este estudo é um passo importante
para determinar a real situação em que se
encontra a infecção por esse vírus nos
rebanhos brasileiros, permitindo elaborar
medidas de prevenção e sistemas ideais para
monitoramento.
17
CAPÍTULO 1: REVISÃO DE
LITERATURA
Classificação e caracterização do vírus
Influenza
A Influenza é uma doença respiratória
altamente contagiosa que acomete humanos
e animais. Os vírus influenza são membros
da família Orthomyxoviridae (do grego
orthos: padrão, ordenado; e myxo: muco)
(Palese e Shaw, 2007). A família
Orthomyxoviridae possui cinco gêneros
diferentes: Influenza A, Influenza B,
Influenza C, Thogotovirus e Isavirus (King
et al., 2011). Os vírus influenza dos tipos A,
B e C são diferenciados de acordo com
características antigênicas distintas entre
suas proteínas internas do nucleocapsídeo
(NP) e da matriz (M) (Palese e Shaw, 2007).
Os vírus influenza do tipo A podem ser
classificados em diferentes subtipos com
base nas características antigênicas de suas
glicoproteínas de superfície, hemaglutinina
(HA) e neuraminidase (NA). Até o
momento, 16 subtipos de HA e nove
subtipos de NA foram identificados
(Fouchier et al., 2005).
Os vírus influenza A (IAV) infectam
naturalmente uma variedade de espécies
aviárias e de mamíferos, incluindo humanos,
suínos e equinos. Vírus Influenza B infectam
apenas humanos, enquanto que os vírus
influenza C infectam principalmente
humanos, mas também foram isolados em
suínos (Webster et al, 1992; Palese e Shaw,
2007).
Os vírus influenza apresentam genoma
segmentado composto por RNA fita simples
senso negativo. Os genomas dos vírus
influenza A e B são divididos em oito
segmentos (Palese e Schulman, 1976;
Ritchey et al., 1976; Palese et al., 1977)
(Fig. 1), enquanto que o dos vírus influenza
C apresentam apenas sete segmentos (Palese
e Shaw, 2007). O vírus possui um envelope
18
lipídico derivado da membrana plasmática
da célula hospedeira, onde estão embebidas
as proteínas HA, NA e matriz 2 (M2), se
projetando na superfície viral. Cada
segmento de RNA viral é envolto por várias
moléculas
de
nucleoproteínas
(NP),
formando o complexo ribonucleoproteína
(RNP) (Nayak, et al. 2004). As três
subunidades
da
RNA
polimerase
(polimerase básica 1 - PB1, polimerase
básica 2 - PB2 e polimerase ácida - PA) se
ligam à extremidade 3’ do RNP, que por sua
vez é envolto pela proteína da matriz 1 (M1)
(Palese e Shaw, 2007).
A partícula viral é pleomórfica, podendo ser
encontrada na forma esférica ou filamentosa.
Os vírus isolados de humanos e animais
geralmente apresentam partícula filamentosa
de diâmetro uniforme (diâmetro ~80nm),
mas após o cultivo em laboratório a forma
viral esférica (diâmetro de 80-120 nm) é
observada mais comumente (Chopin et al.,
1960).
Figura 1. Diagrama ilustrativo da estrutura
do vírus influenza A. HA: hemaglutinina;
NA: neuraminidase; NP: nucleoproteína;
M1/M2: matriz; PA: polimerase ácida;
PB1/PB2: polimerase básica.
Fonte: Horimoto et al., 2005.
Genes e proteínas virais
O genoma do vírus Influenza A consiste em
RNA fita simples, dividido em oito
segmentos que codificam 11 proteínas virais
(Tab. 1) (Ritchey et al, 1976). Todos os
segmentos de RNA viral do Influenza A
possuem sequências conservadas nas
terminações 5’ (13 nucleotídeos) e 3’ (12
nucleotídeos) da região não codificadora
(RNC), seguidas de sequências específicas
para cada segmento (Skehel e Hay, 1978;
Desselberger et al., 1980).
Tabela 1. Genes dos vírus Influenza A e suas funções.
Segmento
Gene
Tamanho (nt)
Função
1
PB 2
2341
Transcriptase: polimerase, início da transcrição
2
PB1
2341
Transcriptase: polimerase, extensão do RNAv
3
PA
2233
Transcriptase: polimerase, replicação do RNAv
4
HA
1778
Hemaglutinina: ligação à célula hospedeira
5
NP
1565
Nucleoproteína: ligação do RNA, parte do complexo RNP,
transporte núcleo-citoplasma do RNAv
6
NA
1413
Neuraminidase: liberação viral
7
M
1027
Matriz: M1 maior componente do vírion, estrutural
M2 canal de íon da membrana
8
NS
890
Não-estrutural: NS1 transporte de RNA, montagem,
tradução, antagonista de interferon
NS2/NEP: proteína de exportação nuclear do RNAv
RNAv = RNA viral; Fonte: Adaptado de Webster et al., 1992
A glicoproteína HA é o antígeno de
superfície mais importante do vírus
influenza e principal alvo para a resposta
imune do hospedeiro, é altamente variável e
com frequente substituição de aminoácidos
(Skehel e Wiley, 2000). A molécula da HA
tem aparência de espiga, com a cabeça
arredondada e um corpo transmembrana
(Webster et al., 1992). A HA é importante
determinante
de
virulência
e
de
especificidade de hospedeiros, pois media a
ligação inicial do vírus a receptores de ácido
siálico na célula hospedeira, mas também
participa da liberação do complexo RNP no
citoplasma através da fusão com a
membrana do endossomo (Shinya et al.,
2006; Nicholls et al., 2008).
Nas células infectadas, a HA é inicialmente
sintetizada na forma precursora como
molécula polipeptídica única (HA0). A
clivagem proteolítica da HA0 é necessária
para a infectividade do vírus e crucial para a
patogenicidade viral (Taubenberger, 1998;
Steinhauer, 1999). A HA0 é clivada por
endoproteases tipo-tripsina do hospedeiro
em duas subunidades, HA1 e HA2, ligadas
entre
si
por
ligações
dissulfeto
(Taubenberger, 1998). A subunidade HA1
forma a extremidade distal que contém os
sítios de atividade antigênica e o sítio de
ligação ao receptor. A subunidade HA2
contém uma sequência altamente conservada
de aminoácidos hidrofóbicos que insere a
glicoproteína na bicamada lipídica (Schoch e
Blumenthal, 1993; Cross et al., 2001).
A glicoproteína NA também é um antígeno
de superfície do vírus influenza, tem
aparência de cogumelo e, como a HA, sofre
19
constantes variações antigênicas. Sua
atividade enzimática cliva receptores
presentes na mucina que impedem o acesso
aos receptores da membrana (Gottschalk,
1957), auxiliando na penetração na célula
hospedeira, além de atuar na liberação e
disseminação da progênie viral (Matrosovich
et al., 2004). Além disso, determinantes de
resistência a antivirais foram detectados na
proteína NA (Le et al., 2005) e M (Marozin
et al., 2002).
Os seis segmentos restantes codificam
proteínas estruturais e acessórias (Tab. 1).
Uma proteína acessória adicional, PB1-F2
pode ser codificada pelo segmento 2,
conferindo virulência aos vírus, pois induz
apoptose em células imunes ao se associar a
proteínas mitocondriais (Chen et al., 2001).
Restrição de hospedeiros
Análises filogenéticas indicam que todos os
16 subtipos de HA e nove subtipos de NA
do vírus influenza A já foram detectados em
espécies aviárias, o que sugere que os vírus
influenza de mamíferos vieram de
reservatórios aviários. Além disso, a
infecção geralmente não causa doença em
aves silvestres, sugerindo que o vírus é
adaptado a esse hospedeiro (Webster et al.,
1992).
Embora a transmissão interespécie dos vírus
influenza
tenha
sido
demonstrada
(Koopmans et al., 2004; Li et al., 2004;
Crawford et al., 2005; Newman et al., 2008),
os vírus influenza apresentam algumas
restrições de hospedeiros e a infecção de
novos hospedeiros não resulta em
transmissão adequada entre eles. Vírus
influenza
aviários
não
replicam
eficientemente em humanos (Beare e
Webster, 1991), enquanto que vírus
influenza
humanos
não
replicam
eficientemente em aves (Hinshaw et al.,
1983). Os vírus influenza A apresentam
afinidade da glicoproteína HA com
20
receptores de ácido siálico distintos. Vírus
humanos reconhecem preferencialmente
receptores
de
ácido
siálico
Nacetilneuramínicos (NeuAc) ligados à
galactose por uma ligação do tipo α2,6
(NeuAc α2,6Gal), pois as células epiteliais
da traqueia humana possuem receptores com
ligação do tipo NeuAc α2,6Gal (Couceiro et
al., 1993), enquanto que vírus aviários e
equinos geralmente reconhecem receptores
de ácido siálico com ligação α2,3 (NeuAc
α2,3Gal) (Ito, 2000; Gambaryan et al.,
2005), uma vez que células da traqueia de
cavalos e do cólon de aves possuem
receptores com esse tipo de ligação (Ito,
2000). Os suínos apresentam ambos os
receptores em seu epitélio respiratório (Kida
et al., 1994; Gambaryan et al., 2005).
Portanto o suíno é susceptível à infecção
com vírus humanos e aviários e pode servir
de hospedeiro intermediário ou “sítio de
mistura” (mixing vessel) para esses
patógenos (Ito e Kawaoka, 2000; Ma et al.,
2009). No entanto, os receptores de ácido
siálico parecem estar distribuídos de forma
irregular no trato respiratório dos suínos,
com receptores NeuAc α2,3Gal presentes
em menor abundância no trato superior, o
que leva à pior replicação de vírus aviários
nas traqueia e fossas nasais de suínos,
dificultando a transmissão de vírus aviários
entre suínos (Lipatov et al., 2008; Van
Poucke et al., 2011).
Existem casos em que humanos se
infectaram com vírus aviários, através do
contato com animais dessa espécie, mas a
transmissão desse vírus humano-humano é
limitada (Shinya et al., 2006).
Evolução genética do vírus Influenza
As populações de vírus influenza estão em
constante evolução e apresentam ampla
diversidade
genética,
resultante
de
mecanismos distintos como: i) recombinação
genética; ii) mutação pontual ou antigenic
drift; e iii) rearranjo ou antigenic shift
(Webster et al., 1982; 1992).
i) Recombinação pode gerar variantes
novas do vírus influenza através da troca
de informação genética, que ocorre
quando a polimerase muda o molde ou
quando segmentos de ácido nucléico são
quebrados e reunidos. Por exemplo, dois
vírus aviários de baixa patogenicidade
podem ser revertidos em um vírus de alta
patogenicidade após a inserção de 21
nucleotídeos do segmento M no
segmento HA do outro (Pasick et al.,
2005). Em geral, a recombinação é
mascarada pela baixa atividade biológica
dos vírus recombinantes, mas, em casos
de pressão seletiva, podem resultar em
vantagem para a linhagem recombinante.
ii) Mutação ou antigenic drift resulta do
acúmulo de mutações pontuais resultantes
da baixa fidelidade da RNA polimerase e
sua inabilidade de correção de erros
(Hampson, 2002). Essas mutações
ocorrem principalmente em genes que
codificam as glicoproteínas de superfície,
HA e NA, e resultam da pressão de
seleção imposta pelos mecanismos de
defesa do hospedeiro (Wright et al.,
2007). Embora a maioria das novas
variantes não seja viável, algumas podem
apresentar vantagens e se tornar
dominantes. Na população humana,
novas variantes do vírus causam doença
grave e podem levar à morte de pacientes
com depressão imunológica. Entretanto,
antigenic drift no segmento HA do vírus
influenza suíno é limitada e ocorre em
segmentos sem atividade antigênica
(Brown et al., 1997), provavelmente
devido à baixa seleção imune em suínos,
resultante da constante introdução de
animais sem proteção.
iii) Rearranjo ou antigenic shift é a troca de
segmentos de diferentes vírus que ocorre
em uma célula co-infectada com dois ou
mais vírus. Esse mecanismo resulta em
grande
variação
antigênica
das
glicoproteínas HA e NA, podendo gerar
novos subtipos e introduzir novas cepas
virais em populações não imunizadas
(Wright et al., 2007). A introdução de
novos vírus pode levar à ocorrência de
pandemias, como foi o caso da
emergência do novo H1N1 (Smith et al.,
2009).
Histórico do vírus Influenza em suínos
O primeiro relato da infecção pelo vírus
influenza A (IAV) em suínos ocorreu nos
Estados Unidos durante a pandemia de 1918
(Gripe Espanhola), quando foi documentado
um surto de doença respiratória aguda em
suínos semelhante àquele observado em
humanos no mesmo período, que levou à
morte de 40 milhões de pessoas em todo o
mundo (Koen, 1919 citado por Zimmer e
Burke, 2009). A etiologia infecciosa da
Influenza suína foi confirmada em 1931,
quando Robert Shope, um veterinário, foi
capaz de causar doença em animais sadios
utilizando secreções filtradas de animais
doentes (Shope, 1931). Mais tarde Shope
sugeriu que o vírus suíno e o vírus humano
pandêmico de 1918 eram antigênica e
geneticamente semelhantes, o que foi
confirmado por estudos moleculares
recentes. Entretanto, ainda não se sabe se o
vírus original foi transmitido de suínos para
humanos ou de humanos para suínos (Shope
e Francis, 1936; Reid et al., 2001).
Epidemiologia
A introdução da Influenza em um rebanho
geralmente está associada à movimentação e
introdução de novos animais (Olsen et al.,
2006a). A secreção nasal de animais
infectados apresenta altos títulos infecciosos
durante a fase aguda da infecção (2 a 5 dias
após a exposição) e é a principal fonte de
transmissão, que ocorre pela via nasofaringeal (Brankston et al., 2007). A
21
transmissão respiratória ocorre através de
gotículas e aerossóis, pelo contato direto
entre animais, mas também contato indireto
com objetos e superfícies contaminadas
(Bridges et al., 2003). O vírus se mantém
viável por 8 a 12 horas em superfícies
porosas (tecido e papel) e por até 48 horas
em superfícies não porosas (metal) e nas
mãos (Bean et al., 1982). Já em aerossóis,
pode permanecer viável por até 24 horas em
ambiente com umidade relativa do ar baixa
(Brankston et al., 2007). Embora surtos da
doença sejam mais comuns em meses mais
frios, a doença ocorre durante todo o ano,
principalmente em regiões sem grandes
variações de temperatura (Hinshaw et al.,
1978; Olsen et al., 2000; Caron et al., 2010).
Em rebanhos comerciais de ciclo completo
infectados, geralmente todos os animais
entram em contato com o vírus até a idade
de abate (Vincent et al., 2008).
Atualmente, três diferentes subtipos do IAV
(H1N1, H1N2 e H3N2) circulam na
população de suínos em todo o mundo e, ao
contrário do que ocorre com vírus influenza
de humanos, os vírus suínos têm origem e
caracterização distinta nos diferentes
continentes (Vincent et al., 2008). Nos EUA
a doença está em constante circulação e
acredita-se que cerca de 50% dos suínos
possuam anticorpos contra H1N1 (Chambers
et al., 1991). Na Europa, vírus H1N1 e
H3N2 se tornaram endêmicos em algumas
regiões, com prevalências que chegam a
80% e 58%, respectivamente (Van Reeth et
al., 2008).
Até a década de 90, a Influenza suína na
América do Norte era causada quase que
exclusivamente pelo vírus suíno clássico
H1N1 (cH1N1), que permaneceu antigênica
e geneticamente conservado desde sua
introdução em 1918 (Vincent et AL., 2008).
No final da década, entretanto, vírus do
subtipo H3N2 de dois genótipos diferentes
passaram
a circular nos rebanhos
americanos: um vírus de rearranjo duplo,
contendo genes de vírus humano (HA, NA,
22
PB1) e do suíno clássico (NS, NP, M, PB2,
PA); e um vírus de rearranjo triplo, contendo
genes de vírus humano (HA, NA, PB1),
suíno (NS, NP, M) e aviário (PB2, PA)
(Zhou et al., 1999; Vincent et al., 2008).
Desses, apenas o rearranjo triplo se manteve
na população suína, cuja co-circulação com
cH1N1 levou ao aparecimento de novos
rearranjos (Webby et al., 2000) que são
endêmicos no rebanho suíno americano e
canadense, incluindo H3N2 (Webby et al.,
2000), H1N1 rearranjado (Webby et al.,
2004) e H1N2 (Choi et al., 2002a; Karasin et
al., 2002).
A maior parte das linhagens do IAV que
circulam nos rebanhos norte-americanos
atualmente são rearranjos com combinações
diversas de HA e NA com genes internos de
vírus humanos, suínos e aviários (Ito, 2000),
conhecidos como genes internos de rearranjo
triplo (TRIG), com PB1 de linhagem
humana, PB2 e PA de linhagem aviária, e
NP, M e NS de linhagem suína (Vincent et
al., 2008).
Na Europa, os vírus H1N1 são de origem
aviária e foram introduzidos na população
suína por patos selvagens em 1979 (Pensaert
et al., 1981). Já o vírus H3N2 foi introduzido
na população suína no início da década de
70 e tinha todos os segmentos originados do
vírus humano (Castrucci et al., 1993). Essa
linhagem inicial do H3N2 suíno circulou no
continente Europeu até a década seguinte,
mas a partir daí a linhagem originada do
rearranjo entre o vírus tipo humano H3N2
(HA e NA) com o vírus H1N1 tipo aviário
(proteínas internas e não estruturais) passou
a ser predominante (Jong et al., 2007). O
vírus H1N2 emergiu no Reino Unido no
início dos anos 90 e se tornou endêmico nos
suínos da Europa (Lam et al., 2007). Essa
linhagem contém genes de origem humana
(HA e NA) e derivados do vírus Europeu
tipo aviário H1N1.
Os subtipos H1N1 e H3N2 estão
amplamente disseminados nos rebanhos
asiáticos (Li et al., 2004). Na Coréia do Sul,
ambos os subtipos estão disseminados em
quase todo o território, e a co-infecção entre
os subtipos existe (Jung et al., 2002; 2007).
Na China, o cH1N1 é o vírus influenza
predominante infectando suínos, mas os
vírus de origem aviária H1N1 (Guan et al.,
1996) e H3N2 (Kida et al., 1988) também
foram relatados no país. Os vírus H3N2 que
circulam em suínos na Tailândia são
relacionados a linhagens suínas da América
do Norte, Ásia e Europa e também à
linhagem humana, e o H1N1 circulante é
principalmente relacionado a um vírus
humano “tipo-suíno”, mas também a vírus
endêmicos
suínos
norte-americanos
(Chutinimitkul et al., 2008). O subtipo
H1N2 circula em suínos na Ásia desde a
década de 70 (Sugimura et al., 1980) e
possui NA de vírus humano e os outros sete
segmentos do cH1N1 (Ito et al., 1998).
Evidências da circulação do vírus H1N1 e
H3N2 foram relatadas em estudos
sorológicos na Argentina (Teodoroff et al.,
2003; Piñeyro et al., 2007).
No Brasil, existem evidências sorológicas da
circulação do vírus H1N1 e H3N2 nos
estados do RS, SC, PR, SP, MG, MS, MT e
GO, com ocorrência de 2,2 e 16,7% em
animais, e 11,8 e 50,9% em propriedades
para H1N1 e H3N2, respectivamente.
Tentativas de isolamento e caracterização
dos vírus circulantes foram realizadas, mas
sem muito sucesso (Brentano et al, 2002;
Mancini et al, 2006; Schaefer et al, 2008).
Recentemente, um estudo relatou a
prevalência sorológica de 46% de granjas e
20% de animais infectados com H3N2 no
Paraná (Caron et al., 2010).
Alguns subtipos distintos também foram
isolados em suínos, principalemte em
animais de países asiáticos, como o H9N2 e
o H5N1 isolados na China (Li et al., 2004), o
H3N1 isolado em Taiwan (Tsai e Pan,
2003), mas também o H2N3 isolado nos
EUA (Ma et al., 2007), o H1N7 no Reino
Unido (Brown et al., 1997) e H3N8 no
Brasil (Schaefer et al., 2011a).
Influenza suína e saúde pública
Além do suíno contribuir para a geração de
vírus com potencial pandêmico para a
população humana, o IAV também apresenta
potencial zoonótico (Thacker e Janke, 2008;
Neumann et al., 2009). Infecções de
humanos com vírus influenza de suínos
foram relatadas na América do Norte,
Europa e Ásia, geralmente envolvendo
indivíduos com contato direto com suínos, e
sem distinção de sinais clínicos das
infecções com vírus humanos (Alexander e
Brown, 2000; Gregory et al., 2003). A
maioria dos casos ocorreu pela infecção com
o vírus cH1N1, embora casos de infecção
com vírus tipo aviário H1N1, rearranjos
H3N2 e rearranjos H1N1 também tenham
sido relatados em humanos (Gray et al.,
2007; revisado por Myers et al., 2007;
Newman et al., 2008).
Alguns casos de infecções humanas com
IAV de suínos sem qualquer contato com
esses animais foram relatados, sugerindo a
disseminação do vírus suíno de humano para
humano (revisado por Myers et al., 2007),
como são os casos do Fort Dix (Gaydos et
al., 1977) e do vírus Influenza H1N1 2009
(Neumann et al., 2009).
A presença de receptores para vírus
humanos e aviários no trato respiratório de
suínos (Ito e Kawaoka, 2000) e sua
capacidade de atuar como “sítio de mistura”
fazem dessa espécie um potencial
hospedeiro
intermediário
dos
vírus
influenza. Dessa forma, o suíno tem papel
importante na epidemiologia da influenza
humana e pode ser responsável pelo
surgimento de cepas virais com potencial
pandêmico para a população não imunizada
(Brown, 2000).
23
H1N1 pandêmico 2009
Patogênese
Em março de 2009, um novo vírus de
origem
suína
H1N1
(pH1N1)
foi
identificado em humanos e se disseminou
rapidamente na população mundial, levando
a Organização Mundial de Saúde a declarar
fase de pandemia 6 após poucas semanas
(CDC, 2009b).
O vírus replica em células epiteliais de todo
o trato respiratório, como mucosa nasal,
tonsilas, traqueia, pulmão e linfonodos
traqueo-bronquiais (Nicholls et al., 2007). A
infecção geralmente fica restrita ao trato
respiratório, mas a viremia de curto prazo e
título baixo já foi detectada em casos raros
(Brown et al., 1993). No entanto, o vírus não
foi detectado em nenhum tecido não
respiratório (Vincent et al., 2009a; Brookes
et al., 2010). O tropismo por tecidos
específicos ocorre devido à expressão de
proteases necessárias para a ativação viral
(Rot et al., 1995). O pulmão é o principal
órgão alvo da infecção e títulos virais podem
chegar a 109 dose infecciosa 50% em ovo
(EID50/mL) (Haesebrouck et al., 1985), uma
vez que o IAV apresenta tropismo elevado
pelo epitélio bronquiolar e se replica
rapidamente nessas células (Brown et al.,
1993; Olsen et al., 2006a).
O novo vírus pH1N1 é resultante do
rearranjo quádruplo entre vírus influenza
tipo aviários circulantes em suínos na
Europa e Ásia, e vírus de rearranjo triplo
circulantes em suínos norte-americanos
(Smith et al., 2009). Portanto, o H1N1
pandêmico possui genes derivados de
linhagens aviárias (PB2 e PA), humanas
H3N2 (PB1) e do vírus suíno clássico (HA,
NP e NS) presentes no vírus norte
americano, e genes derivados do vírus suíno
tipo aviário da Eurásia (NA e M) (Smith et
al., 2009).
O pH1N1 pode infectar e se disseminar em
suínos (Lange et al., 2009; Brookes et al.,
2010) e a infecção natural de suínos com o
vírus pandêmico já foi demonstrada em
diversos países, geralmente relacionada ao
contato prévio com seres humanos que
apresentavam sinais clínicos respiratórios
(Pasma e Joseph, 2010; Pereda et al., 2010;
Sreta et al., 2010; Schaefer et al., 2011c).
Suínos infectados pelo pH1N1 apresentam
sinais clínicos e lesões semelhantes aos
observados na infecção pelo IAV sazonal
(Pasma e Joseph, 2010; Pereda et al., 2010)
e a resposta imune gerada por exposição
prévia a vírus endêmicos resulta apenas em
proteção parcial contra o pH1N1 (Vincent et
al., 2010b). Além disso, animais infectados
apresentaram eliminação viral nas secreções
respiratórias por 11 a 20 dias, período mais
prolongado que na infecção pelo influenza
suíno sazonal (Lange et al., 2009; Pasma e
Joseph, 2010; Pereda et al., 2010).
24
As lesões celulares causadas diretamente
pelo IAV estão atribuídas a apoptose,
desencadeada pelas proteínas NA e PB1-F2
(Schultz-Cherry e Hinshaw, 1996; Gibbs et
al., 2003). No entanto, as citocinas próinflamatórias iniciais, produzidas por células
não imunes no local da infecção durante a
fase aguda, possuem papel fundamental para
o desenvolvimento da reação inflamatória
local e de alguns sinais clínicos sistêmicos.
As citocinas iniciais como o Interferon-α
(IFNα), fator de necrose tumoral-α (TNFα),
interleucina-1 (IL-1) e IL-6, têm sido
associadas à ocorrência de febre, prostração
e anorexia (Van Reeth, 2000; Jo et al.,
2007). TNFα e IL-1 estimulam moléculas
quimioatrativas de neutrófilos e macrófagos,
como IL-8, levando à rápida infiltração
dessas células fagocíticas no trato
respiratório (Ulich et al., 1991). As citocinas
tardias são produzidas principalmente pelos
linfócitos T após reconhecimento de
antígenos, e são moduladores importantes da
resposta imune específica (La Gruta et al.,
2007). Apesar de participar no estímulo à
resposta inflamatória, as citocinas iniciais e
tardias também contribuem para a injúria
pulmonar, com aumento da permeabilidade
vascular, hemorragia e edema (Ulich et al.,
1991).
A duração da infecção pelo IAV é curta e o
clearance viral é extremamente rápido. Não
é possível detectar o vírus na secreção nasal
e no pulmão a partir de sete dias após a
infecção natural ou experimental (Brown et
al., 1993; Jo et al., 2007).
Sinais clínicos e lesões
A Influenza suína é uma doença aguda de
rebanho, com alta morbidade (pode chegar a
100%) e baixa mortalidade (inferior a 1%).
As principais perdas econômicas da
Influenza resultam dos altos custos de
medicações, mortalidade aumentada e
produtividade diminuída nos rebanhos
acometidos. O aparecimento da doença é
súbito, após um período de incubação de um
a três dias e recuperação rápida após quatro
a sete dias (Maes et al., 1984).
A doença clínica geralmente é restrita a
animais susceptíveis sem proteção imune
contra o vírus, e a faixa etária mais
acometida em propriedades de ciclo
completo é de animais com idade de até 16
semanas (creche, recria e terminação)
(Loeffen et al., 2009).
As manifestações clínicas da infecção pelo
IAV em suínos são febre (40,5 a 41,7°C),
apatia, inapetência, prostração e anorexia,
que resultam em perda de peso significativa.
Tosse, espirros, conjuntivite, rinite e
descargas nasais são sinais comuns da
infecção. Sinais de angústia respiratória,
como respiração abdominal e com a boca
aberta, podem ocorrer (Alexander e Brown,
2000; Richt et al., 2003).
Ocasionalmente alguns sinais reprodutivos
podem ser observados, como abortos,
natimortos, infertilidade e leitegadas
pequenas e fracas (Wallace e Elm, 1979;
Vannier, 1999; Wesley, 2004).
Além da doença clínica aparente, a doença
subclínica ocorre frequentemente. Diversos
fatores podem alterar a gravidade de sinais
clínicos, como estado imune do animal,
idade, infecções concomitantes e condições
climáticas (Olsen et al., 2006a). Apesar de
geralmente resultar em doença branda, a
infecção por IAV em suínos pode apresentar
complicações quando ocorre infecção
intercorrente com outros patógenos. A
infecção
bacteriana
secundária
com
Actinobacillus
pleuropneumoniae,
Pasteurella
multocida,
Haemophilus
parasuis e Streptococcus suis tipo 2 pode
aumentar a gravidade e a duração de sinais
clínicos da Influenza (Thacker et al., 2001;
Choi et al., 2003). A co-infecção com vírus
respiratórios,
como
Coronavírus
Respiratório Suíno (PRCV), Circovírus
Suíno tipo 2 (PCV2) ou Vírus da Síndrome
Respiratória e Reprodutiva Suína (PRRSV),
também pode agir como fator de
complicação da Influenza, aumentando o
curso e a gravidade da doença (Choi et al.,
2003; Hansen et al., 2010).
As alterações patológicas são predominantes
nos lobos apical e cardíaco e os lobos
diafragmático e acessório são menos
afetados. Macroscopicamente observa-se
consolidação
vermelho-escura
bem
demarcada, geralmente na porção crânioventral.
Edema
pulmonar
grave,
principalmente nos septos interlobulares, e
pleurite serosa ou serofibrinosa são achados
comuns na necropsia, além de vias aéreas
repletas
de
exsudato
fibrinoso
a
mucopurulento e linfonodos mediastinais
edemaciados (Olsen et al., 2006a).
Achados microscópicos comuns consistem
em necrose e descamação das células
epiteliais bronquiolares e acúmulo de restos
celulares, fluído proteináceo e leucócitos no
lúmen de vias aéreas (Van Reeth et al.,
2008). Também podem ser observadas
25
infiltração leucocitária peribronquial e
perivascular, e pneumonia intersticial de
intensidade variada (Richt et al., 2003).
Resposta imune
A resposta imune contra a infecção com
IAV é rápida, envolve tanto a imunidade
humoral como a celular, e resulta no
clearance viral completo dentro de uma
semana após a infecção. A infecção leva à
ativação da imunidade inata e liberação de
IL-6 e IFNα pelas células epiteliais, além de
estimular a atividade de células natural
killers (NK) para lise de células infectadas
(Wright et al., 2007). A correlação entre a
resposta humoral e a resposta mediada por
células é necessária para desencadear a
imunidade protetora contra a infecção com o
vírus influenza.
A imunidade humoral tem papel importante
na prevenção e resistência contra a infecção
e contra a manifestação clínica. Os
anticorpos produzidos durante a infecção são
direcionados contra as proteínas HA, NA, M
e NP, no entanto apenas aqueles específicos
contra HA e NA são capazes de neutralizar a
infectividade viral, enquanto que os demais
podem interferir na liberação da progênie
viral da célula hospedeira (Cox et al., 2004).
Todas as principais imunoglobulinas (IgA,
IgG e IgM) podem ser identificadas na
infecção pelo IAV em soro e lavados nasal e
broncoalveolar de suínos (Heinen et al.,
2000). Anticorpos específicos contra o vírus
Influenza podem ser detectados no soro três
dias após a infecção e em suabes nasais
quatro dias após a infecção (Lee et al.,
1993). A IgA secretória é a principal
imunoglobulina neutralizante contra o IAV
no trato respiratório e é detectada em altos
títulos na secreção nasal e broncoalveolar
após a fase aguda (Heinen et al., 2000). A
proteção clínica contra a Influenza
geralmente está diretamente relacionada aos
níveis de anticorpos capazes de inibir a
hemaglutinação (HI), que são direcionados
26
contra a proteína HA (Cox et al., 2004). Os
anticorpos HI podem ser detectados de sete a
10 dias após a infecção e apresentam pico
entre duas e três semanas, se mantendo em
níveis elevados por várias semanas. Os
títulos começam a declinar por volta de 10
semanas após a infecção, mas são mantidos
até o abate (Renshaw, 1975; Desrosiers et
al., 2004; Van Reeth et al., 2004). Títulos
consideráveis de anticorpos podem ser
detectados até seis meses após a infecção
(Olsen et al., 2006a). Após a recuperação da
infecção primária, é estabelecida a
imunidade duradoura. Diante de um contato
secundário, o sistema imune monta resposta
rápida e forte. No entanto, a proteção imune
humoral contra uma nova infecção só ocorre
contra vírus homólogos, mas a infecção com
vírus diferentes pode ocorrer (Vincent et al.,
2008).
Anticorpos maternos são capazes de reduzir
a manifestação clínica, mas não impedem a
infecção com vírus diferentes. Em rebanhos
com circulação viral contínua, animais
lactentes podem se infectar e eliminar vírus
nas secreções mesmo na presença de
anticorpos passivos, mas quanto maior os
níveis de anticorpos, menor a gravidade de
sinais clínicos (Renshaw, 1975; Loeffen et
al., 2003a; Kitikoon et al., 2006; Vincent et
al., 2008).
A imunidade celular tem papel importante
na recuperação da Influenza e no clearance
viral (Flynn et al., 1998; Woodland et al.,
2001), mas não contribui significativamente
na prevenção da infecção. Linfócitos
específicos para o IAV foram detectados no
sangue, linfonodos do trato respiratório,
mucosa faríngea e nasal e no baço de
animais
infectados
experimentalmente
(Larsen et al., 2000). A lise de células
infectadas é mediada por linfócitos TCD8+
em associação com anticorpos específicos e
com o Complemento (Cox et al., 2004). A
resposta T citotóxica contra o IAV pode ser
detectada a partir de sete dias de infecção em
suínos e os TCD8+ apresentam reatividade
cruzada contra vírus Influenza do mesmo
tipo (Larsen et al., 2000). A lise de células
infectadas por células TCD8+ ocorre através
da apresentação de peptídeos pelos
receptores
do
Complexo
de
Histocompatibilidade Principal de classe I
(MHC I) e sua atividade é direcionada aos
epítopos mais conservados das proteínas NP
e M (Heinen, 2002).
Diagnóstico
O diagnóstico definitivo da infecção pelo
IAV em suínos deve ser realizado através da
associação entre diagnóstico clínico e
laboratorial, uma vez que outras afecções
respiratórias apresentam sinais clínicos
semelhantes. A Influenza pode ser
diagnosticada através de isolamento viral,
detecção de RNA e/ou proteínas virais, ou
pela detecção de anticorpos específicos. A
detecção de anticorpos contra o IAV não
indica necessariamente infecção atual, uma
vez que anticorpos podem ser detectados
vários meses após a infecção (Olsen et al.,
2006a).
O IAV pode ser isolado de secreções
respiratórias coletadas através de suabe nasal
ou naso-faringeal de animais vivos, durante
a fase aguda da doença. Em animais
eutanasiados ou que morrerem durante o
estágio agudo, amostras de tecido de
traqueia ou pulmão podem ser utilizadas
para isolamento. Suabes e amostras de
tecido devem ser mantidos refrigerados a
4°C para serem testados em até 48 horas.
Em caso de estoque por maior período, as
amostras devem ser mantidas a -80°C, uma
vez que o vírus não é estável a -20°C (OIE,
2010). As suspensões preparadas a partir de
suabes nasais ou de tecidos podem ser
inoculadas na cavidade alantoide de ovos
embrionados com 10 a 11 dias de incubação
ou em cultura de células. A confirmação da
presença do vírus é realizada através da
reação de Hemaglutinação (HA) (Meguro et
al., 1979; Clavijo et al., 2002). A técnica
padrão para isolamento do vírus influenza é
a inoculação em ovos embrionados,
entretanto devido à sua longa duração, o
isolamento em cultura de células MadinDarby de rim canino (MDCK) é amplamente
utilizado. Entretanto, é necessária a
utilização de meio de cultura contendo
tripsina, importante para a clivagem da HA
(Tobita et al., 1975; Herman et al., 2005).
Técnicas moleculares para identificar
material genético do vírus vêm sendo
aprimoradas e largamente utilizadas no
diagnóstico da Influenza, uma vez que
apresentam alta sensibilidade, rapidez de
resultados e possibilidade de teste de grande
número de amostras ao mesmo tempo (Hall
et al., 2009). A transcrição reversa-reação
em cadeia da polimerase (RT-PCR) tem sido
amplamente utilizada na detecção de vírus
humanos e animais (Schorr et al., 1994;
Lorusso et al., 2010), e algumas RT-PCR
multiplex para detecção e subtipagem
simultâneas do vírus já foram desenhadas
(Choi et al, 2002b; Lee et al., 2008). A RTPCR em tempo real é amplamente utilizada,
apresenta maior sensibilidade e segurança
que a RT-PCR convencional, além de gerar
resultados mais rápidos (Spackman et al.,
2002). Os testes rápidos para detecção do
vírus influenza (RIDT) detectam antígenos
virais em secreções respiratórias (lavados ou
suabes) através de imunoensaios enzimáticos
ou ópticos, geram resultados rápidos (30
minutos) e têm custo baixo, mas sua
eficiência depende do tipo e qualidade da
amostra e do tipo do vírus Influenza a ser
testado (Gavin e Thomson, 2003; CDC,
2009a). Mas esses testes parecem ter baixa
sensibilidade para o vírus pandêmico 2009
(Drexler et al., 2009).
Atualmente, a reação de inibição da
hemaglutinação (HI) é o método sorológico
mais utilizado para detecção da infecção
causada pelo IAV. Esse teste baseia-se na
habilidade da proteína HA da superfície viral
de aglutinar eritrócitos e na presença no soro
de anticorpos capazes de inibir tal atividade.
27
Alguns
problemas
do
teste
estão
relacionados à presença de inibidores
inespecíficos da hemaglutinação ou à
ocorrência frequente de alterações genéticas
dos vírus circulantes, que podem levar a
resultados errôneos (Wood et al., 1994;
Julkunen et al., 1985). Além da HI, também
podem ser utilizados o teste de soro
neutralização (SN) e o ensaio de
imunoadsorção ligada à enzima (ELISA)
(Julkunen et al., 1985). Atualmente existem
testes ELISA comerciais disponíveis para
detecção de anticorpos contra H1N1 e H3N2
(Lee et al., 1993; Leuwerke et al., 2008), que
são de fácil execução e geram resultados
rápidos, mas que demonstraram uma
sensibilidade reduzida e custo elevado
(Yoon et al., 2004). A SN detecta anticorpos
neutralizantes capazes de impedir a infecção
do vírus em células (Leuwerke et al., 2008).
Esse teste é trabalhoso e é vírus-específico
(Julkunen et al., 1985). A existência de
anticorpos maternos contra o IAV em leitões
lactentes ou desmamados pode levar à
ocorrência de resultados falso-positivos nos
métodos sorológicos (Kitikoon et al., 2006).
Outros métodos de detecção do IAV ou seus
antígenos
são
a
reação
de
imunofluorescência
(IF)
em
tecido
pulmonar, células nasotraqueais ou lavado
broncoalveolar;
ou
imunohistoquímica
(IHQ) em tecidos fixados em formol e
embebidos em parafina (Vincent et al.,
1997). A IF gera resultados mais rápidos que
o isolamento, mas exige habilidade técnica e
necessita de microscópio de fluorescência
(Rabalais et al., 1992; Selleck et al., 2003).
A IHQ é um teste relativamente rápido, de
baixo custo e de fácil execução. O vírus
presente em células epiteliais, macrófagos
ou pneumócitos, pode ser visualizado e sua
presença pode ser associada a lesões
microscópicas características da doença
(Vincent et al., 1997). Esse teste também é
útil em estudos retrospectivos em que
tecidos frescos podem não estar disponíveis
(Haines et al., 1993).
28
Prevenção e vacinação
As principais formas de prevenção da
Influenza suína são a biossegurança e a
vacinação. Algumas medidas podem
prevenir a introdução do vírus em uma
propriedade, como o controle da entrada de
novos animais, quarentena, limpeza e
desinfecção de instalações antes da entrada
de um novo lote e prevenção do contato com
outras espécies, especialmente aves ou
humanos com sinais de influenza (Olsen et
al., 2006a). Segregação e depopulação
parcial de animais infectados, além de
medidas rigorosas de higiene são essenciais
para controlar a disseminação do IAV dentro
de um plantel e para minimizar os efeitos da
doença no rendimento econômico da granja
(Kothalawala et al., 2006).
A vacinação é o método específico mais
utilizado na prevenção da Influenza suína,
geralmente
utilizado
em
fêmeas
reprodutoras. As vacinas atuais são
compostas por vírus inativado re-suspendido
em adjuvante oleoso, sendo geralmente
preparadas por propagação em ovos
embrionados (Ma et al., 2010). A vacinação
induz altos títulos de IgG pulmonar e
sistêmica em cerca de 2-6 dias, que reduzem
a ocorrência e gravidade de sinais clínicos,
mas a proteção total só ocorre quando a
proteína HA vacinal é geneticamente
relacionada à HA do vírus que causa a
infecção (vírus homólogos). No entanto, a
replicação e eliminação viral em secreções
respiratórias são reduzidas (Poland et al.,
2001; Kothalawala et al., 2006). A
vacinação
em
plantéis
susceptíveis
geralmente consiste de duas aplicações pela
via intramuscular (IM) com intervalo de
duas a quatro semanas entre elas (Olsen et
al., 2006a). Vacinas comerciais para suínos
contra IAV estão disponíveis em vários
países. Como existem diferenças genéticas e
antigênicas entre as cepas virais circulantes
nos diferentes continentes, a composição
vacinal também difere. Nos Estados Unidos,
são utilizadas vacinas bivalentes contendo
cH1N1 e rearranjo triplo H3N2, mas
também existem vacinas trivalentes ou
mesmo pentavalentes contendo vírus de
rearranjo (Kitikoon et al., 2006; Vincent et
al., 2008; Vincent et al., 2010a). Na Europa,
as vacinas utilizadas são compostas por vírus
H1N1
(A/New
Jersey/8/76
ou
Sw/Netherlands/25/80) e vírus H3N2
(A/Port Chalmers/1/73) (Van Reeth et al.,
2003).
A constante variação genética que ocorre
nos vírus influenza de suínos resultou numa
ampla diversidade de IAV circulando nos
suínos do mundo. A influenza suína não é
mais considerada sazonal, e existe um
número elevado de variantes virais
circulando, dificultando, assim, a produção
de
vacinas
comerciais
eficazes.
Consequentemente, o uso de vacinas
autógenas com cepas específicas do rebanho
de origem está aumentando como medida
alternativa de controle da enfermidade
(Vincent et al., 2008; Ma e Richt, 2010). A
utilização de vacinas autógenas preparadas
de culturas de vírus após inativação deve ser
restrita àquele rebanho e de acordo com a
legislação vigente no país, além de que o
acompanhamento veterinário deve ser
preconizado (BRASIL, 2003; Ma e Richt,
2010).
Vacinas vivas modificadas são capazes de
aumentar a imunidade local e promover
proteção cruzada para outros subtipos
(Thacker e Janke, 2008). Entretanto a
utilização de vacinas vivas gera a
possibilidade de rearranjo entre vírus
vacinais e vírus de campo e o surgimento de
novos vírus, portanto vacinas vivas para
Influenza não estão disponíveis para suínos
(Erdmann e Crabtree, 2006).
Vacinas de DNA são uma alternativa para a
proteção contra a Influenza e vêm sendo
amplamente estudadas. Esse tipo de vacina
utiliza DNA viral para a produção de
antígenos virais intracelulares que serão
apresentados por moléculas MHC I e MHC
II, induzindo a resposta humoral e celular de
longa duração (Thacker e Janke, 2008).
Vacinas de DNA mostram-se vantajosas por
levarem à produção de resposta imune
contra diversos subtipos e não sofrerem
interferência de anticorpos maternos (Kim e
Jacob,
2009).
Entretanto,
testes
experimentais mostraram que são eficientes
apenas como estímulo primário e que existe
a necessidade de revacinação com vacinas
inativadas convencionais (Heinen et al.,
2002; Larsen e Olsen, 2002). Além disso,
existe a preocupação de integração do DNA
vacinal à célula hospedeira, aumentando o
risco de malignidade e ocorrência de
doenças auto-imunes (Kim e Jacob, 2009).
Vetores vacinais contra a infecção com IAV
vêm sendo estudados para suínos, utilizando
alphavirus (Vander Veen et al., 2009),
adenovírus (Wesley et al., 2004) ou vírus da
pseudoraiva (Tian et al., 2006). O uso de
baculovírus vem sendo utilizado na
vacinação de humanos e aves, mas ainda não
é empregado em suínos (King Jr et al.,
2009).
Embora a ocorrência de antigenic drift nos
suínos seja menos frequente que em
humanos, a variabilidade genética e
antigênica do IAV resulta na perda de
eficácia vacinal devido à discordância entre
o antígeno vacinal e a amostra viral
circulante no campo. Dessa forma, a
vigilância epidemiológica global do IAV é
uma ferramenta necessária para a
atualização frequente de cepas circulantes e
para melhorar os resultados vacinais
(Thacker e Janke, 2008; Ma e Richt, 2010).
Além disso, outro obstáculo importante para
a vacinação bem sucedida é a presença de
anticorpos maternos, que consequentemente
reduz a eficiência vacinal e aumenta a
incidência da doença na fase em que os
níveis de anticorpos colostrais reduzem.
Anticorpos passivos podem suprimir a
resposta de anticorpos e de linfócitos T
específicos para o IAV resultante da
vacinação (Kitikoon et al., 2006).
29
A cartografia antigênica é uma ferramenta
importante para auxiliar na vacinação, é um
método computacional que permite a
visualização da distância antigênica entre
antígenos e anti-soros, auxiliando na
detecção de reação cruzada entre eles (de
Jong et al., 2007; Garten et al., 2009;
Lorusso et al., 2011).
Além da vacinação, drogas antivirais podem
ser utilizadas para controlar a Influenza.
30
Bloqueadores dos canais de íon M2
(amantadina e rimantadina) e inibidores da
NA (zanamivir e oseltamivir) são exemplos
de drogas utilizadas no tratamento da
Influenza em humanos. No entanto, não
existe nenhum tratamento antiviral contra
IAV aprovado para uso em suínos, e seu
emprego não é economicamente viável
(Vincent et al., 2008).
CAPÍTULO 2: EVIDÊNCIA
SOROLÓGICA DA CIRCULAÇÃO
DO VÍRUS INFLUENZA EM
SUÍNOS DE MINAS GERAIS,
BRASIL1
Introdução
O vírus da influenza suína (SIV) é um
Orthomixovirus
que
causa
doença
respiratória aguda em suínos. A doença é
caracterizada por surtos explosivos, com alta
morbidade e baixa mortalidade (Olsen et al.,
2006a). Sinais clínicos comuns da influenza
suína são hipertermia, anorexia, tosse e
descargas nasais (Brown, 2000). Desde seu
primeiro relato em 1931 (Shope, 1931), três
subtipos de SIV têm circulado na população
de suínos mundial (H1N1, H1N2 e H3N2),
entretanto estes subtipos diferem na origem
e caracterização genética em diferentes
continentes e regiões (Olsen et al., 2006a).
O vírus influenza suíno clássico H1N1
(cH1N1) era o subtipo predominante nos
Estados Unidos (Chambers et al., 1991), mas
a introdução de um novo vírus H3N2 em
1998 levou a rearranjos que resultaram na
circulação de outros genótipos H1N1, bem
como de novos subtipos H1N2 e H3N1
(Vincent et al., 2008). Na Europa, o vírus
H1N1 tipo aviário se tornou o subtipo
predominante infectando suínos, mas o vírus
rearranjo H3N2 suíno também é endêmico
em rebanhos suínos europeus (Van Reeth et
al., 2008). A infecção pelo SIV na população
suína brasileira não é bem definida, e apenas
poucos estudos evidenciam essa infecção
1
Artigo publicado na revista Influenza and
Other Respiratory Viruses, DOI: 10.1111/j.17502659.2012.00366.x. Ver ANEXO I.
por diagnóstico sorológico (Brentano et al.,
2002; Mancini et al., 2006).
Minas Gerais é o Estado com o quarto maior
efetivo de suínos do Brasil, representando
12,9% do total de animais. Além disso, o
município com maior efetivo está situado em
Minas (Uberlândia) (IBGE, 2010). Portanto,
o objetivo deste estudo foi avaliar a presença
de anticorpos contra o vírus influenza em
suínos e demonstrar sua circulação no
Estado de Minas Gerais, Brasil.
Material e Métodos
Foram utilizadas 355 amostras de soro
originadas de explorações de suínos de
Minas Gerais, gentilmente cedidas pelo
Laboratório Microbiologia Veterinária
Especial (MICROVET). As amostras de
sangue foram coletadas entre Janeiro e
Março de 2009, anteriormente à ocorrência
da pandemia H1N1 2009, através de punção
da veia jugular. As amostras foram
centrifugadas e, após separação do soro,
mantidas a -20ºC até o processamento. O
tamanho amostral e a localização das
propriedades
foram
baseados
na
disponibilidade de amostras do banco de
soros. Foram testados animais na idade de
reprodução (marrãs e porcas) em 17 granjas
comerciais de suínos distribuídas ao acaso
no Estado de Minas Gerais, localizadas nas
mesorregiões: Triângulo Mineiro; Zona da
Mata; Metropolitana de Belo Horizonte; Sul
e Sudoeste; Oeste; Norte e Noroeste de
Minas (Fig. 2). Em cada propriedade foram
testados pelo menos 10 animais. Os
rebanhos eram de ciclo completo com
sistema “todos dentro - todos fora”,
localizados em áreas com alta densidade de
suínos e sem histórico de vacinação para
SIV. Nenhum sinal respiratório foi relatado
nos animais amostrados.
31
Figura 2. Mapa das mesorregiões em que as
granjas estudadas estavam localizadas.
Cada amostra foi testada com três vírus
referência, um humano A/WSN/1933
(H1N1)
(H1N1h)
e
dois
suínos:
A/swine/Iowa/15/1930 (H1N1) (H1N1 SIV)
gentilmente cedido pelo Laboratório
Nacional Agropecuário em Minas Gerais
(LANAGRO-MG); e A/swine/Iowa/85482/98 (H3N2) (H3N2 SIV) gentilmente
cedido pela EMBRAPA Suínos e Aves. Os
vírus foram cultivados em ovos embrionados
com 10 dias de incubação. Os ovos foram
inoculados na cavidade alantoide com
0,1mL de inóculo e incubados a 35-37°C por
4 dias. Diariamente foi realizada a ovoscopia
para detectar possível morte do embrião.
Caso ocorresse morte nas primeiras 24 horas
após a inoculação, o ovo era descartado, se a
morte ocorresse após 24 horas o líquido
alantoide era coletado, clarificado a 2000
rpm por 20 minutos e armazenado a -80ºC
(WHO, 2002; OIE, 2010).
As amostras de soros testadas contra os vírus
H1N1 foram inativadas a 56°C por 30
minutos e tratadas com suspensão de Caolin
20% por 20 minutos. Em seguida foram
tratadas com suspensão de hemácias de galo
0,5% por 30 minutos, para eliminar
inibidores inespecíficos e aglutininas séricas.
Após centrifugação a 1500rpm por cinco
minutos foi coletado o sobrenadante (soro
32
tratado) para ser utilizado na reação de
inibição da hemaglutinação (HI) (WHO,
2002; OIE, 2010). Para serem testadas
contra o H3N2 SIV, as amostras de soro
foram tratadas com tripsina 0,4% a 56°C por
30 minutos, seguido por tratamento com
periodato de potássio 0,01M por 15 minutos.
A mistura foi então acrescida de glicerol 1%
e incubada a temperatura ambiente por 15
minutos (Dowdle et al., 1979; Boliar et al,
2006).
Para a HI, a diluição inicial utilizada para as
amostras de soro tratado foi de 1:10. Foi
então realizada a diluição seriada na base
dois até 1:10.240 em tampão salina fosfato
(PBS; NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM,
Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 mM, pH7,4) em
placas de fundo “V” de 96 poços, no volume
de 25µL. Em seguida, 25µL do vírus
referência (H1N1 SIV, H3N2 SIV ou
H1N1h)
contendo
4
unidades
hemaglutinantes
(4UHA/25µL)
foram
adicionados a cada poço e a placa foi
incubada a temperatura ambiente por 60
minutos. Finalmente, 50µL de suspensão de
hemácias de galo 0,5% foram adicionados e
a placa foi incubada a temperatura ambiente
por 30 minutos. O título dos anticorpos foi
determinado pelo inverso da maior diluição
do soro capaz de inibir completamente a
aglutinação das hemácias, em unidades de
inibição da hemaglutinação (UHI). Foram
utilizados controles de suspensão de
eritrócitos e de soro positivo (diluição 1:64),
obtido através de pool de soros testados
previamente contra cada um dos antígenos
utilizados. Uma coluna foi utilizada para
controle de soros teste para observar a
presença
de inibidores
inespecíficos
(Pedersen, 2008). Os soros apresentando
título de anticorpos igual ou superior a 40
foram considerados positivos (WHO, 2002;
Choi et al., 2002a). Amostras com títulos
iguais a 40 e 80 foram consideradas com
título baixo; 160 e 320, título médio; e ≥640,
título alto. Um rebanho era considerado
positivo se apresentasse ao menos um
animal positivo.
As médias de títulos HI para rebanhos
positivos e negativos estão relatadas na Tab.
3. As médias e medianas dos títulos de
anticorpos foram relativamente baixas nos
rebanhos positivos para os vírus H1N1 suíno
e humano, com valores próximos ao ponto
de corte, o que é corroborado pelo
percentual elevado de animais negativos e
com títulos baixos para esses vírus na maior
parte das granjas (Fig. 3). Já para o H3N2
SIV, tanto a média como a mediana dos
títulos HI nos rebanhos positivos foram
abaixo do ponto de corte, o que se justifica
pelo alto percentual de animais nãoinfectados nesses rebanhos (Fig. 3). O
percentual de fêmeas positivas para
múltiplos antígenos foi calculado (Tab. 4).
Intervalos de confiança de 95% foram
calculados para as prevalências de rebanhos
e animais e a estatística descritiva foi
calculada para os títulos de anticorpos de
rebanhos positivos e negativos.
Resultados
Dos 355 soros testados, 158 (44,5%)
possuíam anticorpos contra o H1N1 SIV, 36
(10,1%) contra H3N2 SIV e 136 (38,3%)
contra H1N1h. Dos 17 rebanhos testados, 11
(64,7%) foram considerados positivos para
H1N1 SIV, 4 (23,5%) para H3N2 SIV e 10
(58,8%) para H1N1h (Tab. 2).
Figura 3. Distribuição dos títulos de anticorpos contra o vírus da influenza suína (SIV) H1N1,
H3N2 SIV e vírus influenza humano H1N1 nas granjas positivas. Amostras negativas (titulo
<40); com título baixo (40 e 80); título médio (160 e 320); e título alto (≥640).
33
Tabela 2. Ocorrência da influenza suína no Brasil para animais e rebanhos.
H1N1 SIV
Variável
H3N2 SIV
H1N1h
Animal
Rebanho
Animal
Rebanho
Animal
Rebanho
Número de amostras
testadas
355
17
355
17
355
17
Número de positivos
158
11
36
4
136
10
Prevalência, % (IC
95%)
44,5
64,7
10,1
23,5
38,3
58,8
(39,33−49,67) (41,98−87,42) (6,97−13,23) (3,34−43,66) (33,24−43,36) (35,4−82,2)
IC = Intervalo de confiança; H1N1 SIV = H1N1 suíno; H3N2 SIV = H3N2 suíno; H1N1h =
H1N1 humano
Tabela 3. Títulos de Inibição da Hemaglutinação para rebanhos positivos e negativos.
Rebanhos Positivos
Variável
Rebanhos Negativos
H1N1 SIV
H3N2 SIV
H1N1h
H1N1 SIV
H3N2 SIV
H1N1h
11
4
10
6
13
7
Título mínimo
29,97
14,64
19,10
11,89
10,34
10,68
Mediana
46,30
22,36
46,08
13,19
11,49
12,03
Título máximo
146,72
26,70
118,19
16,62
14,32
20,00
Média
59,34
21,02
47,50
13,58
11,59
13,27
Desvio padrão
16,77
13,27
16,82
11,45
10,91
12,61
Erro padrão
11,69
11,52
11,79
10,57
10,25
10,91
Número de valores
IC 95%
41,90-83,98 13,41-32,97 32,76-68,92 11,78-15,66 11,00-12,22 10,71-16,44
IC = Intervalo de confiança; H1N1 SIV = H1N1 suíno; H3N2 SIV = H3N2 suíno; H1N1h =
H1N1 humano
Tabela 4. Percentual de animais com anticorpos contra múltiplos antígenos de vírus influenza
em Minas Gerais, Brasil.
Número
Percentual (%)
H1N1
SIV
H3N2
SIV
H1N1h
H1N1 SIV +
H3N2 SIV
H1N1 SIV +
H1N1h
H3N2 SIV +
Três
H1N1h
antígenos
57
4
42
12
74
5
15
16,05
1,13
11,83
3,38
20,84
1,41
4,22
H1N1 SIV = H1N1 suíno; H3N2 SIV = H3N2 suíno; H1N1h = H1N1 humano
Discussão
Foi observada uma alta ocorrência de
animais com anticorpos anti-influenza H1N1
nas amostras analisadas no Estado de Minas
Gerais, provavelmente devido à infecção
34
prévia, pois a vacinação não era realizada
nos rebanhos avaliados. No entanto, um
menor percentual de animais obteve
resultado positivo para o subtipo H3N2. Até
o momento, poucos estudos foram realizados
no Brasil com o intuito de demonstrar a
presença de anticorpos contra o vírus
influenza em suínos, e este é o primeiro
estudo a relatar a distribuição de animais
com anticorpos anti-influenza em Minas
Gerais.
As taxas observadas neste estudo de 44,5% e
38,3% de animais com anticorpos contra
H1N1 suíno e humano, respectivamente, são
semelhantes àquelas encontradas em estudos
de prevalência da influenza em suínos nos
Estados Unidos (66,3%), Itália (46,4%) e
Espanha (38,5%) (Choi et al., 2002a; Van
Reeth et al., 2008). Entretanto, a prevalência
de anticorpos anti-SIV em outro estudo na
Espanha foi inferior à observada aqui, e
evidências mostram que um SIV H1N2
recentemente introduzido nos rebanhos
suínos está amplamente distribuído naquele
país (Maldonado et al., 2006). Mancini et al.
(2006) observaram taxa muito elevada
(85,3%) de animais positivos para H1N1 em
um único rebanho do Estado de São Paulo,
enquanto que Brentano et al. (2002), em um
estudo abrangendo diversos Estados
brasileiros, observaram uma prevalência
para esse subtipo viral muito inferior (2,2%)
àquela encontrada no presente estudo, mas
foi utilizado na HI apenas antígeno humano.
Já para H3N2, estes estudos revelaram taxas
de 85,3% e 16,7%, respectivamente. A taxa
de 10,1% de animais positivos para H3N2
encontrada no presente trabalho foi
semelhante à de 20% observada em um
estudo recente realizado no Estado do
Paraná (Caron et al., 2010) e também
semelhante à taxa observada na Irlanda
(4,2%) anteriormente (Van Reeth et al.,
2008). Entretanto, foi inferior às ocorrências
observadas na Itália (41,7%), Espanha
(38%) e Estados Unidos (33,7%) (Choi et
al., 2002a; Van Reeth et al., 2008).
Mesmo que tenha sido observado um
percentual elevado de animais positivos para
H1N1, poucos animais apresentaram títulos
altos, provavelmente por se tratar de
circulação viral antiga ou pressão de
infecção baixa nos rebanhos. Dessa forma,
embora anticorpos contra o SIV tenham sido
detectados, os animais não apresentavam
proteção imune adequada.
A proporção de animais com anticorpos para
ambos os vírus H1N1 (20,84%) foi superior
à proporção para apenas um deles (16,05%
para H1N1 SIV e 11,83% para H1N1
humano). Alguns animais foram positivos
para ambos os vírus suínos (3,38%) e uma
porcentagem de animais também foi positiva
para todos os três antígenos (4,22%).
Portanto, diferentes cepas virais de influenza
estão co-circulando na população de suínos
brasileiros, causando infecção mista e
possibilitando o rearranjo genético entre
esses vírus.
Também foi observada uma alta prevalência
de granjas positivas para H1N1 SIV (64,7%)
e H1N1 humano (58,3%) neste estudo,
semelhante àquela observada em rebanhos
na Coréia (71,5%) (Jung et al., 2002), e
ligeiramente inferior à prevalência de 83,1%
observada em porcas no Canadá (Poljak et
al., 2008). Para H3N2, a ocorrência
encontrada neste estudo foi inferior às
observadas para H1N1, além de ser inferior
à observada no estudo recente no Paraná
(46%) (Caron et al., 2010).
Os resultados positivos tanto para H1N1
suíno e humano, como para H3N2 suíno em
amostras coletadas previamente à ocorrência
da pandemia de 2009 indica a circulação do
vírus Influenza em suínos no Brasil anterior
à introdução do vírus pandêmico. Além
disso, os resultados obtidos neste estudo
indicam que o vírus influenza está
disseminado em Minas Gerais e que pode
ser endêmico na população de suínos do
Brasil.
35
CAPÍTULO 3: IDENTIFICAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO CLÍNICOPATOLÓGICA DO VÍRUS
INFLUENZA EM SUÍNOS NO
BRASIL
Introdução
A primeira descrição clínica da influenza em
suínos ocorreu em 1918, simultaneamente à
ocorrência da Gripe Espanhola em humanos
(Koen, 1919 citado por Zhimer et al., 2009;
Webster, 1992). Desde então, os vírus
influenza A são associados ao complexo de
doença respiratória suína (CDRS), em
conjunto com outros patógenos como
Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida,
vírus da síndrome respiratória e reprodutiva
suína (PRRSV) e circovírus suíno tipo 2
(PCV2) (Thacker et al., 2001; Vincent et al.,
2008).
A influenza em suínos é causada pelo vírus
influenza A (IAV), que é envelopado, com
genoma de RNA segmentado, pertencente à
família Orthomyxoviridae (Palese e Shaw,
2007). Três subtipos antigenicamente
distintos de influenza A circulam em suínos
no mundo, H1N1, H3N2 e H1N2, e são
endêmicos e frequentemente isolados nos
Estados Unidos, Europa e Ásia (Van Reeth,
2007).
A influenza suína é uma doença respiratória
aguda, cuja gravidade depende de diversos
fatores, incluindo estado imune do
hospedeiro, cepa viral e infecções
secundárias (Vincent et al., 2008). Os sinais
clínicos da influenza em suínos são
semelhantes aos observados em humanos,
incluindo febre, tosse, espirros, descarga
nasal, angústia respiratória, prostração,
anorexia e conjuntivite (Alexander e Brown,
2000; Richt et al., 2003).
As lesões macroscópicas associadas à
influenza em suínos são áreas de
36
consolidação pulmonar vermelho escura
bem delimitada, multifocal a difusa, com
localização principalmente crânio-ventral.
Microscopicamente observa-se necrose do
epitélio bronquiolar e presença de restos
celulares, fluído proteináceo e leucócitos no
lúmen de vias aéreas. A necrose é
acompanhada de infiltrado linfocitário
peribronquiolar e pneumonia intersticial
(Vincent et al., 2008).
Estudos anteriores mostraram que o SIV está
disseminado
nos
suínos
brasileiros
(Brentano et al., 2002; Mancini et al., 2006;
Ciacci-Zanella et al., 2011a; Schaefer et al.,
2011a,b,c), mas a enfermidade não está bem
caracterizada nos suínos nacionais. O
objetivo deste estudo foi identificar e
realizar a caracterização clínica e patológica
da influenza em suínos no Brasil.
Material e Métodos
1. Amostras clínicas
Foram utilizadas 86 amostras de pulmão de
casos de diagnóstico de rotina recebidas pelo
Laboratório de Diagnóstico Instituto de
Pesquisas
Veterinárias
Especializadas
(IPEVE) e por Médicos Veterinários após
visita técnica. As amostras foram coletadas
durante surtos de doença respiratória em 37
rebanhos suínos de ciclo completo e duas
Unidades Produtoras de Leitões (UPL), com
sistema “todos dentro – todos fora” sem
histórico de vacinação para o SIV,
localizados em Minas Gerais (24), São Paulo
(2), Paraná (1), Rio Grande do Sul (4), Santa
Catarina (1) e Mato Grosso (7). Os dados
clínicos foram obtidos junto ao laboratório
após serem fornecidos pelos proprietários e
médicos veterinários. Os fragmentos foram
coletados
assepticamente
durante
a
necropsia, resfriados e processados em até
48 horas após a coleta.
As amostras de tecido foram maceradas,
pesadas e acrescidas de meio essencial
mínimo (MEM) contendo antibióticos
(200U/mL de penicilina, 200µg/mL de
estreptomicina e 1,25µg/mL de anfotericina
B) para obter uma suspensão 10% p/v. A
mistura foi então centrifugada a 2000 rpm a
4ºC por 30 minutos e o sobrenadante foi
coletado e filtrado com filtro de seringa
0,22µm (Clavijo et al., 2002). Uma porção
do tecido original e uma alíquota da
suspensão 10% p/v foram armazenadas a
−80ºC.
A detecção viral nos fragmentos de pulmão
foi realizada pelo isolamento viral em
cultura de MDCK, PCR em tempo real
(PCRrt) e Imuno-histoquímica (IHQ) (Fig.
4).
Figura 4. Figura esquematizando os procedimentos realizados para detecção do vírus influenza
em fragmentos de pulmão suíno.
2. Isolamento viral em cultivo celular
Para isolamento viral, foram utilizadas
monocamadas confluentes de células MDCK
em placas de 24 poços. As células foram
cultivadas na concentração de 8x104
células/cm2, em MEM contendo 5% de soro
fetal bovino (SFB) e antibióticos (200U/mL
de penicilina, 200µg/mL de estreptomicina e
1,25µg/mL de anfotericina B), e mantidas
em atmosfera umidificada com 5% de CO2 a
37ºC.
A monocamada foi lavada três vezes com
PBS esterilizado. Para cada amostra, 0,2mL
da suspensão 10% p/v de pulmão com
diluição 1:2 em MEM de inoculação
(contendo albumina sérica bovina 5% e
antibióticos) foram inoculados em três poços
de cultivo celular. O inóculo foi incubado
com a monocamada a 37ºC por 60 minutos
em estufa com 5% de CO2. Foi então
acrescido MEM contendo tripsina (2 µg/mL)
e as placas foram incubadas a 37ºC e 5% de
CO2 por até sete dias e avaliações diárias do
efeito citopático (ECP) foram realizadas. O
ECP é caracterizado por arredondamento de
células, formação de grumos e lise da
monocamada (OIE, 2010). Após observação
de ECP ou após sete dias da inoculação, o
sobrenadante foi coletado assepticamente e
testado para atividade hemaglutinante pela
reação de hemaglutinação (HA). Amostras
que apresentaram hemaglutinação positiva
foram consideradas positivas. Na ausência
de hemaglutinação, uma nova passagem em
MDCK foi realizada (WHO, 2002).
37
3. Reação de hemaglutinação (HA)
A reação de hemaglutinação (HA) foi
realizada para confirmar o isolamento viral e
para a titulação viral. Cinquenta µL de
sobrenadante de cada amostra foram
diluídos em série na base dois até 1:1.024
em placas de fundo “V” de 96 poços. Os
sobrenadantes foram então incubados com
mesmo volume de suspensão de hemácias de
galo a 0,5% por 30 minutos ou até que
botões de células fossem observados no
fundo dos poços de controle de hemácias
(última coluna) (Killian, 2008). Para cada
placa foi utilizada a amostra referência
A/swine/Iowa/15/1930
(H1N1)
como
controle
do
vírus.
O
título
de
hemaglutinação foi determinado pelo
inverso da maior diluição capaz de aglutinar
completamente as hemácias.
4. Imunocitoquímica
Para confirmar a replicação viral nas células
inoculadas e o resultado do isolamento, os
sobrenadantes das amostras positivas na HA
foram
testados
em
duplicata
pela
imunocitoquímica (ICQ). Os sobrenadantes
foram inoculados com diluição 1:10 em
MEM com tripsina, em placas de 96 poços
com monocamadas confluentes de MDCK.
Após 24 horas as placas foram fixadas com
formalina 4% em PBS por 30 minutos a
temperatura ambiente. Para coloração das
placas foi utilizado o protocolo da imunohistoquímica detalhado a seguir, com
anticorpo monoclonal anti-Influenza A
contra a nucleoproteína viral, pelo método
da streptavidina-biotina marcada com
peroxidase e revelação com solução de
cromógeno AEC (3-amino-9-etilcarbazol).
5. Titulação viral de amostras isoladas
Foram utilizadas placas de 96 poços com
monocamadas confluentes de MDCK para a
titulação viral de amostras positivas no
38
isolamento. A monocamada foi lavada com
PBS esterilizado e o sobrenadante obtidos
após o isolamento viral de cada amostra foi
testado em triplicata em MEM contendo
tripsina em diluições seriadas na base dez,
de 10-1 a 10-7. A última linha foi utilizada
como controle negativo, contendo apenas
meio de cultura. As amostras foram
inoculadas e incubadas por 48 horas, e então
os sobrenadantes foram submetidos à reação
de hemaglutinação. O título viral foi
calculado pela dose infecciosa 50% em
cultura de tecido (TCID50/mL) utilizando o
método de Reed e Muench (Reed e Muench,
1938).
6. Extração de RNA e transcrição
reversa
O RNA viral foi extraído de 140µL de
sobrenadante após isolamento, utilizando o
kit QIAamp viral RNA mini kit (Qiagen
Inc., Valencia, CA, EUA) de acordo com
especificações do fabricante. Para a
transcrição reversa, 10 µL de RNA (1-2µg)
foram aquecidos por 2 minutos a 94ºC e
imediatamente resfriados em gelo. O RNA
foi então acrescido de 0,2µM de primer
universal para vírus Influenza (primer Uni12
5’-AGCAAAAGCAGG-3’), complementar
à terminação 3’ conservada dos segmentos
de RNA dos vírus influenza A (Hoffmann et
al., 2001), e 0,2µM de primer reverso para o
gene da proteína ribossomal S26 canina
(Primer S26 5’-CGATTCCGGACTAC
CTTGCTGTG-3’). A mistura foi aquecida a
70ºC por 5 minutos para retirar estruturas
secundárias, e imediatamente resfriada em
gelo. A transcrição reversa foi realizada a
42ºC por 60 minutos utilizando 100
unidades de transcriptase reversa M-MLV
(Promega, Madison, WI, EUA), 5 µL de
tampão de reação 5X, 0,8mM de cada dNTP,
40 unidades de inibidor de ribonuclease
RNaseOUT™ (Invitrogen, Carlsbad, CA,
EUA) e água livre de RNAse para o volume
final de 25 µL.
7. PCR em tempo real
Antes da análise quantitativa, todas as
amostras foram previamente submetidas a
PCR em tempo real (PCRrt), pela análise de
presença/ausência, para confirmar a infecção
por IAV nos animais coletados. Foram
utilizados primers e sondas para o segmento
M do vírus influenza e o protocolo
recomendado pelo Center for Disease
Control
and
Prevention/Organização
Mundial de Saúde (CDC/OMS) (WHO,
2009), com algumas modificácões. A PCRrt
foi realizada utilizando-se sistema TaqMan®
de detecção, um par de iniciadores para
detecção de ácidos nucléicos do vírus
Influenza A baseados em sequência
conservada do segmento da matriz (InfA) e
um par de iniciadores para detecção do gene
da proteína ribossomal S26 canina (S26)
para controle interno da reação. Para cada
amostra foram realizadas duas reações de
amplificação, uma para Influenza e outra
para controle interno, em duplicata. As
sequências de iniciadores e sondas estão
descritas na Tab. 5.
Tabela 5. Conjunto de iniciadores e sondas para uso na PCR quantitativa em tempo real para
detectar ácidos nucléicos do vírus influenza após isolamento viral.
Iniciadores e Sondas
Sequência (5’>3’)
InfA Forward
GAC CRA TCC TGT CAC CTC TGA C
InfA Reverse
AGG GCA TTY TGG ACA AAK CGT CTA
Sonda InfA*
TGC AGT CCT CGC TCA CTG GGC ACG
S26 Forward
CGT GCT TCC CAA GCT GTA CGT GA
S26 Reverse
CGA TTC CGG ACT ACC TTG CTG TG
Sonda S26*
CTC CAT TAC TGC GTG AGT TGT GCC A
*As sondas foram marcadas com fluorocromo repórter 6-carboxifluoresceína (FAM) na
extremidade 5’ e com quencher 6-carboxi-tetrametilrodamina (TAMRA) na 3’.
A amplificação foi realizada em uma reação
de 20µL utilizando o kit TaqMan®
Universal PCR Master Mix e o sistema de
detecção Applied Biosystems 7500 RealTime PCR System (Applied Biosystems,
Foster City, CA, EUA). As concentrações de
iniciadores InfA e S26 foram otimizadas a
partir de 0,2µM, 0,4µM e 0,8µM, e as
concentrações das sondas InfA e S26 foram
otimizadas a partir de 0,05µM, 0,1µM e
0,2µM. As concentrações de 0,8µM e 0,2µM
foram selecionadas como concentração final
de iniciadores e sondas, respectivamente. As
reações foram incubadas a 50°C por 2
minutos, 95°C por 10 minutos, seguidas de
45 ciclos a 95°C por 15 segundos e 60°C por
1 minuto. A fluorescência foi coletada a
60°C.
A reação final otimizada consistiu em 10µL
de TaqMan Universal PCR Master Mix
(2X), 0,8µM de cada primer, 0,2µM da
sonda, 2 µL de cDNA (1µg) e água livre de
RNAse para 20µL.
Para cada reação foram utilizados dois
controles negativos, um no-template e um de
sobrenadante de MDCK não infectada, e um
controle positivo de MDCK infectada com a
amostra referência (A/swine/Iowa/15/1930
(H1N1)). Todas as amostras e o controle de
MDCK não infectada deveriam apresentar
curva de amplificação para S26 cruzando o
threshold em até 38 ciclos. As amostras
foram consideradas positivas se a curva de
crescimento para InfA cruzasse o threshold
em até 40 ciclos.
39
8. Clonagem e construção da curva
padrão
A amostra referência foi clonada e utilizada
para a construção da curva padrão da PCR
quantitativa em tempo real (qPCRrt), após
ser submetida à transcrição reversa como
descrito anteriormente. Para a obtenção do
plasmídeo recombinante, os primers InfA
forward e InfA reverse (Tab. 5) foram
utilizados em uma reação de PCR
convencional para gerar um amplicon de
106pb do gene M do vírus Influenza. A
reação consistiu em 5µL de tampão 5X e
0,15µL de GoTaq HotStart DNA Polimerase
(Promega, Madison, WI, EUA), 2mM de
MgCl2, 0,2mM de cada dNTP, 0,2µM de
cada primer, 1µL de cDNA (0,5µg) e água
livre de DNAse para 25µL.
seguida de incubação a 42ºC por 90
segundos e imediato retorno ao gelo por 5
minutos. Em seguida, foram adicionados
500µL de meio PSI (meio LB, KCl 10mM,
MgSO4 4mM) aos tubos, sendo esta mistura
incubada a 37°C por 1,5 horas sob agitação a
180 rpm. Posteriormente, 200µl da
suspensão de bactérias foram plaqueados em
placas de petri contendo o meio LB (Luria
Bertani, contendo ampicilina 100µg/mL). As
placas foram incubadas invertidas a 37°C
por 24 horas.
A amplificação foi realizada nas seguintes
condições: desnaturação inicial a 94°C por 5
minutos, seguida de 30 ciclos com
desnaturação a 94°C por 30 segundos,
anelamento de primers a 60°C por 30
segundos e extensão a 72°C por 3 minutos,
concluindo com uma extensão final a 72°C
por 7 minutos. Os produtos amplificados
foram visualizados em gel de agarose 1% e
purificados utilizando a técnica freeze and
squeeze (Hartman, 1991). O produto
purificado foi, então, ligado ao vetor pGEMT-Easy (Promega, Madison, WI, EUA),
numa reação que consistiu em 7,5µL de
tampão 2X Rapid ligation, 1µL de vetor
pGEM-T Easy, 1,5µL de T4 DNA ligase e
5,0µL do produto da PCR purificado para
um volume final de 15µL, de acordo com o
protocolo do fabricante. A reação foi
incubada a temperatura ambiente por 1 hora
e
em
seguida
a
4°C
overnight
(aproximadamente 16 horas).
O DNA plasmidial foi extraído utilizando o
protocolo Miniprep, em que 4mL de
bactérias crescidas foram centrifugados a
1000 g por 10 minutos, a temperatura
ambiente. O pellet foi então ressuspendido
em 200µL da solução GET/RNase (glicose
ou dextrose; Tris-HCl pH 8,0 1M; EDTA
0,2M; Água Milli-Q q.s.p. 100mL; RNAse
10mg/mL), adicionando-se em seguida
400µL da solução de lise (SDS 20%; NaOH
10N; água Milli-Q q.s.p.100mL). Após três
minutos, foram adicionados 400µL da
solução de neutralização (solução de acetato
de potássio 13%, pH 4,8). Os tubos foram
incubados em gelo por 20-30 minutos e
então centrifugados a 10.000 g a 8°C, por 15
minutos.
Em
seguida,
800µL
do
sobrenadante foram transferidos para tubos
contendo
600µL
de
isopropanol,
homogeneizados e centrifugados a 10.000 g
a 8ºC por 10 minutos. Foram adicionados
500µl de etanol 70% aos precipitados, que
foram homogeneizados e centrifugados a
10.000 g por cinco minutos. Os tubos foram
drenados, o DNA foi diluído em água MilliQ e quantificado por meio de um
espectrofotômetro
(NanoVue
Plus
Spectrophotometer/
GE
Healthcare,
Waukesha, WI, EUA).
A seguir, foi realizada a transformação em
Escherichia coli XL10 quimicamente
competente (Invitrogen, Carlsbad, CA,
EUA), adicionando-se 50-100ng da reação
de ligação a 50µL de bactérias competentes
com incubação por 30 minutos em gelo,
A confirmação do recombinante foi
realizada através de digestão enzimática com
a enzima de restrição PST I (Invitrogen,
Carlsbad, CA, EUA). Aproximadamente
650ng de DNA plasmidial foram digeridos
em 100U de PST I, 2 µL de tampão H 10X
40
(500 mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 10 mM
Dithiothreitol, 1.000 mM NaCl) e água para
uma solução final de 20µL, e a mistura foi
incubada a 37°C por uma hora, seguida de
inativação a 80°C por 20 minutos. O produto
da digestão foi confirmado em gel de
agarose a 1%.
O DNA plasmidial contendo o inserto de
106pb foi quantificado no NanoVue, e o
número de moléculas/µL foi estimado
(Whelan et al., 2003). Foram então
realizadas diluições seriadas na base dez
para a construção da curva padrão, que
consistiu de seis diluições diferentes (107;
106; 105; 104; 102; 10 cópias de cDNA).
9. Quantificação de amostras positivas
pela PCRrt
As amostras com resultado positivo na
PCRrt foram submetidas à PCR quantitativa
em tempo real (qPCRrt), através da
quantificação absoluta. As reações foram
realizadas como descrito acima, utilizando
apenas iniciadores InfA. As amostras foram
testadas em duplicata e a curva padrão foi
utilizada em triplicata.
10. Diagnóstico histológico e imunohistoquímico
Das 86 amostras de pulmão estudadas, 60
foram avaliadas no diagnóstico histológico e
pela técnica de imuno-histoquímica (IHQ),
pois as demais amostras foram recebidas
congeladas. Os fragmentos de tecidos foram
fixados em formol tamponado 10% e
incluídos em parafina. As lâminas para
análise histológica foram processadas por
métodos histológicos de rotina (Luna, 1968)
e coradas com hematoxilina-eosina (HE).
Os fragmentos foram também corados pela
IHQ utilizando anticorpo monoclonal antiInfluenza A (anti-nucleoproteína, clones A1,
A3 Blend; Millipore, Billerica, MA, EUA),
pelo método da streptavidina-biotina
marcada
com
peroxidase
(Universal
LSAB™+ Kit/HRP, Rabbit/Mouse/Goat;
Dako, Glostrup, Dinamarca) e solução de
cromógeno AEC (3-amino-9-etilcarbazol).
Os cortes de tecido foram desparafinizados
em xilol e re-hidratados em concentrações
decrescentes de etanol. A inativação de
peroxidases endógenas foi realizada através
da incubação com 3% de peróxido de
hidrogênio diluído em PBS por 30 minutos.
Em seguida foi realizada a digestão com
Proteinase K 0,05% por cinco minutos a
37°C para aumentar a reatividade entre
anticorpo e antígeno, e incubação com leite
em pó desnatado 2,5% por 30 minutos para
inibir a ligação inespecífica de anticorpos.
A incubação com o anticorpo primário foi
feita por 45 minutos a 37°C. Em seguida foi
realizada a incubação com o anticorpo
biotinilado por 30 minutos e com a
Streptavidina por mais 25 minutos à
temperatura ambiente. A reação foi revelada
com solução AEC e montada em meio
aquoso. Foi utilizado como controle positivo
fragmento de pulmão de suíno em bloco de
parafina gentilmente cedido pelo Dr. Kurt
Rossow, do Laboratório de Diagnóstico
Veterinário (VDL), da Universidade de
Minnesota, EUA.
Foram consideradas positivas as amostras
com marcação de cor vermelha no
citoplasma e/ou núcleo de células
respiratórias. A marcação na IHQ foi
classificada em grau I: focal leve; grau II:
multifocal moderada; grau III: multifocal
intensa. Todas as avaliações foram
realizadas pelo mesmo observador.
11. Análise estatística
Os dados foram tratados no Excel 2011
(Microsoft Corporation, USA) e Intervalos
de Confiança de 95% (IC 95%) foram
calculados para frequências de positivos nos
testes utilizados. A análise estatística foi
41
realizada pelo GraphPad Prism (GraphPad
Software, La Jolla, CA, USA).
Resultados
1. Achados clínicos
As amostras estudadas eram de pulmões de
suínos de creche, recria ou terminação, com
idade entre 29 e 150 dias. Em geral, os sinais
clínicos observados foram tosse, espirros,
secreção nasal, hipertermia, apatia, anorexia,
redução na ingestão de ração, perda de peso
e refugagem, que permaneciam por cinco a
10 dias. Alguns rebanhos apresentaram
mortalidade aumentada na fase de creche e
recria. Em um rebanho, os sinais mais
intensos foram observados em porcas, que
apresentavam
secreção
nasal,
tosse,
hipertermia e taxa de abortos aumentada.
Cinquenta amostras de pulmão foram
testadas para infecção por outro(s)
patógeno(s) respiratório(s) (dados não
mostrados), e algumas apresentaram
diagnóstico positivo para um ou mais
agentes, como Mycoplasma hyopneumoniae
(4), Pasteurella multocida (18), Bordetella
bronchiseptica (7), Haemophilus parasuis
(12), Streptococcus suis (11), PCV2 (23).
Dessas,
32
apresentaram
infecção
concomitante com IAV, seja pela PCR em
tempo real ou pela imunohistoquímica.
2. Isolamento viral, hemaglutinação e
imunocitoquímica
Das 86 amostras submetidas ao isolamento
viral, 30 (34,9%; IC 95%: 24,83-44,97%)
apresentaram ECP, sendo que cinco
apresentaram ECP após dois dias, 10 após
três dias, duas após quatro dias e 11 após
cinco dias. Duas amostras apresentaram ECP
apenas após a segunda passagem. Uma
amostra não apresentou ECP em nenhuma
das duas passagens, embora tenha
apresentado
resultado
positivo
na
hemaglutinação, sendo considerada positiva
42
no isolamento viral. Portanto, 31 amostras
(36,0%; IC 95%: 25,86-46,14%) foram
positivas no isolamento viral. Nenhum
sobrenadante
apresentou
crescimento
bacteriano após o isolamento viral (dados
não apresentados). Os títulos de HA
variaram de dois a 64, e os títulos virais
variaram de 102,25 a 106,75 TCID50/mL, com
média de 104,54 TCID50/mL. Todas as
amostras positivas no isolamento viral
apresentaram
marcação
positiva
na
imunocitoquímica.
As amostras isoladas foram submetidas ao
sequenciamento e análise filogenética dos
genes HA e NA, e todos os isolados foram
classificados como sendo do subtipo H1N1
(resultados apresentados no capítulo 5).
3. RT-PCR em
quantificação
tempo
real
e
Ácidos nucléicos do vírus influenza foram
detectados em 36 (41,9%; IC 95%: 31,552,3%) das 86 amostras submetidas à PCRrt.
Os CTs variaram de 14,97 a 37,88, com
média de 25,27 (Fig. 5), e o limiar de
detecção dos primers InfA foi de 10 cópias
de cDNA/µL.
Todas
as
amostras
apresentaram
amplificação para o gene S26, com CT
variando de 24,45 a 35,15 e média de 29,61,
indicando que a extração de RNA viral e a
transcrição
reversa
foram
realizadas
adequadamente. Em todas as reações, o
controle positivo apresentou amplificação
para influenza A e S26, o controle notemplate não apresentou amplificação e o
controle de MDCK não infectada mostrou
amplificação apenas para S26 (Fig. 5).
As 36 amostras positivas apresentaram
quantificação variando de 101,22 a 107,85
cópias de cDNA/µL (média 104,92
cópias/µL). A reação apresentou 95,469% de
eficiência, Slope de 3,435 e R2 de 0,997
(Fig. 6).
Figura 5. Gráficos de amplificação na PCR em tempo real para detecção de ácidos nucleicos da
proteína ribossomal canina S26 (A) e do vírus influenza (B).
Figura 6. Gráficos representativos da curva padrão da PCR em tempo real quantitativa para
quantificação de ácidos nucleicos do vírus influenza. Gráfico da eficiência da reação (A) e de
amplificação da curva padrão (B).
A
B
43
4. Diagnóstico histológico e imunohistoquímico
A
principal
alteração
macroscópica
observada foi hepatização vermelho escura
nos lobos cardíaco, apical e diafragmático,
variando entre 30% e 70% de acometimento.
As principais alterações microscópicas
observadas nas amostras com resultado
positivo na IHQ foram a presença de
infiltrado de neutrófilos, linfócitos, e/ou
macrófagos de intensidade variada no lúmen
de alvéolos, brônquios e bronquíolos;
necrose com descamação do epitélio
bronquiolar e acúmulo de restos celulares no
lúmen; além de espessamento de septo
alveolar ou interlobular. Este espessamento
de septos era devido ao infiltrado linfocítico
e histiocitário, e, nos septos interlobulares,
também devido a dilatação de linfáticos e
acúmulo de material proteináceo amorfo
(edema). Outras alterações observadas foram
congestão, hemorragia e edema, acúmulo de
muco no lúmen de brônquios e bronquíolos
e hiperplasia de tecido linfoide bronco
associado
(BALT).
Os
principais
diagnósticos histopatológicos encontrados
foram
bronquiolite
necrotizante
e
broncopneumonia neutrofílica. Algumas
alterações observadas estão ilustradas na
Fig. 7 (A, C, E). Pleurite fibrino-purulenta
foi observada em casos isolados.
Das 60 amostras avaliadas pela IHQ, 38
(63,3%) tiveram marcação positiva para a
presença de antígeno do vírus da influenza
tipo A. Das amostras positivas, 14 (36,8%)
foram classificadas com grau I, 15 (39,5%)
com grau II e nove (23,7%) com grau III.
Foi observada a marcação evidente no
citoplasma e núcleo de células do epitélio
bronquial, bronquiolar, pneumócitos e
macrófagos alveolares, e com frequência em
glândulas bronquiais (Fig. 7 B, D, F).
Figura 7. Fotomicrografias de fragmentos de pulmão suíno com lesões histológicas (A, C, E) e
detecção de antígenos do vírus Influenza A pela Imuno-histoquímica (B, D, F). (A): Parede
bronquial com infiltrado neutrofílico e linfocítico intenso na lamina própria da mucosa e
submucosa, particularmente ao redor de glândulas bronquiais. Hematoxilina e eosina, 100X.
(B): Marcação positiva em vermelho da nucleoproteína viral no citoplasma de células do
epitélio bronquiolar, 200X. (C): bronquiolite necrotizante com descamação do epitélio
bronquiolar devido à necrose e infiltração linfocitária na lamina própria, 100X. (D): mesma área
de C, corada pela imuno-histoquímica, com intensa marcação no epitélio de revestimento
bronquiolar remanescente, 100X. (E): Intenso infiltrado inflamatório neutrofílico no lúmen
alveolar, associado ao espessamento de septo interlobular devido ao edema e discreto infiltrado
linfocitário, 40X. (F): Intensa marcação positiva em vermelho para nucleoproteína viral em
glândulas (setas) e epitélio bronquiais, 40X.
44
45
Discussão
Este é um dos primeiros estudos a relatar o
isolamento e a caracterização patológica da
infecção pelo vírus influenza em suínos no
Brasil, identificando a circulação viral em
seis estados brasileiros. Trinta e seis
amostras de pulmão de suínos foram
positivas na PCRrt, e 31 amostras do vírus
influenza foram isoladas. O isolamento viral
foi realizado em estudos anteriores no
Brasil, mas os subtipos isolados não foram
identificados (Mancini et al., 2006; Schaefer
et al., 2008). Recentemente, o vírus
pandêmico H1N1 2009 (pH1N1) foi
identificado em suínos na região sul do
Brasil, além de um vírus H3N8 de origem
equina e um rearranjo H1N2 derivado do
pH1N1 (Schaefer et al., 2011a,c).
Foram identificadas 38 amostras de pulmão
com
marcação
positiva
na
IHQ,
apresentando marcação no núcleo e
citoplasma de células epiteliais de brônquios
e bronquíolos, assim como relatado
anteriormente por Vincent et al. (1997). A
síntese de RNA, transcrição e replicação do
vírus influenza ocorre no núcleo e a síntese
das moléculas de nucleoproteína ocorre no
citoplasma (Yoshida et al., 1981), portanto
proteínas do vírus influenza podem ser
detectadas tanto no núcleo como no
citoplasma de células infectadas. A
marcação frequente de glândulas bronquiais
observada neste estudo é achado comum em
casos de infecção em humanos por vírus
sazonais
e
pelo
vírus
pandêmico,
principalmente em casos fatais (Gill et al.,
2010; Nakajima et al., 2012). Em suínos,
essa marcação foi observada na infecção
pelo vírus pandêmico (Sreta, et al., 2009),
mas não é comum em infecções por vírus
endêmicos (Vincent et al., 1997). Um fato
interessante é que os receptores para vírus
humanos (NeuAc α2,6Gal) estão presentes
em glândulas mucosas/serosas do trato
respiratório inferior de suínos (Nelli et al.,
2010). Também foi observada marcação em
46
macrófagos alveolares, assim como relatado
por Sreta et a. (2009). Macrófagos alveolares
podem se infectar pelo vírus influenza, mas
a infecção parece ser abortiva e o vírus não
se replica eficientemente (Rodgers e Mims,
1982; Yu et al., 2011).
Os achados microscópicos encontrados nas
amostras positivas foram semelhantes
àqueles relatados na literatura para infecções
com IAV em suínos, caracterizados
principalmente por descamação do epitélio
respiratório, com infiltração inflamatória
peribronquiolar e perivascular (Richt et al.,
2003; Jung et al., 2005; Sreta et al., 2009).
Necrose de células epiteliais também é um
achado comum na infecção pelo IAV em
suínos, com acúmulo de restos celulares e
leucócitos no lúmen de bronquíolos (Richt et
al., 2003), semelhante ao observado neste
estudo. Além disso, uma lesão importante
observada nos animais infectados foi a
traqueíte fibrinonecrótica (dados não
apresentados) resultante da infecção de
células traqueais. Sabe-se que os vírus
influenza infectam células tanto do trato
respiratório superior como do inferior de
suínos, mas os receptores NeuAc α2,6Gal
são mais abundantes no trato superior (Nelli
et al., 2010). E ainda, casos fatais de
infecção do vírus pandêmico em humanos
frequentemente
resultam
em
traqueobronquite necrotizante (Nakajima et
al., 2012). Os achados microscópicos
encontrados corroboram com os achados
clínicos observados nos rebanhos estudados,
em
que
os
animais
apresentavam
sintomatologia respiratória leve a intensa,
com quadro agudo típico de influenza em
suínos. A infecção bacteriana ou por PCV2
foi comprovada (dados não apresentados)
em alguns rebanhos em que a infecção pelo
vírus influenza não foi confirmada,
sugerindo que outros agentes são
responsáveis pelas manifestações clínicas
respiratórias observadas. A maioria dos
animais infectados com o vírus influenza
também
apresentaram
infecções
concomitantes com outros patógenos, mas,
embora sinais clínicos e lesões graves sejam
frequentemente observados em infecções
múltiplas do vírus influenza com outros
patógenos respiratórios (Choi et al, 2003), a
manifestação clínica grave não foi frequente
nesses animais e achados microscópicos
sugestivos de infecção secundária foram
obsevados apenas em casos raros. Algumas
lesões macro e microscópicas observadas,
como hiperplasia de tecido linfoide bronco
associado (BALT), são comuns também em
infecções
com
outros
patógenos
respiratórios, principalmente
por M.
hyopneumoniae, corroborando com a
ocorrência de infecção múltipla em muitos
animais avaliados.
A vacinação de porcas contra o IAV é
utilizada rotineiramente em países da Europa
e nos Estados Unidos (Van Reeth, 2007; Ma
e Richt, 2010). As vacinas utilizadas são
inativadas e, assim como na infecção
natural, conferem proteção total apenas
contra vírus homólogos (Poland et al., 2001;
Kothalawala et al., 2006). O crescimento da
suinocultura e a concentração em áreas com
alta densidade de animais, além da
introdução frequente de novas cepas virais
faz com que o controle do IAV em suínos
seja cada vez mais dependente de protocolos
de vacinação (Vincent et al., 2008). A
ocorrência da influenza clínica em animais
de creche, recria e terminação aqui relatada
em seis estados do Brasil apontam para a
falta
de
proteção
imune
e
alta
susceptibilidade dos animais nos rebanhos
brasileiros e ressaltam a necessidade de dar
mais atenção à essa enfermidade na
suinocultura nacional. Só então será possível
a aplicação de medidas de manejo e
prevenção específicas, como a vacinação,
capazes de reduzir a disseminação viral e o
acometimento
clínico
dos
animais.
Entretanto, alguns fatores devem ser
considerados antes de implantar a vacinação
nos rebanhos nacionais, sendo importante a
associação da circulação viral com o quadro
clínico e com a presença de outros
patógenos respiratórios na granja, para então
avaliar a real necessidade e a viabilidade da
vacinação em determinada propriedade.
A circulação do vírus influenza em rebanhos
suínos em diversos estados brasileiros foi
comprovada neste estudo, desencadeando
surtos de doença respiratória nos animais e
gerando prejuízos ao produtor. Apesar da
influenza ser uma enfermidade com baixa
mortalidade e rápida recuperação, a
morbidade elevada acarreta em impacto
econômico considerável devido à queda da
ingestão alimentar e consequente aumento
no período para atingir o peso de abate
(Heinen, 2002). Dessa forma, a influenza é
uma ameaça para o produtor e o
conhecimento sobre sua epidemiologia e
características clínicas e patológicas é
essencial para estabelecer métodos de
diagnóstico adequados e desenvolver
vacinas eficazes. A identificação do vírus
influenza circulando e causando doença
clínica em rebanhos suínos brasileiros
comprova o papel importante da influenza
na ocorrência de doenças respiratórias em
suínos no Brasil, e a necessidade de incluí-la
no diagnóstico diferencial de enfermidades
respiratórias e de considerar a vacinação
como medida preventiva contra a influenza
em rebanhos sem proteção.
47
CAPÍTULO 4: PERFIL
SOROLÓGICO PARA O VÍRUS DA
INFLUENZA EM GRANJAS
COMERCIAIS DE SUÍNOS NO
BRASIL
Introdução
O vírus da influenza A (IAV) é um dos
principais agentes causadores de doença
respiratória em suínos, gerando perdas
econômicas devido à redução do ganho de
peso e ao aumento no tempo para alcançar o
peso de abate (Olsen et al., 2006a). O
primeiro relato da infecção de suínos com o
IAV ocorreu simultaneamente à pandemia
de 1918 em humanos (Koen, 1919 citado por
Zimmer e Burke, 2009), e esse vírus H1N1
clássico (cH1N1) permaneceu conservado
durante várias décadas (Vincent et al.,
2008). Após a introdução na população
humana do vírus pandêmico H1N1 em 2009
(pH1N1), houve alerta para a possibilidade
de disseminação do pH1N1 para as
populações suínas mundiais. Desde então,
muitos países identificaram a infecção
natural de suínos com pH1N1, inclusive o
Brasil (Pereda et al., 2010; Moreno et al.,
2010; Sreta et al., 2010; Schaeffer et al.,
2011).
Tanto a imunidade humoral como a celular
contribuem para a resistência contra a
infecção pelo vírus influenza e contra a
manifestação da doença clínica, mas a
resposta imune induzida pela infecção
protege apenas contra vírus homólogos ou
antigenicamente relacionados (Cox et al.,
2004; Kitikoon et al., 2006). A
hemaglutinina (HA) é o alvo principal da
resposta imune do hospedeiro e leva à
produção de anticorpos neutralizantes
inibidores
da
hemaglutinação
(HI),
relacionados
à
proteção
contra
a
sintomatologia clínica da doença (Hannoun
et al., 2004). Anticorpos HI são detectados
sete dias após a infecção e permanecem por
48
várias semanas, podendo ser detectados até a
idade de abate (Heinen et al., 2000;
Desrosiers et al., 2004). Frequentemente,
anticorpos contra IAV são detectados em
rebanhos suínos sem quaisquer sinais
clínicos da Influenza, o que indica que em
muitos casos a infecção pelo IAV é
subclínica (Maes et al., 2000; Loeffen et al.,
2003a).
Anticorpos maternos reduzem
as
manifestações clínicas da leitegada, mas não
protegem totalmente contra a infecção ou a
eliminação viral (Loeffen et al., 2003a,b;
Kitikoon et al., 2006). A queda gradativa de
anticorpos passivos, cujos níveis mais baixos
geralmente são observados entre cinco e 12
semanas
de
idade,
aumenta
a
susceptibilidade dos animais à infecção,
resultando em maior acometimento de
animais geralmente ao final da creche e
início da recria (Loeffen et al., 2003b; Liu et
al., 2008). Entretanto, anticorpos passivos
também
podem
interferir
no
desenvolvimento da resposta imune ativa
diante da infecção pelo vírus Influenza, pois
a presença de anticorpos colostrais pode
suprimir a resposta de anticorpos inibidores
da hemaglutinação (Loeffen et al., 2003a;
Kitikoon et al., 2006).
O perfil sorológico de um rebanho fornece
informações importantes para estabelecer a
dinâmica dos patógenos circulantes, de
acordo com o fluxo dos animais nos vários
estágios da produção. O objetivo deste
estudo foi avaliar o perfil sorológico para o
vírus da influenza em granjas comerciais no
Brasil amostradas antes e após a pandemia
de 2009.
Material e Métodos
O perfil sorológico foi realizado em um
estudo transversal seccionado. Foram
utilizados ao menos dez animais, escolhidos
aleatoriamente, de cada categoria do ciclo de
produção (matrizes; leitões de maternidade –
de 15 a 21 dias de idade; creche –de 40 a 70
dias; recria –de 80 a 110 dias; terminação –
de 120 a 150 dias), pertencentes a sete
granjas comerciais localizadas em três
Estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo
e Paraná). Amostras de sangue foram
colhidas através de punção da veia jugular,
centrifugadas e, após separação do soro,
mantidas a -20ºC até o processamento.
localizados em áreas com alta densidade de
suínos e sem histórico de vacinação para
IAV. Todas as propriedades realizavam
vacinação
para
Mycoplasma
hyopneumoniae,
Streptococcus
suis,
Leptospira spp, Parvovírus suíno e
Erysipelothrix
rhusiopathiae.
As
informações sobre as granjas estudadas estão
relatadas na Tab. 6.
Os rebanhos eram de ciclo completo com
sistema “todos dentro - todos fora”,
Tabela 6. Caracterização das granjas estudadas.
Granja
Data da
coleta
Local
Matrizes
Sinais observados
G1
2005
Minas
Gerais
500
Refugagem, tosse e dificuldade respiratória em animais de recria,
ocorrência de SRM; diagnóstico confirmado para PCV2.
Sinais observados no momento da coleta.
2005
São
Paulo
800
Tosse e espirros brandos e refugagem na creche e recria, perda
de peso, ocorrência de SRM; diagnóstico confirmado para M.
hyopneumoniae, P. multocida e PCV2.
Sinais observados no momento da coleta.
1200
Baixa ocorrência de espirros na creche e recria, refugagem em
animais de creche; diagnóstico confirmado para Mycoplasma
hyopneumoniae, Pasteurella multocida e PCV2.
Sinais observados no momento da coleta.
G2
G3a*
2005
Paraná
G3b*
2010
Paraná
1650
Tosse intensa em animais de creche, recria e terminação,
crescimento abaixo do normal; diagnóstico confirmado para M.
hyopneumoniae.
Sinais observados no momento da coleta.
G4
2010
Minas
Gerais
900
Refugagem e tosse intensa permanecendo 7 dias em animais de
creche; diagnóstico confirmado para H. parasuis e PCV2.
Sinais observados 2 semanas antes da coleta.
G5
2009
Minas
Gerais
5000
Tosse intensa, hipertermia e perda de peso em animais de creche
e recria e em porcas; diagnóstico confirmado para M.
hyopneumoniae, P. multocida e PCV2.
Sinais observados 2 semanas antes da coleta.
G6
2010
São
Paulo
1600
Tosse e pneumonia em animais de creche e recria; diagnóstico
confirmado para P. multocida e PCV2.
Sinais observados 3 semanas antes da coleta.
G = granja; PCV2 = Circovírus suíno tipo 2; SRM = Síndrome da refugagem multissistêmica
* G3a e G3b são a mesma granja amostrada em épocas diferentes
49
As amostras das granjas G1 a G3a foram
coletadas anteriormente à pandemia de 2009
em humanos, e as amostras de G3b a G6
foram coletadas após o início da pandemia.
G3a e G3b são a mesma granja, amostrada
em épocas diferentes, antes e após o início
da pandemia de 2009 com intervalo de cinco
anos entre as coletas.
O perfil sorológico foi determinado pela
reação de inibição da hemaglutinação (HI)
como descrito anteriormente (WHO, 2002;
OIE, 2010), utilizando como antígenos o
vírus
clássico
A/swine/Iowa/15/1930
(cH1N1)
e
o
vírus
pandêmico
A/swine/Brazil/11/2009 (pH1N1) isolado
neste estudo. Títulos de anticorpos menores
que 40 foram considerados negativos; 40 e
80, baixos; 160 e 320, médios; e iguais ou
acima de 640, altos.
A análise das médias dos títulos de
anticorpos foi realizada após transformação
logarítmica [Log2(título/10)]. A variação
dos títulos de anticorpos entre categorias de
animais na mesma granja foi analisada
utilizando o teste de Kruskal-Wallis e a
distribuição nos níveis dos títulos de
anticorpos entre categorias de diferentes
granjas foi analisada através do teste de
Mann-Whitney, e foram consideradas
diferenças significativas quando P<0,05.
Resultados
Os títulos sorológicos contra os vírus
influenza cH1N1 e pH1N1 nas propriedades
estudadas variaram amplamente. Do total de
407 amostras testadas, 191 (46,9%) foram
positivas pela HI para cH1N1 e 196 (48,1%)
para pH1N1, com títulos variando entre 40 e
5.120 UHI/25µL. As granjas G1 a G3a
foram consideradas negativas para os
antígenos empregados, pois todas as
amostras apresentaram títulos abaixo do
ponto de corte (Fig. 8). Foram detectadas
amostras positivas em todas as fases das
granjas G3b a G6, para ambos os vírus. Os
50
resultados dos perfis sorológicos estão
detalhados na Fig. 8. A Fig. 9 ilustra as
distribuições dos níveis de títulos de
anticorpos dentro de cada fase das granjas
estudadas consideradas positivas.
As granjas positivas mostraram padrão
semelhante de perfil sorológico para ambos
os antígenos, com exceção de G6. Os títulos
das porcas em G3b a G5 foram
aparentemente mais elevados que nas
demais fases (Fig. 8). As porcas de G3b, G4
e G6 apresentaram distribuição nos níveis de
títulos de anticorpos semelhantes entre elas,
mas G5 apresentou percentual mais elevado
de animais com títulos altos (≥ 640) tanto
para cH1N1 como para pH1N1 (Fig. 9).
Foi observada queda de anticorpos na fase
de creche de todas as granjas, para ambos os
vírus, indicando o provável decaimento da
imunidade passiva no início dessa fase (Fig.
8). Os percentuais de animais negativos em
G4 e G5 para cH1N1 na creche (40% e
30%) e na recria (40% e 45%), e em G3b e
G4 na creche (65% e 70%) para pH1N1,
foram mais elevados que nas demais fases.
G3b apresentou percentual mais elevado de
animais negativos para cH1N1 na recria
(80%) e na terminação (78%) que nas outras
fases. A granja 6 apresentou percentual mais
elevado de animais negativos na terminação
para cH1N1 (70%) e na creche, recria e
terminação para pH1N1 (35% a 45%) em
comparação com as outras fases (Fig. 9).
Em G3b e G4 a circulação viral do cH1N1
parece ser baixa. Em G3b não houve
soroconversão após a queda de anticorpos
passivos e as médias dos títulos de
anticorpos nas fases de recria e terminação
foram abaixo do ponto de corte. E mesmo
nas porcas e nos leitões de maternidade os
títulos são próximos ao ponto de corte (Fig.
8). Para o pH1N1, esse quadro se repetiu,
mas os títulos observados em porcas, na
recria e na terminação foram levemente mais
elevados (Fig. 8). Em G4, a soroconversão
pode ser observada na fase de recria, embora
(!"*"#!" !
!
"$
" "$
" &$
&$
!
&$
"$
" !
"$
" "$
" &$
&$
!
!
"$
" "$
" &$
&$
(% % &#%# 6# $% #& )4%(& " ("* &(4"# +&&#
$"2!# $ "& %"& &'(& & !1&
#!1'%& #& '4'( #& "'#%$#& $6& '%"&#%!/-# #%4'!
#%!#!$%&"'%&&&%/-#&%"&$#&')&'%&
%"'& !"7&( & $% !7&( & $% $ "!
%"/&&"')&
%"&!#&'%&"'&
$6& $"! ! (!"#& "
$#"' "#$#"'##%'
!
!
sem aumento significativo nos títulos para
cH1N1. Entretanto, os títulos de anticorpo
não se elevaram na terminação para ambos
os vírus, mantendo-se próximos ao ponto de
corte (Fig. 8).
51
estatística não tenha sido observada em
algumas comparações (Fig. 9).
G5 apresentou médias de títulos de
anticorpos mais elevadas que nas demais
granjas para cH1N1 e pH1N1, com títulos
acima do ponto de corte na creche. E ainda
existem indícios de nova exposição ao vírus
na fase de terminação, o que é indicado pelo
percentual mais elevado de animais com
títulos altos (Fig. 9). Além disso, G5
apresentou maior percentual de animais com
título alto em todas as outras fases da criação
para ambos os antígenos, embora diferença
Em G6, leitões de maternidade apresentaram
médias de títulos de anticorpos mais
elevadas que de porcas. Houve queda nos
títulos dos animais de creche em
comparação com os de maternidade para
ambos os vírus, mas as médias naquela fase
foram superiores ao ponto de corte. E ainda,
os títulos mantiveram-se acima do ponto de
corte nas fases de recria para cH1N1 e recria
e terminação para pH1N1.
Figura 9. Distribuição dos títulos de anticorpos contra os vírus da influenza clássico (cH1N1) e
pandêmico (pH1N1) das diferentes fases de criação nas granjas estudadas com resultados
positivos. Amostras negativas (titulo <40); com título baixo (40 e 80); título médio (160 e 320);
e título alto (≥640). Diferenças significativas (P<0,05) entre a distribuição de títulos numa
mesma fase de criação das diferentes granjas estão indicadas por letras diferentes. G3b a G6 =
granjas 3b a 6, que obtiveram resultados positivos na inibição da hemaglutinação.
#$
#!
!"
!
!
!&$
!"
52
#$
#!
!
!
!&$
Discussão
Este estudo revelou variação nos títulos de
anticorpos e na soroconversão nas granjas
estudadas, sugerindo introdução e circulação
viral em momentos variados de propriedade
para propriedade. Essa observação reflete a
ocorrência de surtos esporádicos num
rebanho, característica comum na infecção
pelo SIV (Olsen et al., 2006a; Liu et al.,
2008). Além disso, foi observada uma
distribuição heterogênea dos níveis de títulos
de anticorpos dentro de cada fase da
produção, indicando que animais de uma
mesma categoria apresentavam diferentes
níveis de proteção contra o vírus influenza, o
que pode ser considerado o motivo para a
manutenção da transmissão viral nos
rebanhos afetados e para o aparecimento de
sinais clínicos.
As granjas G1 a G3 foram consideradas
negativas, o que indica que antes da
pandemia de 2009 a circulação do vírus
influenza nestas granjas não existia. Nesse
sentido, como apenas as granjas coletadas
após 2009 foram positivas, a ocorrência da
pandemia humana em 2009 parece ter
levado à introdução e circulação do vírus
pandêmico nos rebanhos avaliados. Os
animais das propriedades negativas para o
vírus influenza apresentavam sinais clínicos
respiratórios, que provavelmente eram
resultantes da infecção com outros
patógenos que circulavam nesses rebanhos,
como
Mycoplasma
hyopneumoniae,
Pasteurella multocida e Circovírus suíno
tipo 2. As granjas positivas (G3b a G6)
também apresentavam circulação de outros
patógenos respiratórios, indicando a coinfecção com o vírus influenza. O vírus
influenza é importante fator predisponente
para infecções bacterianas secundárias
(Olsen et al., 2006a), e a infecção
intercorrente do IAV com bactérias ou vírus
respiratórios pode agravar e prolongar a
duração dos sinais clínicos (Van Reeth et al.,
1996; Thacker et al., 2001; Choi et al., 2003;
Hansen et al., 2010), porém os rebanhos
avaliados que exibiram infecção mista não
possuíam indícios de manifestações clínicas
exacerbadas.
As porcas apresentaram médias de títulos de
anticorpos mais elevadas e maior percentual
de animais com títulos altos e médios que as
demais categorias, exceto em G6. Tal
resultado pode indicar a exposição frequente
desses animais ao vírus e contínua
replicação viral, uma vez que esses animais
permanecem por mais tempo no rebanho.
Poljak et al (2008) também observaram uma
prevalência mais elevada de anticorpos antiH1N1 em porcas (58,3%) do que em suínos
de terminação (17,6%). Em G3b, G4 e G5,
os animais de maternidade apresentaram
médias de títulos semelhantes às de porcas
para cH1N1 e pH1N1, o que provavelmente
indica a transferência de anticorpos passivos
pelo colostro. Porcas e leitões parecem
servir de reservatório para a contínua
circulação viral do influenza em um
rebanho, facilitando a disseminação para as
outras fases em rebanhos de ciclo completo
(Loeffen et al., 2003b). Então, os títulos
mais elevados observados nesses animais no
presente estudo podem indicar a contínua
exposição ao vírus influenza, facilitando a
manutenção viral no rebanho. Entretanto, o
percentual de animais com títulos médios e
altos na maternidade foi inferior ao de
porcas nas três granjas, o que pode ser
resultante da ingestão inadequada do
colostro, prejudicando a transferência de
anticorpos maternos. Além disso, algumas
porcas foram negativas (35% e 15% em
G3b, 25% e 30% em G4, 20% e 20% em
G5, para cH1N1 e pH1N1 respectivamente),
indicando que, mesmo em rebanhos com
circulação
viral,
pode
não
haver
transferência de anticorpos para os leitões.
Em G6, os leitões de maternidade
apresentaram aumento nos títulos de
anticorpos em relação às porcas para ambos
os vírus, indicando infecção pelo influenza
mesmo na presença de anticorpos maternais.
53
Estudos anteriores comprovaram que
anticorpos passivos contra o vírus influenza
protegem
os
animais
parcialmente,
reduzindo a ocorrência de febre e sinais
clínicos, entretanto não são capazes de
impedir a infecção (Loeffen et al., 2003a;
Kitikoon et al., 2006). Nessa granja, os
animais de maternidade não apresentavam
manifestações
clínicas,
mas
foram
observados sinais respiratórios nos animais
de creche e recria, e a infecção pelo vírus
influenza foi confirmada em animais de
recria por PCR em tempo real (dados não
apresentados). Todavia não foi observado
aumento nos títulos de anticorpos na recria e
terminação em soros coletados três semanas
após as manifestações clínicas. No entanto,
os títulos de anticorpos nessas fases estavam
acima do ponto de corte (>40). Em
humanos, títulos de anticorpos inibidores da
hemaglutinação acima de 40 são associados
à redução em 50% do risco de infecção ou
doença causadas por vírus sazonais (Potter e
Oxford, 1979), mas em suínos a proteção
contra a infecção está diretamente
relacionada com o título HI do animal, sendo
que títulos altos conferem melhor proteção
(Vincent et al., 2008). Portanto, mesmo
apresentando anticorpos contra o IAV, esses
animais podem não estar protegidos.
A queda da imunidade passiva nas granjas
estudadas ocorreu na fase de creche (4 a 10
semanas) para ambos os antígenos,
semelhante ao demonstrado por Loeffen et
al. (2003b) e Liu et al. (2008), em que o
decaimento de anticorpos maternos ocorreu
a partir de 5 semanas de idade. Portanto, os
animais da fase de creche e recria dessas
granjas apresentavam maior susceptibilidade
para se infectar com o vírus influenza e,
principalmente, manifestar sinais clínicos.
Além disso, os animais da creche geralmente
são agrupados com status imunológicos
diferentes
tornando-os
ainda
mais
vulneráveis,
fato
confirmado
pela
distribuição variada observada nos níveis de
anticorpos nos animais da maternidade.
54
Consequentemente, em todas as granjas
positivas foram observados sinais clínicos
respiratórios nos animais de creche. Embora
a
infecção
com
outros
patógenos
respiratórios tenha sido relatada nas
propriedades avaliadas, a associação do
curso agudo dos sinais clínicos com a
presença de anticorpos contra o IAV sugere
infecção pelo vírus influenza nesses animais.
A granja G3b apresentava baixa circulação
viral, e a eliminação viral não foi detectada
por diagnóstico direto em animais
amostrados na recria (resultados não
apresentados). Os baixos títulos de
anticorpos observados em porcas e leitões de
maternidade provavelmente se devem à
exposição prévia das fêmeas ao vírus, mas
com pressão de infecção baixa. Embora
tenha havido aumento nos títulos na
terminação para cH1N1 e na recria para
pH1N1, um percentual significativo dos
animais foram negativos ou com títulos
baixos, mantendo as médias de títulos
abaixo do ponto de corte. Nessa propriedade
os animais encontram-se com baixa proteção
imune, e medidas de manejo e biossegurança
adequadas devem ser reforçadas para evitar
a ocorrência de sinais respiratórios caso o
vírus influenza seja reintroduzido. Além
disso, pôde-se constatar que o vírus
influenza foi introduzido recentemente nessa
propriedade, pois ela foi considerada
negativa na amostragem anterior (G3a).
Em granjas de ciclo completo, a incidência
da infecção pelo vírus influenza é mais
elevada no início do período de crescimento
(Loeffen et al., 2009b). Em G4, sinais
clínicos respiratórios compatíveis com a
influenza foram observados em animais de
creche e a eliminação viral foi confirmada
por PCR em tempo real em um animal dessa
fase (resultados não apresentados). Como
resultado, a soroconversão para ambos os
vírus nessa granja foi observada na recria
duas semanas depois.
Os títulos elevados para cH1N1 e pH1N1
nas porcas, animais de maternidade e de
terminação observados em G5, e ainda
títulos acima do ponto de corte na creche e
recria, indicam alta circulação viral em toda
a granja. A propriedade apresentava animais
com sinais clínicos respiratórios intensos na
creche, recria e em porcas, e o vírus
influenza foi identificado em animais de
recria e em uma fêmea (resultados não
apresentados). Dessa forma, justifica-se os
títulos elevados em porcas e animais de
terminação observados duas semanas após
as manifestações clínicas, provavelmente
devido à alta pressão de infecção e baixa
imunidade prévia dos animais, confirmando
o surto de influenza nessa granja. A
utilização de anti-inflamatórios na água
durante um surto pode reduzir alguns sinais
clínicos (Ciacci-Zanella et al., 2011b), mas
medidas de biossegurança, como limpeza e
desinfecção das instalações antes da entrada
de um novo lote, além do controle na
circulação de animais e pessoas, devem ser
melhoradas para impedir a disseminação e
manutenção do vírus dentro da propriedade.
Os resultados encontrados na HI foram
semelhantes para ambos os vírus utilizados,
o influenza suíno clássico e o influenza
pandêmico 2009, para todas as granjas,
indicando reação cruzada com os anticorpos
presentes nos soros testados. Soros com
anticorpos contra o vírus pandêmico
apresentam reação cruzada na inibição da
hemaglutinação com diversos outros vírus
H1 suínos, inclusive o cH1N1 (Perera et al.,
2011). Por outro lado, a reação cruzada
contrária, em que anticorpos para os vírus
H1 suínos endêmicos norte-americanos
reagem contra o vírus pandêmico, parece ser
limitada (Vincent et al., 2010a). Logo, como
a reação cruzada é mais comum entre o
antígeno de vírus endêmicos e anticorpos
contra o pH1N1, e como apenas as granjas
amostradas após o início da pandemia de
2009 foram positivas, os animais testados
provavelmente apresentavam anticorpos
contra o vírus influenza pandêmico, e a
reação cruzada ocorreu entre o antígeno
cH1N1 e anticorpos específicos para o
pH1N1.
Inicialmente, o controle da circovirose suína
era realizado através da utilização de
imunógenos produzidos a partir de
macerados de órgãos de animais doentes
(BRASIL, 2008), em desacordo com a
Instrução Normativa No 31 (BRASIL, 2003).
A IN31 regulamenta a produção de vacinas
autógenas e prevê que essas devem conter
apenas o agente específico e serem livres de
contaminantes.
Como
os
macerados
utilizados contra o PCV2 não apresentavam
comprovação de pureza e segurança, planteis
nacionais foram expostos ao risco de
disseminação de outros patógenos (BRASIL,
2008) e, possivelmente, à imunização com
outros antígenos, incluindo o vírus
influenza, o que poderia resultar em reação
positiva na sorologia. Entretanto, essa
interferência nos resultados sorológicos não
existiu neste estudo, pois todas granjas
amostradas antes de 2008, quando a
utilização deste tipo de imunização foi
encerrada, não apresentaram títulos positivos
na HI.
A vacinação de suínos contra os vírus
influenza é realizada geralmente em fêmeas
reprodutoras nos países que a empregam,
embora alguns produtores também vacinem
leitões desmamados, e em ambos os casos a
resposta de anticorpos ocorre em 2-6 dias
(Olsen et al., 2006a; Vincent et al., 2008).
No Brasil, a vacinação de suínos contra o
vírus influenza ainda não faz parte da rotina
dos rebanhos tecnificados. Recentemente
foram relatados vários surtos respiratórios
em suínos em todo o Brasil (Ciacci-Zanella
et al., 2011b), e muitos produtores e médicos
veterinários vêm apontando a necessidade de
realizar a vacinação contra influenza. Como
não existem vacinas comerciais disponíveis,
a utilização de vacinas autógenas vem sendo
considerada. O uso de vacinas autógenas
está crescendo em países que vacinam os
55
suínos contra influenza, devido à grande
diversidade de vírus circulando nas
populações suínas mundiais e à dificuldade
da indústria biológica de modificar a
composição vacinal na velocidade em que os
vírus estão mudando (Vincent et al., 2008).
Com base na cinética dos níveis de
anticorpos obtidos no perfil sorológico dos
rebanhos estudados, e considerando a idade
em que os sinais clínicos foram observados,
a vacinação tanto de porcas como de leitões
desmamados deve ser considerada em G3b e
G4, pois os animais destas propriedades
apresentavam baixa proteção imune,
principalmente na fase de creche, e,
portanto, estavam susceptíveis à infecção
pelo vírus influenza. A presença de
anticorpos passivos interfere com a resposta
imune contra o SIV resultante de infecção
ou vacinação (Kitikoon et al., 2006;
Renshaw, 1975). Entretanto, como muitos
animais da creche dessas granjas foram
negativos (40 a 70%) ou apresentaram níveis
de
anticorpos
maternos
baixos,
provavelmente não ocorreria interferência
com a vacinação, principalmente se não for
realizada no início da fase. Já G5 e G6
apresentaram infecção ativa e os animais de
creche e recria exibiram níveis mais
elevados de anticorpos, mas ainda assim
foram observados animais negativos.
Portanto, a vacinação apenas de porcas será
suficiente para manter níveis homogêneos de
anticorpos no plantel capazes de proteger
contra os sinais clínicos. Enquanto vacinas
comerciais não são disponibilizadas no
Brasil, a utilização de vacinas autógenas
pode servir como alternativa, desde que feita
de acordo com as normas regulamentadas
pelo Ministério da Agricultura Pecuária e
56
Abastecimento (BRASIL, 2003) e com
acompanhamento de médico veterinário.
Mas a vacinação, seja com vacinas
autógenas ou comerciais, só deve ser
preconizada em regiões de alta circulação
viral em que surtos respiratórios são
frequentes, levando-se em consideração o
estado imunológico do rebanho e a
viabilidade econômica dessa medida.
Os resultados aqui relatados ajudam a
entender a forma como o vírus influenza
circula em granjas suínas naturalmente
infectadas. Além disso, esse estudo foi
realizado em granjas comerciais e, portanto,
mostra a flutuação de anticorpos contra o
vírus influenza dentro do rebanho em
condições naturais, em que diversos fatores
podem interferir na imunidade do plantel,
como características do animal, medidas de
manejo e biossegurança, ocorrência de
infecções concomitantes, entre outros. O
conhecimento
do
perfil
sorológico
possibilita a elaboração e adoção consciente
de medidas de manejo preventivas e o
estabelecimento do momento ideal para
realizar a vacinação, caso a vacinação contra
o IAV seja acrescentada aos programas
sanitários das granjas brasileiras. A
vacinação baseada no perfil sorológico do
rebanho evita a interferência de anticorpos
maternos e permite a montagem da resposta
imunológica no momento de maior
susceptibilidade dos animais. Além disso, o
conhecimento da distribuição dos níveis de
anticorpos em cada categoria enfatiza a
importância de monitorar a ingestão de
colostro pelos leitões nas primeiras horas de
vida, a fim de garantir níveis adequados e
protetores de anticorpos passivos.
CAPÍTULO 5: CARACTERIZAÇÃO
GENÉTICA DOS VÍRUS
INFLUENZA ISOLADOS DE
SUÍNOS NO BRASIL EM 2009 E
2010
Introdução
A infecção de suínos por vírus influenza A
não apenas resulta em prejuízos à produção,
como representa também grande problema à
saúde pública (Neumann et al., 2009). Os
vírus influenza A contêm genoma de RNA
composto de oito segmentos distintos, o que
permite o rearranjo de segmentos entre vírus
diferentes (Palese e Shaw, 2007). As
proteínas de superfície hemaglutinina (HA)
e neuraminidase (NA) são os principais
alvos para a resposta imune do hospedeiro, e
têm papel importante para a especificidade
de
hospedeiros,
antigenicidade,
patogenicidade e diagnóstico da infecção
(Nicholls et al., 2008).
Três diferentes subtipos do vírus da
influenza suína (SIV), H1N1, H3N2 e
H1N2, circulam atualmente em suínos
(Olsen et al., 2006b). O primeiro SIV
descrito foi um H1N1, também conhecido
como SIV clássico (cH1N1), semelhante ao
vírus H1N1 pandêmico de 1918. Na
população suína dos EUA, a maioria dos
vírus H1N1 permaneceu conservada
antigenicamente, e manteve-se semelhante
ao cH1N1, até a introdução de um vírus
H3N2 de rearranjo triplo em 1998 (Zhou et
al., 1999; Vincent et al., 2008). Com o
aparecimento desse novo vírus, ocorreram
rearranjos que levaram à combinação de
diferentes HA e NA a uma combinação de
genes internos de rearranjo triplo (TRIG),
formada por PB1 de linhagem humana, PB2
e PA de linhagem aviária, e NP, M e NS de
linhagem suína (Vincent et al., 2008). Os
vírus H1 endêmicos nos suínos americanos
são classificados em clusters: clusters α, β e
γ, que evoluíram dos vírus cH1N1; e cluster
δ, com HA semelhante a vírus H1 sazonais
humanos. Os genes NA em todos esses
clusters podem ser tanto N1 como N2
(Vincent et al., 2009b).
Na Europa o H1N1 predominante era
inteiramente de origem aviária, mas o
rearranjo entre este vírus H1N1 e o vírus
H3N2 humano introduzido na década de 80
levou à formação de um H3N2 que também
circula em suínos europeus (Jong et al.,
2007; Van Reeth, 2007). Além disso, o
subtipo H1N2, com genes de origem
humana (HA e NA) e genes derivados do
vírus Europeu tipo aviário H1N1, também é
endêmico nos suínos da Europa (Lam et al.,
2008).
No Brasil, vírus influenza A já foram
isolados da secreção nasal de suínos
comerciais e algumas amostras foram
positivas pela PCR, entretanto tais amostras
não foram caracterizadas geneticamente, e o
subtipos virais e cepas circulantes não foram
determinados (Mancini et al, 2006; Schaefer
et al, 2008).
Após a introdução na população humana do
vírus pandêmico H1N1 em 2009 (pH1N1),
houve alerta para a possibilidade de
disseminação do pH1N1 para as populações
suínas mundiais. Estudos comprovaram a
susceptibilidade de suínos ao novo vírus, e
demonstraram
sua
capacidade
de
disseminação na espécie (Lange et al., 2009;
Brookes et al., 2010). Desde então, muitos
países identificaram a infecção natural de
suínos com pH1N1, inclusive o Brasil,
geralmente associada ao quadro de doença
respiratória em humanos que mantinham
contato com os animais (Pereda et al., 2010;
Moreno et al., 2010; Sreta et al., 2010;
Schaefer et al., 2011c). O H1N1 pandêmico
contém seis segmentos da linhagem de
rearranjo triplo suína norte americana, com
os segmentos M e NA da linhagem H1N1 da
Europa e Ásia (Dawood et al., 2009; Garten
et al., 2009). Pouco após a identificação do
pH1N1 em suínos, rearranjos entre esses
57
vírus e vírus endêmicos suínos foram
relatados (Ducatez et al., 2011; Starick et al.,
2011; Zhu et al., 2011).
Embora a infecção por vírus influenza A
tenha sido relatada em suínos brasileiros, a
caracterização genética e subtipagem não foi
realizada na maior parte dos casos (Mancini
et al, 2006; Schaefer et al, 2008, Schaeffer et
al., 2011a,b,c). Além disso, características
evolutivas das cepas do SIV circulando em
suínos no Brasil ainda são desconhecidas.
Portanto, neste estudo realizamos a
caracterização genética dos genes HA e NA
de 20 vírus influenza isolados de suínos em
cinco Estados brasileiros durante os anos de
2009 e 2010. Os resultados revelam uma alta
ocorrência do vírus H1N1 pandêmico,
sugerindo transmissão de vírus influenza
humanos para a população suína. E ainda,
descrevemos um caso com suspeita da
transmissão de suínos para humano.
Material e Métodos
1. Amostras clínicas
Foram utilizadas vinte amostras virais
isoladas de pulmão de suínos no Brasil. Os
vírus foram isolados de fragmentos de
pulmão enviados para diagnóstico de rotina
de doença respiratória ao Laboratório de
Diagnóstico
Instituto
de
Pesquisas
Veterinárias Especializadas (IPEVE) e por
médicos veterinários após visita técnica,
durante os anos de 2009 e 2010. As amostras
de pulmão foram coletadas durante surtos de
doença respiratória em 13 rebanhos suínos
de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso. Todos os
rebanhos tinham animais apresentando sinais
agudos respiratórios como tosse e descarga
nasal, além de febre e anorexia,
principalmente nas fases de creche e recria.
Os isolados foram numerados em sequência
de acordo com o ano de isolamento, de
58
1/2009 a 17/2009 e 18/2010 a 20/2010. O
nome das amostras, respectivas propriedades
e estados de origem, espécie do hospedeiro,
ano de coleta e número de acesso no
GenBank estão detalhados na Tab. 7.
Uma amostra isolada de humano também foi
utilizada neste estudo. Após visita a uma
propriedade comercial de suínos de Minas
Gerais durante um surto de afecção
respiratória,
o
técnico
responsável
apresentou
sintomas
respiratórios
semelhantes aos observados nos suínos, os
quais tiveram início três dias após a visita e
permaneceram por uma semana. Segundo o
referido técnico, não houve contato com
outras propriedades produtoras de suínos
nem com pessoas que apresentavam
sintomas respiratórios por no mínimo sete
dias antes e após a visita àquela propriedade.
Foi realizado o diagnóstico oficial através da
PCR em tempo real pela Fundação Oswaldo
Cruz em parceria com as Secretarias
Municipal e Estadual de Saúde, seguindo o
protocolo do CDC (WHO, 2009), e o
resultado foi positivo para influenza A / H1
linhagem suína. Uma amostra de suabe nasal
foi fornecida pelo técnico para utilização
neste
estudo,
denominada
A/Minas
Gerais/21/2009,
e
o
Termo
de
Consentimento Livre e Esclarecido foi
fornecido dando permissão para uso da
amostra e das informações. Duas das
amostras de suínos (A/swine/Brazil/16 e
17/2009) analisadas neste estudo foram
provenientes da mesma propriedade visitada
pelo técnico.
As amostras de tecido e de suabe nasal
foram inoculadas em monocamadas de
células MDCK e os sobrenadantes testados
pela reação de hemaglutinação (HA) como
descrito anteriormente (WHO, 2002; OIE,
2010).
Tabela 7. Caracterização das amostras virais estudadas.
Nome da amostra
Granja
Estado
A/swine/Brazil/1
A/swine/Brazil/2
A
Minas Gerais
A/swine/Brazil/3
A/swine/Brazil/4
A/swine/Brazil/5
A/swine/Brazil/6
A/swine/Brazil/7
B
Minas Gerais
C
Minas Gerais
D
Minas Gerais
E
Minas Gerais
A/swine/Brazil/8
A/swine/Brazil/9
A/swine/Brazil/10
Espécie
Ano de
coleta
Número de
acesso HA
Número de
acesso NA
suíno
2009
JQ666845
JQ666866
suíno
2009
JQ666846
JQ666867
suíno
2009
JQ666847
JQ666868
suíno
2009
JQ666848
JQ666869
suíno
2009
JQ666849
JQ666870
suíno
2009
JQ666850
JQ666871
suíno
2009
JQ666851
JQ666872
suíno
2009
JQ666852
JQ666873
suíno
2009
JQ666853
JQ666874
suíno
2009
JQ666854
JQ666875
A/swine/Brazil/11
F
Minas Gerais
suíno
2009
JQ666855
JQ666876
A/swine/Brazil/12
G
Mato Grosso
suíno
2009
JQ666856
JQ666877
A/swine/Brazil/13
H
Rio Grande do Sul
suíno
2009
JQ666857
JQ666878
A/swine/Brazil/14
I
Minas Gerais
suíno
2009
JQ666858
JQ666879
A/swine/Brazil/15
J
Minas Gerais
suíno
2009
JQ666859
JQ666880
K
Minas Gerais
suíno
2009
JQ666860
JQ666881
suíno
2009
JQ666861
JQ666882
L
Paraná
suíno
2010
JQ666862
JQ666883
M
São Paulo
suíno
2010
JQ666863
JQ666884
suíno
2010
JQ666864
JQ666885
K
Minas Gerais
humano
2009
JQ666865
JQ666886
A/swine/Brazil/16
A/swine/Brazil/17
A/swine/Brazil/18
A/swine/Brazil/19
A/swine/Brazil/20
A/Minas Gerais/21
2. Extração de RNA e transcrição
reversa
O RNA viral foi extraído de sobrenadante
após isolamento, utilizando o kit QIAamp
viral RNA mini kit (Qiagen Inc., Valencia,
CA, EUA) de acordo com especificações do
fabricante. O RNA foi então transcrito em
cDNA a 42ºC por 60 minutos utilizando
0,2µM de primer universal para vírus
Influenza
(primer
Uni12
5’AGCAAAAGCAGG-3’) (Hoffmann et al.,
2001), 100 unidades de transcriptase reversa
M-MLV (Promega, Madison, WI, EUA), 5
µL de tampão de reação 5X, 0,8mM de cada
dNTP, 40 unidades de inibidor de
ribonuclease RNaseOUT™ (Invitrogen,
Carlsbad, CA, EUA) e água livre de RNAse
para o volume final de 25 µL.
3. PCR para segmentos HA e NA
O isolamento viral foi confirmado pela PCR
em tempo real mediante a utilização de
primers para o gene da matriz (M) como
descrito anteriormente (WHO, 2009). A
região codificadora dos genes HA e NA
completos foram amplificadas a partir do
cDNA utilizando iniciadores externos
forward e reverse publicados por Hoffmann
et al. (2001) (Tab. 8). A reação consistiu em
5µL de tampão 5X e 0,15µL de GoTaq
HotStart DNA Polimerase (5 U/µL -
59
Promega, Madison, WI, EUA), 2mM de
MgCl2, 0,2mM de cada dNTP, 0,2µM de
cada iniciador, 1µL de cDNA (0,5µg) e água
ultra pura livre de DNAse para 25µL. A
amplificação foi realizada em um
termociclador (Applied Biosystems, Foster
City, CA, EUA) nas seguintes condições:
desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos,
seguida de 30 ciclos com desnaturação a
94°C por 30 segundos, anelamento de
primers a 60°C por 30 segundos e extensão a
72°C por 3 minutos, concluindo com uma
extensão final a 72°C por 7 minutos.
Em seguida os produtos da PCR de cada
gene foram submetidos a reações nested
separadas utilizando pares externo-interno e
interno-externo dos primers (forward
externo com reverse interno; forward interno
com reverse externo; para cada gene – Tab.
8). Cada reação de 25µL consistiu de
15,85µL de água ultra pura livre de DNAse,
5µL de tampão 5X e 0,15µL de GoTaq
HotStart DNA Polimerase (Promega,
Madison, WI, EUA), 2mM de MgCl2,
0,2mM de cada dNTP, 0,1µM de cada
iniciador e 1µL do produto da PCR com
primers externos. As condições do
termociclador consistiram de desnaturação
inicial a 94°C por 5 minutos, seguida de 30
ciclos a 94°C por 30 segundos, 60°C por 30
segundos e 72°C por 1 minuto, concluindo
com uma extensão final a 72°C por 7
minutos. Os produtos amplificados na PCR
foram visualizados em gel de agarose 1%
corado com brometo de etídeo.
Tabela 8. Conjunto de iniciadores para uso na PCR para sequenciamento dos genes
hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA) completos dos vírus Influenza A.
Iniciadores
Sequência (5’>3’)
HAF externo
CAGGGAGCAAAAGCAGGGG
HAR externo
CCAGTAGAAACAAGGGTGTTTT
HAF interno
CGAAGCAACTGGAAATCTAGTGG
HAR interno
GRAGGCTGGTGTTTATAGCACC
NAF externo
CAG GGAGCAAAAGCAGGAGT
NAR externo
CCAGTAGAAACAAGGAGTTTTTT
NAF interno
TRAGAACACAAGAGTCWGAATGTG
NAR interno
GGAGCATTCCTCRTAGTGRTAATTAGG
F= forward; R= reverse
4. Sequenciamento de nucleotídeos e
análise filogenética
Os genes HA e NA foram sequenciados bidirecionalmente de pelo menos dois
produtos de amplificação distintos utilizando
o BigDye® Terminator v3.1 Cycle
Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster
City, CA, EUA), seguindo o protocolo do
fabricante, através do ABI 3130 DNA
Analyser (Applied Biosystems, Foster City,
CA, EUA). As sequências obtidas foram
editadas utilizando o SeqScape Software
60
v2.5 (Applied Biosystems, Foster City, CA,
EUA) e alinhadas usando Clustal W. As
sequências geradas foram depositadas no
GenBank sob os números de acesso
JQ666845-JQ666886 e numeradas de 1 a 17
para 2009, 18 a 20 para 2010, e 21/2009
(Tab. 7).
As sequências de vírus influenza suínos e
humanos utilizadas para a análise
filogenética foram obtidas do banco de
dados Influenza Virus Sequence Database
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/FLU
/Database/nph-select.cgi?go=database).
A
análise filogenética para cada gene foi
realizada pelo método de distância
Neighbor-Joining (Saitou e Nei, 1987)
utilizando o modelo evolutivo Tamura-Nei
através do software MEGA 5.01 (Tamura et
al., 2011). Foi utilizado teste de bootstrap de
1000 replicatas e os valores acima de 70
foram indicados no nódulo correspondente
(Tamura et al., 2011). Árvores network
foram construídas utilizando o método de
distância Neighbour-Net no software
SplitsTree v4.8 (Huson e Bryant, 2006).
Nesse tipo de dendrograma, cada árvore é
construída de forma a minimizar a distância
(ou número de mutações) entre os
haplótipos. As diversidades haplotípica e de
nucleotídeos foram calculadas para as
amostras utilizando o programa DnaSP 5.1
(Librado e Rozas, 2009), com a correção de
Jukes e Cantor (1969). A tradução das
sequências de nucleotídeos em sequências
de proteína e o alinhamento de múltiplas
sequências foram realizados com o software
MEGA 5.01 (Tamura et al., 2011).
Resultados
1. Isolados virais
Durante os anos de 2009 e 2010, amostras
virais foram isoladas de pulmões de suínos
coletados durante surtos respiratórios no sul
(Paraná e Rio Grande do Sul), centro-oeste
(Mato Grosso) e sudeste (Minas Gerais e
São Paulo) do Brasil (Fig. 10). Em alguns
casos, mais de um animal por propriedade
foram analisados, sendo que os isolados
A/swine/Brazil/1 a 3/2009 pertenciam à
mesma
propriedade;
assim
como
A/swine/Brazil/5 e 6/2009; A/swine/Brazil/8
a 10/2009; A/swine/Brazil/16 e 17/2009;
além de A/swine/Brazil/19 e 20/2010 (Tab.
7). A propriedade visitada pelo técnico que
apresentou sintomas de influenza era a
mesma onde haviam sido obtidas as
amostras 16/2009 e 17/2009 (Tab. 7, granja
K), na qual havia se iniciado surto em
agosto de 2009, quando matrizes e animais
de recria apresentaram sinais respiratórios
que perduraram por sete dias.
Figura 10. Estados onde estão localizadas as
granjas nas quais os vírus influenza foram
isolados. N= número de propriedades
analisadas por Estado.
2. Análise filogenética
Após análise e edição pelo software
SeqScape v2.5, as sequências codificadoras
parciais dos genes HA contendo 1658nt (321689) e NA contendo 1363nt (25-1387)
foram obtidas. Os resultados da análise de
identidade para os genes HA e NA realizada
nas sequências obtidas estão detalhados na
Tab. 9.
As árvores filogenéticas dos genes HA e NA
isolados neste estudo estão demonstradas na
Fig. 11 A e B, respectivamente, em
comparação com outras amostras de vírus
influenza depositadas no GenBank. Ambos
os genes HA e NA de todos os 20 vírus
influenza isolados de suínos e do vírus
isolado de humano mostraram alta
identidade (~ 99%) e foram agrupados com
genes do vírus pandêmico H1N1 introduzido
na população humana em 2009. Nenhum dos
genes dos isolados foi agrupado com genes
de vírus suínos sazonais H1N1 e H1N2
circulantes no mundo e os vírus sazonais
61
humanos e suínos formaram ramos distintos
das linhagens brasileiras isoladas em
2009/2010. Esses resultados indicam a alta
prevalência do vírus pH1N1 na população
suína brasileira em 2009 e 2010.
Amostras virais isoladas durante surtos
podem ser geneticamente relacionadas a
outras numa mesma região. Para avaliar esse
fenômeno populacional foram construídas
redes capazes de ilustrar as várias conexões
entre isolados virais. Árvores network foram
construídas, baseadas no método NeighborNet, com as sequências dos isolados
descritos neste estudo e com sequências do
vírus pandêmico H1N1 isolados de humanos
e suínos no mundo (Fig. 12 A e B). A
maioria dos haplótipos eram únicos,
principalmente para o gene HA (diversidade
haplotípica = 0,952±0,028; diversidade de
nucleotídeos = 0,0049±0,0008), que
apresentou maior diversidade que o gene NA
(diversidade haplotípica = 0,962±0,026;
diversidade
de
nucleotídeos
=
0,0034±0,0006).
As networks sugerem uma origem comum
para todos os isolados, independentemente
da região de origem ou hospedeiro.
Haplótipos idênticos foram observados em
alguns casos, geralmente entre isolados de
uma mesma propriedade (Fig. 12 A: isolados
5-6 e 16-17; Fig. 12 B: isolados 1-3, 8-10 e
19-20). E ainda, a sequência de HA do
isolado humano 21/2009 é idêntica aos
isolados 16/2009 e 17/2009 da mesma
propriedade, e a sequência de NA é mais
relacionada a essas amostras suínas que a
outras amostras nas árvores network (Fig. 12
A e B).
3. Análise de sítios antigênicos e de
ligação a receptores
As sequências da proteína hemaglutinina
subunidade 1 (HA1) dos isolados foram
analisadas para avaliar as mudanças de
62
amino ácidos capazes de alterar a
especificidade
de
receptores
e
a
antigenicidade virais. O alinhamento de
aminoácidos da HA1 está ilustrado na Fig.
13 e o alinhamento da proteína NA está
ilustrado na Fig. 14. Apesar da sequência e
estrutura tridimensional da HA ter sido
caracterizada em detalhes apenas para os
subtipos H3 do vírus influenza (Wiley et al.,
1981), um modelo adaptado é utilizado para
estudos de outros subtipos como o H1
(Caton et al., 1982). Então, a numeração de
aminoácidos do peptídeo maduro de H1 foi
utilizada de acordo com esse modelo
adaptado (Caton et al., 1982).
Todos os isolados brasileiros 2009/2010
continham
resíduos
de
linhagem
suína/humana nos sítios de ligação a
receptores, sem substituições nesses sítios na
maioria dos isolados em comparação com a
cepa
A/Mexico/4108/09
(sequência
consenso; Fig. 13). Apenas os isolados
19/2010 e 20/2010 apresentaram as
substituições A134T e D222N nos sítios de
ligação, sem alteração na especificidade de
receptores. Após análise comparativa,
algumas substituições diferentes foram
detectadas nos sítios antigênicos de HA1,
todas localizados nos sítios Ca1, Ca2 e Cb
(Fig. 13). A substituição S203T na HA1
(Fig. 13) associada às substituições V106I e
N248D em NA (Fig. 14) foi observada em
quase todos os isolados. O isolado
A/swine/Brazil/7/2009
apresentou
a
substituição Q293H associada à V106I e
N248D em NA, enquanto que o isolado
A/swine/Brazil/14/2009 continha a mutação
S203T na HA1 com apenas V106I em NA
(Fig. 13, Fig. 14).
Nenhum dos isolados apresentou as
substituições H275Y ou N295S na proteína
NA (Fig. 14), que são associadas à
resistência ao oseltamivir (Collins et al.,
2009).
63
A/swine/Brazil/1/2009
A/swine/Brazil/2/2009
A/swine/Brazil/3/2009
A/swine/Brazil/4/2009
A/swine/Brazil/5/2009
A/swine/Brazil/6/2009
A/swine/Brazil/7/2009
A/swine/Brazil/8/2009
A/swine/Brazil/9/2009
A/swine/Brazil/10/2009
A/swine/Brazil/11/2009
A/swine/Brazil/12/2009
A/swine/Brazil/13/2009
A/swine/Brazil/14/2009
A/swine/Brazil/15/2009
A/swine/Brazil/16/2009
A/swine/Brazil/17/2009
A/swine/Brazil/18/2010
A/swine/Brazil/19/2010
A/swine/Brazil/20/2010
A/Minas Gerais/21/2009
Amostra
Identidade (%)
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Gene HA
Sequência
A/Chile/4182/2009
A/Chile/4182/2009
A/Chile/4182/2009
A/Argentina/08AR/2009
A/Sao Paulo/55312/2009
A/Sao Paulo/55312/2009
A/Santa Catarina/6235/2009
A/England/730/2009
A/England/730/2009
A/England/611/2009
A/San Diego/INS214
A/England/611/2009
A/England/611/2009
A/Shanghai/1783T/2009
A/England/611/2009
A/England/94120043/2009
A/England/94120043/2009
A/England/730/2009
A/Malaysia/8860/2009
A/Malaysia/8860/2009
A/England/94120043/2009
Identidade (%)
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Gene NA
Sequência
A/Toyama/291/2009
A/Toyama/291/2009
A/Toyama/291/2009
A/Toyama/291/2009
A/Toyama/291/2009
A/Philippines/TMC09262/2009
A /Thailand/CU-MV50/2010
A/Philippines/TMC09262/2009
A/Philippines/TMC09262/2009
A/Philippines/TMC09262/2009
A/New York/3305/2009
A/Philippines/TMC09262/2009
A/Finland/630/2009
A/swine/Shandong/N1/2009
A/New York/3305/2009
A/New York/3305/2009
A/New York/3305/2009
A/swine/QC/4036-5/2009
A/District of Columbia/INS23/2009
A/District of Columbia/INS23/2009
A/New York/3305/2009
Tabela 9. Sequências de vírus Influenza A depositadas no GenBank com maior identidade de nucleotídeos para os vírus isolados de
suínos (A/swine/Brazil/1-17/2009 e A/swine/Brazil/18-20/2010) e de humano (A/Minas Gerais/21/2009).
A
99
A/swine/Brazil/19/2010
A/swine/Brazil/20/2010
A/Goias/16651/2010(H1N1)
A/swine/Brazil/11/2009
A/swine/Brazil/15/2009
A/swine/Brazil/12A/2010(H1N1)
A/swine/Brazil/1/2009
85
A/swine/Brazil/2/2009
A/swine/Brazil/3/2009
A/swine/Brazil/4/2009
A/swine/MN/8761/2010(H1N1)
A/swine/Brazil/18/2010
A/swine/Brazil/9/2009
93
91
A/swine/Brazil/10/2009
A/swine/Brazil/12/2009
A/swine/Brazil/13/2009
A/Sao Paulo/55312/2009(H1N1)
A/swine/Brazil/5/2009
85
90
A/swine/Brazil/6/2009
A/swine/Brazil/14/2009
72
A/Mexico/4108/2009 (H1N1)
A/swine/Alberta/OTH-33-8/2009(H1N1)
A/swine/Brazil/7/2009
A/San Diego/WR1650P/2009(H1N1)
A/swine/Brazil/16/2009
A/swine/Brazil/17/2009
A/Minas Gerais/21/2009
99
99
A/swine/Argentina/SAGiles31215/2009(H1N1)
A/California/04/2009(H1N1)
A/swine/Brazil/8/2009
A/swine/Kansas/00246/2004(H1N2)
99
99
A/swine/Ohio/891/01(H1N2)
!
A/swine/Kentucky/02086/2008(H1N1)
99
94
A/swine/Iowa/00239/2004(H1N1)
A/swine/Alberta/56626/03(H1N1)
A/swine/Iowa/15/1930(H1N1)
#
A/swine/IL/07003243/2007(H1N2)
99
A/Wisconsin/04/2009(H1N1)
A/swine/NC/00573/2005(H1N1)
0.05
64
$
"
A/swine/Brazil/5/2009
A/swine/Brazil/6/2009
A/swine/Brazil/12/2009
B
A/Chile/15/2010(H1N1)
A/Hong Kong/433397/2009(H1N1)
A/swine/Argentina/SAGiles-31215/2009(H1N1)
A/England/854/2009(H1N1)
90
A/swine/Brazil/7/2009
A/swine/Brazil/19/2010
A/swine/Brazil/20/2010
A/swine/Brazil/4/2009
A/swine/Brazil/14/2009
A/California/04/2009(H1N1)
A/Mexico/4108/2009 (H1N1)
76
A/swine/Alberta/OTH-33-8/2009(H1N1)
A/swine/MN/8761/2010(H1N1)
A/swine/Brazil/18/2010
A/swine/Brazil/9/2009
A/swine/Brazil/10/2009
A/swine/Brazil/8/2009
A/swine/Brazil/1/2009
A/swine/Brazil/2/2009
99
A/swine/Brazil/11/2009
A/swine/Brazil/15/2009
A/swine/Brazil/16/2009
A/swine/Brazil/17/2009
A/Minas Gerais/21/2009
A/swine/Brazil/3/2009
A/swine/Brazil/13/2009
0.1
A/swine/Iowa/15/1930(H1N1)
A/swine/NC/00573/2005(H1N1)
99
A/Wisconsin/04/2009(H1N1)
A/swine/Alberta/56626/03(H1N1)
99
A/swine/Kentucky/02086/2008(H1N1)
A/swine/IL/07003243/2007(H1N2)
A/Michigan/2/2003(H1N2)
99
A/swine/Kansas/00246/2004(H1N2)
85
82 A/Swine/Ohio/891/01(H1N2)
Figura 11. Análise filogenética dos isolados brasileiros de suínos e de humano. Árvore
construída pelo método Neighbor-Joining de (A): HA (1658nt) e (B): NA (1363nt). Foram
incluídas na análise sequências de genes HA e NA de vírus H1N1 pandêmico e de vírus
sazonais H1N1 e H1N2 isoladas de suínos e humanos no mundo. A análise de HA (A) mostra
quatro diferentes clusters (α, β, γ, δ) de vírus H1 endêmicos em suínos norte-americanos,
indicado por chaves à direita da árvore. Losango fechado: amostras de vírus influenza
pandêmico H1N1 2009 isoladas de suínos neste estudo; losango aberto: amostra de vírus
influenza pandêmico H1N1 isolada de humano neste estudo; A/swine/Brazil/12A/2010: amostra
de vírus influenza pandêmico previamente isolada no Brasil.
65
66
Figura 12. Dendrograma dos genes HA (A) e NA (B) dos isolados suínos e humano brasileiros, construída pelo método de NeighborNet. Sequências dos genes HA e NA de vírus pandêmicos humanos e suínos depositadas no GenBank foram incluídas na análise.
Números 1 a 20: isolados suínos; número 21: isolado humano, destacado por borda preta; quadrado cinza: isolados brasileiros deste
estudo; círculos pretos: sequências depositadas no Genbank e utilizadas como referência; pH1N1: sequências refêrencia de vírus
pandêmicos de humanos; pH1N1swine: sequências refêrencia de vírus pandêmicos de suínos; quadrado cinza com borda preta =
isolados brasileiros deste estudo idênticos a amostras depositadas no GenBank.
67
Ca1
180 183
187
192
*
203
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A GW
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
K E V L V L WG I H H P S T S A DQQ S L Y QN A D A Y V F V G S S R
MX/4108/09
swine/BR/1/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/2/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/3/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/4/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/5/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/6/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/7/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/8/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/9/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/10/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/11/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/12/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . T . .
swine/BR/13/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . T . .
swine/BR/14/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/15/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/16/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/17/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/18/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/19/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
swine/BR/20/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . .
MG/21/09
Sb
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KK
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
68
ECE
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
KP
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
L GNP
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cb
TAS
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
WS
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. F
. F
. .
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DQ
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
N .
N .
. .
Ca2
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VE
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G R MN Y
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
222 223 225
RPKV
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PGDK
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Ca1
VE
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
L .
L .
. .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PGD F
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
91
DNG T C Y
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
YWT
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ERF
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PKT
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
V V P R Y A F AM E R N A G S G
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . LN. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
REQL S SVS
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . .G. . .
. . . .G. . .
. . . .G. . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
E A T GN L
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
DY
. .
. .
. .
. .
N.
N.
. .
. .
. .
. .
. .
N.
N.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ca2
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P VHDCNT T CQT
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . .A. . . .
. . . . . .A. . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . .D.N. . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
P KGA
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.Q. .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
133 134
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NT
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S WP NHD S NK GV T AA C P HAGA K S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .A. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ER .
. . . . . . .D. . . . T . . . . . . . . .
. . . . . . .D. . . . T . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sa
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F QN
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
.H.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
KNL
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
WL
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
H
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
150
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PK
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sa
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GKCPKYVK
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
V K K GN S
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Sa
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TKL
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
.N.
.N.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
V
.
NDKG
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Ca1
Figura 13. Alinhamento das sequências da hemaglutinina subunidade 1 (HA1) dos isolados pandêmicos H1N1 suínos e humano
brasileiros. As sequências foram alinhadas e numeradas usando a proteína HA1 madura. Pontos representam aminoácidos iguais aos da
sequência consenso A/Mexico/4108/2009 (número de acesso GenBank GQ162170). Retângulos grandes: sítios antigênicos (Sa, Sb, Ca1,
Ca2 e Cb); triângulos: resíduos de aminoácidos nos sítios de ligação ao receptor; asterisco: alteração observada no resíduo 203.
T V T H S V N L L E D K HNGK L C K L RGV A P L H L GK CN
MX/4108/09
swine/BR/1/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/2/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/3/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/4/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/5/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/6/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/7/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/8/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/9/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/10/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/11/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/12/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/13/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/14/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/15/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/16/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/17/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/18/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/19/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
swine/BR/20/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MG/21/09
68
Figura 14. Alinhamento das sequências da proteína neuraminidase (NA) dos isolados
pandêmicos H1N1 suínos e humano brasileiros. Pontos representam aminoácidos iguais aos da
sequência consenso A/Mexico/4108/2009 (número de acesso GenBank GQ162169). Triângulos:
resíduos de aminoácidos associados com resitência a drogas anti-virais; asteriscos: alterações
nos resíduos 106 e 248.
MX/4108/09
swine/BR/1/09
swine/BR/2/09
swine/BR/3/09
swine/BR/4/09
swine/BR/5/09
swine/BR/6/09
swine/BR/7/09
swine/BR/8/09
swine/BR/9/09
swine/BR/10/09
swine/BR/11/09
swine/BR/12/09
swine/BR/13/09
swine/BR/14/09
swine/BR/15/09
swine/BR/16/09
swine/BR/17/09
swine/BR/18/10
swine/BR/19/11
swine/BR/20/12
MG/21/09
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MX/4108/09
swine/BR/1/09
swine/BR/2/09
swine/BR/3/09
swine/BR/4/09
swine/BR/5/09
swine/BR/6/09
swine/BR/7/09
swine/BR/8/09
swine/BR/9/09
swine/BR/10/09
swine/BR/11/09
swine/BR/12/09
swine/BR/13/09
swine/BR/14/09
swine/BR/15/09
swine/BR/16/09
swine/BR/17/09
swine/BR/18/10
swine/BR/19/11
swine/BR/20/12
MG/21/09
GAV
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GDV
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
QGA
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SWRNN
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Q
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NDKH
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . N .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NG
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VMT
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LMS
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AWS
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HDG
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
S
.
NW L
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DN
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
DG
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NGQA
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
D . . .
. . . .
D . . .
D . . .
D . . .
DR . .
D . . .
D . . .
D . . .
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E MN A
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D NW
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
*
106
NG
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VNG
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*
248
Discussão
Suínos têm papel importante na transmissão
interespécie da influenza, uma vez que
possuem receptores para vírus humanos e
aviários em seu trato respiratório. Essa
espécie é considerada o “sítio de mistura”
em que a troca de material genético pode
ocorrer e levar à formação de vírus contra os
quais a população humana não tem
imunidade (Webster, 1992). No Brasil, além
de um estudo descrevendo um isolado de
vírus pandêmico H1N1 em suínos e da
identificação de vírus H3N8 e um rearranjo
H1N2 derivado do pH1N1 na região sul do
Brasil (Schaefer et al., 2011a,b,c), nenhuma
caracterização
genética
detalhada
e
epidemiológica foi relatada. Portanto, este
estudo é o primeiro a apresentar a
caracterização molecular detalhada do vírus
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
H
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
275
295
influenza em suínos de diversos Estados no
Brasil.
Os resultados obtidos demonstraram que o
vírus
influenza
estava
amplamente
disseminado em populações de suínos no
Brasil em 2009 e 2010, encontrando-se
associado a casos clínicos respiratórios em
indivíduos de várias idades. Todos os
isolados suínos descritos aqui foram
agrupados no mesmo cluster que o vírus
pandêmico H1N1 2009, indicando que essa
se tornou a cepa predominante circulando
em suínos no Brasil. Schaefer et al (2011c)
relataram anteriormente a transmissão do
pH1N1 para suínos no Brasil, assim como
em outros países (Pereda et al., 2010; Pasma
e Joseph, 2010; Sreta et al., 2010). Todas as
amostras foram coletadas a partir de agosto
de 2009, quando a influenza pandêmica já
estava disseminada na população brasileira e
69
apresentava-se predominante em relação à
influenza sazonal (SVS, 2010). Além disso,
Ciacci-Zanella et al (2011a) relatam uma
mudança em 2009 na detecção de anticorpos
contra vírus influenza em suínos no Brasil,
havendo aumento na taxa de infecção dos
animais a partir daquele ano. Dessa forma,
justifica-se a detecção exclusiva dessa cepa
viral nos plantéis estudados, já que o vírus
apresentava elevada taxa de morbidade entre
humanos, e, consequentemente, em suínos.
Todavia, não apenas os isolados suínos de
2009 mas também os de 2010 foram
agrupados
com
vírus
pandêmicos,
evidenciando que o vírus pandêmico
circulou e conseguiu se manter na população
de suínos brasileira mesmo quando a
atividade viral em humanos reduziu (SVS,
2010).
A pressão imune do hospedeiro está
associada à ocorrência de mutações e
substituições de aminoácidos no vírus
influenza (antigenic drift), e a HA é o
principal alvo da resposta imune durante a
infecção (Skehel and Wiley, 2000). Portanto,
a diversidade genética entre os isolados foi
maior no gene HA, embora todos eles
tenham sido agrupados no mesmo clado. A
maior parte das amostras que vieram da
mesma propriedade eram idênticas, exceto
pelo isolado 8/2009, evidenciando a
disseminação intra-rebanho. Esses achados
também corroboram com a hipótese de que a
pressão de seleção em suínos é baixa devido
à constante introdução de animais
susceptíveis no rebanho (Brown, 2000).
Entretanto, substituições de aminoácidos
observadas nos sítios antigênicos de alguns
isolados
brasileiros
comprovaram
a
ocorrência de antigenic drift, principalmente
nos sítios Ca e Cb.
Sete clados distintos do vírus pandêmico
foram identificados circulando no mundo no
início da pandemia (Nelson et al., 2009).
Com base nas substituições S203T no gene
HA em combinação com V106I e N248D no
70
gene NA encontradas em 18 dos 20 isolados
suínos e no isolado humano, eles podem ser
agrupados no clado 7 descrito por Nelson et
al. (2009). O isolado 7/2009 pertence ao
clado 6, pois não apresentou a substituição
de HA, e o isolado 14/2009 não pôde ser
agrupado em nenhum dos sete clados, pois
não apresentou a mutação N248D em NA.
Com o decorrer da pandemia, o clado 7
passou a predominar (Valli et al., 2010), o
que justifica a detecção principalmente deste
clado
nos
isolados
do
Brasil.
Subsequentemente, a seleção e evolução do
clado 7 resultou na circulação de variantes
com mutação HA D222G/N ou E (Miller et
al., 2010). A mutação D222G na
hemaglutinina está amplamente relacionada
ao curso clínico da infecção, pois é
encontrada frequentemente em casos graves
e fatais da influenza pandêmica em humanos
(Kilander et al., 2010). Da mesma forma, a
substituição D222N, observada nos isolados
19/2010 e 20/2010, está associada a casos
fatais da doença (Houng et al., 2012).
Entretanto, os animais a partir dos quais
esses variantes virais foram isolados não
apresentaram sinais clínicos mais graves do
que os observados normalmente na infecção
por vírus influenza.
Os vírus influenza suínos são patógenos
zoonóticos, cuja infecção em humanos já foi
relatada pelo vírus clássico H1N1, mas
também por vírus rearranjos, embora em
menor frequência que a transmissão de
humanos para suínos (Gregory et al., 2003;
Olsen et al., 2006b; Myers et al., 2007;
Newman et al., 2008). Este estudo fornece
provas da possível transmissão viral de
suínos para um ser humano. O técnico
responsável por uma propriedade produtora
de suínos que passava por um surto
confirmado
de
influenza
pandêmica
apresentou sinais clínicos compatíveis com a
doença após contato com os animais
doentes. Levando-se em consideração o
período de incubação da influenza, pode-se
inferir que o rebanho visitado é a fonte mais
provável de infecção. Adicionalmente, os
genes HA e NA da amostra do indivíduo em
questão (21/2009) apresentaram maior
proximidade genética com as amostras de
suínos coletadas na propriedade acometida
(16 e 17/2009) do que com qualquer outra
amostra de humano ou suíno. Dessa forma,
existem indícios de que a transmissão do
vírus pandêmico de suínos para humano
ocorreu.
Árvores network foram usadas para ilustrar
as inúmeras ligações ancestrais possíveis
entre
haplótipos.
Assim,
as
rotas
epidemiológicas com que a disseminação
viral pode ter ocorrido foram evidenciadas.
Ambos os dendrogramas de HA e NA
sugerem que amostras de pH1N1 isoladas
em diversas partes do mundo são
relacionadas umas às outras e têm uma
origem em comum, como é esperado em
pandemias (Rambaut e Holmes, 2009). A
maior parte dos isolados brasileiros e de
outras partes do mundo apresentou
ancestrais derivados de humanos, indicando
que a transmissão do vírus pandêmico é
mais frequente de humano para humano ou
de humano para suíno do que a transmissão
zoonótica de suíno para humano (Pereda et
al., 2010; Schaefer et al., 2011c). E ainda,
relatos do surto pandêmico de 2009 sugerem
que o vírus evoluiu silenciosamente no suíno
até seu aparecimento na população humana
(Solovyov et al., 2010), quando teve rápida
disseminação e frequente transmissão
interespécie para suínos (Pasma e Joseph,
2010; Sreta et al., 2010).
Em todos os casos avaliados neste estudo, os
animais infectados apresentavam sinais
clínicos e lesões semelhantes às da influenza
endêmica, assim como em relatos anteriores
da infecção pelo vírus pandêmico em suínos
(Brookes et al., 2010; Vincent et al., 2010a).
Logo, os suínos brasileiros não apresentaram
imunidade protetora cruzada contra a
infecção pelo vírus pH1N1 ou contra a
manifestação clínica. Em um estudo recente,
vacinas multivalentes compostas por
subtipos H1 e H3 endêmicos apresentaram
proteção parcial na infecção experimental
com o pH1N1, e a vacina monovalente
homóloga foi a única capaz proteger
totalmente os animais, inclusive contra a
eliminação viral nas secreções (Vincent et
al., 2010b). Evidencia-se, portanto, a
necessidade de considerar a vacinação para a
influenza nos suínos susceptíveis no Brasil,
contra vírus endêmicos e também contra o
vírus pandêmico, com o intuito de proteger
os animais principalmente contra a
manifestação
clínica,
reduzir
perdas
econômicas, restringir a eliminação do vírus
nas secreções e, assim, limitar a transmissão
viral.
A caracterização genética e antigênica dos
vírus influenza que infectam a população de
suínos mundial é crítica para conhecer a
epidemiologia dessa infecção na espécie, e
também para selecionar linhagens vacinais
adequadas. Esse monitoramento também
deve ser realizado nos planteis brasileiros, a
fim de garantir o melhor controle da
influenza suína e, assim, reduzir o risco de
rearranjos e do surgimento de novos vírus
com potencial pandêmico para a população
humana. Os resultados obtidos revelam que
o vírus H1N1 pandêmico se disseminou em
suínos em vários estados brasileiros,
mostrando potencial para se estabelecer
como uma infecção endêmica. Dessa forma,
fica evidente a necessidade de medidas de
controle específicas, como a vacinação, para
evitar a reintrodução desse vírus na
população humana através do contato com
animais doentes.
71
CAPÍTULO 6: CONCLUSÃO
Esse estudo identificou a infecção pelo vírus
influenza
em
suínos
no
Brasil,
caracterizando detalhadamente a dinâmica
dessa infecção nos planteis nacionais. Foi
comprovado que a influenza circula em
suínos no Brasil mesmo antes da introdução
do vírus H1N1 pandêmico 2009, com alta
ocorrência para vírus H1N1 suíno e humano.
No entanto, a pandemia parece ter sido
importante para potencializar a distribuição
dessa enfermidade nos planteis brasileiros. A
ampla disseminação do vírus pandêmico
encontrada neste estudo, associada à
frequente observação de manifestação
clínica, indica que os suínos no Brasil não
apresentavam imunidade protetora contra o
vírus pandêmico. Portanto, os anticorpos
contra H1N1 presentes nos animais
anteriormente à pandemia não conferiram
imunidade cruzada adequada. Além disso, a
distribuição da influenza em seis Estados
brasileiros, com sinais clínicos observados
em diversas faixas etárias, comprova que
essa enfermidade vem gerando prejuízos
para os produtores na suinocultura nacional.
Nos rebanhos infectados, a imunidade
passiva pareceu decair nos animais da
creche, indicando que no final dessa fase e
na recria os animais encontram-se mais
susceptíveis à infecção.
72
Nossos resultados sugerem que o vírus
pandêmico H1N1 se estabeleceu na
população de suínos no Brasil e pode vir a se
tornar endêmico. A detecção exclusiva do
vírus pandêmico em amostras com
diferentes origens comprova que essa cepa
se tornou predominante em suínos no Brasil
nos anos de 2009 e 2010 e, como ainda não
existe protocolo de vacinação para influenza
no país, continuará a circular e causar
prejuízos até que os animais adquiram
imunidade. Portanto, a elaboração de
medidas de manejo adequadas para o
controle da influenza é fundamental para
conter a disseminação viral, e a realização da
vacinação contra essa enfermidade é uma
medida preventiva a ser considerada.
Associando-se os resultados do isolamento e
identificação viral e os de perfil sorológico
observados, conclui-se que a vacinação
contra o vírus influenza em fêmeas
reprodutoras pode resultar em proteção
homogênea do rebanho, mas outras
categorias de animais susceptíveis também
devem ser incluídas. No entanto, o
monitoramento de vírus circulantes para
produção de vacinas apropriadas é essencial
para garantir a proteção adequada do
rebanho nacional. E ainda, a utilização do
perfil sorológico como ferramenta para
elaboração do protocolo vacinal mais
adequado para cada rebanho deve ser
preconizada.
BIBLIOGRAFIA
ALEXANDER, D.J.; BROWN, I.H. Recent
zoonosis caused by influenza A viruses. Rev.
Sci. Tech., v. 19, p.197-225, 2000.
BEAN, B.; MOORE, B.M.; STERNER, B. et
al. Survival of influenza viruses on
environmental surfaces. J. Infect. Dis., v.146,
p. 47-51, 1982.
BEARE, A. S.; WEBSTER, R. G. Replication
of avian influenza viruses in humans. Arch.
Virol., v. 119, p. 37-42, 1991.
BOLIAR,
S.;
STANISLAWEK,
W.;
CHAMBERS, T.M. Inability of kaolin
treatment to remove nonspecific inhibitors
from equine serum for the hemagglutination
inhibition test against equine H7N7 influenza
virus. J. Vet. Diagn. Invest., v. 18, p. 264–267,
2006.
BRANKSTON, G.; GITTERMAN, L.; HIRJI,
Z. et al. Transmission of influenza A in human
beings. Lancet Infect. Dis., v. 7, p.257–265,
2007.
BRASIL. Instrução Normativa SDA n. 31 de
20 mai. 2003. Aprova o Regulamento Técnico
para Produção, Controle e Emprego de
Vacinas Autógenas. Diário Oficial, Brasília, n.
96, 21 mai. 2003. Seção 1, p. 7-8.
BRASIL. Nota Técnica n. 001/CPV/
DFIP/SDA/MAPA, de 12 mar. 2008. Informa
sobre debates com a comunidade científica e o
setor produtivo com a finalidade de esclarecer
questões relacionadas às dificuldades em
autorizar a produção, comercialização e uso
das vacinas autógenas contra a Circovirose
Suína. Departamento de Fiscalização de
Insumos Pecuários, Brasília, 12 mar. 2008. 2p.
BRENTANO, L.; CIACCI-ZANELLA, J. R.;
MORES,
N.
et
al.
Levantamento
Soroepidemiológico
para
Coronavírus
Respiratório e da Gastroenterite Transmissível
e dos Vírus de Influenza H3N2 E H1N1 em
Rebanhos
Suínos
no
Brasil.
In:
COMUNICADO TÉCNICO, 306, 2002,
Concórdia. Comunicado Técnico... Concórdia:
Embrapa Suínos e Aves, 2002. 6 p.
BRIDGES, C.B.; KUEHNERT, M.J.; HALL,
C.B. Transmission of influenza: implications
for control in health care settings. Clin. Infect.
Dis., v. 37, p.1094-1101, 2003.
BROOKES,
S.M.;
NÚÑEZ,
A.;
CHOUDHURY, B. et al. Replication,
Pathogenesis and Transmission of Pandemic
(H1N1) 2009 Virus in Non-Immune Pigs.
PLoS ONE, v. 5, 2010. doi:10.1371/
journal.pone.0009068.
BROWN, I. H.; DONE, S.H.; SPENCER, Y.I.
et al. Pathogenicity of a swine influenza H1N1
virus antigenically distinguishable from
classical and European strains. Vet. Rec., v.
132, p. 598-602, 1993.
BROWN, I. H.; LUDWIG, S.; OLSEN, C. W.
et al. Antigenic and genetic analyses of H1N1
influenza A viruses from European pigs. J.
Gen. Virol., v, 78, p. 553-562, 1997.
BROWN, I. H. The epidemiology and
evolution of influenza viruses in pigs. Vet.
Microbiol., v. 74, p. 29-46, 2000.
CARON, L.F.; JOINEAU, M.E.G.; SANTIN,
E. et al. Seroprevalence of H3N2 influenza a
virus in pigs from Paraná (South Brazil):
interference of the animal management and
climatic conditions. Virus Rev. Res., v. 15, n.1,
2010.
CASTRUCCI, M. R.; DONATELLI, I.;
SIDOLI, L. et al. Genetic reassortment
between avian and human influenza A viruses
in Italian pigs. Virology, v. 1, p.503–506,
1993.
CATON,
A.J.;
BROWNLEE,
G.G.;
YEWDELL, J.W. et al. The antigenic structure
of
the
influenza
virus
A/PR/8/34
hemagglutinin (H1 subtype). Cell, v. 31, p.
417–427, 1982.
73
CENTER FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION (CDC). Interim Guidance for
the Detection of Novel Influenza A Virus Using
Rapid Influenza Diagnostic Tests. Atlanta:
Center for Disease Control and Prevention,
2009a. 5p.
CENTER FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION (CDC). Swine influenza A
(H1N1) infection in two children—Southern
California, March–April 2009. Morb. Mortal.
Wkly. Rep., v. 58, p. 400–402, 2009b.
CHAMBERS, T. M.; HINSHAW, V. S.;
KAWAOKA, Y. et al. Influenza viral infection
of swine in the United States 1988–1989.
Arch. Virol., v.116, p.261-265, 1991.
CHOI, Y.K.; GOYAL, S.M.; JOO, H.S.
Prevalence of swine influenza virus subtypes
on swine farms in the United States. Arch.
Virol., v.147, p.1209–1220, 2002a.
CIACCI-ZANELLA, J. R. C.; SCHAEFER,
R.; SCHIOCHET, M.F., et al. Current and
retrospective serology study of influenza A
viruses antibodies in Brazilian pig populations.
In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
EMERGING AND RE-EMERGING PIG
DISEASES,
6,
2011,
Barcelona.
Proceedings… Barcelona: [s.n.], 2011a. p.
261. (Resumo).
CIACCI-ZANELLA, J. R. C.; VINCENT, A.
L.; SCHAEFER, R. et al. Influenza em suínos
no Brasil: o problema e o que pode ser feito
para manter a infecção controlada nas granjas
afetadas. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA, 6, 2011, Porto Alegre.
Anais… Porto Alegre: [s.n.], 2011b. p. 85-94.
CLAVIJO, A.; TRESNAN, D. B.; JOLIE, R.
et al. Comparison of embryonated chicken
eggs with MDCK cell culture for the isolation
of swine influenza virus. Can. J. Vet. Res., v.
66, p. 117-121, 2002.
CHOI, Y. K.; GOYAL, S. M.; KANG, S. W.
et al. Detection and subtyping of swine
influenza H1N1, H1N2 and H3N2 viruses in
clinical samples using two multiplex RT-PCR
assays. J. Virol. Methods, v. 102, p. 53–59,
2002b.
COLLINS, P.J.; HAIRE, L.F.; LIN, Y.P.
Structural basis for oseltamivir resistance of
influenza viruses. Vaccine, v. 27, p. 6317–
6323, 2009.
CHOI, Y.K.; GOYAL, S.M.; JOO, H.S.
Retrospective analysis of etiologic agents
associated with respiratory diseases in pigs.
Can. Vet. J., v.44, p.735-737, 2003.
COUCEIRO, J.N.S.S.; PAULSON, J. C.;
BAUM, L. G. Influenza virus strains
selectively recognize sialyloligosaccharides on
human respiratory epithelium; the role of the
host cell in selection of hemagglutinin receptor
specificity. Virus Res., v. 29, p. 155-165, 1993.
CHOPIN, P. W.; TAMM, I. Studies of two
kinds of virus particles which comprise
Influenza A2 virus strains. J. Exp. Med., v.
112, p. 895-920, 1960.
CHEN, W.; CALVO, P. A.; MALIDE, D. et
al. A novel influenza A virus mitochondrial
protein that induces cell death. Nat. Med., v. 7,
p. 1306-1312, 2001.
CHUTINIMITKUL, S.; THIPPAMOM, N.;
DAMRONGWATANAPOKIN, S. et al.
Genetic characterization of H1N1, H1N2 and
H3N2 swine influenza virus in Thailand. Arch.
Virol., v. 153, p. 1049–1056, 2008.
74
COX, R. J.; BROKSTAD, K. A.; OGRA, P.
Influenza virus: immunity and vaccination
strategies. Comparison of the immune
response to inactivated and live, attenuated
influenza vaccines. Scand. J. Immunol., v. 59,
p. 1-15, 2004.
CRAWFORD, P. C.; DUBOVI, E. J.;
CASTLEMAN, W. L. et al. Transmission of
Equine Influenza Virus to Dogs. Science, v.
310, p. 482-485, 2005.
CROSS,
K.
J.;
BURLEIGH,
L.M.;
STEINHAUER, D.A. Mechanisms of cell
entry by influenza virus. Expert Rev. Mol.
Med., v.3, p. 1-18, 2001.
DESROSIERS, R.; BOUTIN, R.; BROES, A.
Persistence of antibodies after natural infection
with swine influenza virus and epidemiology
of the infection in a herd previously considered
influenza- negative. J. Swine Health Prod., v.
12, p. 78-81, 2004.
DAWOOD, F. S.; JAIN, S.; FINELLI, L. et al.
Emergence of a novel swine-origin influenza
A (H1N1) virus in humans. N. Engl. J. Med.,
v. 360, p. 2605–2615, 2009.
DE JONG, J. C.; SMITH, D. J.; LAPEDES, A.
S. et al. Antigenic and genetic evolution of
swine influenza A (H3N2) viruses in Europe.
J. Virol., v. 81, p. 4315–4322, 2007.
DESSELBERGER, U.; RACANIELLO, V.R.;
ZAZRA, J.J. et al. The 3’ and 5’-terminal
sequences of influenza A, B and C virus RNA
segments are highly conserved and show
partial inverted complementarity. Gene, v. 8,
p. 315–328, 1980.
DOWDLE, W.A.; KENDAL, A.P.; NOBLE,
G.R. Influenza viruses. In: LENNETTE, E. H.;
SCHMIDT, N.J. (Ed.). Diagnostic procedures
for viral, rickettsial and chlamydial infections,
5. ed. Washington: American Public Health
Association, 1979. p. 585-609.
DREXLER, J. F.; HELMER, A.; KIRBERG,
H. et al. Poor Clinical Sensitivity of Rapid
Antigen Test for Influenza A Pandemic
(H1N1) 2009 Virus. Emerg. Infect. Dis., v. 15,
p. 1662-1664, 2009.
DUCATEZ, M.F.; HAUSE, B.; STIGGERROSSER, E. et al. Multiple Reassortment
between Pandemic (H1N1) 2009 and Endemic
Influenza Viruses in Pigs, United States.
Emerg. Infect. Dis., v. 17, p. 1624-1629, 2011.
EASON, R.J.; SAGE, M.D. Deaths from
influenza A, subtype H1N1, during the 1979
Auckland epidemic. N. Zeal. Med. J., v. 91, p.
129–131, 1980.
ERDMANN, M.M.; CRABTREE, B. A new
swine vaccine technology: research update. In:
ANNUAL SWINE DISEASE CONFERENCE
FOR SWINE PRACTITIONERS, 14, 2006,
Ames. Proceedings… Ames: American
Association of Swine Veterinarians, 2006.
pp.83–87.
FLYNN, K. J.; BELZ, G. T.; ALTMAN, J. D.
et al. Virus-specific CD8+ T cells in primary
and
secondary
influenza
pneumonia.
Immunity, v. 8, p. 683-691, 1998.
FOUCHIER,
R.A.;
MUNSTER,
V.;
WALLENSTEN, A. Characterization of a
novel influenza A virus hemagglutinin subtype
(H16) obtained from black-headed gulls. J.
Virol., v. 79, p. 2814-2822, 2005.
GAMBARYAN, A.; YAMNIKOVA, S.;
LVOV, D. et al. Receptor specificity of
influenza viruses from birds and mammals:
new data on involvement of the inner
fragments of the carbohydrate chain. Virology,
v. 334, p. 276-83, 2005.
GARTEN, R. J.; DAVIS, C. T.; RUSSELL, C.
A. et al. Antigenic and genetic characteristics
of swine-origin 2009 A (H1N1) influenza
viruses circulating in humans. Science, v. 325,
p. 197– 201, 2009.
GAVIN, P.J.; THOMSON JR, R.B. Review of
Rapid Diagnostic Tests for Influenza. Clin.
App. Immunol. Rev., v. 4, p. 151–172, 2003.
GAYDOS, J.C.; HODDER, R.A.; TOP JR,
F.H. et al. Swine influenza A at Fort Dix, New
Jersey (January–February 1976). I. Case
finding and clinical study of cases. J. Infect.
Dis., v.136, p.356–362, 1977.
GIBBS, J. S.; MALIDE, D.; HORNUNG, F. et
al. The influenza A virus PB1-F2 protein
targets the inner mitochondrial membrane via
a predicted basic amphipathic helix that
disrupts mitochondrial function. J. Virol., v.
77, p. 7214-7224, 2003.
75
GILL, J. R.; SHENG, Z.; ELY, S. F. et al.
Pulmonary Pathologic Findings of Fatal 2009
Pandemic Influenza A/H1N1 Viral Infections.
Arch. Pathol. Lab. Med., v. 134, p. 235-243,
2010.
GOTTSCHALK, A. Virus enzymes and virus
templates. Physiol. Rev., v.37, p. 66-83, 1957.
GRAY, G. C.; MCCARTHY, T.; CAPUANO,
A. W. et al. Swine Workers and Swine
Influenza Virus Infections. Emerging Infect.
Dis., v. 13, p. 1871-1878, 2007.
GREGORY, V.; BENNETT, M.; THOMAS,
Y. et al. Human infection by a swine influenza
A (H1N1) virus in Switzerland. Arch. Virol., v.
148, p. 793-802, 2003.
GUAN, Y.; SHORTRIDGE, K.F.; KRAUSS,
S. et al. Emergence of avian H1N1 influenza
viruses in pigs in China. J. Virol., v. 70, p.
8041–8046, 1996.
HAESEBROUCK,
F.;
BIRONT,
P.;
PENSAERT, M. B. et al. Epizootics of
respiratory tract disease in swine in Belgium
due to H3N2 influenza virus and experimental
reproduction of disease. Am. J. Vet. Res., v. 46,
p. 1926–1928, 1985.
HAINES, D. M.; WATERS, E. H.; CLARK,
E. G. Immunohistochemical detection of swine
influenza A virus in formalin-fixed and
paraffin-embedded tissues. Can. J. Vet. Res., v.
57, n. 1, p. 33-36, 1993.
HALL, R. J.; PEACEY, M.; HUANG, Q. S.;
CARTER, P. E. Rapid method to support
diagnosis of swine origin influenza virus
infection by sequencing of real-time PCR
amplicons from diagnostic assays. J. Clin.
Microbiol., v. 47, p. 3053-3054, 2009.
HAMPSON, A. W. Influenza virus antigens
and ‘antigenic drift’. In: POTTER, C. W.
(Ed). Influenza. London: Elsevier, 2002. p. 49–
85.
76
HANNOUN, C.; MEGAS, F.; PIERCY, J.
Immunogenicity and protective efficacy of
influenza vaccination. Virus Res., v. 103, p.
133–138, 2004.
HANSEN, M. S.; PORS, S. E.; JENSEN, H.
E. et al. An Investigation of the Pathology and
Pathogens
Associated
with
Porcine
Respiratory Disease Complex in Denmark. J.
Comp. Path., v. 143, p.120-131, 2010.
HARTMAN, P.S. Transillumination can
profoundly reduce transformation frequencies.
Biotechniques, v. 11, p. 747-748, 1991.
HEINEN, P. P.; VAN NIEUWSTADT, A.P.;
POL, J.M.A. et al. Systemic and mucosal
isotype-specific antibody responses in pigs to
experimental influenza virus infection. Viral
Immunol., v. 13, p.237-47, 2000.
HEINEN, P.P.; RIJSEWIJK, F.A.; DE BOERLUIJTZE, E.A. et al. Vaccination of pigs with
a DNA construct expressing an influenza virus
M2-nucleoprotein fusion protein exacerbates
disease after challenge with influenza A virus.
J. Gen. Virol., v. 83, p.1851–1859, 2002.
HEINEN, P.P. Swine influenza: a zoonosis.
Veterinary
Sciences
Tomorrow,
2002.
Disponível
em:
<http://www.vetsite/org/
publish/articles/000041/print.html>.
Acesso
em: 10 jul. 2008.
HERMAN, M.; HAUGERUD, S.; MALIK, Y.
S.; et al. M. Improved In Vitro Cultivation of
Swine Influenza Virus. Intern. J. Appl. Res.
Vet. Med., v. 3, p.124-128, 2005.
HINSHAW, V.S.; BEAN JR., W.J.;
WEBSTER, R.G. et al. The prevalence of
influenza viruses in swine and the antigenic
and genetic relatedness of influenza viruses
from man and swine. Virology, v. 84, p. 51–
62, 1978.
HINSHAW, V. S.; WEBSTER, R. G.;
NAEVE, C. W. et al. Altered tissue tropism of
human-avian reassortant influenza viruses.
Virology, v. 128, p. 260-263, 1983.
HOFFMANN, E.; STECH, J.; GUAN, Y. et al.
Universal primer set for the full-length
amplification of all influenza A viruses. Arch.
Virol., v. 146, p.2275–2289, 2001.
HORIMOTO, T.; KAWAOKA, Y. Influenza:
lessons from past pandemics, warnings from
current incidents. Nat. Rev. Microbiol., v. 3, p.
591-600, 2005.
HOUNG, H. H.; GARNER, J.; ZHOU Y. et al.
Emergent 2009 influenza A(H1N1) viruses
containing HA D222N mutation associated
with severe clinical outcomes in the Americas.
J. Clinical Virol., v. 53, p. 12-15, 2012.
HUSON, D. H.; BRYANT, D. Application of
Phylogenetic Networks in Evolutionary
Studies. Mol. Biol. Evol., v. 23, p. 254-267,
2006.
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
Produção da Pecuária Municipal. Rio de
Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, v. 38, p.1-65, 2010. (ISSN 01014234)
ITO, T. Interspecies transmission and receptor
recognition of influenza A viruses. Microbiol.
Immunol., v. 44, p. 423-30, 2000.
ITO, T.; KAWAOKA, Y. Host-range barrier
of influenza A viruses. Vet. Microbiol., v. 74,
p. 71-75, 2000.
JO, S. K.; KIM, H. S.; CHO, S. W. et al.
Pathogenesis and inflammatory responses of
swine H1N2 influenza viruses in pigs. Virus
Res., v. 129, p. 64-70, 2007.
JONG, J. C.; SMITH, D. J.; LAPEDES, A. S.
et al. Antigenic and Genetic Evolution of
Swine Influenza A (H3N2) Viruses in Europe.
J. Virol., v. 81, n. 8, p. 4315-4322, 2007.
JUKES, T.H.; CANTOR, C.R. Evolution of
protein molecules. In: MUNRO, H.N. (Ed.).
Mammalian Protein Metabolism, 3. ed. New
York: Academic Press, 1969. p. 21-132.
JULKUNEN, I.; PYHALA, R.; HOVI, T.
Enzyme immunoassay, complement fixation
and hemagglutination inhibition tests in the
diagnosis of influenza A and B virus
infections. Purified hemagglutinin in subtypespecific diagnosis. J. Virol. Methods, v.10,
p.75–84, 1985.
JUNG, T.; CHOI, C.; CHUNG, H. et al. Herdlevel seroprevalence of swine-influenza virus
in Korea. Prev. Vet. Med., v.53, p.311–314,
2002.
JUNG, K.; SONG, D.; KANG, B. et al.
Serologic surveillance of swine H1 and H3 and
avian H5 and H9 influenza A virus infections
in swine population in Korea. Prev. Vet. Med.,
v. 79, p. 294–303, 2007.
KARASIN,
A.I.;
LANDGRAF,
J.;
SWENSON, S. et al. Genetic characterization
of H1N2 influenza A viruses isolated from
pigs throughout the United States. J. Clin.
Microbiol., v. 40, p. 1073– 1079, 2002.
KIDA, H.; SHORTRIDGE, K.F.; WEBSTER,
R.G. Origin of the hemagglutinin gene of
H3N2 influenza viruses from pigs in China.
Virology, v. 162, p. 160–166, 1988.
KIDA, H.; ITO, T.; YASUDA, J. et al.
Potential for transmission of avian influenza
viruses to pigs. J. Gen. Virol., v. 75, p. 21832188, 1994.
KILANDER, A.; RYKKVIN, R.; DUDMAN,
S.G. et al. Observed association between the
HA1 mutation D222G in the 2009 pandemic
influenza A(H1N1) virus and severe clinical
outcome, Norway 2009-2010. Euro Surveill.,
v. 15, p. 19498-19501, 2010.
KILLIAN, M.L. Hemagglutination Assay for
the Avian Influenza Virus. In: SPACKMAN,
E. (Ed). Avian Influenza Virus: Methods in
Molecular Biology. Totowa: Human Press,
2008. p. 53-56.
77
KIM, J. H.; JACOB, J. DNA vaccines against
influenza viruses. Curr. Top. Microbiol.
Immunol., v. 33, p.197-210, 2009.
KING JR, J.C.; COX, M.M.; REISINGER, K.
et al. Evaluation of the safety, reactogenicity
and immunogenicity of FluBlok trivalent
recombinant
baculovirus-expressed
hemagglutinin influenza vaccine administered
intramuscularly to healthy children aged 6-59
months. Vaccine, v. 27, p.6589-94, 2009.
LAM, T.; HON, C.; WANG, Z. et al.
Evolutionary analyses of European H1N2
swine influenza A virus by placing timestamps
on the multiple reassortment events. Virus
Res., v.131, p.271–278, 2008.
LANGE, E.; KALTHOFF, D.; BLOHM, U. et
al. Pathogenesis and transmission of the novel
swine-origin influenza virus A/H1N1 after
experimental infection of pigs. J. Gen. Virol.,
v. 90, p. 2119-2123, 2009.
KING, A.M.Q.; ADAMS, M.J.; CARSTENS,
E.B. et al. Virus Taxonomy: Ninth Report of
the International Committee on Taxonomy of
Viruses. San Diego: Elsevier Academic Press,
2011. 1327p.
LARSEN,
D.
L.;
KARASINA,
A.;
ZUCKERMANNB, F. et al. Systemic and
mucosal immune responses to H1N1 influenza
virus infection in pigs. Viral Immunol., v. 74,
p. 117-31, 2000.
KITIKOON, P.; NILUBOL, D.; ERICKSON,
B.J. et al. The immune response and maternal
antibody interference to a heterologous H1N1
swine influenza virus infection following
vaccination. Vet. Immunol. Immunopathol., v.
112, p. 117–128, 2006.
LARSEN, D.L.; OLSEN, C.W. Effects of
DNA dose, route of vaccination, and
coadministration of porcine interleukin-6 DNA
on results of DNA vaccination against
influenza virus infection in pigs. Am. J. Vet.
Res., v. 63, p. 653–659, 2002.
KOEN, J.S. A practical method for field
diagnosis of swine diseases. Am. J. Vet. Med.,
v. 14, p. 468-70, 1919.
LE, Q. M.; KISO, M.; SOMEYA, K. et al.
Avian flu: Isolation of drug-resistant H5N1
virus. Nature, v. 437, p. 1108, 2005.
KOOPMANS, M.; WILBRINK, B.; CONYN,
M. et al. Transmission of H7N7 avian
influenza A virus to human beings during a
large outbreak in commercial poultry farms in
the Netherlands. Lancet, v. 363, p. 21, 2004.
LEE, B.W.; BEY, R.F.; BAARSCH, M.J.;
SIMONSON, R.R. ELISA method for
detection of influenza A infection in swine. J.
Vet. Diagn. Invest., v.5, p.510–515, 1993.
KOTHALAWALA, H.; TOUSSAINT, M.J.;
GRUYS, E. An overview of swine influenza.
Vet. Q., v. 28, p. 46-53, 2006.
KYRIAKIS, C.S.; OLSEN, C.W.;, CARMAN,
S. et al. Serologic cross-reactivity with
pandemic (H1N1) 2009 virus in pigs, Europe.
Emerg. Infect. Dis., v. 16, p. 96-99, 2010. doi:
10.3201/eid1601.091190.
LA GRUTA, N. L.; KEDZIERSKA, K.;
STAMBAS, J. et al. A question of selfpreservation: Immunopathology in influenza
virus infection. Immunol. Cell Biol., v. 85,
p.85-92, 2007.
78
LEE, C.S.; KANG, B.K.; LEE, D.H. et al.
One-step multiplex RT-PCR for detection and
subtyping of swine influenza H1, H3, N1, N2
viruses in clinical samples using a dual
priming oligonucleotide (DPO) system. J.
Virol. Methods, v. 151, p. 30-34, 2008. doi:
10.1016/j.jviromet.2008.04.001. 2008.
LEUWERKE, B.; KITIKOON, P.; EVANS, R.
et al. Comparison of three serological assays to
determine the cross-reactivity of antibodies
from eight genetically diverse U.S. Swine
influenza viruses. J. Vet. Diagn. Invest., v. 20,
p.426–432, 2008.
LI, H.; YU, K.; XIN, X. et al. Serological and
virologic surveillance of swine influenza in
China from 2000 to 2003. Int. Congr. Ser., v.
1263, p.754–757, 2004.
LIBRADO, P.; ROZAS, J. DnaSP v5: a
software for comprehensive analysis of DNA
polymorphism data. Bioinformatics, v. 25, p.
1451-1452, 2009.
LIPATOV, A. S.; KWON, Y. K.;
SARMENTO, L. V. et al. Domestic Pigs Have
Low Susceptibility to H5N1 Highly
Pathogenic Avian Influenza Viruses. PLoS
Pathog.,
v.
4,
2008.
e1000102.
doi:10.1371/journal.ppat.1000102
LIU, H.T.; CHAUNG, H.C.; CHANG, H.L. et
al. Decay of Maternally Derived Antibodies
and Seroconversion to Respiratory Viral
Infection in Pig Herds. Taiwan Vet. J., v. 34, p.
127-141, 2008.
LOEFFEN, W.L.; HEINEN, P.P.; BIANCHI,
A.T.J. et al. Effect of maternally derived
antibodies on the clinical signs and immune
response in pigs after primary and secondary
infection with an influenza H1N1 virus. Vet.
Immunol. Immunopathol., v. 92, p. 23-35,
2003a.
LOEFFEN, W.L.; NODELIJK, G.; HEINEN,
P.P. et al. Estimating the incidence of
influenza- virus infections in Dutch weaned
piglets using blood samples from a crosssectional study. Vet. Microbiol., v. 91, p. 295–
308, 2003b.
LOEFFEN, W.L.A.; HUNNEMAN, W.A.;
QUAK, J. et al. Population dynamics of swine
influenza virus in farrow-to-finish and
specialized finishing herds in the Netherlands.
Vet. Microbiol., v. 137, p.45–50, 2009.
LORUSSO, A.; FAABERG, K. S.; KILLIAN,
M. L. et al. One-step real-time RT-PCR for
pandemic influenza A virus (H1N1) 2009
matrix gene detection in swine samples. J.
Virol. Methods, v. 164, p. 83-87, 2010.
LORUSSO,
A.;
VINCENT,
A.
L.;
HARLAND, M. L. et al. Genetic and antigenic
characterization of H1 influenza viruses from
United States swine from 2008. J. Gen. Virol.,
v. 92, p. 919–930, 2011.
LUNA, L.G. Manual of Histologic Staining of
the Armed Forces Institute of Pathology. 3. ed.
New York: McGraw-Hill, 1968. 258p.
MA , W.; VINCENT, A.L.; GRAMER, M.R.
et al. Identification of H2N3 influenza A
viruses from swine in the United States.
PNAS., v. 104, p. 20949–20954, 2007.
MA, W.; KAHN, R. E.; RICHT, J. A. The pig
as a mixing vessel for influenza viruses:
Human and veterinary implications. J. Mol.
Genet. Med., v. 3, p. 158-166, 2009.
MA, W.; RICHT, J. A. Swine influenza
vaccines:
current
status
and
future
perspectives. Anim. Health Res. Rev., v. 11, p.
81–96, 2010.
MAES,
L.;
HAESEBROUCK,
F.;
PENSAERT, M. Experimental reproduction of
clinical disease by intratracheal inoculation of
fattening pigs with swine influenza virus
isolates. Proc. Int. Congr. Pig Vet. Soc., v. 8,
p. 60, 1984.
MAES, D.; DELUYKER, H.; VERDONCK,
M. et al. Herd factors associated with the
seroprevalences of four major respiratory
pathogens in slaughter pigs from farrow-tofinish pig herds. Vet. Res., v. 31, p. 313-327,
2000.
MALDONADO, J.; VAN REETH, K.;
RIERA, P. et al. Evidence of the concurrent
circulation of H1N2, H1N1 and H3N2
influenza A viruses in densely populated pig
areas in Spain. Vet. J., v. 172, p. 377–381,
2006.
MANCINI, D. A. P.; CUNHA, E. M. S.;
MENDONÇA, R. M. Z. Evidence of swine
respiratory infection by influenza viruses in
Brazil. Virus Rev. Res., v. 11, p. 39-43, 2006.
79
MAROZIN, S.; GREGORY, V.; CAMERON,
K. et al. Antigenic and genetic diversity among
swine influenza A H1N1 and H1N2 viruses in
Europe. J. Gen. Virol., v. 83, p. 735-45, 2002.
MATROSOVICH, M. N.; MATROSOVICH,
T. Y.; GRAY, T. et al. Neuraminidase is
important for the initiation of influenza virus
infection in human airway epithelium. J.
Virol., v. 78, p. 12665-12667, 2004.
MEGURO, H.; BRYANT, J. D.; TORRENCE,
A. E. et al. Canine Kidney Cell Line for
Isolation of Respiratory Viruses. J. Clin.
Microbiol., v. 9, p. 175-179, 1979.
MILLER, R. S.; MACLEAN, A. R.;
GUNSON, R. N. et al. Occurrence of
Haemagglutinin mutation D222G in Pandemic
Influenza A(H1H1) infected patients in the
West of Scotland, United Kingdom, 2009-10.
Eurosurveillance, v. 15, 2010.
MORENO, A.; DI TRANI, L.; ALBORALI,
L. et al. First pandemic H1N1 outbreak from a
pig farm in Italy. Open Virol J., v. 4, p. 52–56,
2010. doi:10.2174/1874357901004010052
MYERS, K. P.; OLSEN, C. W.; GRAY, G. C.
Cases of Swine Influenza in Humans: A
Review of the Literature. Clin. Infect. Dis., v.
44, p. 1084–1088, 2007.
NAGARAJAN, K.; SAIKUMAR, G.; ARYA,
R.S. et al. Influenza A H1N1 virus in Indian
pigs and its genetic relatedness with pandemic
human influenza A 2009 H1N1. Indian J.
Med. Res., v. 132, p. 160–167, 2010.
NELLI, R. K.; KUCHIPUDI, S. V.; WHITE,
G. A. et al. Comparative distribution of human
and avian type sialic acid influenza receptors
in the pig. BMC Vet. Res., v. 6, p. 1-9, 2010.
NAKAJIMA, N.; SATO, Y.; KATANO, H. et
al.
Histopathological
and
immunehistochemical findings of 20 autopsy cases
with 2009 H1N1 virus infection. Mod. Pathol.,
v. 25, p. 1–13, 2012.
80
NAYAK, D. P.; HUI, E. K.; BARMAN, S.
Assembly and budding of influenza virus.
Virus Res., v. 106, p. 147-165, 2004.
NELSON M.; SPIRO, D.; WENTWORTH, D.
et al. The early diversification of influenza
A/H1N1pdm. PLoS Curr. Influenza,. v. 1,
RRN1126, 2009.
NEUMANN, G.; NODA, T.; KAWAOKA, Y.
Emergence and pandemic potential of swineorigin H1N1 influenza virus. Nature, v. 459, p.
931-939, 2009.
NEWMAN, A. P.; REISDORF, E.;
BEINEMANN, J. et al. Human case of swine
influenza A (H1N1) triple reassortant virus
infection, Wisconsin. Emerg. Infect. Dis., v.
14, p. 1470-1472, 2008.
NICHOLLS, J. M.; CHAN, M. C. W.; CHAN,
W. Y. et al. Tropism of avian influenza A
(H5N1) in the upper and lower respiratory
tract. Nat. Med., v. 13, p. 147-149, 2007.
NICHOLLS, J. M.; CHAN, R. W.; RUSSELL,
R. J. et al. Evolving complexities of influenza
virus and its receptors. Trends Microbiol., v.
16, p. 149–157, 2008.
OLSEN, C. W.; CAREY, S.; HINSHAW, L. et
al. Virologic and serologic surveillance for
human, swine and avian influenza virus
infections among pigs in the north-central
United States. Arch. Virol., v. 145, p. 1399–
1419, 2000.
OLSEN, C.W.; BROWN, I.H.; EASTERDAY,
B. C. et al. Swine influenza. In: STRAW, B.
E.; ZIMMERMAN, J.J.; D’ALLAIRE, S.;
TAYLOR, D. J. (Ed). Diseases of swine. 9. ed.
Ames: Iowa State University Press, 2006a. p.
469-482.
OLSEN, C.W.; KARASIN, A.I.; CARMAN,
S. et al. Triple reassortant H3N2 influenza A
viruses, Canada, 2005. Emerg. Infect. Dis., v.
12, p. 1132–5, 2006b.
PALESE, P.; SCHULMAN, J. L. Mapping of
the influenza virus genome: identification of
the hemagglutinin and the neuraminidase
genes. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., v. 73, p.
2142-2146, 1976.
PERERA, R. A. P. M.; RILEY, S.; MA, S. K.
et al. Seroconversion to Pandemic (H1N1)
2009 Virus and Cross-Reactive Immunity to
Other Swine Influenza Viruses. Emerg. Infect.
Dis., v. 17, p. 1897-1899, 2011.
PALESE, P.; RITCHEY, M.B.; SCHULMAN,
J.L. Mapping of the influenza virus genome II.
Identification of the P1, P2, and P3 genes.
Virology, v. 76, p. 114-121, 1977.
PIÑEYRO,
P.E.;
CAPUCCIO,
J.A.;
MACHUCA, M.A. et al. Seroprevalence of
swine influenza virus in fattener pigs in
Argentina, evaluated by inhibition of
hemagglutination (HI) test and ELISA test. In:
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
ON
EMERGING AND RE-EMERGING PIG
DISEASES, 5, 2007, Krakow. Proceedings...
Krakow: National Veterinary Research
Institute, 2007.
PALESE,
P.;
SHAW,
M.
L.
Orthomyxoviridae: The viruses and their
replication. In: KNIPE, D. M.; HOWLEY, P.
M.; GRIFFIN, D. E. et al. (Ed.). Fields
Virology. 5. ed. Philadelphia: Lippincott,
Williams & Wilkins, 2007. p. 1647–1689.
PASICK, J.; HANDEL, K.; ROBINSON, J. et
al. Intersegmental recombination between the
haemagglutinin and matrix genes was
responsible for the emergence of a highly
pathogenic H7N3 avian influenza virus in
British Columbia. J. Gen. Virol., v. 86, p.72731, 2005.
PASMA. T.; JOSEPH. T. Pandemic (H1N1)
2009 infection in swine herds, Manitoba,
Canada. Emerg. Infect. Dis., v. 16, p. 706-708,
2010.
PEDERSEN, J.C. Hemagglutination-Inhibition
Test for Avian Influenza Virus Subtype
Identification and the Detection and
Quantitation of Serum Antibodies to the Avian
Influenza Virus. In: SPACKMAN, E (Ed).
Avian Influenza Virus: Methods in Molecular
Biology. Totowa: Human Press, 2008. p. 5366
PENSAERT, M.; OTTIS, K.; VANDEPUTTE,
J. et al. Evidence for the natural transmission
of influenza A virus from wild ducks to swine
and its potential importance for man. Bull.
World Health Organ., v. 59, p. 75–78, 1981.
PEREDA, A.; CAPPUCCIO, J.; QUIROGA,
M.A. et al. Pandemic (H1N1) 2009 outbreak
on a pig farm, Argentina. Emerg. Infect. Dis.,
v.16, p.304-307, 2010.
POLAND, G. A.; ROTTINGHAUS, S. T.;
JACOBSON, R. M. Influenza vaccines: a
review and rationale for use in developed and
underdeveloped countries. Vaccine, v. 19, p.
2216–2220, 2001.
POLJAK, Z.; DEWEY, C.E.; MARTIN, S.W.
et al. Prevalence of and risk factors for
influenza in southern Ontario swine herds in
2001 and 2003. Can. J. Vet. Res., v. 72, p.7–
17, 2008.
POTTER, C.W.; OXFORD, J.S. Determinants
of immunity to influenza infection in man. Br.
Med. Bull., v. 35, p. 69—75, 1979.
RABALAIS, G.; STOUT, G.; WALDEYER,
S. Rapid detection of influenza-B virus in
respiratory secretions by immunofluorescence
during an epidemic. Diagn. Microbiol. Infect.
Dis., v. 15, p. 35-37, 1992.
RAMBAUT, A.; HOLMES, E. C. The early
molecular epidemiology of the swine-origin
A/H1N1 human influenza pandemic. PLoS
Curr., v. 1, RRN1003, 2009.
REED, L.J.; MUENCH, H. A simple method
of estimating fifty percent endpoints. Am. J.
Infect. Control., v. 27, p. 493–7, 1938.
REID, A. H.; J. K.; TAUBENBERGER,
FANNING, T. G. The 1918 Spanish influenza:
81
integrating history and biology. Microbes
Infect., v. 3, p. 81-87, 2001.
RENSHAW, H.W. Influence of antibodymediated immune suppression on clinical,
viral, and immune responses to swine
influenza infection. Am. J. Vet. Res., v. 36, p.
5-13, 1975.
RICHT, J. A.; LAGER, K. M.; JANKE, B. H.
et al. Pathogenic and antigenic properties of
phylogenetically distinct reassortant H3N2
swine influenza viruses cocirculating in the
United States. J. Clin. Microbiol., v. 41, p.
3198-3205, 2003.
RITCHEY,
M.
B.;
PALESE,
P.;
SCHULMAN, J. L. Mapping of the influenza
virus genome. III. Identification of genes
coding for nucleoprotein, membrane protein,
and nonstructural protein. J. Virol., v. 20, p.
307-313, 1976.
RODGERS, B. C.; MIMS, C. A. Influenza
virus
replication
in
human
alveolar
macrophages. J. Med. Virol., v. 9, p. 177–184,
1982.
SAITOU, N.; NEI, M. The neighbor-joining
method: a new method for reconstructing
phylogenetic trees. Mol. Biol. Evol., v. 4, p.
406-425, 1987.
SCHAEFER, R.; TREVISOL, I. M.;
PALUDO, E. Avaliação da presença do vírus
influenza em suínos no sul do Brasil. In:
BOLETIM
DE
PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO, 10, 2008, Concórdia.
Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento...
Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2008.
18p.
SCHAEFER, R.; CIACCI-ZANELLA, J.;
BRENTANO, L. et al. Detection of a HorseDerived H3N8 Influenza Virus in Pigs in
Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON EMERGING AND RE-EMERGING PIG
DISEASES,
6,
2011,
Barcelona.
Proceedings… Barcelona: [s.n.], 2011a. p.
247. (Resumo).
82
SCHAEFER, R.; SIMON, N.L.; SILVEIRA,
S. et al. Isolation and characterization of a
novel H1N2 swine influenza virus in pigs in
Brazil derived from the pandemic H1N1/2009
virus. In: NATIONAL MEETING OF
VIROLOGY, 22, 2011, Atibaia. Anais...
Atibaia: Virus Rev. Res., 2011b. v. 16, p. 255.
(Resumo).
SCHAEFER,
R.;
ZANELLA,
J.R.C.;
BRENTANO, L. et al. Isolation and
characterization of a pandemic H1N1
influenza virus in pigs in Brazil. Pesq. Vet.
Bras., v. 31, p. 761-767, 2011c.
SCHOCH, C.; BLUMENTHAL, R. Role of
the fusion peptide sequence in initial stages of
influenza hemagglutinin-induced cell fusion. J.
Biol. Chem., v.268, p. 9267-74, 1993.
SCHORR,
E.;
WENTWORTH,
D.;
HINSHAW V. S. Use of polymerase chain
reaction to detect swine influenza virus in
nasal swab specimens. Am. J. Vet. Res., v. 55,
p. 952–956, 1994.
SCHULTZ-CHERRY, S.; HINSHAW, V. S.
Influenza virus neuraminidase activates latent
transforming growth factor beta. J. Virol., v.
70, p.8624-9, 1996.
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE (SVS). Influenza Pandêmica (H1N1)
2009 – Análise da situação epidemiológica e
da resposta no ano de 2009.
Boletim
Eletrônico Epidemiológico, n. 1, p. 1-21, 2010.
SELLECK, P. W.; LOWTHER, S. L.;
RUSSELL, G. M. et al. Rapid Diagnosis of
Highly Pathogenic Avian Influenza Using
Pancreatic Impression Smears. Avian Dis., v.
47, p.1190–1195, 2003.
SHINYA, S.; EBINALL, M.; YAMADA, S. et
al. Influenza virus receptors in the human
airway. Nature, v. 440, p. 435-436, 2006.
SHOPE, R.E. Swine influenza. III. Filtration
experiments and aetiology. J. Exp. Med., v. 54,
p. 373-380, 1931.
SHOPE, R. E.; FRANCIS JR, T. The
susceptibility of swine to the virus of human
influenza. J. Exp. Med., v. 64, p. 791–801,
1936.
SKEHEL, J. J.; HAY, A. J. Nucleotide
sequences at the 5’ termini of influenza virus
RNAs and their transcripts. Nucleic Acids Res.,
v. 5, p. 1207–1219, 1978.
SKEHEL, J. J.; WILEY, D.C. Receptor
binding and membrane fusion in virus entry:
the influenza hemagglutinin. Annu. Rev.
Biochem., v. 69, p. 531–569, 2000.
SMITH, G. J. D.; VIJAYKRISHNA, D.;
BAHL, J. et al. Origins and evolutionary
genomics of the 2009 swine-origin H1N1
influenza A epidemic. Nature, v. 459, 2009.
SOLOVYOV, A.; GREENBAUM, B.;
PALACIOS, G. et al. Host dependent
Evolutionary Patterns and the Origin of 2009
H1N1 Pandemic Influenza. PLoS Curr., v. 2,
RRN1147, 2010.
SPACKMAN, E.; SENNE, D. A.; MYERS, T.
J. et al. Development of a Real-Time Reverse
Transcriptase PCR Assay for Type A
Influenza Virus and the Avian H5 and H7
Hemagglutinin Subtypes. J. Clin. Microbiol.,
v.40, p. 3256–3260, 2002.
SRETA, D.; KEDKOVID, R.; TUAMSANG,
S. et al. Pathogenesis of swine influenza virus
(Thai isolates) in weanling pigs: an
experimental trial. Virol. J., v. 6, 2009.
doi:10.1186/1743-422X-6-34.
SRETA, D.; TANTAWET, S.; AYUDHYA, S.
N. N. et al. Pandemic (H1N1) 2009 Virus on
Commercial Swine Farm, Thailand. Emerg.
Infect. Dis., v. 16, p. 1587-1590, 2010.
STARICK, E.; LANGE, E.; FEREIDOUNI, S.
et al. Reassorted pandemic (H1N1) 2009
influenza A virus discovered from pigs in
Germany. J. Gen. Virol., v. 92, p. 1184–1188,
2011. doi:10.1099/vir.0.028662-0
STEINHAUER, D. A. Role of hemagglutinin
cleavage for the pathogenicity of influenza
virus. Virology, v.258, p. 1-20, 1999.
SUGIMURA,
T.;
YONEMOCHI,
H.;
OGAWA, T. et al. Isolation of a recombinant
influenza virus (Hsw1N2) from swine in
Japan. Arch. Virol., v.66, p. 271–274, 1980.
TAMURA, K.; PETERSON, D.; PETERSON,
N. et al. MEGA5: Molecular Evolutionary
Genetics
Analysis
using
Maximum
Likelihood, Evolutionary Distance, and
Maximum Parsimony Methods. Mol. Biol.
Evol., v. 28, p. 2731-2739, 2011.
TAUBENBERGER, J. K. Influenza virus
hemagglutinin cleavage into HA1, HA2: No
laughing matter. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.,
v. 95, p. 9713-9715, 1998.
TEODOROFF, T. A.; PECORARO, M.R.;
BAUMEISTER, E. et al. Serological and
immunohistochemical studies of influenza
virus in fattening pigs in Argentina. In:
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
ON
EMERGING AND RE-EMERGING PIG
DISEASES, 4., 2003, Rome. Proceedings...
Rome: National Veterinary Research Institute,
2003. p. 262-263.
THACKER, E. L.; THACKER, B. J.; JANKE,
B. H. Interaction between Mycoplasma
hyopneumoniae and Swine Influenza Virus. J.
Clin. Microbiol., v. 39, p. 2525–2530, 2001.
THACKER, E.; JANKE, B. Swine influenza
virus: zoonotic potential and vaccination
strategies for the control of avian and swine
influenzas. J. Infect. Dis., v. 197, Suppl 1, p.
19-24, 2008.
TIAN, Z. J.; ZHOU, G.; ZHENG, B. et al. A
recombinant pseudorabies virus encoding the
HA gene from H3N2 subtype swine influenza
virus protects mice from virulent challenge.
Vet. Immunol. Immunopathol., v. 111, p. 211218, 2006.
83
TOBITA, K.; SUGIURA, A.; ENOMOTO C.
et al. Plaque assay and primary isolation of
influenza A viruses in an established line of
canine kidney cells (MDCK) in the presence of
trypsin. Med. Microbiol. Immunol., v.162. p.914, 1975.
VAN REETH, K.; BROWN, I. H.;
DURRWALD, R. et al. Seroprevalence of
H1N1, H3N2 and H1N2 influenza viruses in
pigs in seven European countries in 2002–
2003. Influenza Other Respi. Viruses, v. 2, p.
99–105, 2008.
TSAI, C. P.; PAN, M. J. New H1N2 and
H3N1 influenza viruses in Taiwanese pig
herds. Vet. Rec., v. 153, p. 408, 2003.
VAN POUCKE, S. G.; NICHOLLS, J. M.;
NAUWYNCK, H. J. et al. Replication of
avian, human and swine influenza viruses in
porcine respiratory explants and association
with sialic acid distribution. Virol. J., v. 7,
2010.
ULICH, T. R.; YIN, S.; GUO, K. et al. The
intratracheal administration of endotoxin and
cytokines. I. Characterization of LPS-induced
IL-1 and TNF mRNA expression and the LPS, IL-1-, and TNF-induced inflammatory
infiltrate. Am. J. Pathol., v. 138, p. 1485-1496,
1991.
VALLI, M. B.; MESCHI, S.; M. SELLERI, et
al. Evolutionary pattern of pandemic influenza
(H1N1) 2009 virus in the late phases of the
2009 pandemic. PLoS Curr., v. 2, RRN1149,
2010.
VAN REETH, K.; NAUWYNCK, H.;
PENSAERT, M. Dual infections of feeder pigs
with porcine reproductive and respiratory
syndrome virus followed by porcine
respiratory
coronavirus
or
swineinfluenzavirus: a clinical and virological
study. Vet. Microbiol., v. 48, p. 325–335,
1996.
VAN REETH, K. Cytokines in the
pathogenesis of influenza. Vet. Microbiol., v.
74, p. 109-116, 2000.
VAN REETH, K.; BROWNB, I.; ESSEN, S.
et al. Genetic relationships, serological crossreaction and cross-protection between H1N2
and other influenza A virus subtypes endemic
in European pigs. Virus Res., v. 103, p. 115–
124, 2004.
VAN REETH, K. Avian and swine influenza
viruses: our current understanding of the
zoonotic risk. Vet. Res., v. 38, p. 243–260,
2007.
84
VANDER VEEN, R.; KAMRUD, K.;
MOGLER, M. et al. Rapid development of an
efficacious swine vaccine for novel H1N1.
PLoS
Curr.
Influenza.,
2009.
doi:
10.1371/currents.RRN1123.
VAN RIEL, D.; MUNSTER, V. J.; DE WIT,
E. et al. Human and Avian Influenza Viruses
Target Different Cells in the Lower
Respiratory Tract of Humans and Other
Mammals. Am. J. Pathol., v. 171, p. 1215–
1223, 2007.
VANNIER, P. Infectious causes of abortion in
swine. Reprod. Dom. Anim., v. 34, p.367–376,
1999.
VINCENT, A. L.; MA, W.; LAGER, K. M.;
JANKE, B. H.; RICHT, J. A. Swine Influenza
Viruses: A North American Perspective. In:
MARAMOROSCH, K.; SHATKIN, A.J.;
MURPHY, F. A. (Eds). Advances in Virus
Research. Vol. 72. Burlington: Academic
Press, 2008. p.127-154.
VINCENT, A. L.; LAGER, K. M.;
HARLAND, M. et al. Absence of 2009
Pandemic H1N1 Influenza A Virus in Fresh
Pork.
PLoS
ONE.,
v.
4,
2009a.
doi:10.1371/journal.pone.0008367.
VINCENT, A. L., MA, W., LAGER, K. M. et
al. Characterization of a newly emerged
genetic cluster of H1N1 and H1N2 swine
influenza virus in the United States. Virus
Genes, v. 39, p. 176–185, 2009b.
VINCENT, A.L.; CIACCI-ZANELLA, J.R.;
LORUSSO, A. et al. Efficacy of inactivated
swine influenza virus vaccines against the
2009 A/H1N1 influenza virus in pigs. Vaccine,
v. 28, p. 2782–2787, 2010a.
VINCENT, A.L.; LAGER, K.M.; FAABERG,
K.S., et al. Experimental inoculation of pigs
with pandemic H1N1 2009 virus and HI crossreactivity with contemporary swine influenza
virus antisera. Inf. Other. Resp. Viruses, v. 4,
p. 53-60, 2010b.
VINCENT, L. L.; JANKE, B. H.; PAUL, P. S.
et
al.
A
monoclonal-antibody-based
immunohistochemical
method
for
the
detection of swine influenza virus in formalinfixed, paraffin-embedded tissues. J. Vet.
Diagn. Invest., v. 9, p.191-195, 1997.
WALLACE,
G.D.;
ELM
JR,
J.L.
Transplacental transmission and neonatal
infection with swine influenza virus (Hsw1N1)
in swine. Am. J. Vet. Res., v. 40, p. 1169–1172,
1979.
WEBBY, R. J.; SWENSON, S. L.; KRAUSS,
S. L. et al. Evolution of swine H3N2 influenza
viruses in the United States. J. Virol., v. 74, p.
8243-51, 2000.
WEBBY, R. J.; ROSSOW, K.; ERICKSON,
G. et al. Multiples lineages of antigenically
and genetically diverse influenza A virus cocirculate in the United States swine population.
Virus Res., v. 103, p. 67-73, 2004.
WEBSTER, R. G.; LAVER, W. G.; AIR, G.
M. et al. Molecular mechanisms of variation in
influenza viruses. Nature, v. 296, p. 115-121,
1982.
WEBSTER, R. G.; BEAN, W. J.; GORMAN,
O. T. et al. Evolution and ecology of influenza
A viruses. Microbiol. Rev., v. 56, p. 152-179,
1992.
WEINGARTL, H. M.; ALBRECHT, R. A.;
LAGER, K. M. et al. Experimental infection of
pigs with the human 1918 pandemic influenza
virus. J. Virol., v. 83, p. 4287-4296, 2009.
WENTWORTH, D. E.; THOMPSON, B. L.;
XU, X. et al. An influenza A (H1N1) virus,
closely related to swine influenza virus,
responsible for a fatal case of human
influenza. J. Virol., v. 68, p. 2051–2058, 1994.
WESLEY, R. D. Exposure of sero-positive
gilts to swine influenza virus may cause a few
stillbirths per litter. Can. J. Vet. Res., v. 68, p.
215–217, 2004a.
WESLEY, R. D.; TANG, M.; LAGER, K. M.
Protection of weaned pigs by vaccination with
human adenovirus 5 recombinant viruses
expressing the hemagglutinin and the
nucleoprotein of H3N2 swine influenza virus.
Vaccine, v. 22, p. 3427–3434, 2004b.
WHELAN, J. A.; RUSSELL, N. B.;
WHELAN, M. A. A method for the absolute
quantification of cDNA using real-time PCR.
J. Immunol. Methods, v. 278, p. 261-269,
2003.
WORLD
HEALTH
ORGANIZATION
(WHO). WHO Manual on Animal Influenza
Diagnosis and Surveillance. 2. ed. Geneva:
World Health Organization, 2002. 99p.
(document WHO/CDS/CSR/NCS/2002.5)
WORLD
HEALTH
ORGANIZATION
(WHO). CDC protocol of realtime RT-PCR for
swine influenza A (H1N1). Geneva: World
Health Organization, 2009. 8 p.
WILEY, D. C.; WILSON, I. A.; SKEHEL, J.
J. Structural identification of the antibodybinding sites of Hong Kong influenza
haemagglutinin and their involvement in
antigenic variation. Nature, v. 289, p. 373–
378, 1981.
WOOD, J. M.; GAINES-DAS, R.E.;
TAYLOR, J. et al. Comparison of influenza
serological techniques by international
collaborative study. Vaccine, v. 12, p. 167–
174, 1994.
85
WOODLAND, D. L.; HOGAN, R. J.;
ZHONG. W. Cellular immunity and memory
to respiratory virus infections. Immunol. Res.,
v. 24, p. 53-67, 2001.
WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL
HEALTH (OIE). Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals: Swine
influenza. Paris: World Organisation for
Animal Health, 2010. p. 1128-1138.
WRIGHT,
P.
F.;
NEUMANN,
G.;
KAWAOKA, Y. Orthomyxoviruses. In:
KNIPE, D. M.; HOWLEY, P. M.; GRIFFIN,
D. E. et al. (Ed.). Fields Virology. 5. ed.
Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins,
2007. p. 1691–1640.
YOON, K. J.; JANKE, B. H.; SWALLA, R.
W. et al. Comparison of a commercial H1N1
enzyme-linked immunosorbent assay and
hemagglutination inhibition test in detecting
serum antibody against swine influenza
viruses. J. Vet. Diagn. Invest., v.16, p. 197–
201, 2004.
YOSHIDA, T.; SHAAW, M. W.; YOUNG,
J.F. et al. Characterization of the RNA
86
associated with influenza A cytoplasmic
inclusions and the interaction of NS1 protein
with RNA. Virology, v. 110, p. 87–97, 1981.
YU, W. C. L.; CHAN, R. W. Y.; WANG, J. et
al. Viral Replication and Innate Host
Responses in Primary Human Alveolar
Epithelial Cells and Alveolar Macrophages
Infected with Influenza H5N1 and H1N1
Viruses. J. Virol., v. 85, p. 6844–6855, 2011.
ZHOU, N. N.; SENNE, D. A.; LANDGRAF,
J. S. et al. Genetic reassortment of avian,
swine, and human influenza A viruses in
American pigs. J. Virol., v. 73, p. 8851–8856,
1999.
ZHU, H.; ZHOU, B.; FAN, X. et al. Novel
reassortment of Eurasian Avian-like and
pandemic/2009 influenza viruses in swine:
infectious potential to humans. J. Virol., v. 85,
p. 10432-10439, 2011.
ZIMMER, S. M.; BURKE, D. S. Historical
Perspective - Emergence of Influenza A
(H1N1) Viruses. N. Engl. J. Med., v. 361, p.
279-285, 2009.
ANEXO I
DOI:10.1111/j.1750-2659.2012.00366.x
www.influenzajournal.com
Short Article
Serological evidence of swine influenza in Brazil
Daniela S. Rajão,a Fabiana Alves,a Helen L. Del Puerto,b Gissandra F. Braz,a Fernanda G. Oliveira,a
Janice R. Ciacci-Zanella,c Rejane Schaefer,c Jenner K. P. dos Reis,a Roberto M. C. Guedes,d
Zélia I. P. Lobato,a Rômulo C. Leitea
a
Preventive Veterinary Medicine Department, Veterinary School, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. bDepartment of
General Pathology, Institute of Biological Science, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. cVirology Laboratory, EMBRAPA
Suı́nos e Aves, Concórdia, Brazil. dVeterinary Clinic and Surgery Department, Veterinary School, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, Brazil.
Correspondence: Daniela S. Rajão, Preventive Veterinary Medicine Department, Veterinary School, Universidade Federal de Minas Gerais, 6627
Presidente Antônio Carlos Ave, POBox 567, Campus UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil 31270-901. E-mail: [email protected]
Accepted 3 March 2012. Published Online 5 April 2012.
The aim of this work was to detect serum antibodies specific to
influenza viruses in swine in Brazil. Serum samples of 355 pigs
from 17 herds in Minas Gerais state were tested by
hemagglutination inhibition (HI) for antibodies against H1N1
swine (SIV) and human influenza viruses, and H3N2 SIV. HI
revealed that 158 animals (44Æ5%) and 11 herds (64Æ7%) were
positive for H1N1 SIV, 36 animals (10Æ1%) and four herds
(23Æ5%) were positive for H3N2 SIV, and 136 animals (38Æ3%)
and 10 herds (58Æ8%) were positive for H1N1 human. This study
indicates that swine influenza is disseminated throughout Minas
Gerais state, Brazil.
Keywords Hemagglutination inhibition test, herd, influenza,
pigs, swine.
Please cite this paper as: Rajão et al. (2012). Serological evidence of swine influenza in Brazil. Influenza and Other Respiratory Viruses DOI: 10.1111/j.17502659.2012.00366.x.
Introduction
Swine influenza virus (SIV) is an Orthomixovirus that
causes an acute respiratory disease in pigs. The disease is
characterized by sudden and explosive outbreaks, with high
morbidity and low mortality.1 Common clinical signs are
hyperthermia, anorexia, coughing, and nasal discharge.2
Since its first report in 1931,3 three subtypes of influenza A
virus have been circulating in swine populations worldwide
(H1N1, H1N2, and H3N2). However, these SIV subtypes
differ in origins and genetic characteristics in different
continents and regions.1
Classical swine H1N1 influenza virus (cH1N1) was the
predominant SIV subtype circulating in the United States,1
but the introduction of a H3N2 subtype in 1998 led to
reassortments that resulted in the circulation of other H1N1
viruses, H3N2 viruses, and novel subtypes like H1N2.4 In
Europe, avian-like H1N1 has become the predominant subtype infecting swine populations, but reassortant swine
H3N2 virus is also endemic among European pig herds.5
Swine influenza virus infection in Brazilian swine population is not well characterized, and only a few data
demonstrate evidence of SIV infection by serological diagnosis.6,7 Minas Gerais is the fourth largest swine-producing
state in Brazil, accounting for 12Æ9% of the country’s pig
ª 2012 Blackwell Publishing Ltd
population. Therefore, the objective of this study was to
evaluate the presence of anti-swine and anti-human influenza virus antibodies in swineherds in Minas Gerais state
so as to demonstrate the circulation of SIV in Brazil.
Materials and methods
A total of 355 serum samples from a diagnostic laboratory
sera panel were used for this study. Blood samples were
collected between January and March 2009 previously to
the H1N1 pandemic occurrence, by jugular puncture, centrifuged after clot formation, and the serum kept at )20!C
until used. Sample size was based on financial and availability limitations. At least 10 breeding-age animals (sows
and gilts) were sampled per farm, from 17 commercial
herds randomly distributed in Minas Gerais state, Brazil.
All herds were farrow-to-finish operations with all-in-allout system, located in pig densely populated areas, and
with no SIV vaccination history. No respiratory signs were
reported in any sampled pig. This study did not have an
ethics committee approval because all samples were sent by
the herd owners, previously to the start of the study, to the
diagnostic laboratory for diagnostic purposes unrelated to
this study. All herd owners gave their consent for the use
of the sera in this study.
1
87
Rajão et al.
Hemagglutination inhibition test (HI) was performed as
previously described.8 Briefly, sera were heat inactivated at
56!C, followed by a treatment with a 20% Kaolin suspension and adsorption with 0Æ5% rooster red blood cells
(RBC) suspension to remove non-specific inhibitors and
natural serum agglutinins. For HI against H3N2 SIV, sera
were treated with trypsin–potassium periodate (KIO4), as
previously described.9 The initial serum dilution was 1:10
using phosphate-buffered saline (PBS; pH 7Æ4), and then
each sample was twofold diluted to a final dilution of
1:10,240 in 96-well V-bottom plates. Samples were tested
for HI activity against 4 hemagglutination units of H1N1
SIV reference strain (A ⁄ swine ⁄ Iowa ⁄ 15 ⁄ 1930), H3N2 SIV
reference strain (A ⁄ swine ⁄ Iowa ⁄ 8548-2 ⁄ 98), and H1N1
human reference strain (A ⁄ WSN ⁄ 1933) grown in specific
pathogen-free 10-day-old embryonated chicken eggs (passage number 3). HI antibody titer of each sample was
determined as the reciprocal of highest dilution in which
no hemagglutination was observed, and a sample was considered positive if it had HI titer equal or above the cutoff
value of 1:40, as lower titers may be due to non-specific
reactions. A herd was considered positive when at least one
of the animals sampled were positive. Ninety-five percent
confidence intervals (CIs) were calculated for herd and animal percentages, and descriptive statistic was calculated for
antibody titer in positive and negative herds.
Results
Hemagglutination inhibition results are summarized in
Table 1. Of the 355 sera tested, 158 (44Æ5%) had antibodies
against H1N1 SIV, 36 (10Æ1%) against H3N2 SIV, and 136
(38Æ3%) against H1N1 human. Of the 17 herds tested, 11
(64Æ7%) were considered positive for H1N1 SIV, four
(23Æ5%) for H3N2 SIV, and 10 (58Æ8%) for H1N1 human,
and the percentages of infected and non-infected animals
in positive farms for each virus are shown in Figure 1. The
Figure 1. Percentage of infected and non-infected animals in positive
herds. Hemagglutination inhibition was performed with H1N1 swine
influenza virus (SIV), H3N2 SIV, and H1N1 human influenza virus.
percentage of breeding females positive for multiple antigens was calculated (Table 2). A higher percentage of animals positive to both H1N1 viruses (20Æ84%) than to only
one of them (16Æ05% to H1N1 SIV and 11Æ83% to H1N1
human) was found. A few animals were positive for both
SIV viruses (3Æ38%), and a small percentage was also
positive for all three antigens (4Æ22%). Mean HI titers for
positive and negative herds are shown in Table 3.
Discussion
Our results demonstrate a high occurrence of anti-H1N1
influenza antibodies in swine in Minas Gerais state’s herds,
which are likely to be due to previous infection because no
vaccines are available in the country. However, anti-H3N2
SIV antibodies occurrence was lower than those found for
H1N1 swine and human viruses, and even positive herds
Table 1. Pig- and herd-level seroprevalence of H1N1 and H3N2 swine influenza viruses (SIV) and H1N1 human influenza virus in Minas Gerais
state, Brazil
H1N1 SIV
Variables
Pig
H3N2 SIV
Herd
Pig
H1N1 human
Herd
Pig
Herd
Number of samples 355
17
355
17
355
17
tested
Positive number
158
11
36
4
136
10
Prevalence,
44Æ5 (39Æ33)49Æ67) 64Æ7 (41Æ98)87Æ42)
10Æ1 (6Æ97)13Æ23) 23Æ5 (3Æ34)43Æ66)
38Æ3 (33Æ24)43Æ36) 58Æ8 (35Æ4)82Æ2)
% (CI 95%)
CI, Confidence interval.
2
88
ª 2012 Blackwell Publishing Ltd
Swine influenza in Brazil
Table 2. Percentage of animals with antibodies to multiple influenza virus antigens in Minas Gerais state, Brazil
Number of animals
Percentage (%)
H1N1
SIV only
H3N2
SIV only
H1N1
human only
H1N1 SIV +
H3N2 SIV
H1N1 SIV +
H1N1 human
H3N2 SIV +
H1N1 human
All 3
antigens
57
16Æ05
4
1Æ13
42
11Æ83
12
3Æ38
74
20Æ84
5
1Æ41
15
4Æ22
Table 3. Hemagglutination inhibition titers of positive and negative herds against H1N1 and H3N2 swine influenza viruses (SIV), and H1N1
human influenza virus in Minas Gerais state. Brazil
Positive herds
Negative herds
Variables
H1N1 SIV
H3N2 SIV
H1N1 human
H1N1 SIV
H3N2 SIV
H1N1 human
Number of herds
Minimum titer
Median
Maximum titer
Mean titer
Standard deviation
Standard error
CI 95%
11
29.97
46.30
146.72
59.34
16.77
11.69
41.90–83.98
4
14.64
22.36
26.70
21.02
13.27
11.52
13.41–32.97
10
19.10
46.08
118.19
47.50
16.82
11.79
32.76–68.92
6
11.89
13.19
16.62
13.58
11.45
10.57
11.78–15.66
13
10.34
11.49
14.32
11.59
10.91
10.25
11.00–12.22
7
10.68
12.03
20.00
13.27
12.61
10.91
10.71–16.44
CI, Confidence interval.
showed a high percentage of non-infected animals. So far,
this is one of the first studies to show SIV infection in Brazilian herds, and the first to show anti-influenza antibody
prevalence in Minas Gerais state. Influenza virus has been
identified previously in Brazilian pigs in São Paulo6 and in
Paraná7 states.
The rates of 44Æ5% and 38Æ3% animals with antibodies
against H1N1 swine and human viruses, respectively, found
in the present study are similar to those in prevalence studies for H1N1 virus in the United States (66Æ3%),10 Italy
(46Æ4%), and Spain (38Æ5%).5 However, the prevalence of
anti-SIV H1N1 antibodies in another study in Spain
seemed to be lower than the findings in the present study,
and evidences show that a novel recently emerged H1N2
SIV is widespread in that country.11 The rate of 10Æ1% of
H3N2-positive animals found here was similar to that of
20% found in a recent study in Paraná state, Brazil,7 and
also similar to that found in Ireland (4Æ2%) previously.5
However, it was significantly lower than those rates found
in Italy (41Æ7%) and Spain (38%),5 and in the United
States (33Æ7%).10
The proportion of animals with antibodies to both
H1N1 viruses was higher than the proportion of animals
with antibodies to only one of them. Some animals were
positive for both swine influenza viruses. In addition, a
ª 2012 Blackwell Publishing Ltd
percentage of animals were also positive for all three antigens. Thus, different influenza virus strains are cocirculating in the Brazilian swine population and causing mixed
infection, which may result in genetic reassortment between
these viruses.
This study also showed herd-level prevalences of 64Æ7%
for H1N1 SIV and 58Æ8% for human H1N1, which are
close to the reported in Korean herds (71Æ5%).12 In addition, a herd-level prevalence of 80Æ1% in saws was found in
Canada,13 which is slightly higher than our results. For
H3N2, the herd-level prevalence was lower (23Æ5%) than
that of H1N1 viruses, and also lower than in the recent
study in Paraná state (46%).7 Thus, HI results presented in
this work indicate that influenza viruses are circulating in
Minas Gerais state and may be endemic in Brazilian swine
population.
Acknowledgments
The authors wish to thank Dr José Lúcio dos Santos and Dr
Daniel Lúcio do Santos for sample supply. The authors wish
to thank LANAGRO Minas Gerais, EMBRAPA Suı́nos e
Aves, and Dr Alexandre Machado for supplying virus reference samples. This study was financially supported by Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
3
89
Rajão et al.
(FAPEMIG), Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPQ), and National Institutes of Science and Technology Program (INCT-Animal Production).
References
1 Olsen CW, Brown IH, Easterday BC, Van Reeth K. Swine influenza;
in Straw BE, Zimmerman JJ, D’Allaire S, Taylor DJ (eds): Diseases of
Swine. 9th edn. Ames: Blackwell Publishing, 2006; 469–482.
2 Brown IH. The epidemiology and evolution of influenza viruses in
pigs. Vet Microbiol 2000; 74:29–46.
3 Shope RE. Swine influenza. III. Filtration experiments and etiology.
J Exp Med 1931; 54:373–385.
4 Vincent AL, Ma W, Lager KM, Janke BH, Richt JA. Swine influenza
viruses: a North American perspective; in Maramorosch K, Shatkin
AJ, Murphy FA (ed): Advances in Virus Research. Burlington:
Academic Press, 2008; 127–154.
5 Van Reeth K, Brown IH, Durrwald R et al. Seroprevalence of H1N1,
H3N2 and H1N2 influenza viruses in pigs in seven European countries in 2002–2003. Influenza Other Respi Viruses 2008; 2:99–105.
6 Mancini DAP, Cunha EMS, Mendonça RMZ et al. Evidence of swine
respiratory infection by influenza viruses in Brazil. Virus Rev Res
2006; 11:39–43.
4
90
7 Caron LF, Joineau MEG, Santin E et al. Seroprevalence of H3N2
influenza A virus in pigs from Parana (South Brazil): interference of
the animal management and climatic conditions. Virus Rev Res
2010; 15:1–11.
8 World Health Organization: WHO Manual on Animal Influenza
Diagnosis and Surveillance. 2nd edn. Geneva: World Health Organization. 2002. (document WHO/CDS/CSR/NCS/2002.5)
9 Boliar S, Stanislawek W, Chambers TM. Inability of kaolin treatment
to remove nonspecific inhibitors from equine serum for the hemagglutination inhibition test against equine H7N7 influenza virus. J Vet
Diagn Invest 2006; 18:264–267.
10 Choi YK, Goyal SM, Joo HS. Prevalence of swine influenza virus
subtypes on swine farms in the United States. Arch Virol 2002;
147:1209–1220.
11 Maldonado J, Van Reeth K, Riera P et al. Evidence of the concurrent circulation of H1N2, H1N1 and H3N2 influenza A viruses in
densely populated pig areas in Spain. Vet J 2006; 172:377–381.
12 Jung T, Choi C, Chung H et al. Herd-level seroprevalence of swineinfluenza virus in Korea. Prev Vet Med 2002; 53:311–314.
13 Poljak Z, Dewey CE, Martin SW et al. Prevalence of and risk factors
for influenza in southern Ontario swine herds in 2001 and 2003.
Can J Vet Res 2008; 72:7–17.
ª 2012 Blackwell Publishing Ltd