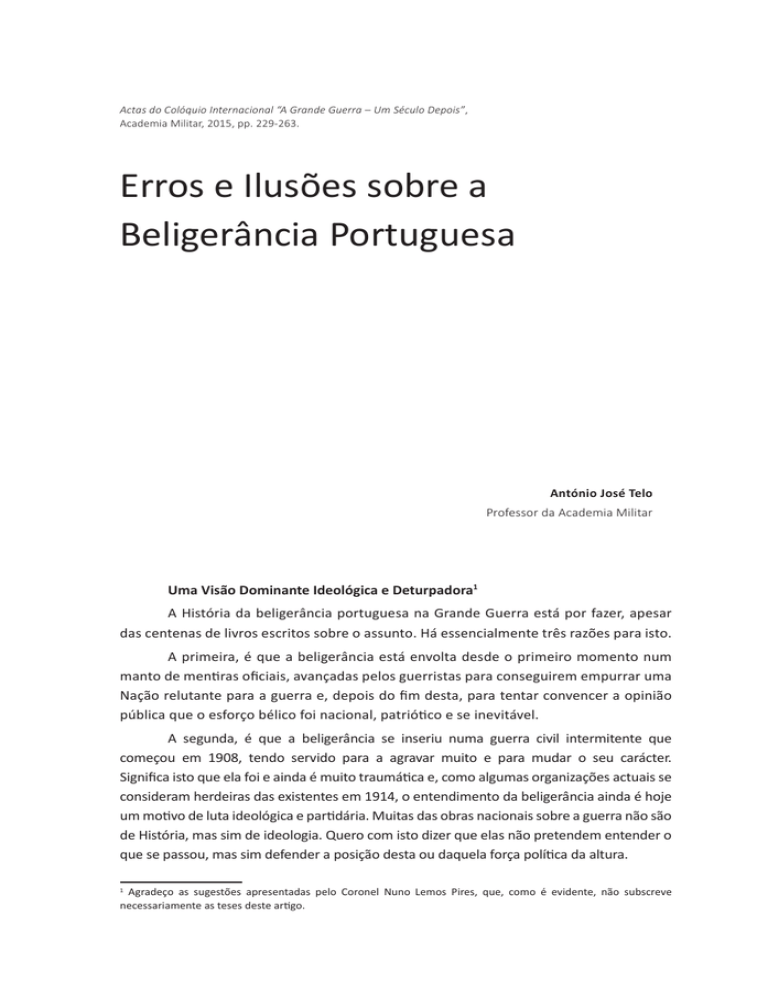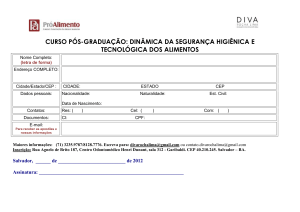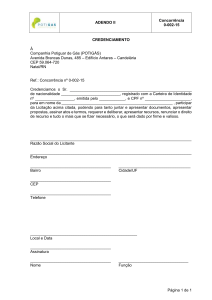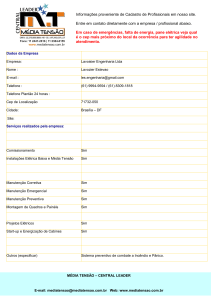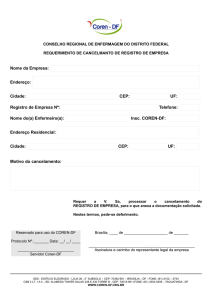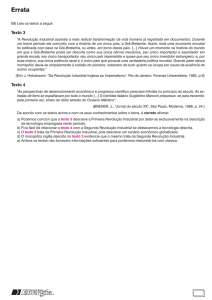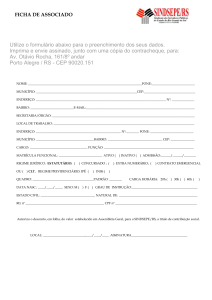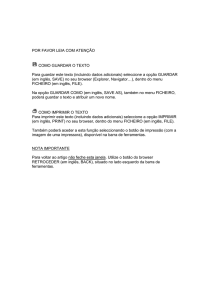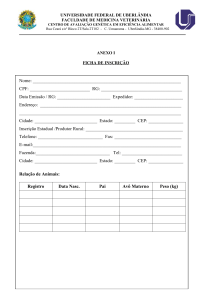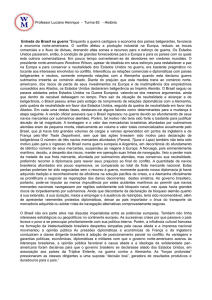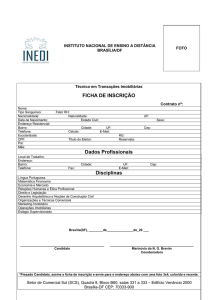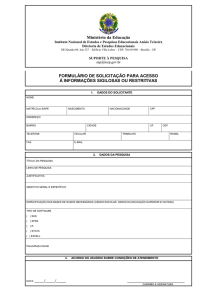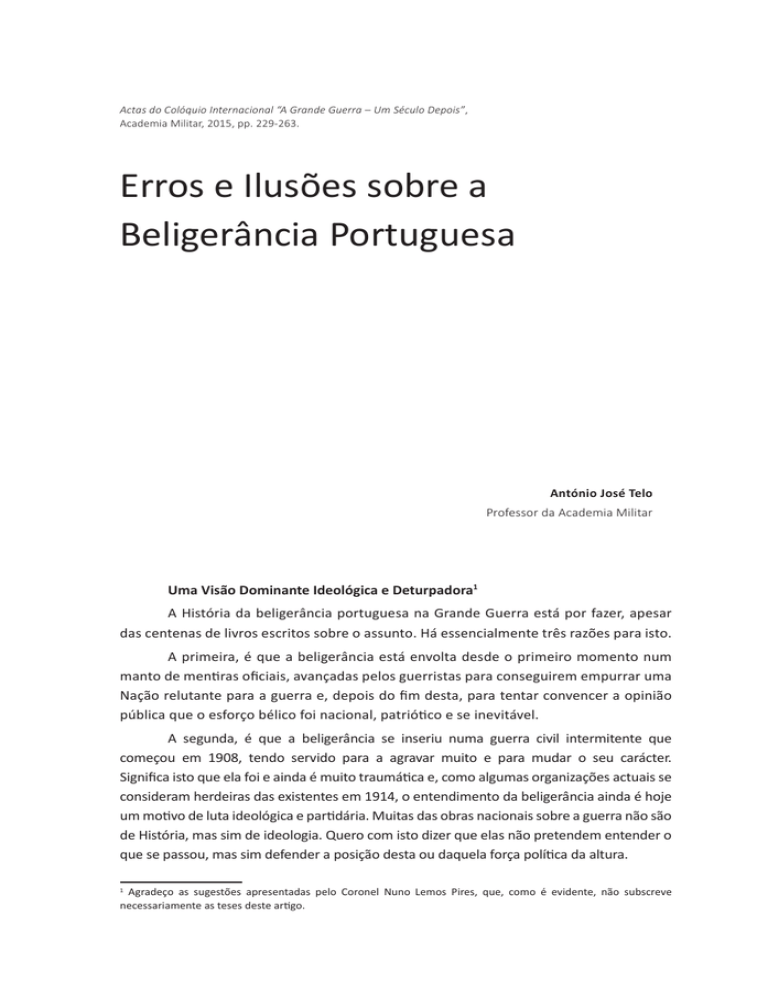
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra – Um Século Depois”,
Academia Militar, 2015, pp. 229-263.
Erros e Ilusões sobre a
Beligerância Portuguesa
António José Telo
Professor da Academia Militar
Uma Visão Dominante Ideológica e Deturpadora1
A História da beligerância portuguesa na Grande Guerra está por fazer, apesar
das centenas de livros escritos sobre o assunto. Há essencialmente três razões para isto.
A primeira, é que a beligerância está envolta desde o primeiro momento num
manto de mentiras oficiais, avançadas pelos guerristas para conseguirem empurrar uma
Nação relutante para a guerra e, depois do fim desta, para tentar convencer a opinião
pública que o esforço bélico foi nacional, patriótico e se inevitável.
A segunda, é que a beligerância se inseriu numa guerra civil intermitente que
começou em 1908, tendo servido para a agravar muito e para mudar o seu carácter.
Significa isto que ela foi e ainda é muito traumática e, como algumas organizações actuais se
consideram herdeiras das existentes em 1914, o entendimento da beligerância ainda é hoje
um motivo de luta ideológica e partidária. Muitas das obras nacionais sobre a guerra não são
de História, mas sim de ideologia. Quero com isto dizer que elas não pretendem entender o
que se passou, mas sim defender a posição desta ou daquela força política da altura.
Agradeço as sugestões apresentadas pelo Coronel Nuno Lemos Pires, que, como é evidente, não subscreve
necessariamente as teses deste artigo.
1
230
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
A terceira razão, é que a quase totalidade dos autores portugueses utiliza
normalmente só as fontes nacionais (e raramente as primárias), a que recentemente
alguns acrescentam uma pequena parte das fontes britânicas e espanholas2. Significa
isto que só se conhece uma parte da realidade na historiografia portuguesa.
Quais são os erros e ilusões mais frequentes na visão portuguesa? Detectei 14
principais, mas muitos outros se podiam referenciar.
A PRIMEIRA ILUSÃO – NEGAR A REALIDADE DE UMA GUERRA CIVIL
INTERMITENTE
A guerra civil intermitente portuguesa começou em 1908. Dizemos que existe
uma guerra civil intermitente, quanto uma sociedade recorre sistematicamente
à violência organizada e militar para resolver os seus problemas, dando origem a
frequentes choques violentos, seguidos de momentos de relativa acalmia, pontuados
pelo uso parcial da violência organizada. É isso que acontece em Portugal entre 1908
e 1927, o que tipifica uma longa guerra civil intermitente de quase duas décadas. A
Grande Guerra surge num ponto intermédio desta, agrava-a e altera o seu carácter.
Alguns autores portugueses no final do século XX salientaram que a beligerância
se devia entender por razões tanto internas como externas3. Simplesmente esta
abordagem incidia sobre o entendimento das razões da beligerância, sem se salientar
que o fenómeno era muito mais amplo e abarcava tudo.
Os choques violentos de 1914-1918 em Portugal só se podem entender no seu
conjunto, numa abordagem holística. A revolução de Maio de 1915 ou a de Dezembro
de 1917 são operações militares portuguesas da Grande Guerra, tal como acontece com
Naulila ou com a batalha do Lys e estão intimamente interligadas, a pontos de não se
poderem entender isoladamente. Sem a revolução de Dezembro de 1917 o CEP teria
sido muito diferente e sem o CEP provavelmente não haveria revolução de Dezembro de
1917. São duas faces da mesma moeda, não são moedas diferentes.
Alguns cépticos podem perguntar: mas será que existe efectivamente uma
guerra civil intermitente? Examinemos os factos.
a) Criaram-se 47 governos nos 16 anos mal contados na 1ª República (uma
média de 4 meses por governo); nenhum terminou um mandato normal;
muitos foram derrubados violentamente e somente três estiveram no poder
durante cerca de um escasso ano.
b) Foram assassinados 2 chefes de estado (D. Carlos e Sidónio Pais) e 5 foram
derrubados por revoluções (D. Manuel, Manuel de Arriaga, Bernardino
Hipólito de La Torre Gomez é o primeiro autor que traz as fontes espanholas para o estudo da beligerância
Portuguesa na década de 1970. José de Almada é o primeiro autor português que, logo na década de 1930, recorre
a alguma documentação britânica.
3
É uma tendência que passa por vários nomes, tendo as teorias inerentes a ela sido sistematizadas e alargadas
nomeadamente por Nuno Severiano Teixeira.
2
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
231
Machado em 1917, Sidónio Pais e Bernardino Machado uma segunda vez,
em 1926). Na realidade, só um chefe de estado terminou normalmente o
mandato (António José de Almeida).
c) Registaram-se 8 grandes confrontos muito violentos, com centenas de
mortos e feridos a que normalmente se chamam “revoluções” ou “guerras
civis” na historiografia portuguesa (em 1910-1915-1917-1919-1921-1925-1926-1927). A estes, pode acrescentar-se o golpe falhado de 1908 seguido
do regicídio, que se distingue dos restantes por um número menor de baixas.
d) Ocorreram, a somar a estas “revoluções”, dezenas de golpes e contra-golpes,
pronunciamentos e levantamentos violentos. Alguns foram caricatos, como
a tentativa de derrubar o Governo meramente publicando a nomeação de
outro no jornal oficial; outros foram criminosos, como a “noite sangrenta”.
e) Registaram-se milhares de atentados bombistas, agressões violentas e
assassinatos, alguns atingindo primeiros-ministros, como o atentado contra
João Chagas ou o assassinato de António Granjo.
f) Registaram-se largas centenas de greves e manifestações violentas,
acompanhadas de bombas, sabotagens e confrontos com mortos e feridos.
g) Contam-se pelas largas centenas os assaltos violentos feitos por multidões
armadas a sedes de partidos, sindicatos, jornais políticos, centros culturais,
igrejas, conventos e até mesmo casas particulares de dirigentes políticos ou
militares.
h) Havia um recurso permanente à violência em todos os fóruns, como os duelos,
os protestos na assembleia através da destruição dos tampos das mesas
ou as lutas de ruas normais no mundo universitário. Dou só um exemplo:
o futuro cardeal Gonçalves Cerejeira – uma pessoa pacífica – confessa nas
suas memórias que completou o curso em Coimbra nos primeiros anos da
República armado de uma pistola Mauser C964, muitas vezes acompanhado
pelo seu amigo Oliveira Salazar nos frequentes confrontos de rua (não
esclarece se Salazar ia igualmente armado, mas isso é improvável).
Mas o fenómeno mais importante, aquele que permite só por si afirmar que
existiu uma guerra civil intermitente, não é nenhum destes, por mais incrível que
pareça. O fenómeno mais importante é a manutenção permanente de grupos de civis
armados organizados, que procuravam criar apêndices dentro dos quartéis, infiltrando
a instituição militar e minando a sua disciplina.
No começo era essencialmente a Carbonária, a mais eficaz e ampla organização
armada revolucionária que existiu em Portugal. A partir de 1911 a Carbonária
desaparece oficialmente, mas, na realidade meramente se transforma e se alarga.
A Mauser C96 era uma excelente pistola alemã, cara e fiável, embora não fosse propriamente a mais adaptada à luta
de ruas devido ao seu tamanho. Tinha a vantagem de se poder acoplar ao coldre de madeira, que passava a funcionar
como coronha, podendo então ser usada como uma pequena carabina.
4
232
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
Ilustração Portuguesa de 14 de Junho de 1915
Uma imagem vale por mil palavras. Um dos grupos de civis armados que participou no 14 de Maio de
1915 surge numa rara foto “oficial”, feita na euforia da vitória do movimento, mostrando o que era
a realidade destes gangs que dominavam as ruas das grandes cidades. O nome oficial deste grupo
armado era “Centro Eleitoral dos Defensores da República”. No meio dos civis distinguem-se alguns
militares, principalmente marinheiros, mas também elementos do Exército e da GNR. De notar que o
grupo armado contava com um destacamento de maqueiros (primeira fila à esquerda), o que mostra
a sua cuidada organização militar.
Dá origem à “Formiga Branca”, aos “Batalhões de Voluntários”, aos “Grupos Cívicos”
(cívicos
mas armados), aos “Grupos de Defesa da República” e a tantos outros, onde
nem sequer faltam denominações inocentes, como a de “Centro Eleitoral”. Estes grupos
armados obedecem principalmente ao Partido Democrático (era o menos democrático
de todos, como o seu nome deixa prever), que domina a máquina eleitoral, conseguindo
fazer a união entre a Carbonária e os grupos de caciques da Monarquia. Mais tarde
(a partir de 1911) começam a surgir outros grupos de civis armados: os ligados ao
sindicalismo revolucionário, os ligados a Machado Santos, os ligados aos estudantes
católicos de Coimbra, os ligados aos anarquistas, os ligados aos monárquicos, etc., etc.
Os grupos de civis armados infiltrados no Exército tornam-se uma espécie de
instituição semi-oficial para os guerristas. Dou só um exemplo: quando Portugal se torna
beligerante, as informações militares britânicas mandam um seu representante a Lisboa
com o conselho que o Exército Português crie igualmente um serviço de informações
militares. Este encontra-se com Norton de Matos (Ministro da Guerra) que quando
houve falar em “informações militares”, logo responde: “Já temos! É a Carbonária
militar!”. Com muita dificuldade, o oficial britânico lá consegue fazer Norton de Matos
entender que um grupo de civis infiltrado e semi-legal que faz a vigilância política dos
oficiais, pode ser uma polícia política, mas não é um serviço de “informações militares”.
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
233
A grande novidade que surge com a guerra neste campo, é que os grupos de
civis armados aumentam muito e se diversificam, passando a estar em todo o leque
político – desde os integralistas aos anarquistas. É uma realidade permanente: todas as
forças políticas da República tinham o seu exército disfarçado e semi-clandestino de civis
armados, tolerados pelo poder, prontos a entrar em combate ao mais pequeno pretexto.
Todos tinham infiltrações e ramificações nas Forças Armadas que procuravam alargar.
Este é o núcleo central dos exércitos da guerra civil intermitente, com a
agravante que se diversificam e multiplicam com o tempo, sendo muito difícil o seu
acompanhamento, pois tudo era secreto e sem documentação oficial. São eles que vão
chocar violentamente nos anos da guerra, dentro e fora de fronteiras. São exércitos
onde civis e militares se misturam, como se vê nas raras fotografias que chegaram até
nós.
É de salientar que estes grupos de civis armados não se devem confundir com
organizações terroristas clandestinas, que também as houve, como a chamada Legião
Vermelha, criada nos anos vinte. Os grupos de civis armados eram uma realidade
diferente, embora as bombas artesanais fossem uma das suas armas mais importantes.
Ilustração Portuguesa de 21 de Junho de 1915
Outro dos grupos de civis armados que participou na revolução de 14 de Maio de 1915. Neste grupo
originário das Caldas da Rainha encontramos 9 civis e 9 militares do Exército, da Armada e da GNR, ou,
pelo menos, indivíduos com essas fardas (alguns só parcialmente fardados). O armamento é o mais
eclético que se possa imaginar, desde caçadeiras de cano duplo a carabinas Mannlicher, espingardas
Mauser-Vergueiro, Kropastchek e até se pode distinguir o que parece ser uma Winchester de repetição,
como a que foi usada no assassinato de D. Carlos em 1908 (era uma arma rara e muito cara, comprada
na Suíça pelos republicanos em 1907). A bandeira é inspirada na antiga Carbonária, oficialmente
dissolvida em 1911, mas ainda viva em 1915.
234
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
Ilustração Portuguesa de 24 de Maio de 1915
Uma cena normal em Lisboa durante as revoluções. Um tenente de artilharia é conduzido preso
por uma coluna de civis e marinheiros armados. Foi uma coluna semelhante que levou os cadetes e
professores da Escola de Guerra da Gomes Freire para o Arsenal da Marinha, depois do assalto à Escola
de Guerra. No percurso os cadetes presos são agredidos, insultados e arrancam-lhes os galões. Pelo
menos um cadete e um professor são mortos por tiros à queima-roupa nesta coluna, apesar de estarem
desarmados e seguirem sob escolta e apesar de transportarem a bandeira nacional. Muitos são feridos
e têm de receber tratamento no hospital. Há relatos de cadetes que foram salvos do fuzilamento no
último minuto pela acção de alguns dos marinheiros armados que escoltavam a coluna.
A sua acção estava normalmente ligada a um centro político legal e oficial (um partido,
um sindicato, uma loja), embora não houvesse uma subordinação formal, o que permitia
aos grupos armados passarem rapidamente de um centro político para outro. Os grupos
armados tinham uma existência semi-legal, normalmente com uma fachada inocente
(inclusive a de centro cultural) e mesmo a posse das armas estava por norma legalizada
pelas licenças de porte passadas aos milhares pelos governos que se alternavam
rapidamente no poder.
Todos tinham um ponto comum: procuravam infiltrar as unidades militares, por
duas razões. Em primeiro lugar dependiam delas para receberem armas e treino. Em
segundo lugar, a sua principal função em caso de “revolução” (e havia uma revolução
em cada dois anos) era a de trazer para a rua a unidade militar infiltrada e cooperar na
sua manobra dentro de tácticas aperfeiçoadas desde o 5 de Outubro. A acção armada
civil e militar para controlo das ruas era complementar e interligada e não antagónica e
independente.
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
235
A SEGUNDA ILUSÃO – UMA GUERRA SÓ EXTERNA
A mais importante das ilusões normais na visão nacional tradicional é pensar
que se trata somente de uma guerra externa, que surge internacionalmente, se trava
fora de fronteiras e só nesse contexto deve ser descrita. Segundo esta interpretação a
revolução de Dezembro de 1917 seria algo completamente separado e diferente dos
acontecimentos do CEP na mesma altura, havendo somente uma coincidência temporal.
O facto de os agentes serem quase os mesmos, de as suas motivações serem muito
semelhantes e de haver uma interdependência entre os vários combates, seria somente
uma “bizarra” coincidência.
A realidade é justamente o contrário: a guerra internacional mistura-se com a
guerra civil intermitente interna, amplifica-a e muda-a. Do ponto de vista português
estamos perante um conflito único e inseparável, que se trava dentro e fora de fronteiras
com o objectivo central de decidir o futuro de Portugal, tanto internamente como o
seu papel no Mundo. É o mesmo objectivo e o mesmo conflito, só que uns combates
decorrem dentro e outros fora de fronteiras. Devo acrescentar que nem todas as acções
militares fora de fronteiras são contra os alemães – por exemplo, as lutas originadas pela
rebelião de vários batalhões do CEP travam-se entre portugueses no território francês.
Os guerristas provocam a beligerância por todos os meios com o objectivo
central de se manterem no poder e consolidar um regime radical débil. Afonso Costa ou
Norton de Matos não duvidam que o futuro do CEP se vai decidir na luta que se trava nas
ruas de Lisboa e que será do resultado conjugado de ambas as operações (as internas e
as externas) que saírá o tipo de regime futuro e a posição internacional de Portugal. Os
anti-guerristas também não duvidam disto e sabem que a luta em todas as frentes está
intimamente ligada e que a principal de todas, aquela onde tudo se decide em última
instância, é a frente interna.
Curiosamente quem coloca esta visão em causa são muitos dos historiadores
posteriores à guerra, que pensam sobre Portugal como se fosse a Grã-Bretanha. Na
realidade Portugal é mais parecido com a Rússia, ou seja, é uma situação particular onde
as operações militares internas e externas estão intimamente ligadas. Por exemplo:
pode-se entender o papel da Rússia na guerra sem mencionar a Revolução de 1917?
E pode-se entender a revolução de 1917 sem mencionar o papel da Rússia na guerra?
Obviamente não. São acontecimentos tão intimamente ligados que não se podem
separar. O mesmo se passa em Portugal.
A TERCEIRA ILUSÃO – UMA BELIGERÂNCIA A PEDIDO DO ALIADO
A versão oficial é que Portugal entrou na guerra por causa de um pedido do seu
Aliado apresentado em nome da Aliança. A realidade é exactamente o contrário.
Os documentos britânicos referem de forma muito clara que não se quer
a beligerância portuguesa. Segundo estes, as Forças Armadas Portuguesas foram
destruídas depois de 1910, pelo que não passavam de uma multidão indisciplinada,
236
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
politizada e dividida. O contributo efectivo que poderiam dar numa guerra moderna era
praticamente nulo e a confusão que iriam criar era potencialmente gigantesca. Assim
sendo, de um ponto de vista exclusivamente militar, nada aconselhava a beligerância
portuguesa e havia fortes razões para a não desejar.
De um ponto de vista político e diplomático também não se queria a beligerância
portuguesa, pois ela complicava a situação na Península (onde a Espanha era neutra) e
iria provocar confusão e “ruído” na altura das negociações de paz, para além de criar
atrito na relação entre a Grã-Bretanha e a França.
De um ponto de vista económico e financeiro a beligerância portuguesa era o
pior que podia acontecer para o Reino Unido, pois seria acompanhada de um pedido de
ajuda a muitos níveis, a começar nos créditos e a continuar nos fretes para a importação
de alimentos.
De um ponto da vista estratégico militar o que interessava ao Reino Unido era
que os seus inimigos não usassem as importantes posições geográficas portuguesas, mas
isso era conseguido pela Aliança, sem que a beligerância fosse necessária. Finalmente, a
Grã-Bretanha estava interessada nalguns favores que Portugal podia fazer, como sejam
o uso dos seus portos ou a passagem de tropas por Moçambique, mas isso foi concedido
desde o primeiro dia de guerra, sem que fosse necessária a beligerância. Tudo, em
resumo, levava a Grã-Bretanha a querer que Portugal mantivesse a neutralidade
colaborante. A beligerância portuguesa criava muitos mais problemas à Grã-Bretanha
do que aqueles que resolvia – esta era a realidade.
Assim sendo, como foi possível a beligerância portuguesa e, o que é mais, como
é que esta surgiu a partir de um pedido formal da Grã-Bretanha? Simplificando uma
situação complexa, o motivo resume-se numa palavra: França! Paris tinha uma posição
oposta à britânica. Havia razões políticas e ideológicas para isso: Portugal e a França eram
duas das três repúblicas existentes na Europa de 1914, pelo que a sua aproximação era
natural. Acresce a isto que, embora em França se formassem durante a guerra governos
de coligação, eles tendiam a ser dominados pela esquerda francesa, que tinha simpatia
pelos radicais republicanos guerristas. É o caso em particular de Aristides Briand, que
governou a França no período decisivo para a beligerância portuguesa (em 1915-1917,
quando acumulava com o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros).
As razões ideológicas, porém, não eram as principais, como normalmente
acontece. A França sabia que o seu aliado britânico tinha assinado duas convenções
secretas com a Alemanha para dividir as colónias portuguesas, uma delas nas vésperas
da guerra (em 1912) e ressentia o facto de ter sido deixada de fora em ambas as ocasiões.
Sabia que a guerra seria longa e não era claro o seu desenlace, podendo muito bem
terminar numa paz de compromisso, sem um vencedor evidente. Se isso acontecesse, a
Grã-Bretanha podia ser tentada a procurar um entendimento com a Alemanha de forma
independente da França, usando nomeadamente o acordado nas convenções secretas.
Era do interesse francês impedir que isto acontecesse e a melhor maneira de o conseguir
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
237
Aristides Briand foi 1º Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros da França de 29 de Outubro
de 1915 a 20 de Março de 1917. Foi uma figura central para permitir que os guerristas portugueses
forçassem a beligerância e enviassem o CEP para França contra a vontade da Grã-Bretanha.
Foto Wikipedia.
era trazer Portugal para a guerra. Se Portugal fosse beligerante, pensava a França, o
eventual entendimento anglo-alemão para uma paz de compromisso por cima da sua
cabeça seria mais difícil.
Paris tinha igualmente uma leitura diferente da britânica da situação na
Península: para ela, a beligerância portuguesa era uma forma de conter a Espanha e de
a manter neutra ou até mesmo de a trazer para a guerra ao lado dos Aliados; Londres
tendia a valorizar sobretudo o facto de a beligerância portuguesa ser entendida pelos
germanófilos espanhóis como uma provocação, que iria incentivar a tentação de anexar
Portugal aproveitando a guerra para isso.
Devo acrescentar que até Maio de 1915 prevaleceu nos Aliados a política de
cautela britânica, pois a Itália era neutra e isso colocava problemas na balança de forças
no Mediterrâneo. Em Maio de 1915 a Itália entra na guerra ao lado dos Aliados, pelo que
desaparece o grande argumento para recusar a beligerância portuguesa e a França tem
maior margem de manobra.
238
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
A beligerância portuguesa não se decide meramente numa luta entre guerristas
e anti-guerristas nacionais; ela decide-se sobretudo numa luta diplomática entre a Grã-Bretanha e a França, a primeira apoiando os seus aliados anti-guerristas e a segunda
incentivando os seus aliados guerristas. Os anti-guerristas eram efectivamente os
aliados naturais da Grã-Bretanha, apesar de os guerristas os acusarem sempre de serem
“germanófilos” – uma das muitas mentiras oficiais. Os documentos internos britânicos não
deixam qualquer dúvida neste campo e não escondem o profundo desprezo do Governo
de Sua Majestade pelos guerristas, considerados maus políticos que punham os interesses
partidários à frente dos nacionais.
A QUARTA ILUSÃO – UMA FRANÇA APAGADA PERANTE UMA GRÃ-BRETANHA
ACTIVA
É a França que permite a beligerância portuguesa, aliando-se aos guerristas
radicais republicanos e torcendo o braço à Grã-Bretanha.
Uma primeira tentativa surge logo em Setembro de 1914, quando Paris, sem
o prévio consentimento de Londres, pede a Lisboa a cedência de peças de artilharia
Schneider TR75, que tinha vendido a Portugal no reinado de D. Carlos. A Grã-Bretanha
é colocada perante um facto consumado e a única coisa que pode fazer é insistir junto
de Portugal para que as peças sejam enviadas sem artilheiros, para evitar a beligerância.
O jogo britânico é muito hábil, como é normal, e acaba por ser bem sucedido,
como é igualmente normal. O que Londres faz é fingir apoiar o pedido da França, mas
sempre salientando que só devem ser enviadas as peças, sem os homens. Quando os
guerristas portugueses (encabeçados nesta altura pelo Ministro da Guerra Pereira de
Eça) insistem para enviar os homens, a Grã-Bretanha inicia “negociações” para formar
uma divisão a mandar para França, mas sempre com a intenção de provar a portugueses
e a franceses que isso não é possível.
Como era de prever, os portugueses não tardam a confirmar que não conseguem
formar a curto prazo uma divisão moderna. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha incentiva
os anti-guerristas portugueses a impedirem a beligerância forçada, nomeadamente
passando os seus ultra-secretos documentos diplomáticos ao chefe da oposição (o
anti-guerrista Brito Camacho)5. Tal como Londres esperava, Brito Camacho escreve uma
série de artigos no seu jornal (A Luta) onde denuncia a mentira do Governo a partir
dos documentos britânicos. O que ele diz é muito simples: a Grã-Bretanha não pede a
beligerância e faz tudo o que pode para a evitar (as citações dos documentos britânicas
provam isso mesmo); são os guerristas no Governo que a pretendem forçar por motivos
partidários; Portugal deve aceitar os pedidos feitos em nome da Aliança, mas não
deve forçar a beligerância. Estes serão os pilares da política dos anti-guerristas que, ao
Carnegie, o ministro britânico em Lisboa, dirá mais tarde que formalmente foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros
Freire de Andrade (um republicano moderado anti-guerrista) que passou estes documentos a Brito Camacho.
Carnegie, porém, mas não esconde o seu contentamento por este desenvolvimento, referindo que mantém
contactos extra-oficiais com Freire de Andrade e outros anti-guerristas, que são seus amigos pessoais.
5
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
239
contrário do que diz a propaganda guerrista, não são germanófilos, mas sim amigos da
Grã-Bretanha6.
Ilustração Portuguesa de 10 de Maio de 1915
Brito Camacho discursa no Congresso do Partido Unionista, que dirige. Brito Camacho será o principal
teórico do anti-guerrismo nacional nos primeiros anos. Defende duas teses centrais: Portugal deve
aceitar os pedidos feitos em nome da Aliança, mas não deve forçar a beligerância; em caso de
beligerância, Portugal deve lutar em África e nos Oceanos, mas não enviar tropas para França. De
notar que na mesa do Congresso do Partido se sentam militares fardados, o que era uma coisa normal.
O resultado é que em fins de 1914 nasce em Portugal um amplo movimento
anti-guerrista, que interpreta o sentimento maioritário da Nação e das Forças Armadas
– ele nasce em larga medida a partir das Forças Armadas. Este processo conduz a quatro
consequências directas.
Há efectivamente uma corrente germanófila em Portugal, mas muito diminuta. Ela reduz-se praticamente à
pequena corrente monárquica miguelista, sem abranger a nova direita monárquica, nomeadamente os jovens
integralistas, quase todos amigos da Grã-Bretanha e da França. Mesmo os miguelistas estão sobretudo ligados à
Áustria e não à Alemanha.
6
240
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
Em primeiro lugar, o Ministro da Guerra Pereira de Eça fica isolado no Governo
e nas Forças Armadas e é obrigado a deixar seguir as peças sem os artilheiros, tal como
Londres queria desde o começo. A vingança de Pereira de Eça é que as peças seguem
sem munições e como usam uma munição diferente da francesa (apesar de serem
vendidas pela França) não têm qualquer utilidade para os Aliados, acabando por ficar
nos armazéns britânicos – devo acrescentar que isto pouco importa, pois Portugal envia
48 peças TR75, quando a França tem no seu Exército, em Agosto de 1914, mais de 5000
canhões deste modelo – o que falta à França nesta altura é artilharia pesada, mas isso
Portugal também não tem.
Em segundo lugar, o envio das peças, tal como Londres esperava, não provoca
a guerra e desaparece o pretexto francês para forçar a beligerância. O resultado é que
quando, em meados de 1915, o Governo Português guerrista (posterior à queda de
Pimenta de Castro) insiste em enviar a divisão para França, a Grã-Bretanha responde
que já não está interessada e aconselha calma e prudência, sem se provocar um corte
com a Alemanha!
Em terceiro lugar, os artigos de Brito Camacho, escritos com o conhecimento
directo dos documentos “ultra-secretos” britânicos, desencadeiam um amplo movimento
anti-guerrista interno contra a tentativa radical de forçar a beligerância. O movimento
parte de uma aproximação entre os republicanos moderados (representados nesta
altura principalmente pelo Presidente da República, Manuel de Arriaga) e o corpo de
oficiais das Forças Armadas, que são o centro dos protestos contra a tentativa radical de
lançar Portugal na guerra. Daqui sai o movimento das espadas, que conduz à formação
do Governo de Pimenta de Castro e ao fim da primeira tentativa de forçar a beligerância.
Pimenta de Castro anula a mobilização da divisão a mandar para França, com o aplauso
entusiástico da Grã-Bretanha – não há dúvida que os anti-guerristas eram os aliados de
Londres em Portugal.
A quarta consequência deste processo é a revolução de Maio de 1915, que derruba
violentamente Pimenta de Castro e repõe os guerristas no poder – a mais sangrenta de
todas as revoluções, com cerca de um milhar de baixas entre mortos e feridos.
A QUINTA ILUSÃO – É A GRÃ-BRETANHA QUE EXIGE A APREENSÃO DOS
NAVIOS ALEMÃES
Os anti-guerristas são derrotados na revolução de Maio de 1915 e o seu
entendimento de base muito amplo é provisoriamente desfeito, mas sabem que
continuam a contar com o apoio da Grã-Bretanha e não duvidam que as tentativas de
provocar a beligerância são anti-nacionais. Todas as memórias e todas as descrições
referem um ponto: a perspectiva da beligerância não provocava qualquer “explosão
patriótica” em larga escala, mas antes o temor e a resistência passiva e activa.
A posição de Londres não muda. Quando os novos governos guerristas apelam
para o Aliado para permitir que se declare guerra à Alemanha, a resposta é muito clara:
Portugal é independente e pode fazer o que bem entender; mas, se declarar guerra
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
241
a Alemanha, não deve contar com o apoio do Aliado. É uma resposta suficiente para
acalmar os ânimos dos guerristas durante uns meses.
Em fins de 1915 tudo muda. Portugal, por um lado, não aguenta mais o
esforço financeiro e está sem divisas para compras no exterior. A falta de alimentos é
especialmente preocupante para os Governos guerristas, pois eles sabem que a fome
generalizada será fortemente sentida nas cidades e rouba-lhes o seu já frágil apoio. Em
fins de 1915 Afonso Costa pede um crédito urgente de 2 milhões de libras a Londres,
referindo que o que está em jogo é a continuação do Governo e envia um representante
especial para negociar os pormenores, dizendo-se disposto a todas as contrapartidas
para obter as libras7.
Nesta mesma altura João Chagas (Ministro de Portugal em Paris) chama a
atenção do Governo Francês para a aflitiva situação interna dos radicais portugueses e
pede uma urgente intervenção junto da Grã-Bretanha. É então que a França (Aristides
Briand é o 1º Ministro) se lembra de uma solução excelente do ponto de vista dos
guerristas: porque não requisitar os cerca de 80 navios alemães que se tinham abrigado
nos portos portugueses, alugando-os em seguida à França, que estava necessitada de
fretes? Este aluguer solucionava o problema financeiro nacional, levava à beligerância e
permitiria manter os radicais no poder. Em fins de Dezembro de 1915 a França informa
a Grã-Bretanha que vai pedir a Portugal a requisição dos navios alemães, apresentando
o assunto como resolvido e não aberto a qualquer discussão8.
Londres acompanhava desde há meses a situação dos navios alemães em Portugal
e procurava uma solução para os conseguir sem que isso provocasse a beligerância.
Perante a atitude de força francesa a alternativa britânica é muito simples: ou deixa que
o assunto passe para as mãos de Paris, o que significava que Portugal entrava na guerra
apoiado pela França e, possivelmente, isto representava o fim da secular Aliança; ou
assume ela a chefia do processo. É por esta última possibilidade que se acaba por optar
e, a 30 de Dezembro, Sir Edward Grey diz ao Governo Francês que vai dar indicações
em Lisboa para se requisitarem os navios alemães, acrescentando que o processo será
conduzido ao abrigo das relações da Aliança9. Londres esclarece que, como contrapartida,
vai aceitar o pedido de ajuda financeira apresentado por Afonso Costa.
É este processo que permite aos guerristas alcançarem o seu objectivo central de
forçar a beligerância e manter-se no poder. Do ponto de vista nacional o que desencadeou
o processo foi o pedido de ajuda financeira10; do ponto de vista internacional o que levou
Telegrama de Carnegie a Sir Edward Grey de 28 de Dezembro de 1915. PRO FO 371/2759. O representante de
Afonso Costa não é um português, mas sim o Sr. Bleck, um britânico, que chefiava a Câmara do Comércio Britânica
em Portugal.
8
Telegrama do Governo Francês ao seu representante em Londres a 23 de Dezembro de 1915. Arquivos Nacionais
Franceses 1CPCPM1245. A nota oficial francesa é entregue ao Governo de Sua Majestade a 29 de Dezembro, sem
ter passado sequer por uma consulta prévia com o Governo Português.
9
Telegrama de Sir Edward Grey ao Ministro Britânico em Lisboa, Carnegie, datado de 30 de Dezembro de 1915.
10
Afonso Costa tem mesmo o cuidado de pedir a Londres que o pedido de crédito seja tratado como assunto
“particular” e não oficial, pelo que o problema é colocado ao Lloyd’s & Brown em primeiro lugar, só se pedindo o
apoio do Governo de Sua Majestade. Carta de Sir Edward Grey ao Chanceler do Tesouro de 6 de Janeiro de 1916.
PRO FO 371/2759.
7
242
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
ao pedido britânico foi mais uma acção de força da França. Paris não só se dizia disposta
a avançar isoladamente, como a arcar com todas as suas consequências, armando e
financiando o esforço bélico português se a Alemanha declarasse guerra a Portugal,
como fez. A Grã-Bretanha não pode continuar a adiar o assunto, pois a única maneira de
evitar o movimento da França, é ela avançar.
O SEXTO ERRO – UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR SEMELHANTE ÀS OUTRAS
Um dos maiores erros da visão tradicional é a de tratar a instituição militar
nacional como sendo semelhante à dos restantes beligerantes, distinguindo-se deles
somente pela dimensão. Há mesmo quem diga que a guerra devolve às Forças Armadas
uma unidade que antes lhes faltava. O que acontece é justamente o contrário: as Forças
Armadas eram uma sombra de si próprias e a guerra aumenta as divisões profundas que
já existiam.
A realidade é que as Forças Armada portuguesas eram em começos de 1916 um
resultado dos seis anos de grande confusão anteriores. Eram forças indisciplinadas, mal
equipadas, divididas, profundamente partidarizadas, não preparadas para uma guerra
europeia e moderna, não apoiadas por um sentimento nacional favorável à beligerância,
confusas e mal organizadas.
Como se chegou aqui? Como foi possível que Forças Armadas que tinham levado
a cabo dezenas de operações vitoriosas fora da Europa em 1890-1910, produzissem,
mesmo em África, resultados muito diferentes? Não foi por acaso! A principal causa foi
a política militar do regime em 1910-1916, que provocou o caos e a politização de forma
sistemática, não por incompetência dos governos, mas por uma estratégia partidária
consciente e friamente executada. Não se tratava de uma política nacional, mas sim
da política dos guerristas radicais republicanos, que sabiam que tinham de destruir as
antigas Forças Armadas para consolidar o seu poder.
Em termos simples, o novo regime nasce em larga medida pela paralisação das
Forças Armadas, que não se mostraram dispostas a defender a Monarquia, mas também
não apoiam a República. As únicas forças militares que apoiam os republicanos são
uma parte da Armada e uma parte dos cabos e sargentos em Lisboa, influenciados pela
Carbonária. Raros oficiais participaram no movimento e quase todos são da Armada. O
5 de Outubro conta inicialmente com 9 oficiais do Exército, mas nem um está presente
depois das 9h da manhã de 4 de Outubro (retiram-se todos quando consideram o
movimento derrotado). Só um oficial general está do lado republicano e este suicida-se
por considerar igualmente o movimento derrotado (o Almirante Cândido dos Reis).
O regime, em resumo, não confia no corpo de oficiais e, em particular, no corpo
de oficiais do Exército, que considera a fonte de todos os perigos. É perante este pano
de fundo que os radicais republicanos concebem uma estratégia para consolidar o seu
poder, destruindo o corpo de oficiais permanente. Esta estratégia será sistematicamente
executada pelo poder radical em 1910-1916 e pode ser resumida em seis pontos:
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
243
a) Incentivar a formação de grupos de civis armados com infiltrações nos
quartéis, que possam derrotar um eventual golpe militar monárquico ou
conservador.
b) Colocar os apêndices destes grupos de civis armados a vigiar o corpo de
oficiais nos quartéis (era a “Carbonária Militar” mencionada por Norton de
Matos), de modo a denunciarem qualquer oficial que se mostre anti-radical
ou anti-republicano. Os oficiais denunciados politicamente pelos comités
de cabos e sargentos, tinham a sua carreira prejudicada e iam parar a
guarnições de província ou ao serviço nas colónias.
c)
Organizar autonomamente o pequeno número de oficiais republicanos
radicais, colocando-os nos pontos-chave, nomeadamente no Estado-Maior.
O grupo mais conhecido era o dos chamados “jovens turcos”, de onde saem
os oficiais do Estado-Maior do CEP. É claro que a organização em “clube
secreto” dos oficiais radicais, provoca um movimento de organização
semelhante das outras correntes, levando a uma rápida partidarização do
corpo de oficiais.
d) Acabar com os programas de modernização do Exército que tinham
começado com D. Carlos e apoiar fortemente os programas de crescimento
da Armada, nomeadamente o chamado projecto da “Grande Esquadra”.
Como os gigantescos planos navais não se concretizam, em larga medida
por falta de apoio da Grã-Bretanha, a realidade é que em 1916 tanto
o Exército como a Armada tinham um armamento e equipamento mal
adaptados a uma guerra moderna. Curiosamente isto era particularmente
verdade em relação à Armada, pois o Exército, apesar de tudo, contava com
o armamento relativamente moderno trazido pelos programas de D. Carlos.
e) Acabar com o Exército semi-profissional que vinha da Monarquia, com
um numeroso quadro de oficiais permanentes e criar em sua substituição
um Exército miliciano do cidadão-soldado, com um reduzido componente
do quadro permanente. É o projecto de 1911 que adopta como exemplo
a republicana Suíça e pretende reduzir amplamente o corpo de oficiais
permanente. O projecto não se concretiza por várias razões, mas o Exército
que existia fica ameaçado de extinção, em particular o corpo de oficiais. O
resultado é que, em 1916, Portugal nem tem o Exército eficaz da Monarquia,
nem o novo do modelo “miliciano”, mas sim uma situação híbrida, que não
funciona em nenhuma das lógicas.
f)
Criar ou incentivar as organizações militares que possam ser um opositor ao
Exército no domínio das ruas de Lisboa, nomeadamente a GNR e a Armada
(concentrada em Lisboa, que era a sua única base naval, com quartéis e
estaleiros).
244
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
É este conjunto de circunstâncias que temos de levar em conta quando
comparamos as Forças Armadas nacionais de 1916 com as do resto da Europa. As
portuguesas são simplesmente o resultado de seis anos de política de destruição
levadas a cabo pelos republicanos radicais. As Forças Armadas não têm armamento
ou equipamento moderno, nunca foram pensadas para uma guerra na Europa, estão
partidarizadas a todos os níveis, estão amplamente divididas, os sargentos vigiam e
denunciam os oficiais, os oficiais do corpo permanente estão ameaçados de extinção e
desconfiam de tudo que venha do poder político, não têm programas de modernização
efectivos, não têm apoio externo para uma qualquer modernização, vivem com falta de
tudo, numa extrema indisciplina e infiltradas por grupos de civis armados. Os oficiais
do quadro permanente estão receosos e na defensiva, divididos entre múltiplos “clubes
políticos”, ameaçados pela vigilância dos sargentos, que temem, sabendo que existem
“infiltrações civis” nos quartéis, mas incapazes de as combater.
Ninguém conhecia esta realidade melhor que os observadores estrangeiros em
Lisboa, tanto os alemães, como os britânicos e franceses. Esses não tinham qualquer
ilusão sobre a real eficácia das Forças Armadas nacionais, ao contrário do que acontece
com muitos dos historiadores posteriores.
Reproduzimos somente dois excertos dos telegramas dos representantes Aliados
em Lisboa sobre este aspecto, sendo certo que citações como estas se podem encontrar
às dezenas para todo o período de 1914 a 1918.
Carnegie, o ministro britânico em Lisboa, escreve na altura da beligerância11: “O
Exército Português não tem equipamento, disciplina ou organização e o seu entusiasmo
pela nossa causa é reduzido, se é que existe; se fizermos alguma sugestão que os seus
serviços no estrangeiro podem ser necessários, uma mobilização geral provavelmente
provocará um outro movimento militar que se pode revelar desastroso para os nossos
interesses em Portugal”.
Daeschner, o ministro francês em Lisboa, resumindo a opinião dos adidos de
defesa e das missões militares francesas, avisa quase na mesma altura que Portugal
poderia fornecer uma força de 50 a 60 mil homens, mas ela seria de uma imensa
ineficácia12. Explica que o problema não é a falta de equipamento ou armamento, pois
esse poderia ser fornecido pela França, mas sim a total falta de preparação para uma
guerra moderna e, acima de tudo, “a completa falta de disciplina a todos os níveis e a
oposição declarada de um corpo de oficiais onde dois terços são claramente hostis à
guerra e dizem-se dispostos a favorecer qualquer movimento sedicioso que impeça uma
mobilização”.
Os representantes Aliados em Lisboa sabiam do que estavam a falar.
Efectivamente, as Forças Armadas nesta altura eram uma “multidão indisciplinada”, nas
palavras de Carnegie, onde a maioria do Corpo de Oficiais era anti-guerrista e esperava
Telegrama de Carnegie ao FO em Londres de 16 de Março de 1916. PRO FO 371/2761.
Telegrama de Daeschner ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da França a 30 de Abril de 1916. Service
Historique de La Defense, GR5N135.
11
12
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
245
a primeira oportunidade para derrubar o governo guerrista, que considerava anti-patriótico, empenhado em provocar uma beligerância que seria um desastre nacional.
O grande paradoxo dos guerristas, o paradoxo que eles próprios provocaram, foi
que durante seis anos destruíram a eficácia e disciplina das Forças Armadas. Passados
esses seis anos, viram-se obrigados a pedir às Forças Armadas que participassem numa
guerra europeia. Não era uma guerra qualquer: era a frente mais exigente da maior
guerra da humanidade até então! É um paradoxo que ultrapassa o mero nível do erro
admissível e humano, para alcançar as dimensões de um colossal desastre. Os militares
foram as primeiras vítimas desta ilusão.
O SETIMO ERRO – FOI A GRÃ-BRETANHA QUE PEDIU A FORMAÇÃO DO CEP
A outra mentira da visão tradicional portuguesa é a de querer fazer acreditar que
foi a GB que pediu a criação do CEP, donde se pode inferir que se houve algum erro de
avaliação
ele foi britânico, por ter exigido demasiado.
Como sempre acontece quando tratamos da Grande Guerra, a realidade é
exactamente o contrário. A Grã-Bretanha, que foi obrigada a engolir a beligerância
portuguesa contrariada, não queria a formação do CEP! A posição britânica, comunicada
a Lisboa logo em Março de 1916, pouco depois da declaração de guerra, é que o esforço
militar nacional se deve concentrar na defesa dos portos e no envio de forças para
África, onde devem colaborar com a campanha Aliada para ocupação da África Oriental
Alemã, invadindo-a a partir de Moçambique13. O teatro de operações da França não é
mencionado e a opinião do comando militar britânico é muito clara: não quer forças
portuguesas em França!
É Afonso Costa que dirige as negociações sobre as condições da beligerância
com o Aliado e, como seria de esperar, é hábil. Afonso Costa diz à Grã-Bretanha algo
muito simples, mas efectivo: está tudo interligado, de modo que, se querem receber
os navios tem de aceitar o envio de tropas para França e o apoio financeiro ao esforço
de guerra. Se isto for concedido então os navios serão entregues exclusivamente à Grã-Bretanha14 e mesmo outros aspectos em aberto serão decididos de forma favorável,
como seja a concessão da construção da linha estratégica de Benguela (Angola) e o
controlo da Companhia do Niassa (Moçambique) – assuntos em discussão desde há
anos. A Grã-Bretanha hesita e procura negociar, confirmando que Afonso Costa, que
trata directamente de tudo que diga respeito à guerra, é um negociador temível15. A sua
A África Oriental Alemã era a última das colónias alemãs ainda não totalmente ocupada pelos Aliados. Estava em
curso uma campanha em que as forças Aliadas (britânicos, belgas, sul-africanos e indianos entre outros) avançavam
lentamente a partir do Norte e do Oeste. Portugal envia várias expedições para o Norte de Moçambique e os Aliados
pediam que estas forças passassem o Rovuma a invadissem a colónia alemã.
14
A situação dos navios é complexa. Portugal quer reter para si cerca de 20% dos navios alemães. Dos restantes
80% a França e a Itália reclamam uma parte, enquanto a Grã-Bretanha lhes recorda que é ela que tem a aliança com
Portugal, pelo que os navios devem ir na totalidade para ela, depois se decidindo sobre uma eventual distribuição
dos fretes.
15
Estou a resumir um assunto complexo em poucas palavras, pois este braço de ferro com a Grã-Bretanha prolonga-se por vários meses.
13
246
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
táctica é simples: está tudo ligado; ou aceitam tudo, o que implica apoiar a mentira dos
guerristas, ou recusam tudo. A Grã-Bretanha sente-se tentada a recusar tudo.
Quem altera a situação a favor de Portugal é, mais uma vez, a França. O Governo
Francês tinha já consultado o General Joffre16 sobre um eventual envio de forças
portuguesas para França. A resposta do comando militar é que os relatórios do adido
militar francês em Lisboa mostravam que a capacidade operacional do Exército Português
era “limitada” e que os oficiais não apoiavam o esforço de guerra, mas, apesar disso,
seria útil o envio de uma ou duas divisões. Joffre pensa que estas podem ser usadas num
sector calmo da frente, libertando duas divisões francesas, embora acrescente que a
força portuguesa não será usada autonomamente, mas inserida num comando gaulês17.
Com esta resposta dos seus militares, o Governo Francês informa Londres que
tenciona mandar uma missão militar a Lisboa para combinar a colaboração portuguesa
e, acrescenta como se fosse um pormenor de pouco significado, “seria útil” que a Grã-Bretanha participasse nessa missão, embora num lugar subordinado. O Governo de
Sua Majestade responde, através de Sir Edward Grey, que tinha pensado igualmente na
formação de uma missão militar para enviar a Lisboa, mas desistiu recentemente dela.
Provavelmente a Grã-Bretanha pensava que o assunto iria morrer com esta resposta.
Estava enganada.
Aristides Briand18 envia um telegrama, em Junho de 1916, às delegações da
França em Londres e Lisboa onde diz que aceita uma força expedicionária portuguesa
para colaborar com os Aliados, seja em França ou em Salónica. Era uma posição de força
e, mais uma vez, um cheque mate à relutância da Grã-Bretanha. O que é dito ao Aliado
é muito forte: ou vocês recebem a força expedicionária portuguesa, ou ela vem para o
sector francês através de um acordo directo (o que teria, sem dúvida, repercussões nos
navios e no futuro da Aliança).
É preciso explicar a menção a Salónica na tomada de posição francesa. A Grécia
era uma frente recente aberta pelos Aliados que, perante o falhanço da ofensiva nos
Dardanelos, tinham desviado para Salónica parte das forças que retiram da Turquia. A
ideia era convencer a Grécia a entrar na guerra e atacar os Poderes Centrais pelo Sul,
de modo a apoiar a Sérvia. As coisas correram mal desde o primeiro momento e as
forças em Salónica ficaram praticamente inactivas até ao final da guerra; só nas últimas
semanas do conflito iniciaram uma ofensiva vitoriosa contra a Bulgária.
Em 1915, João Chagas19 mencionou ao Governo Francês de forma indirecta a
possibilidade de enviar tropas portuguesas para reforçar Salónica – era uma maneira
O General Joffre era o comandante em chefe dos Exércitos Franceses, a máxima autoridade operacional francesa.
Este ponto seria um dos mais difíceis de negociar com os Aliados. Portugal insiste sempre para que a sua força
seja usada em conjunto e sob comando português. Tanto a França como a Grã-Bretanha pretendem o contrário:
usar a força portuguesa em unidades menores (a nível de batalhão ou menos) inseridas em unidades próprias tipo
brigadas ou divisões.
18
Aristides Brian era o grande aliado dos guerristas portugueses. Telegrama de 17 de Junho de 1916 no Arquivo
Diplomático Francês 1PCOM638.
19
João Chagas era um guerrista ferrenho e foi designado para chefiar o primeiro governo formado depois da vitória
da revolução de Maio de 1915. Era nesta altura o representante de Portugal em Paris.
16
17
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
247
de forçar a Grã-Bretanha a aceitar a beligerância portuguesa. O Governo Francês não
dá seguimento à proposta, mas, em Junho de 1916, decide recuperar a possibilidade de
Salónica, possivelmente pensando que esta seria mais aceitável para Londres.
Perante a posição de força de Paris, a Grã-Bretanha é obrigada a recuar. O
Governo de Sua Majestade explica ao comando militar britânico em França que são
obrigados a aceitar uma força expedicionária portuguesa por razões políticas.
Em fins de Junho de 1916, Afonso Costa e Augusto Soares chegam a Londres
para as negociações finais. Afonso Costa dá mais um passo nas suas exigências e afirma
que, embora ”todo o povo português” queira participar na guerra ao lado dos Aliados20,
há “alguma” (sic!) relutância em “certos sectores” do Exército em aceitar o envio de
forças para França, pelo que… precisa de receber um pedido oficial do seu Aliado em
nome da Aliança. Sir Edward Grey ainda se procura defender, dizendo que não gostaria
de fazer pedidos em nome da Aliança que criem a impressão no povo português que a
Grã-Bretanha pede demais. Afonso Costa, porém, insiste; afirma de forma muito clara
que precisa desse pedido para impedir que surja uma reacção negativa do Exército,
semelhante ao movimento das espadas. Perante isto e, sobretudo, perante a posição
francesa, Londres cede mais uma vez. Em Julho de 1916, o Governo Português recebe
uma nota do seu Aliado onde é “convidado” a colaborar mais activamente na Europa ao
lado dos Aliados21.
Esta negociação prova várias coisas:
g) A pressão da França é essencial para permitir aos guerristas alcançarem os
seus objectivos.
h) Os guerrista têm plena consciência da sua fragilidade interna e temem
a reacção das Forças Armadas e, em particular, do Exército, se este não
acreditar que o CEP se forma em resposta a um pedido britânico.
i)
Para a evitar, Afonso Costa é obrigado a apresentar o envio da força para
França como um “pedido” britânico, justamente o contrário da realidade.
No final destas negociações, Sir Edward Grey está de tal modo cansado
dos portugueses e dos truques dos guerristas que parece inclinado a aceitar a ideia
de “entregar” o CEP aos franceses. O Governo Francês é consultado nesse sentido e
responde22 que está disposto a aceitar as forças portuguesas, mas insiste no envio prévio
de uma missão militar conjunta a Lisboa. Edward Grey propõe então que a chefia desta
missão seja deixada aos franceses, uma indicação que as tropas portuguesas deverão ir
para o seu sector.
Os representantes diplomáticos Aliados em Lisboa diziam justamente o contrário: não havia qualquer entusiasmo
pela beligerância e o movimento anti-guerrista era muito forte nas Forças Armadas.
21
Estou a resumir em poucas palavras uma documentação vasta e complexa que se encontra no PRO/NA,
nomeadamente em FO 371/261.
22
Telegrama para Londres de 5 de Julho de 1916. Arquivo Diplomático Francês 1CPCOM638.
20
248
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
É o Ministério da Guerra (War Office) que o faz recuar, recordando o que seriam
as consequências deste facto para a Aliança – na prática era deixar Portugal passar
para a esfera de influência francesa no futuro. Sir Edward Grey reconhece o facto e faz
relutantemente marcha atrás. Assim sendo, a Grã-Bretanha insiste junto de Paris para
que a missão militar seja chefiada pelo general Barnardiston, o que Paris aceita23.
O problema do enquadramento das tropas portuguesas no sector inglês ou
francês ainda será objecto de uma discussão acesa entre os dois Aliados (Londres e
Paris), sem que Portugal se aperceba sequer do que se está a passar. Resumindo um
assunto complexo que se arrasta por meses, podemos dizer que a França insiste que as
tropas portuguesas vão para o seu sector e a Grã-Bretanha hesita. O Comando militar
Britânico em França favorece essa solução, mas o War Office e o Foreign Office, em
Londres, consideram, com alguma razão, que isso seria prejudicial para o futuro da
secular Aliança. No final, o assunto é decidido pelo Governo de Guerra (War Gabinet)
no sentido de incluir os portugueses no sector britânico, mesmo contra a opinião do
comando militar britânico em França.
A França ainda reclama insistindo na sua posição, mesmo em fins de 1916,
quando as primeiras tropas estão a seguir via Espanha (o contingente inicial de 150
militares). O assunto acaba por ser decidido definitivamente graças a uma iniciativa
de Norton de Matos junto do general Barnardiston, que se tornou no principal
representante militar Aliado em Lisboa. O que o Ministro da Guerra lhe diz, é que
Portugal quer enviar uma força expedicionária para combater ao lado do seu secular
Aliado e que qualquer outra solução provocaria problemas internos, pois o “povo
português” e o Exército não a entenderiam. Norton de Matos segue o exemplo de
Afonso Costa: transforma a fragilidade inegável da posição guerrista num argumento
para convencer o relutante Aliado, não hesitando em reconhecer a verdade: a maioria
das Forças Armadas era contra o envio de forças para França – com toda a razão, pois
conheciam a realidade militar – e, por esse motivo, era necessário criar a aparência
que era um desejo do Aliado (os anti-guerristas defendiam que se deviam aceitar os
pedidos da Grã-Bretanha).
Londres dá então indicações aos seus representantes em Lisboa (Carnegie, na
parte diplomática, e Barnardiston, na parte militar) para incluir o CEP no sector inglês.
Se a França insistir, é sugerido a Norton de Matos que Portugal proponha o envio das
suas forças para Salónica, de modo a ficarem inseridas num comando britânico. Salónica
regressa assim à equação militar portuguesa, agora pela mão dos britânicos e não dos
franceses.
O problema de Salónica não tem seguimento porque a França aceita
relutantemente que o CEP seja integrado no sector britânico. Os primeiros contingentes
embarcam em navios ingleses em Janeiro de 1917.
PRO/NA FO 371/2761. É de notar que Afonso Costa insiste que está tudo ligado: “beligerância, navios alemães,
Niassa”, pelo que só se pode decidir em conjunto – ou tudo ou nada. Não há dúvida que Afonso Costa era o mais
hábil dos políticos portugueses, coisa que os ingleses são os primeiros a salientar. Infelizmente para Portugal, era
também o mais radical dos guerristas.
23
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
249
ATE AQUI
A OITAVA ILUSÃO – O 9 DE ABRIL ERA INEVITÁVEL
O futuro do CEP foi decidido nestas curtas semanas de fins de 1916, entre a
Grã-Bretanha e a França. Se o CEP tem ido para o sector francês, seria colocado na parte
mais a Sul da frente, onde não ocorreram ofensivas importantes de qualquer dos lados
entre Setembro de 1914 e o fim da guerra. Nesse caso, o CEP nunca teria de enfrentar
um forte ataque alemão e teria sobrevivido intacto, mas o futuro da Secular Aliança teria
sido diferente.
Se isto não aconteceu, foi porque o envio do CEP para o sector francês não era
aceitável pelos guerristas. Eles queriam que a força portuguesa fosse para o sector
britânico, pois pensavam que só assim se reforçaria a relação com Londres e, sobretudo,
se silenciariam os anti-guerristas que dominavam o Exército, apresentando a organização
do CEP como uma obrigação da Aliança – o contrário da realidade.
Mais uma vez os guerristas alcançam os seus objectivos imediatos, mas falham
por completo nos objectivos de médio prazo. O comando militar britânico em França
recebe o CEP contrariado e, desde o primeiro momento, mantém com ele uma relação
tensa e difícil.
A relação é agravada pela infeliz escolha do general Fernando Tamagnini para
comandar o CEP. O CEP contou com bons generais, capazes de liderar homens em
combate, como Gomes da Costa e Alves Roçadas, que já tinham mostrado do que
eram capazes em África e na Ásia; contou com um bom general organizador (Simas
Machado); contou mesmo com um general que aliava a capacidade de organizar com
os dotes diplomáticos necessários para a relação com os Aliados e sabia tomar decisões
difíceis, sem rede e arcando com as responsabilidades, como era o caso de Garcia
Rosado. Fernando Tamagnini não tinha nada disto: nunca tinha comandado homens em
combate, não era um organizador, não tinha carisma, não tinha diplomacia, não tinha
convicções, não tinha a coragem de tomar decisões difíceis, não sabia improvisar. Só
foi escolhido por uma razão: era um yes-man dos guerristas, dizendo que sim a tudo
que Norton de Matos afirmava. Os britânicos muito cedo entendem que Tamagnini não
passa de uma (má) caixa de correio, que o verdadeiro cérebro do CEP é o seu Chefe do
Estado-Maior Roberto Batista – um guerrista hábil e inteligente, que todos os oficiais
anti-guerristas do CEP temem24.
A relação entre os britânicos e Tamagnini é tão difícil, que estes preferem tratar
dos assuntos mais sensíveis directamente com Gomes da Costa, que não passa de um
coronel, no começo do CEP. Tamagnini pede a Norton de Matos que “proíba” qualquer
contacto entre Gomes da Costa e os britânicos, o que este faz. Gomes da Costa não
acata a ordem e o Ministro da Guerra ameaça que o futuro comandante da 2ª Divisão
A desconfiança mútua e o clima de vigilância policial na direcção do CEP ia a pontos de Roberto Batista ter uma
cifra particular secreta para comunicar com Norton de Matos, sem o conhecimento de Tamagnini. Os britânicos, que
obviamente quebravam todas as cifras, ficavam boquiabertos com isto, que era totalmente inimaginável num dos
seus Corpos de Exército.
24
250
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
Portuguesa no 9 de Abril seria “demitido desonrosamente” do Exército se mantivesse
contactos directos com os britânicos. Eram hienas a comandar leões; era isto a “unidade”
do comando supremo do CEP!
Os oficiais anti-guerristas do Exército, embora num primeiro momento ficassem
convencidos pela cortina de fumo que o CEP era uma obrigação da Aliança, não tardam
a aperceber-se da verdade: o CEP é uma invenção dos guerristas que a Grã-Bretanha só
aceitou relutantemente e ao fim de muita resistência.
Portugal tem o triste destino de organizar a sua maior força expedicionária de
sempre para a Europa numa situação em que o apoio do seu Aliado foi obtido a ferros
com a pressão permanente da França, enquanto o entusiasmo das tropas é nulo e a
oposição activa da maioria dos oficiais é forte. É preciso acrescentar que isto ocorria numa
situação em que o CEP dependia em tudo do apoio da Grã-Bretanha: financiamento,
transporte, armamento, logística, treino, enquadramento, meios pesados, apoio aéreo,
informações, comando, etc.
As tensões internas no CEP eram muito fortes, especialmente entre os oficiais.
Os britânicos, por exemplo, ficavam boquiabertos quando viam oficiais portugueses
a falarem contra a guerra nas cantinas, com os soldados a ouvirem tudo. Quando os
britânicos faziam alguma observação, os oficiais portugueses respondiam que era
mesmo para os soldados ouvirem e que os seus verdadeiros inimigos estavam em
Lisboa.
Os britânicos nada entendiam e pensavam que era incompetência; não era;
eram convicções em clima de guerra civil intermitente! O CEP estava apanhado numa
armadilha mortal montada pelos políticos guerristas através da sua mentira oficial.
A NONA ILUSÃO – O CEP DEFENDIA UM SECTOR DA FRENTE OCIDENTAL COMO
QUALQUER OUTRO
Como seria de esperar o comando militar britânico em França vê o CEP desde o
primeiro momento como um potencial problema. Ele foi-lhe imposto por razões políticas
contra a sua vontade e a preocupação central do marechal de campo Haig é a de criar
uma situação que diminua o perigo.
É evidente que coloca o CEP num local calmo, mas isso não é suficiente. O
comando britânico demora muito tempo a entregar um sector ao CEP, aguardando
que comecem as chuvas do Outono. Escolhe então um sector onde o terreno se torna
intransitável com as primeiras chuvas (o Lys, na Flandres), de modo a ter a certeza que
os alemães não vão atacar aí em força, pelo menos até à primavera. O CEP só assume
a responsabilidade do seu sector em Novembro de 1917, quando o terreno já está
empapado pelas chuvas, impedindo qualquer ofensiva alemã em larga escala.
A maior parte dos autores portugueses não refere este aspecto particular e nada
mais acrescenta, donde se pode concluir que o sector do CEP é “normal”, excepto pelo
facto de ser um terreno mole que se transforma facilmente em lama com as chuvas. A
realidade, como sempre acontece, é diferente.
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
251
A verdade é que o CEP não recebe um “sector” da frente, mas sim um “semi-sector” ou, caso se prefira, recebe a parte da frente de um sector de Corpo de Exército.
No sistema de defesa em profundidade que a Grã-Bretanha adopta em 1917 as forças
dispõem-se em três níveis: o primeiro é a zona da frente, com duas a três linhas de
trincheiras (linhas A, B e, eventualmente, C). O que os portugueses chamam a “linha das
Aldeias” era o começo da chamada “Battle Zone” britânica, que ficava na sua retaguarda
imediata e onde se devia concentrar a maioria dos efectivos, sendo a verdadeira barreira.
A completar o sistema, fica na sua retaguarda a linha do Corpo (e a Green Line britânica,
que não tinha sequer um nome na doutrina do CEP), onde as reservas do Corpo de
Exército se colocam, prontas a passar ao contra-ataque em caso de necessidade. Ainda
por detrás fica normalmente a artilharia pesada, os armazéns, centros logísticos e
hospitais (Green Line). É isto um sistema britânico completo, escalonado em quatro
níveis, que podem alcançar os 10 a 15km de profundidade.
O CEP no Lys não defende um sistema completo. Desde o primeiro momento
que os britânicos lhe dizem que as forças portuguesas se devem concentrar na zona
da frente (com as linhas A e B) e na Linha das Aldeias (2 a 4 km na retaguarda). A linha
do corpo, por detrás destas, não é responsabilidade do CEP, mas sim britânica. Desde o
começo que o comando britânico destaca duas brigadas suas para ocuparam as posições
da linha do Corpo por detrás do CEP (uma para cada uma das divisões portuguesas). O
sector português, não é um sector… é somente a parte da frente. É por isso que o CEP
não tem artilharia pesada, ou aviação, ou um serviço de informações militares eficaz
(tinha a “Carbonária Militar”, mas isso era uma polícia política disfarçada, não era um
serviço de informações).
É este dispositivo particular que leva a que se escolha a zona do Lys para colocar
o CEP. É dos poucos sectores da Frente Ocidental onde, 4 a 6 km por detrás da terra de
ninguém e quase paralelamente a esta, correm dois cursos de água (o Rio Lys e o Canal
Lawe25), que formam uma excelente barreira defensiva. São as tropas britânicas que
guarnecem a linha do Corpo por detrás do Lys e do Lawe e são elas que defendem as
pontes destes cursos de água.
É um sistema de cinto e suspensório do ponto de vista britânico. Foi escolhido
um sector onde as condições do terreno tornam quase impossível um ataque em
força durante o Outono e Inverno. Pelo sim pelo não, a linha do Corpo é guarnecida
por unidades britânicas e está apoiada em dois cursos de água que são uma excelente
barreira natural. O comando britânico nunca explicou a situação aos portugueses nem
Tamagnini a entendeu, mas deu-lhes instruções muito elucidativas, que são resumidas
por Gomes da Costa numa frase lapidar: em caso de ataque, “a missão do CEP é morrer
na linha das aldeias”. A missão do CEP, em resumo, é atrasar o primeiro ímpeto de um
improvável ataque alemão, dando tempo aos britânicos de fazerem afluir reservas
para a Linha do Corpo defendida por eles. O CEP seria desfeito no processo, mas a Grã O Lawe é um afluente do Lys transformado em canal no século XIX. Tem uma largura de 10 a 15 m e é atravessado
por inúmeras pontes e algumas comportas. Alguns autores referem-se a ele como o rio Lawe.
25
252
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
-Bretanha não se “importava” de pagar esse preço. Isto, obviamente, nunca foi explicado
aos portugueses.
Será preciso acrescentar mais alguma coisa sobre a armadilha onde os guerristas
colocaram os militares portugueses? Como se pode pensar que torcer o braço por várias
vezes a um Aliado mais poderoso é um bom caminho para conquistar o seu respeito e leal
colaboração? Foi a esta triste situação que a política guerrista de forçar a beligerância
conduziu os militares portugueses! É uma situação que, como tantas outras coisas, é
sistematicamente ignorada pela historiografia nacional, como se tudo fosse normal...
A pergunta óbvia é: mas se os britânicos tomaram tantas precauções, que correu
mal no 9 de Abril?
Várias coisas, que provam que, por mais precauções que se tomem, na guerra
tudo pode acontecer. A primeira coisa que correu mal foi a meteorologia. O Inverno
de 1917-1918 foi especialmente frio… mas muito seco. O terreno da Flandres que
costumava ficar alagado até meados de Abril, secou a pontos de permitir um ataque
alemão em fins de Março, ao contrário do normal.
A Grã-Bretanha, conhecendo a imensa queda da moral do CEP nesse inverno,
insiste para que ele seja comandado por oficiais britânicos, pois conhece a falta de
entusiasmo quanto à beligerância dos portugueses. Lisboa recusa em absoluto esta
solução. Londres insiste então para que o CEP passe para a retaguarda a partir de
Janeiro de 1918. O que atrasa o processo é principalmente a inconsciência do general
Fernando Tamagnini, que faz tudo o que pode para manter formalmente o seu comando
de Corpo de Exército, sem se preocupar muito com o que possa acontecer aos seus
homens. Gomes da Costa, que os ingleses consideravam o único general do CEP que
sabia comandar homens, é favorável à retirada durante o Inverno. Finalmente, Lisboa
cede à pressão britânica em Março e aceita a retirada do CEP.
Foi demasiado tarde, embora a diferença tenha sido de escassas 24 horas. A 21
de Março começa a primeira grande ofensiva alemã da primavera na zona do Somme
(a Sul do sector português). Haig tinha já sido obrigado a ceder divisões para reforçar
a frente da Itália no Inverno de 1917-1918. Com a ofensiva de 21 de Março, é obrigado
a desviar mais divisões suas da Flandres para o Somme. O resultado é que a retirada
do CEP, que chegou a estar marcada para fins de Março, é por três vezes adiada pelos
britânicos. É preciso ter em conta que o final de Março e o começo de Abril de 1918 é
o pior período para os Aliados na Frente Ocidental, uma altura em que o impossível
acontece, com os alemães a avançarem 50 km no Somme e com a possibilidade da
resistência ocidental se desfazer. Perante esta grande crise o CEP e o seu destino pesam
muito pouco na cabeça do marechal de campo Haig.
Finalmente os britânicos começam por reduzir o CEP a uma única divisão (5 de
Abril) e marcam a sua saída da frente para 9 de Abril, colocando duas divisões inglesas
na retaguarda do dispositivo português. Pelo menos ficam um pouco mais tranquilos,
por afastarem Fernando Tamagnini do comando e verem a divisão portuguesa na frente
entregue ao general Gomes da Costa, em quem confiam.
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
253
Como se sabe, o ataque alemão começa às 4h e 15m de 9 de Abril e o CEP
é desfeito, poucas horas depois de ter sido informado que ia ser rendido. O CEP
efectivamente “morre” na linha das aldeias, como os britânicos sempre tinham dito que
era a sua missão.
Fica no ar uma pergunta: porque escolheu a Grã-Bretanha o dia 9 de Abril para
render o CEP? Terá sido uma mera coincidência? Um acaso? Mais um episódio do
“nevoeiro da guerra”? Não vou responder aqui, mas como sempre acontece no caso da
beligerância portuguesa, a realidade é o contrário da verdade oficial.
Devo acrescentar que a escolha britânica é perfeitamente lógica e coerente nas
circunstâncias – qualquer general minimamente competente teria seguido este caminho
para minimizar as perdas e aguentar a grande crise que se vivia, numa altura em que a
Frente Ocidental estava efectivamente em perigo. O que não é lógico e coerente são as
opções portuguesas. A culpa disso não é dos ingleses
O 9 de Abril podia ter sido perfeitamente evitado se um pouco mais de realismo
tivesse prevalecido e se o comando do CEP fosse outro, mas ele é a conclusão lógica da
política guerrista. Que outra coisa se pode esperar de uma política que destrói a eficácia
do Exército durante seis anos, o torna numa massa indisciplinada, o divide em extremo,
faz nomeações políticas para o comando supremo, força o Aliado a aceitar uma solução
militar que ele sabe ser desastrosa e, no fim deste imenso rosário de calamidades,
insiste em mandar o CEP para o pior sector (o britânico), da frente mais exigente (a
Francesa) da maior guerra da humanidade? Há muitas maneiras de errar e de se deixar
levar por ilusões ideológicas. Neste caso, estamos, sem dúvida, no extremo, no campo
do erro colossal, da cegueira mais completa, da total falta de realismo. Não há dúvida
que o corpo dos oficiais portugueses sabia o que fazia e que a historiografia oficial tem
muito a esconder.
A DECIMA ILUSÃO – ÁFRICA É DIFERENTE DA EUROPA
Outra das mentiras da historiografia nacional tradicional é a de tentar fazer
acreditar que África é uma realidade diferente da Europa. Há uma base factual para
isto: os anti-guerristas eram contra o envio de forças para França, mas eram a favor do
reforço de África, onde Portugal devia defender as suas colónias. Este era efectivamente
um ponto de consenso nacional: nenhuma força política activa em 1914-1918, dos
integralistas aos anarquistas contesta as colónias e o seu reforço militar.
A verdade, porém, é que o consenso termina nesta base geral. As Forças
Armadas que lutam em África são as mesmas que vão para França e lutam com o mesmo
enquadramento e com a mesma confusão política por detrás.
O que espanta em África é como foi possível que uma Nação que tinha organizado
dezenas de expedições vitoriosas para as campanhas de pacificação, expedições que
actuaram no mesmo terreno das operações da Grande Guerra (Sul de Angola e Norte
de Moçambique), de repente, por uma incompreensível razão, esquecesse tudo o que
254
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
aprendeu. Antes, as expedições africanas tinham um número normal de baixas por
razões sanitárias – ou seja, de 5% a 10%. Na Grande Guerra, só a primeira expedição
enviada para Moçambique sofre 50% de baixas por razões sanitárias sem entrar em
contacto com o inimigo. Como foi isto possível? Que coisa extraordinária aconteceu para
que um Exército competente e vitorioso se tornasse numa vaga sombra de si próprio?
O que espanta em África é que um Exército que se adaptou e mudou constantemente entre 1890 e 1910, sempre improvisando novas tácticas e orgânicas para
enfrentar um inimigo muito diferente em terrenos muito diversos, de repente passe a
estar rígido, incapaz de inovar, de fazer frente às tácticas imaginosas dos alemães. Houve
algum azar, como seja o facto de em Moçambique os portugueses enfrentarem um dos
grandes génios militares da guerra (o general Letow Voerbeck), que cortava com todas
as tradições, que ignorava os manuais do presente e estava a escrever os do futuro.
Não foi uma questão de número ou de falta de armamento ou equipamento, ao
contrário do que diz a mentira oficial. Em todas as campanhas de África os portugueses
estavam melhor equipados do que os alemães e tinham a vantagem numérica. Os
Askaris de Letow Voerbeck, por exemplo, ficavam muito contentes quando capturavam
as Mauser Vergueiro portuguesas de 1905 (uma das armas que D. Carlos trouxe para
Portugal), pois podiam abandonar as suas Mauser de
1871, que ainda usavam pólvora
com fumo.
O problema é que o Exército Português que actua em África é exactamente o
mesmo que é enviado para França. Significa isto que é a mesma força indisciplinada,
dividida, contrária à beligerância, desorganizada e incompetente que a política guerrista
criou. Tinham passado poucos anos desde as campanhas de pacificação de D. Carlos,
mas a realidade militar era outra. No Exército Português de 1914, por exemplo, em
vez de comprimidos de quinino seguem para África comprimidos de farinha, porque
a corrupção fez com que alguém enriquecesse à custa da força militar. Para dar outro
exemplo, nada está preparado para receber as forças metropolitanas em África e estas
têm de desembarcar nas praias e dormir no chão, com os efeitos fáceis de imaginar em
termos da sua saúde. Os navios britânicos que transportam as forças expedicionárias
para África chegam a mandar a sua carga ao mar perto da praia e a seguir viagem,
porque não podem ficar semanas à espera para um desembarque que não foi preparado
previamente. No Exército Português da Grande Guerra, para dar um último exemplo,
a travessia do Rovuma era anunciada ao inimigo com grande ruído e muitas fogueiras,
resultando num massacre provocado por um punhado de metralhadoras alemãs
colocadas silenciosamente durante a noite.
Era isto a realidade portuguesa em 1914-1918. Em África e na Europa era a
mesma coisa, só a latitude mudava. Não era um problema dos militares, que tinham
dado sobejas provas do seu valor e eficácia nos teatros africanos antes de 1910. O
problema era da política guerrista dos radicais republicanos, que tinha destruído por
completo a instituição militar.
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
255
A DECIMA PRIMEIRA ILUSÃO – O POLÍTICO E O MILITAR ESTÃO SEPARADOS
A historiografia tradicional portuguesa procura igualmente fazer acreditar que
o político e o militar são realidades separadas. Isto nunca acontece. Nunca há uma
operação que seja exclusivamente militar, pois os seus objectivos últimos são sempre
resultado de uma estratégia política. Do mesmo modo, a força empenhada depende
sempre de um processo político que levou à sua formação com “aquelas” características
particulares. Uma força militar não se improvisa em meses, pelo que é sempre o
resultado de um longo processo. Possivelmente nunca houve um período da História de
Portugal em que político e militar estivessem mais intimamente ligados do que a Grande
Guerra, a pontos de serem inseparáveis e não se saber onde acaba um e começa o outro.
É de realçar que, depois de estabelecer objectivos totalmente irrealistas, os
políticos guerristas interferem permanentemente nas operações militares, sempre
com resultados desastrosos. São os políticos guerristas e os militares incompetentes
que eles nomeiam que, por exemplo, depois de mandar o CEP para França insistem em
o manter como Corpo de Exército e atrasam a sua retirada para a retaguarda. São os
políticos guerristas que, para dar outro exemplo, insistem na necessidade de atravessar
o Rovuma, contrariando a opinião dos militares, o que termina num previsível desastre.
São ainda os políticos guerristas que dão instruções incoerentes e contraditórias a Alves
Roçadas, que estão na base da vitória alemã em Naulila – a única campanha contra os
alemães em Angola.
Em toda a parte é a mesma coisa: interferência na esfera militar a muitos níveis,
por parte de uma administração dividida, incompetente e irrealista, que confunde arte
militar com desejos ideológicos. Os militares são as grandes vítimas deste processo e
não os seus causadores.
Mas a ligação entre políticos e militares não se esgota nisto. Na realidade, nem
sequer passa fundamentalmente por aqui. A verdade é que as operações militares da
Grande Guerra, justamente porque são orientadas no essencial pelas desastrosas opções
guerristas, alteram a política portuguesa durante pelo menos meio século – mais uma
realidade que passa ao lado da História oficial, que ela evita mencionar, como assunto
de pouca importância.
Os militares aprendem rapidamente com os acontecimentos da Grande Guerra e
organizam-se para evitar que eles se repitam. Aprendem, em primeiro lugar, no sentido
em que criam o cimento de uma unidade anti-guerrista mais ampla e diferente do
passado. O resultado é o ano de Sidónio Pais no final da guerra, colocado no poder
essencialmente pelo Exército e cavalgando uma imensa onda de indignação anti-guerrista. Aprendem, em segundo lugar, na medida em que reforçam a consciência
de que situações semelhantes à beligerância forçada devem ser evitadas no futuro a
qualquer preço. Não é por acaso que os grandes nomes do 28 de Maio passaram todos
pelo CEP (Gomes da Costa, Sinel de Cordes, Alves Roçadas – que teria dirigido o 28 de
Maio se não tem falecido antes); não é por acaso que os mais entusiastas defensores
256
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
do 28 de Maio são os “cadetes de Sidónio”, que foram os mais entusiastas combatentes
da revolução de Dezembro de 1917. Tanto num caso como noutro, o que os militares
estão a fazer é a aplicar as lições aprendidas na guerra sobre a ligação entre a política
e a esfera militar. Os guerristas confirmam a velha máxima de que quem semeia ventos
colhe tempestades, ou, caso se prefira, quem é aprendiz de feiticeiro não se deve
abalançar a fazer grandes passes de magia.
Tacticamente os guerristas conseguiram coisas extraordinárias, como seja a de
colocar por várias vezes a Grã-Bretanha a mentir, a dizer em documentos oficiais coisas
que eram exactamente o contrário do que ela pensava. É preciso alguma arte para um
pequeno poder fazer isso a um grande poder e não podemos deixar de tirar o chapéu
com admiração a políticos como Afonso Costa, João Chagas e Norton de Matos pela
sua habilidade táctica. Com isso conseguiram durante algum tempo enganar a opinião
pública, acalmar o movimento anti-guerrista que se convenceu que realmente a Grã-Bretanha queria a beligerância portuguesa e queria o CEP em França – pois se era
Londres que o afirmava em documentos oficiais!
Acontece, porém, que, como diz o Presidente Lincoln, não se consegue enganar
toda a gente todo o tempo. No médio prazo os guerristas estavam a cavar a sua cova, a
desencadear uma imensa onda de fundo de indignação. Pior ainda que isso. Os guerristas
estavam com o seu sucesso aparente a colocar em causa, não só a posição portuguesa na
guerra, mas também o futuro da democracia em Portugal. Ela iria desaparecer durante
meio século por causa principalmente dos colossais erros estratégicos dos guerristas.
A DECIMA SEGUNDA ILUSÃO – OS ANTI-GUERRISTAS SÃO RADICAIS DE
ESQUERDA
Na Europa de 1914-1918 quando falamos em movimento anti-guerra imediatamente surge a imagem de um radical de esquerda. Esta imagem é verdadeira em grande
parte da Europa, onde é a esquerda radical que assume publicamente o movimento contra
a guerra, sejam os anarquistas de 1914, os bolchevistas russos ou os sociais-democratas
radicais alemães ou húngaros de 1918.
Há, no entanto, uma outra corrente anti-guerra na Europa, mais discreta, mas
muito mais importante. Dou só um exemplo. O governo britânico de Agosto de 1914, tinha
um importante componente contrário à beligerância britânica (que se demitiu quando
da declaração de guerra) e vários elementos hesitantes, o principal dos quais era Loyd-George, o 1º Ministro britânico no final do conflito. Nesta corrente encontramos de tudo
um pouco, desde os liberais pacifistas, que achavam que nada de bom poderia vir da
guerra, até aos que eram contrários à beligerância por um raciocínio frio e calculista ou
aos que pura e simplesmente achavam (com alguma razão) que a guerra seria o fim da
“civilização europeia” e devia ser evitada a todo o custo.
No caso de Portugal, quando a historiografia nacional fala de “movimento antiguerra” pensa quase só nos radicais de esquerda. Ainda há pouco tempo uma obra colectiva,
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
257
que pretende ser uma síntese geral da beligerância portuguesa e até global, dedica
somente um capítulo curto ao movimento anti-guerra, entendendo por tal exclusivamente
a oposição da extrema-esquerda proveniente, no essencial, do sindicalismo de inspiração
anarquista. Efectivamente fazia-se sentir em Portugal uma corrente anti- -guerra de
inspiração anarco-sindicalista desde o primeiro momento, mas ela era muito fraca e pouca
influência teve no movimento mais geral.
O que acontece neste campo é (mais uma vez) um resultado da propaganda do
Governo – a mentira oficial, em resumo. Os governos guerristas, sempre que estalava
um qualquer movimento anti-guerristas tendiam a lançar de imediato duas acusações
sobre ele: era germanófilo e/ou era anarquista. Era uma forma pouco imaginosa de dar a
entender que só um pequeno sector, que não se identificava com nenhuma força “séria”
do campo moderado, estava contra a guerra.
Quando, por exemplo, uma unidade de infantaria da Covilhã se insubordina em
1916 e se recusa a seguir para Tancos, onde devia participar nos exercícios da Divisão de
Instrução, o governo entrega a repressão ao general Fernando Tamagnini. Este, no seu
relatório oficial, atribui o movimento à influência de um punhado de “sindicalistas dos
lanifícios da Covilhã” que agitaram os soldados e os levaram a recusar-se a embarcar nos
comboios. Quem ler com algum cuidado o relatório, no entanto, verifica facilmente que
o problema central não era esse, mas sim o espírito do corpo dos oficiais da unidade.
O próprio relatório revela que os oficiais fomentavam a insubordinação, embora sem
se envolver directamente. Era mais um tijolo da mentira oficial: os movimentos que
estalavam deviam-se à agitação da extrema-esquerda, quando, na realidade, só podiam
ser explicados pelo clima geral vigente e pela forte relutância do corpo de oficiais em
apoiar a beligerância que consideravam um desastre nacional.
Em Portugal existia efectivamente um forte movimento anti-guerrista, que tomou
o poder por duas vezes e não hesito em dizer que exprimia o sentimento geral da Nação,
mas ele pouco tinha a ver com a extrema-esquerda. O anti-guerrismo português era
essencialmente conservador e tradicional, era anti-radical (ou anti-demagogia, como
preferia dizer). Os seus principais componentes em termos políticos eram o movimento
monárquico como um todo (esmagadoramente favorável aos Aliados, mas com um
pequeno sector germanófilo), o movimento católico, os republicanos moderados (o
Partido Unionista, os amigos de Machado Santos e grande parte dos Evolucionistas) e
parte do Partido Socialista. Em termos políticos os guerristas estavam reduzidos ao grosso
do Partido Democrático e a uma pequena parte dos Partidos Socialista e Evolucionista,
uma reduzida fatia da realidade política portuguesa de então. O centro do movimento
anti-guerristas era o corpo de oficiais do Exército.
Em termos de mentalidade e sociais, o anti-guerrismo português exprimia no
essencial o sentimento muito difundido que a guerra era estranha a Portugal, que o País
não estava preparado para um conflito daquela intensidade e que o melhor que tinha
a fazer era manter-se longe ou tão longe quanto possível. Era um sentimento muito
generalizado, principalmente no mundo rural e católico – a esmagadora maioria da
258
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
sociedade portuguesa de 1914-1918. O movimento anarco-sindicalista contra a guerra era
um minúsculo afluente do grande rio do anti-guerrismo. O problema dos anti-guerristas era o de encontrar um programa e uma liderança
que representasse um leque tão variado, com sensibilidades e mentalidades muito
diversas. Eles eram a esmagadora maioria, mas estavam divididos e sem liderança. Os
guerristas, pelo contrário, eram minoritários, mas estavam unidos e coesos à volta da
direcção do Partido Democrático e tinham por detrás o domínio da máquina eleitoral,
da rede de caciques e dos grupos de civis armados, bem como alguns dos mais hábeis
políticos, sem visão estratégica, mas excelentes manobradores com apurado sentido
táctico – o normal.
O que vai acontecer é que o programa anti-guerrista se modifica com o passar
dos anos, procurando sempre uma base de unidade tão ampla quanto possível e uma
chefia carismática. Com a beligerância, em Março de 1916, o dilema anti-guerrista é mais
complicado. Agora Portugal está na guerra, goste-se ou não e uma parte dos anti-guerristas
(o Partido Evolucionista) aceita mesmo durante um curto ano a ideia de um governo de
coligação com os guerristas.
Durante este ano (entre Março de 1916 e a primavera de 1917) a grande arte
do Partido Democrático foi a conduzir de forma estanque a política de guerra, por um
entendimento directo entre três ministros (Afonso Costa, Norton de Matos e Augusto
Soares), que passava por cima da cabeça do 1º Ministro, cuidadosamente mantido fora
do “segredo” da guerra. O principal segredo era que a Grã-Bretanha não queria forças
portuguesas em França. Apesar de a mentira oficial ter feito acreditar o País que era a GB
que pedia a formação do CEP, esta foi um verdadeiro “milagre”; o “milagre de Tancos”,
como Norton de Matos o classificou orgulhosamente. Imagine-se o que teria acontecido
se o povo português conhecesse a real opinião da Grã-Bretanha!
O desfazer da coligação deixa os guerristas isolados no poder a partir de Abril
de 1917. Em 7 meses o seu desgaste é imenso. É o período pior para Portugal, em que
os efeitos da guerra se fazem sentir em pleno. O sentimento geral é que uma imensa
desgraça se abateu sobre as terras de Santa Maria, arrasadas pela fome, pela carestia e
pela doença. É igualmente o período em que renasce a esperança, nomeadamente pela
mensagem do milagre de Fátima (desta vez sem aspas) em Maio de 1917 (quando o Partido
dito Democrático assume o poder sozinho) – uma mensagem que fala na regeneração,
na salvação pelo regresso aos valores tradicionais e à Santa Religião, na chegada de um
Messias.
O anti-guerrismo cresce de forma imparável a partir de então, tendo por detrás
uma imensa coligação, com um programa difuso diferente do passado, pois agora Portugal
está na guerra e tem tropas em França – justamente o que os anti-guerristas tentaram
evitar.
O resultado foi a revolução de Sidónio Pais em Dezembro de 1917, que entrega
o poder aos anti-guerristas até ao final da guerra. A sua base de apoio inicial é muito
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
259
ampla, abarcando quase tudo, desde o anarco-sindicalismo da UON até aos integralistas.
A grande novidade é que se começa a afirmar, por cima das correntes tradicionais, uma
outra, que podemos apelidar de Sidonista: a necessidade de manter uma unidade ampla
numa base diferente do passado, de reformar politicamente o Estado, de dar lugar às
massas de forma diferente do radicalismo republicano, de aumentar o intervencionismo
estatal na defesa dos desprotegidos, de repor a relação normal com a Igreja...
Em relação à guerra a política Sidonista é particularmente difícil, pois a herança é
a pior possível. Portugal não só está na guerra, como mantém um numeroso contingente
em França e este perdeu a ligação com Portugal, porque a Grã-Bretanha retirou os navios
desde Setembro de 1917 (três meses antes da revolução sidonista). Nestas circunstâncias,
os anti-guerristas sabem que não podem voltar atrás, não podem repor a neutralidade ou
fazer as tropas regressar de França, como gostariam. Em termos oficiais o seu programa é
o de respeitar os compromissos assumidos e pedir à Grã-Bretanha que respeite os seus,
nomeadamente repondo ao serviço os navios que retirou ao CEP.
Em termos reais, a posição é mais complexa e reflecte os grandes dilemas do
Sidonismo. O Governo de Lisboa pede navios para enviar reforços e está disposto a
preparar as unidades a mandar para França, mas, ao mesmo tempo, não lhe desagrada
a recusa britânica em dar os navios necessários. Também não lhe desagrada a insistência
britânica de retirar as tropas portuguesas da frente, simplesmente não o quer fazer sem
esgotar todas as aparências que não o deseja, sem reclamar oficialmente até ao fim, de
modo a não abrir o flanco às críticas dos guerristas, que iriam afirmar que se estava a
desfazer um “esforço patriótico”. Alguns militares, como Fernando Tamagnini, favorecem
este processo ao levantarem todo o tipo de obstáculos para não perder o seu comando. O
resultado é que o tempo passa e que a retirada do CEP da frente de combate, pedida pela
Grã-Bretanha em Janeiro de 1918, acaba por só ser aceite em Março.
Os anti-guerristas, em resumo, não eram “radicais de esquerda”. Eram a
esmagadora maioria do povo português, fundamentalmente conservadora e tradicionalista, contrária à beligerância, contrária aos radicalismos republicanos, preocupada
em impedir o desastre nacional. Os anti-guerristas eram os aliados da Grã--Bretanha.
A DECIMA TERCEIRA ILUSÃO – PORTUGAL SEGUE UMA POLÍTICA DE GUERRA
COERENTE
Existe difundida a ideia de que Portugal seguiu do princípio ao fim uma política
de guerra coerente. Nada pode haver de mais errado. A política de Portugal perante a
guerra sofre cinco grandes mudanças em quatro anos. É um verdadeiro cata-vento da
confusão nacional.
Durante a guerra, temos os guerristas no poder um terço do tempo, os anti-guerristas outro terço e gabinetes de coligação no restante terço. O quadro seguinte
resume esta realidade. É de notar que alguns do governos classificados de guerristas,
como o primeiro dirigido por Bernardino Machado, tinham igualmente um componente
260
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
de anti-guerristas, como era o caso do Ministro dos Negócios Estrangeiros Freire de
Andrade.
GOVERNOS GUERRISTAS
7º
Bernardino
Machado
Ago-1914 a 12/12/14
72 dias
8º
Vítor Azevedo
Coutinho
12/12/14 a 25/1/15
44 dias
Derrubado por Golpe do PR
apoiado pelo Exército
10º
João Chagas
15/5/1915 a 29/5/1915
14 dias
Derrubado por atentado
contra o 1º Ministro.
12º
Afonso Costa
9/11/1915 a 15/3/1916
106 dias
Demite-se depois da
beligerância.
14º
Afonso Costa
25/4/1917 a 10/12/1917
225 dias
Derrubado pela revolução de
Dezembro de 1917.
GOVERNOS ANTI-GUERRISTAS
9º
Pimenta de
Castro
25/1/1915 a 15/5/1915
109 dias
Derrubado por revolução
15º
Sidónio Pais
11/12/1917 a 15/5/1918
152 dias
Demite-se pela aprovação de
Lei Constitucional
16º
Sidónio Pais
15/5/1918 a 23/12/1918
218 dias
Derrubado por assassinato do
Presidente
17º
Canto e Castro
23/12/1918 a 7/1/1919
38 dias
Derrubado por golpe e
tentativa de restauração da
Monarquia
GOVERNOS INTERMÉDIOS OU DE COLIGAÇÃO
11º
José de Castro
19/6/1915 a 22/7/1915
33 dias
13º
António José de
Almeida
15/3/1916 a 25/4/1917
398 dias
398 dias da chamada “União
Sagrada”
A DECIMA QUARTA ILUSÃO: A CULPA É DOS MILITARES
Em 1919 os guerristas retomam o poder e refazem a “nova República velha”. A
sua grande preocupação é a de deturpar o que se passou durante o conflito. A versão que
procuram vender à opinião pública é muito simples: a beligerância foi um grande esforço
nacional, um projecto patriótico que falhou devido aos traidores, aos germanófilos, aos
monárquicos, aos anarquistas e a outros inimigos da República. Segundo esta versão, o
principal culpado foi o corpo de oficiais das Forças Armadas, que falhou na sua missão,
não tendo obtido bons resultados militares em qualquer das frentes.
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
261
Para que esta cortina de fumo possa ser eficaz é preciso que ela seja acompanhada
de duas ideias que se procuram passar para a historiografia semi-oficial: o político e
o militar estão separados e são coisas independentes; o que se passou internamente
nada tem a ver com a acção militar na frente externa. Se estas premissas teóricas
forem aceites, então a beligerância portuguesa reduz-se ao que se passa em termos
estritamente militares nas frentes externas, sem qualquer menção ao nível político ou
aos acontecimentos internos. Se esta aberração teórica for engolida, fica um culpado
para o que de mau aconteceu: os militares, em particular o corpo de oficiais. A culpa
automaticamente sai do capote dos políticos guerristas, pois eles têm todo o cuidado
de avançar com uma explicação que coloca tudo que seja político fora da equação. Mais
uma vez: como habilidade política, não está mal; como teoria interpretativa da realidade
é uma monstruosidade.
É claro que nenhum historiador – pelo menos nenhum que eu conheça – aceita
uma separação completa e procura explicar o que se passa externamente sem qualquer
alusão aos acontecimentos internos. Mas a verdade é que a maior parte cai na armadilha
da versão oficial, procurando entender o que se passa na França ou em Moçambique,
sem uma íntima ligação com o político e com a frente interna – muitos negam mesmo
a existência de uma “frente interna”. A História de Portugal na guerra, em resumo,
seriam só as operações contra os alemães e, mesmo estas, entendidas só em termos de
manobra militar.
Por incrível que possa parecer foram no essencial os historiadores militares que
abriram o caminho a esta imensa deturpação, a esta cortina de fumo que ainda hoje,
passados cem anos, tolda a nossa compreensão do que realmente aconteceu. E, o que
é ainda mais incrível, fizeram-no na melhor das intenções, convencidos que estavam a
prestar um bom serviço, que estavam a contribuir para a separação entre a esfera política
e a militar, que estavam a defender o “bom nome da Forças Armadas”. É um caso típico
de confusão entre níveis: é correcto defender, tal como está na Constituição da República,
que o militar no activo não deve ter uma actividade partidária; é um erro colossal pensar
que se pode fazer História Militar sem entrar em conta com o nível político ou outros.
O processo começava normalmente nas próprias chefias militares que, ao
nomearem uma qualquer comissão para redigir um trabalho histórico, tinham todo
o cuidado de excluir dela os civis e os “especialistas que só complicam”, contribuindo
assim para a divulgação de uma aproximação teórica e conceptual primária, deturpadora
e ilusória. Estas “comissões” do passado entendiam a sua missão no essencial como
sendo a de “exaltação do esforço patriótico”, a de “memória do esforço heróico”, a
de “homenagem ao sacrifício” – é normal pois são estes os “carris que lhes dão” e os
comboios têm de seguir pelos carris. Estas comissões do passado nunca entendiam
a sua missão como sendo simplesmente a de explicar o que aconteceu, ou facilitar a
elaboração de uma explicação, sem defender a versão oficial, numa aproximação
holística e diversificada, numa teorização complexa, que corresponda à complexidade
da situação real. Felizmente a actual Comissão da Evocação não segue esse caminho.
262
Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”
Em larga medida a versão deturpada da História de Portugal na Guerra tem a
sua origem na obra coordenada pelo general Ferreira Martins. É uma obra que tem
a ambição de ser uma síntese explicativa, uma visão de fundo. Ferreira Martins e os
militares que com ele colaboram fazem de forma absoluta e sem reservas o corte radical
e, para eles, só o combate contra os alemães faz parte da História de Portugal na Guerra,
sendo a verdade oficial sobre esta sempre aceite sem qualquer limitação. A “história”,
em resumo, devia limitar-se a justificar a verdade oficial. Tudo o resto é um mero
enquadramento, uma referência vaga que se cobre com meia dúzia de generalidades. O
essencial é mandado fora e, obviamente, o acessório não se consegue entender.
A maioria destes historiadores principalmente militares do passado não entende
que reduzir uma História Militar aos aspectos técnicos é tirar-lhe a sua alma, tudo o que
lhe dá sentido. Por paradoxal que seja, estes autores estão efectivamente a politizar a
história militar, mas no triste sentido de a reduzir a uma justificação da verdade oficial
– isto, logo por azar, numa altura em que a verdade oficial é uma mentira. Ao quererem
fazer uma História Militar fora da política, o que obtém é ideologia da mais pura, com a
agravante que é inconsciente.
Este erro colossal leva a um problema de fundo: é que as operações militares
assim entendidas, ou antes, o formalismo da manobra militar, conduzem a uma conclusão
quase inevitável: as coisas correram mal aos militares. Ao fim ao cabo é a tese dos
guerristas, de que a culpa é dos militares, mas agora com o beneplácito dos pretensos
“historiadores”, que não passam de ideólogos inconscientes. Ferreira Martins marca o
tom para a futura historiografia e a cortina de fumo então lançada ainda hoje perdura –
a exaltação do pormenor favorável, o culto do acto heróico, tudo que sirva para ocultar a
incapacidade de entender a complexidade do real, de entender a diferença de Portugal.
E AGORA?
Está por saber se hoje, passados cem anos, já se pode fazer uma História da
beligerância Portuguesa, uma História que explique o que se passou, que veja para além
da cortina de fumo, que compreenda por detrás da mentira oficial e das deturpações da
história oficial – a tal que não deve existir numa democracia, mas...
A resposta não é certa nem linear, até porque se a cortina de fumo da política de
mentiras e ilusões perdura é por alguma razão. Ao fim ao cabo os erros do passado têm
longas sombras e os seus mentores continuam com as mesmas motivações. A coisa mais
difícil de ultrapassar são as “verdades evidentes” – pois não é claro e visível que é o Sol
que se move à volta da Terra? O mais normal é que quem procura repor a verdade e a
complexidade da realidade acabe silenciado e esmagado. Ou será que, cem anos depois,
algo se moveu neste “perfil baço de terra”?
Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa
263
Bibliografia
Afonso, Aniceto e Matos, Gomes (coordenadores) – Portugal e a Grande Guerra, Quidnovi,
Lisboa, 2010.
Costa, Gomes da – A Batalha do Lys, Porto, 1920.
Costa, Gomes da – A Guerra nas Colónias, Lisboa, 1925.
Martins, Ferreira – Portugal na Grande Guerra, 2 vols., Lisboa, 1934 e 1936.
Tamagnini, Fernando – Os Meus Três Comandos (organização de Isabel Pestana Marques),
Fundação Seixas, Viseu, 2004.
Teixeira, Nuno Severiano – O Poder e a Guerra, Lisboa, Editorial Estampa, 1996.
Telo, António José – Primeira República, 2 vols., Lisboa, Editorial Presença, 2009 e 2011.
Telo, António José – Os Açores e o Controlo do Atlântico, Porto, Asa, 1993.