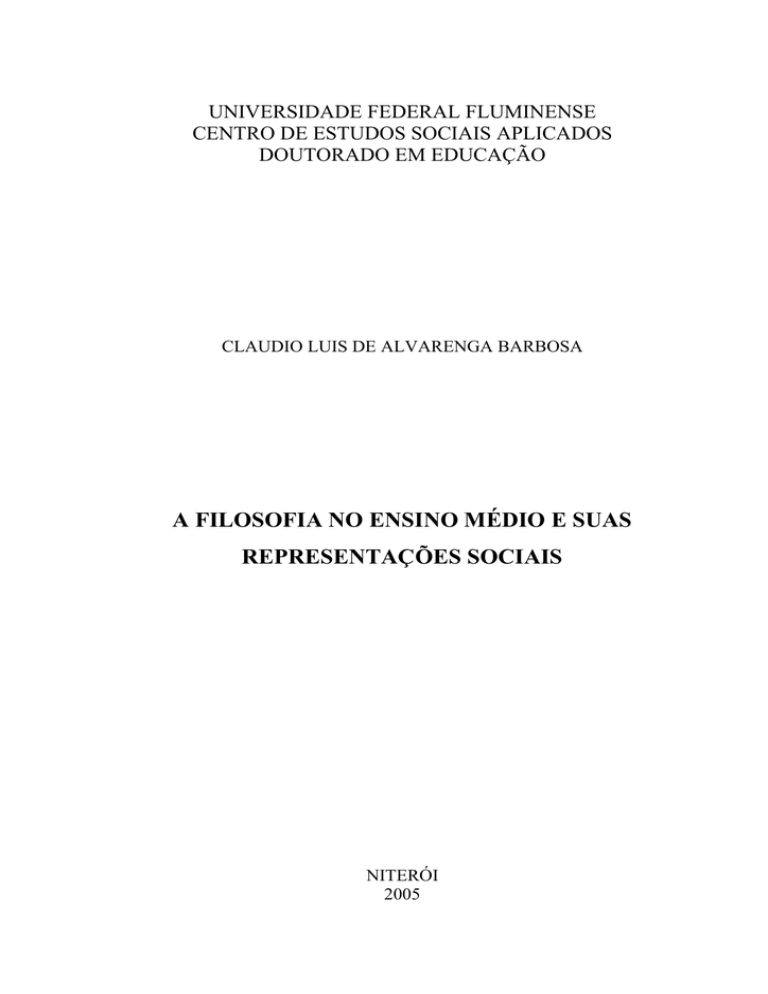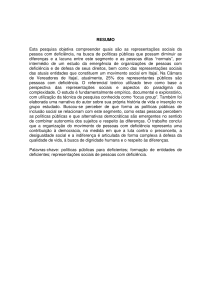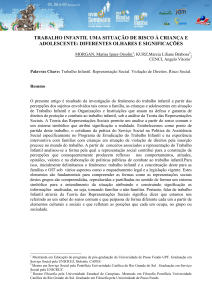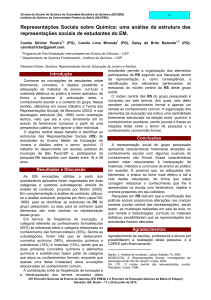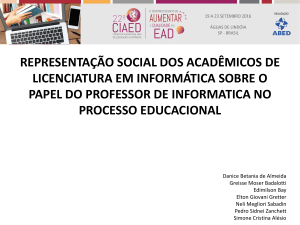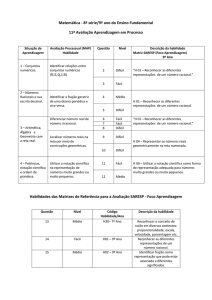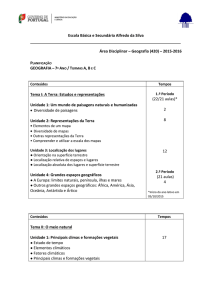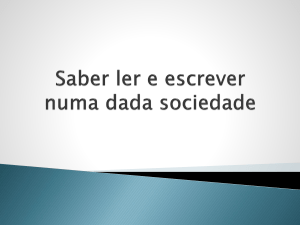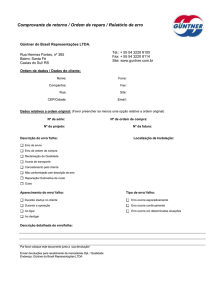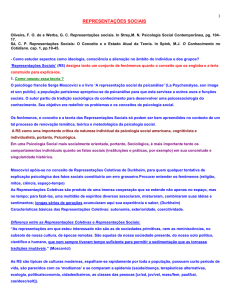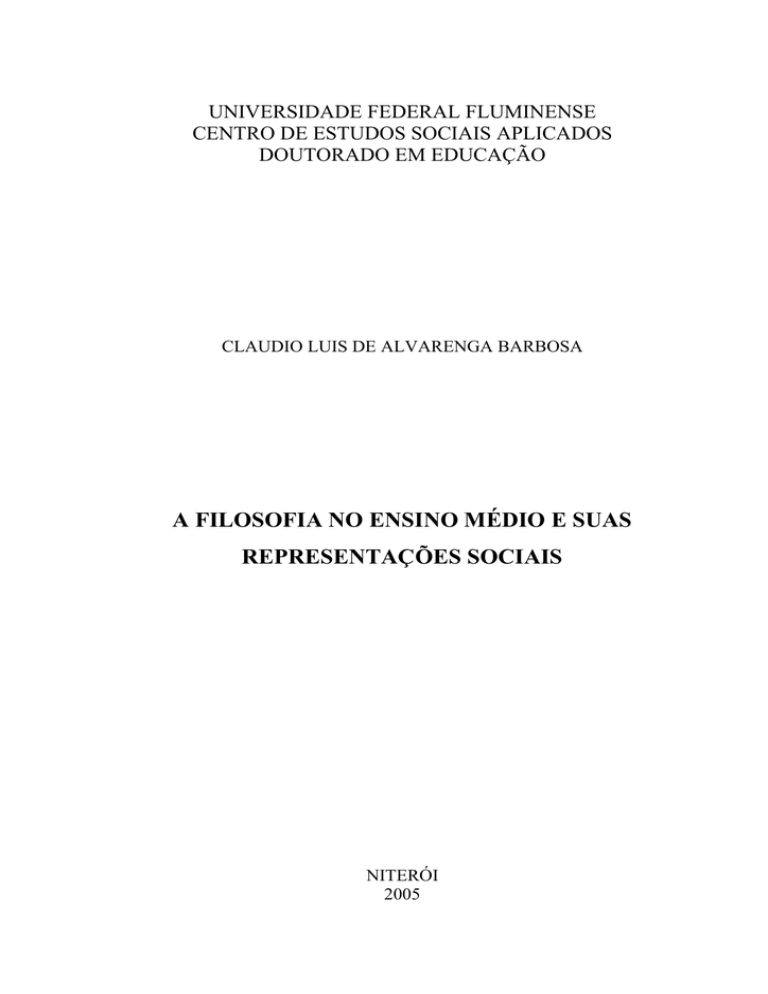
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
CLAUDIO LUIS DE ALVARENGA BARBOSA
A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E SUAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
NITERÓI
2005
CLAUDIO LUIS DE ALVARENGA BARBOSA
A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E SUAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS
Tese apresentada ao Curso de PósGraduação em Educação da
Universidade Federal Fluminense,
como
requisito
parcial
para
obtenção do Grau de Doutor. Área
de concentração: Cotidiano Escolar.
Orientadora: Profª Drª MARY RANGEL
Niterói
2005
B239 Barbosa, Claudio Luis de Alvarenga.
A filosofia no ensino médio e suas representações sociais /
Claudio Luis de Alvarenga Barbosa. – 2005.
181 f.
Orientador: Mary Rangel.
Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, 2005.
Bibliografia: f. 166-178.
1. Filosofia (Ensino médio). 2. Representação (Filosofia). 3.
Educação - Filosofia. I. Rangel, Mary. II. Universidade Federal
Fluminense. III. Título.
CDD 107
CLAUDIO LUIS DE ALVARENGA BARBOSA
A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E SUAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS
Tese apresentada ao Curso de PósGraduação em Educação da
Universidade Federal Fluminense,
como
requisito
parcial
para
obtenção do Grau de Doutor. Área
de concentração: Cotidiano Escolar.
Aprovada em ___ /___ / ______
BANCA EXAMINADORA
_____________________________________________________
Profª Drª Mary Rangel – Orientadora
Universidade Federal Fluminense
_____________________________________________________
Profº Drº Andre Bessadas Penna-Firme
Universidade Federal do Rio de Janeiro
_____________________________________________________
Profº Drº Antonio Mauro Muanis de Castro
Universidade Gama Filho
_____________________________________________________
Profª Drª Ilma Passos Alencastro Veiga
Universidade de Brasília
_____________________________________________________
Profº Drº Reuber Gerbassi Scofano
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Niterói
2005
AGRADECIMENTOS
À professora Mary Rangel – minha orientadora –, que com tanta
dedicação, acreditou em meu potencial muito mais do que eu
próprio acreditava, levando-me a superar minhas próprias
limitações;
Aos professores André Penna-Firme, Reuber Scofano, Ilma Veiga,
Sebastião Votre e Sheila Neiva pelas importantes contribuições que
deram a esta pesquisa;
À minha companheira Deleide e aos meus pais Antonio e Lenira,
antes de qualquer coisa pelo amor que têm por mim, e pela
compreensão que tiveram ao perceberem o tempo que deixei de
dedicar a eles durante a execução deste trabalho;
Aos meus irmãos André e Fernando, amigos de todas as horas, pelo
constante estímulo ao meu crescimento como ser humano;
Aos amigos da ETESC (FAETEC), Antonio Mauro Muanis de
Castro, Telma Maria Rego, Flavia Machado, Regina V. Moreira,
Jufar Esteves, Carlos Evandro Viana e Marcelo Costa, com os quais
tive oportunidade de debater importantes questões relativas ao
cotidiano escolar;
Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFF, por tudo que fizeram, direta ou indiretamente,
para que este curso fosse concluído com sucesso.
“Até então não é possível aprender qualquer filosofia; pois
onde esta se encontra, quem a possui e segundo quais
características se pode reconhecê-la? Só é possível aprender a
filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a
seguir os seus princípios universais em certas tentativas
filosóficas já existentes” (KANT, 1980, p. 407).
SUMÁRIO
AGRADECIMENTOS
2
EPÍGRAFE
3
RESUMO EM VERNÁCULO
6
ABSTRACT
7
1 INTRODUÇÃO
8
2 PERSPECTIVA HISTÓRICA DO ENSINO DE FILOSOFIA
22
2.1 ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL: DOS JESUÍTAS AOS MILITARES
22
2.2 A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988
33
3 ELEMENTOS PARA UMA DISCUSSÃO SOBRE A FILOSOFIA E SEU
ENSINO
42
3.1 UM OLHAR SOBRE A FILOSOFIA E A QUESTÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR
44
3.2 DIDÁTICA DA FILOSOFIA: UMA TENTATIVA DE DEFINIÇÃO
60
4 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL COMO PERSPECTIVA DE ESTUDO
83
4.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA PESQUISA
EDUCACIONAL
4.2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS)
5 METODOLOGIA DA PESQUISA EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
5.1 PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS
83
95
109
110
5.2 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS
6 AS DIMENSÕES NA REPRESENTAÇÃO DA FILOSOFIA
119
126
6.1 O DISCURSO DOS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS
127
6.2 O DISCURSO DOS ALUNOS
135
6.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA FILOSOFIA
140
7 UM SENTIDO PARA A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO A PARTIR
DE SUAS REPRESENTAÇÕES: CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
149
BIBLIOGRAFIA
166
ANEXO 1 (COLETA DE DADOS – ALUNO)
179
ANEXO 2 (COLETA DE DADOS – PROFESSOR)
180
ANEXO 3 (COLETA DE DADOS – COORDENADOR PEDAGÓGICO)
181
RESUMO
Partindo
de
algumas
constatações
empíricas
iniciais,
tivemos
oportunidade de perceber que o professor que leciona filosofia no ensino médio
tem dificuldade para conseguir despertar em seus alunos o interesse pelo estudo
desta disciplina. Apesar de geralmente ocorrer em apenas uma série deste nível
de ensino, a filosofia consegue, nesse curto espaço de tempo, gerar um certo
desconforto entre o corpo discente que freqüenta as aulas. A partir desta
constatação, intuímos que o que parece estar em jogo é a elaboração de
representações sociais da filosofia no ensino médio. Dessa forma, ao nos
propormos estudar a filosofia no ensino médio utilizando aportes da Teoria de
Representação Social (MOSCOVICI, 2003, 2001, 1978), pretendemos
identificar conceitos e imagens formadas por alunos, professores do ensino
médio e os coordenadores pedagógicos enquanto sujeitos que podem nos
oferecer suas percepções. Ao procurarmos obter, através dos sujeitos do
processo, representações sociais, nosso interesse é pensar sobre o ensino de
filosofia e seus sentidos educacionais, discutindo qual o tipo de filosofia que se
pretende trabalhar no ensino médio e para quê fazê-lo. Com os resultados da
pesquisa, acreditamos trazer contribuições a professores que se ocupam da
filosofia no ensino médio, no interesse de que se consiga compreender a
importância dessa disciplina como fator essencial à formação do aluno. Assim,
podemos também, demonstrar a importância da presença da filosofia no
currículo escolar
ABSTRACT
Leaving of some verifications empiric initials, we had opportunity to
notice that the teacher that teaches philosophy in the medium teaching has
difficulty to get to wake up in their students the interest for the study of that
discipline. In spite of usually to happen in just a series of that teaching level, the
philosophy gets, in that I tan space of time, to generate a certain discomfort
among the student body that frequents those classes. Starting from that
verification, we sensed that the one that seems be in question it is the elaboration
of social representations of the philosophy in the medium teaching. In that way,
to inquire into the philosophy in the medium teaching using contributions of the
Theory of Social Representation (MOSCOVICI, 2003, 2001, 1978), we intended
to identify concepts and images formed by students and teachers of the medium
teaching, and their pedagogic coordinators, while subjects that can offer their
perceptions. To the we try to obtain, through the subject of the process, those
social representations, our interest is to think about philosophy teaching and
their education senses, discussing which kind of the philosophy that we intend to
teach in the medium teaching and for something to do it. With those data, we
believed to bring contributions for teachers that are in charge of of the
philosophy in the medium teaching, in the interest that discipline get to
understand the importance of that discipline as essential factor to the student's
formation. By the way, we can, also, to demonstrate the importance of the
presence of that discipline in the school curriculum.
1 INTRODUÇÃO
Do ponto de vista oficial, conforme determinado na Lei nº 9394 de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB/96), o “domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessários
ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1996, art. 36, § 1º, III) deverá ser uma das
aquisições demonstradas pelo aluno ao final do ensino médio. Seguindo essa
determinação, na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a
área de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Ensino Médio, foram
desenvolvidos “textos específicos de História, Geografia, Sociologia e Filosofia,
habitualmente formalizados em disciplinas escolares” (BRASIL, 1999, p.10).
Nesse contexto, percebemos que houve por parte do legislador, uma
preocupação em se reservar um lugar para os “conhecimentos de filosofia” no
mesmo nível de valorização dos conhecimentos de história, geografia ou
sociologia.
No entanto, o fato de a filosofia ser destacada pelo discurso oficial por si
só não é garantia de que os professores que ministram a disciplina no ensino
médio consigam justificar a existência dessa área de conhecimento na forma de
uma disciplina do currículo escolar. Até porque, apesar de a LDB/96, de certa
forma, reconhecer a importância da atividade filosófica na formação do
educando, não sustenta que a competência para desenvolver essa atividade seja
exclusividade de uma disciplina chamada filosofia; pelo contrário, encarrega a
todas as disciplinas do currículo a responsabilidade de fazer com que o
educando, ao final do ensino médio, demonstre conhecimentos de filosofia.
Em decorrência desse fato, presenciamos um certo descaso em relação à
estruturação da filosofia e seu ensino no nível médio. O descaso fica evidente
quando, por exemplo, constatamos que existe um número considerável de
escolas particulares que não incluem essa disciplina na grade curricular. Em
contrapartida, encontramos escolas particulares que oferecem a disciplina
filosofia, mas a mesma é ministrada por professores não habilitados, o que
contraria a indicação legal de que a formação de docentes de filosofia para atuar
na educação básica deva ser feita em nível superior, em curso de licenciatura
plena em filosofia (BRASIL, 2002, 1996).
Toda essa situação pode tornar-se mais grave pela ausência, mesmo nas
escolas que mantêm a disciplina na grade curricular, de um debate permanente
sobre a filosofia e suas reais possibilidades de contribuir para o “aprimoramento
do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL,
1996, art. 35, III), conforme sugerido pela LDB/96.
No
entanto,
mesmo
se
superássemos
os
impasses
apontados
anteriormente, teríamos ainda um outro desafio pela frente: fazer com que o
aluno do ensino médio reconhecesse a importância que a filosofia pode ter em
sua formação escolar. São bem conhecidas, pelo professor de filosofia,
perguntas como:
“para que serve a Filosofia?”, “é mesmo necessária esta disciplina ou ela é
apenas para mostrar que este colégio tem mais disciplinas do que os outros?”,
ou ainda “se filosofia não cai no vestibular, por que temos que estudá-la?”
(BRASIL, 1999, p. 87).
Ao levantarmos essa problemática, estamos cientes de que alguns
professores atuam em escolas cujos alunos aceitam melhor as chamadas
9
“humanidades1”, ou por provir de um meio que valorize essa cultura, ou por ter
projetos futuros voltados para a necessidade de dominar esse padrão de cultura.
Um exemplo desse interesse, apesar de acreditarmos não ser muito comum no
corpo discente do ensino médio, aparece na fala da professora Íris Rodrigues, do
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que até 1994 atuava como
professora de filosofia no ensino médio. Ao referir-se a essa época, Rodrigues
(apud SIQUEIRA, 2003, p. 8) afirma que nunca fez uma prova objetiva para
perguntar algo, e que seus alunos “liam trechos da ‘Crítica da Razão Pura’ [de
Immanuel Kant] no que dizia respeito às instâncias da sensibilidade e da
formação do juízo, e achavam importante2”.
No entanto, o bom senso nos induz a tomar o exemplo dado mais como
um caso isolado do que como um procedimento habitual. Segundo as estatísticas
oficiais do Ministério da Educação (BRASIL, 2004), a maioria dos alunos do
ensino médio está matriculado em escolas públicas (87,1% e 87,5% do total de
matrículas, em todo o Brasil, em 2002 e 2003, respectivamente), freqüentemente
carentes de recursos físicos e humanos. E estes alunos, provavelmente, têm
outros interesses ligados a necessidades mais imediatas e, geralmente, não
querem “perder tempo” com a chamada cultura erudita, mas querem “saberes
práticos”, que os ajude a situar-se no seu mundo real, no mundo do trabalho.
Assim, qual o sentido que adquire, ou pode adquirir, o ensino de filosofia para
esses alunos?
Em vários momentos de nossa prática docente no ensino médio tivemos
oportunidade de observar que perguntas relativas à necessidade da filosofia
comumente surgem logo nos primeiros contatos que os alunos têm com a
1
“Nome genérico que engloba as línguas e culturas clássicas, [...] a filosofia, a história e as belas artes”
(BRASIL, 1999, P. 13).
2
Grifo nosso.
10
disciplina. Assim, a partir de algumas verificações empíricas iniciais — nesse
momento ainda baseadas na experiência comum e não metódica — tivemos a
oportunidade de perceber que o ensino de filosofia, apesar de geralmente ocorrer
em apenas uma série do ensino médio, consegue, nesse curto espaço de tempo,
gerar um certo desconforto entre o corpo discente e, em alguns casos, um
sentimento de repulsa em relação à disciplina.
Não é difícil percebermos, em conversas cotidianas de ambientes sociais
diversos (principalmente dentro da escola), reclamações acerca do ensino de
filosofia oriundas de pessoas que tiveram contato com a disciplina no ensino
médio. Freqüentemente, as reclamações recaem no discurso docente, elaborado
em um nível muito complexo — em termos de vocabulário e encadeamento de
juízos ou pensamentos — incompatível com o patrimônio cultural já adquirido
pelo aluno ao longo de sua escolarização.
Algumas vezes, através de longas exposições sobre a vida de filósofos
ilustres, o professor relata minúcias que só interessariam a um especialista.
Nesse modelo de aula, o aluno é levado a desligar-se de seu mundo real. Nesses
casos, o professor procura transmitir o máximo de informações relativas à
história de filósofos ilustres e seus grandes sistemas de pensamento sem a
preocupação de tornar esses conteúdos compreensíveis e transformá-los em
vivência pessoal para os alunos (MORENTE, 1980).
Essa perspectiva de ensino da filosofia, conhecida como “abordagem
histórica”, ou ainda modelo cronológico eurocentrista (BURGUIÈRE, 1993),
parece ser dominante em nossas escolas. Nessa abordagem, que adota o relato
como principal metodologia de ensino e fundamenta-se prioritariamente em
documentos escritos (de preferência em grego ou alemão), entende-se que a
filosofia “parte” da Grécia antiga e “vai”, na maioria das vezes, até a Alemanha
11
ou França do século XX. É interessante observar que, oriundo dos estados
europeus mais fortemente centralizados, esse modelo estende-se ao mundo
inteiro, mas só trata da filosofia de outros povos quando sua história se cruza
com a da Europa.
Outros professores, na tentativa de “criarem” uma alternativa para a
abordagem histórica e contornarem os problemas que lhe são próprios, acabam
adotando uma “abordagem temática” para seu curso de filosofia no ensino
médio. Contudo, ao selecionarem os temas que serão trabalhados durante as
aulas, prendem-se a questões filosóficas muito específicas, que costumavam ser
discutidas em seu próprio curso de graduação em filosofia. Nessa perspectiva, o
professor supõe que a filosofia seja uma atividade obscura, colocando o saber
filosófico em uma redoma de vidro. Com isso, como já observamos, o professor
acaba fazendo de suas aulas uma extensão do curso de graduação, incorrendo no
problema de um vocabulário muito específico — de difícil compreensão ao
iniciante — inviabilizando ao aluno o acompanhamento das aulas.
Todavia, falta a esse tipo de professor o entendimento de que o rigor é
essencial para a divulgação de suas idéias, mas rigor, não no sentido de
dificultar a compreensão, mas, ao contrário, um rigor filosófico e, ao mesmo
tempo didático, no sentido de tornar uma aula fluente (GHIRALDELLI
JÚNIOR,
2002).
necessariamente,
O
ser
conhecimento
transformado
filosófico
para
se
formalizado
tornar
passível
precisa,
de
ser
ensinado/aprendido, ou seja, a obra e o pensamento do “filósofo” não são
passíveis de comunicação direta aos alunos da educação básica, pois podem
estar tratando de fenômenos que passam despercebidos no cotidiano das
pessoas. Essa consideração implica repensar a idéia, que persiste na escola,
exercendo forte influência no ensino das diversas disciplinas, de ver nos objetos
desse ensino cópias fiéis dos objetos da ciência.
12
Nessas duas abordagens didáticas, o professor que leciona filosofia no
ensino médio encontra dificuldades para conseguir despertar em seus alunos o
interesse pela disciplina. Assim, caberia indagar: onde está o problema? Por que
encontramos alunos que acusam a filosofia de ser uma disciplina inútil3? Onde
está a necessidade da filosofia? Em um mundo dominado pela racionalidade
científica e técnica, não encontramos alunos perguntando, por exemplo, “para
quê matemática ou física?”. Entretanto, estes mesmos alunos consideram natural
perguntar “para quê filosofia?” Diante desses empecilhos ao trabalho do
professor de filosofia e se compreendermos a didática “como reflexão
sistemática e busca de alternativas para os problemas da prática pedagógica”
(CANDAU, 1984, p. 12), deveríamos indagar se existe uma didática para o
ensino de filosofia. E se existe, quais são então, os problemas da prática
pedagógica da filosofia?
Talvez, um bom começo na tentativa de responder à questão anterior seria
lembrarmos que Immanuel Kant (1724-1804), um dos filósofos que mais
profundamente influenciaram a formação da filosofia contemporânea, já
afirmava, no século XVIII, que só se ensina de fato a filosofia quando se ensina
a filosofar. Para este filósofo, “não é possível aprender qualquer filosofia [...].
Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendoa seguir os seus princípios universais” (KANT, 1980, p. 407). Além disso, quem
leciona filosofia a iniciantes deveria observar que é inexeqüível e ineficaz
discutir os vinte e seis séculos de produção filosófica ocidental em apenas um
3
Na verdade a filosofia se compraz em autoproclamar-se conhecimento inútil, tendo em vista que é essa
característica que lhe dá liberdade para questionar qualquer tipo de conhecimento ou prática que fragmente o
homem. Assim, na luta contra a exacerbação da racionalidade científica e técnica “a sabedoria inútil (a filosofia)
recomenda que não se pode ignorar o desenvolvimento técnico, mas a mesma sabedoria deverá ditar as normas
de sua utilização, a fim de que a técnica não seja geradora de monstros irreconhecíveis no mundo humano”
(CASTRO, 1999, p. 35).
13
encontro semanal durante um ano letivo. No século XX, o filósofo alemão Karl
Jaspers (1883-1969), ao acreditar que “tão logo se filosofa, entra-se em contato
com os grandes temas da filosofia” (JASPERS, 1965, p. 11), parece corroborar
com a concepção kantiana.
Mas em que momento, e por qual razão, aqueles que se dedicam ao
magistério de filosofia se desviam da atitude kantiana? Segundo Murcho (2002a,
p.13) “ensinar filosofia é ensinar a pensar criticamente sobre os problemas, as
teorias e os argumentos da filosofia”. Entretanto, por que encontramos
professores que pretendem ensinar apenas tal ou qual sistema filosófico ao
aluno, ao invés de também “ensinar-lhe a filosofar” por si mesmo, para que ele
saiba pensar com mais clareza, traçar distinções, detectar e evitar erros de
raciocínio, avaliar opiniões opostas e, por fim, tomar decisões informadas e
refletidas?
Segundo Rubens Alves (1982, p. 80):
por deformação que lhe é imposta pela vida acadêmica, o filósofo tende a se
tornar um profissional do conceito. Ele trabalha dentro de um esquema rígido
de divisão de trabalho, na qual a única matéria-prima de que dispõe são idéias
[...]. Daí a sua tentação idealista: pensar que a realidade se constrói de cima
para baixo, pensamento primeiro, ação depois.
Seguindo esta linha de raciocínio, apontada por Rubens Alves, a divisão
social do trabalho, entre trabalho intelectual e trabalho manual, e a divisão da
sociedade em “classes” criam as condições para a subordinação das formas da
consciência social aos interesses de uma determinada classe. Dessa forma,
temos nas sociedades modernas de formação econômica capitalista, como é o
caso do Brasil, que
14
a organização social tem por base a presença de classes sociais antagônicas,
com duas classes proeminentes, a burguesia e o proletariado, sem prejuízo da
existência de outros segmentos sociais intermediários com atuação
significativa, mas que não chegam a constituir uma classe no sentido estrito
(SEVERINO, 1986, p. 52).
Procede-se, desse modo, a uma verdadeira inversão das percepções, já
explicadas por Karl Marx, quando afirma não ser a consciência dos homens que
determina o seu ser, mas, ao contrário, sua consciência é determinada pelo seu
ser social. É nesse nível ideológico — que compreende as idéias filosóficas,
sociais, morais, religiosas, políticas em uma formação social historicamente
determinada — que se pode ocasionar uma inversão dos fatos da realidade e um
desvio dos fatos concretos da vida e suas contradições. Para Marx (1986, p. 37),
se “em toda ideologia os homens e suas relações aparecem invertidos como
numa câmara escura, tal fenômeno decorre de seu processo histórico de vida
[...]. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a
consciência”.
O nível ideológico vai estar presente em todas as atividades humanas
como elemento de coesão dos indivíduos em suas relações sociais e produtivas.
Partindo desse princípio, as teorias de inspiração marxista que tomaram a
educação como objeto de suas reflexões mostram a estreita vinculação entre as
condições históricas de produção e intercâmbio dos bens materiais da sociedade
e a educação.
Em consonância com essa perspectiva marxista (embora reconhecendo-se
as fragilidades e as relativizações necessárias), observa-se que a educação não
acontece de forma espontânea no contexto social; ela é regulamentada e deve
acontecer de acordo com um conjunto de regras definidas e impostas pelo
Estado. Ou seja, “o processo educacional desenvolve-se na sociedade
supostamente de acordo com normas jurídicas, dispositivos legais elaborados e
15
impostos pelo poder político-burocrático encarnado pelo Estado” (SEVERINO,
1986, p. 54). Se a própria escola, enquanto instituição, tem sua prática
regulamentada pelo poder oficial, a disciplina filosofia aparece nesse contexto
como um dos elementos componentes da estrutura social e seus condicionantes
ideológicos.
Segundo Severino (ibid., p. 55) “a legislação é um veículo adequado à
transmissão da ideologia, enquanto concepção do mundo, para as instituições e
práticas educacionais. Ela serve de ponte entre as concepções ideológicas
dominantes e o aparelho escolar”. Sendo assim, mesmo sem inferir de forma
definitiva que alguns dos objetivos presentes na legislação educacional podem
estar a serviço da legitimação de ideologias, percebemos sinais dessa intenção
em diretrizes impostas pelo Estado para a organização dos cursos de
licenciatura, de um modo geral, e os de filosofia, especificamente.
Aproveitando vários estudos já realizados na área de formação de
professores (SOUZA; FERREIRA, 2001; ALVES, 1996; MOREIRA, 1994;
PICONEZ, 1991; CARVALHO, 1988), constatamos que os cursos de
licenciatura enfrentam problemas crônicos no equacionamento entre formação
específica (bacharelado) versus módulo pedagógico (licenciatura). Diante desta
constatação, podemos inferir que muitos dos professores de filosofia que atuam
no ensino médio são formados em um número considerável de cursos de
graduação nos quais há um predomínio, no currículo, de disciplinas do
bacharelado. Esses cursos priorizam o aspecto “técnico”, enfatizando o ensino
das disciplinas específicas (filosofia da natureza, metafísica, ética, filosofia da
história, fenomenologia e outras), geralmente relegando a segundo plano, na
formação do professor, o ensino das disciplinas que fazem parte do campo das
16
ciências humanas4 e pedagógicas (psicologia, sociologia da educação, economia,
antropologia, didática e outras).
A organização do curso de graduação em filosofia, de um modo geral,
oferece as opções de formar bacharéis ou licenciados, reforçando uma dicotomia
entre ensino e pesquisa, na qual cabe ao bacharel a realização de pesquisas, e ao
licenciado a incumbência do ensino de filosofia no nível médio (BRASIL,
2002). Segundo Gallo e Kohan (2001, p.181)
em nossas universidades, geralmente se estimula a formação do “alunopesquisador”, considerando-se que as mentes mais “lúcidas” devem estar a
serviço da pesquisa e produção filosóficas. [...] Aos que não podem ser
“pesquisadores filosóficos” se aconselha que sejam professores de filosofia.
Nesse modelo de formação do professor (cristalizado por uma
regulamentação oficial), percebemos um certo descaso por parte de alunos e
professores do curso de filosofia em relação ao módulo de licenciatura. A
dicotomia entre ensino e pesquisa, citada anteriormente, não só pode dificultar
aos egressos do curso perceber a relação existente entre filosofia e educação,
como também pode gerar uma compreensão equivocada do sentido que pode ser
dado à educação, de forma integral e integradora, dentro da sociedade
(LUCKESI, 1994).
Nessa perspectiva, deixando brechas na formação de indivíduos críticos,
autônomos e conscientes de seus atos — objetivos que, acreditamos, deveríamos
buscar atingir — a filosofia no ensino médio também parece não conseguir obter
resultados, na tentativa de aprimorar ou aproveitar as potencialidades
4
. “Embora seja evidente que toda e qualquer ciência é humana, porque resulta da atividade humana de
conhecimento, a expressão ciências humanas refere-se àquelas ciências que têm o próprio ser humano como
objeto” (CHAUÍ, 1995, p. 271).
17
intelectuais de seus alunos, possibilitando-lhes um despertar para os problemas
filosóficos da vida real. Nas palavras de Almeida e Costa (2004, p. 11),
um dos principais objetivos da filosofia, [...] que de resto constitui a melhor
justificação para a sua inclusão no plano curricular dos alunos —, é
precisamente, o de desenvolver o espírito crítico dos jovens, ajudando-os a
pensar por si mesmos e a fazê-lo de forma conseqüente.
Com
essas
últimas
considerações,
não
estamos
defendendo
a
exclusividade da disciplina filosofia como responsável pelo despertar para os
problemas filosóficos, pois sabemos que este despertar pode acontecer durante o
estudo de qualquer disciplina, ou em função da própria experiência de cada um.
Há alguns autores que até mesmo subestimam totalmente o papel da filosofia,
como é o caso de Barros (1997, p. 104), ao afirmar que
historicamente, a existência ou não da filosofia no currículo do curso
secundário não parece ter sido fator preponderante na qualidade deste: parecenos que não decorre da ausência do ensino filosófico o “embotamento do
raciocínio” ou a “ausência de espírito crítico” que se detecta provavelmente na
maioria de nossos colegiais.
Mais maleável que Barros (1997) em sua afirmação, Castanho (1989, p.
24) admite que “ser crítico interessa a qualquer ser humano e não apenas a quem
tem aulas de filosofia”; entretanto, reconhece que “tais aulas constituem um
momento privilegiado que não pode ser desperdiçado”.
Mas, apesar da perplexidade diante do fato de a filosofia — que deveria
“ser uma das disciplinas que contribuem para o desenvolvimento do espírito
crítico dos alunos” (ALMEIDA; COSTA, 2004, p. 11) — aparentar não estar
atendendo plenamente seu provável objetivo, não é esse o único determinante de
nosso engajamento com o tema desta pesquisa. Percebemos que o que está em
18
jogo é a elaboração de conhecimentos relativos à filosofia e seu ensino, em nível
do senso comum.
Nossa apreensão intuitiva desse fenômeno nos levou à construção de um
objeto de pesquisa, com que trabalhamos com a categoria geral, entre outras, de
representação social. Freqüentemente, as pesquisas em representações sociais
têm como um de seus objetivos básicos estudar a produção de conhecimentos
em nível do senso comum, sobre problemas contemporâneos decisivos para as
relações interpessoais e intergrupais, observando sua influência sobre a conduta
social. “Todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre
dois grupos, pressupõem representações. Na realidade é isso que as caracteriza”
(MOSCOVICI, 2003, p. 40). Assim, como explicar determinadas posturas
referentes à filosofia no ensino médio por parte dos sujeitos envolvidos nesse
contexto, sem levar em consideração as relações coletivas que se estabelecem no
interior da escola?
Nessa perspectiva, “pessoas e grupos criam representações no decurso da
comunicação e da cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por
um indivíduo isoladamente” (ibid., p. 41). Por isso, acreditamos que a conduta
social em relação à filosofia na escola possa ser marcada pelos fenômenos de
representação social, que são caracteristicamente construídos nos universos
consensuais do pensamento (SÁ, 1998). Entretanto, os fenômenos de
representação social, por natureza, difusos e multifacetados, ao serem
reconstruídos pela pesquisa científica, podem submeter-se a categorias de
análise, que os simplificam, ao mesmo tempo em que os insere no universo
“reificado” da ciência. Por isso, “há uma simplificação quando passamos do
fenômeno [de representação social] ao objeto de pesquisa” (SÁ, 1998, p. 22).
19
Acreditamos portanto, que “a formação e uso das representações sociais
nos universos consensuais só são proveitosamente estudadas através de sua
construção como objeto de pesquisa no universo reificado da prática científica”
(ibid., p. 17), podemos realizar uma simplificação, quando passamos do
fenômeno ao objeto de pesquisa. Cientes desse possível limite, mas confiantes
na pesquisa de representações, vamos discutir a filosofia no ensino médio
através da representação social dos sujeitos que a realizam: professores e alunos.
Assim, a filosofia no ensino médio poderá tornar-se mais compreensível em seus
elementos de processo. Nesse sentido, não podemos deixar também de levar em
consideração que “a pesquisa das representações sociais deve produzir um outro
tipo de conhecimento sobre esses fenômenos de saber social” (ibid., p. 22),
diferente dos conhecimentos adquiridos em nossa participação involuntária do
universo consensual como indivíduos comuns, participantes desse universo.
Se tomarmos a acepção mais simples de pesquisa e aceitarmos que
pesquisar é responder a perguntas, poderíamos dizer que os fenômenos que
balizaram
nossa
pesquisa
encontram-se
sintetizados
nos
seguintes
questionamentos iniciais relativos ao ensino da disciplina filosofia na escola de
ensino médio:
• Professores e alunos têm dificuldades no ensino-aprendizado de filosofia? Em
caso positivo, quais?
• Existe uma didática para o ensino de filosofia no nível médio?
• Se existe uma didática para o ensino de filosofia, qual é, ou deveria ser o seu
foco?
Diante dessas perguntas, ao nos propormos a estudar a filosofia no ensino
médio utilizando aportes da Teoria de Representação Social, pretendemos
identificar conceitos e imagens formados por coordenadores pedagógicos,
professores e alunos do ensino médio, enquanto sujeitos que podem nos oferecer
20
suas percepções. Nas percepções encontraremos o conteúdo e a estrutura da
representação social.
Ao procurarmos obter, através dos sujeitos do processo, representações
sociais da filosofia no ensino médio, partimos também do princípio de que um
grupo que se reúna no interior de uma escola, ao menos uma vez por semana
durante um ano letivo, deve elaborar representações. Afinal,
sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta.
Além de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo
fisicamente ou intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se
apresentam: é por isso que criamos representações (JODELET, 2001, p. 17).
Em suma, nosso interesse é pensar sobre o ensino de filosofia e seus
sentidos educacionais, discutindo qual o tipo de filosofia que se pretende
trabalhar no ensino médio e para quê fazê-lo. Com esta pesquisa, acreditamos
trazer contribuições a professores que se ocupam da filosofia no ensino médio,
no interesse de que se consiga compreender a importância dessa disciplina como
fator essencial à formação do aluno. Assim, poderemos, também, demonstrar a
importância da presença dessa disciplina no currículo escolar.
21
2 PERSPECTIVA HISTÓRICA DO ENSINO DE FILOSOFIA
Neste capítulo, abordaremos alguns pressupostos que podem intervir nos
objetivos atribuídos ao ensino de filosofia e na elaboração de justificativas para
incluí-la como componente curricular no ensino médio. No que diz respeito ao
tema central deste capítulo é importante deixarmos claro que não podemos
separar a história do ensino da filosofia da história das idéias filosóficas no
Brasil, já que o estudo da primeira pode ser esclarecido ao mesmo tempo em que
ajuda a esclarecer a segunda.
Dividiremos o capítulo em duas partes. Na primeira parte, faremos uma
breve abordagem histórica sobre a filosofia no Brasil e seu ensino, abrangendo o
período compreendido entre a chegada dos jesuítas – em 1549, e os anos que
antecedem o estabelecimento do regime autoritário imposto pelo golpe militar
de 1964 (item 2.1). E encerrando o capítulo, na segunda parte, estudaremos a
situação do ensino de filosofia no período que se estende desde a Ditadura
Militar no Brasil, passando pela abertura política (com o retorno gradativo de
direitos políticos e democráticos) no governo de João Batista Figueiredo e a
promulgação da Constituição de 1988, até os dias de hoje (item 2.2).
2.1 ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL: DOS JESUÍTAS AOS MILITARES
Apesar de os jesuítas não terem sido os únicos a exercerem atividades
educativas no Brasil colonial — já que após 1580 tivemos presente entre nós
educadores beneditinos, franciscanos e carmelitas (BARROS, 1997) — foram
eles que exerceram o principal papel pedagógico, especialmente nos domínios
da filosofia. Durante quase dois séculos de atividades no Brasil, foram os
principais cultores do ensino de filosofia. Herdeiros da tradição escolástica, que
se caracterizava principalmente pela tentativa de conciliar os dogmas da fé cristã
e as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras com as doutrinas filosóficas
clássicas, os jesuítas tinham em São Tomás de Aquino seu modelo filosófico,
fato que se acentua ainda mais a partir de 1639, com uma determinação superior
da Companhia de Jesus, que tornava obrigatório para os jesuítas seguirem a
doutrina tomista5.
À medida que se fixavam em diversas regiões da colônia, foram fundando
colégios, onde se lecionava o latim, a filosofia e a teologia. A organização dos
estudos pautava-se pelo Ratio Studiorum,
conjunto de regras didáticas para os professores da ordem, elaboradas entre
1560 e 1599, que visavam transportar o estudante para um ambiente distinto
daquele em que nascera, imergindo-o, inclusive pelo uso sistemático do latim,
em uma cultura da Antigüidade clássica devidamente depurada, de modo a
moldar o “bom cristão”, preparando-o simultaneamente para a vida em
sociedade e para o sacerdócio (VAINFAS, 2000, p. 327).
Dessa forma, temos no Ratio não apenas um “conjunto de regras
didáticas”, mas as próprias diretrizes e objetivos do ensino de filosofia. Segundo
Campos (1998, p. 32), referindo-se ao Ratio, “o ensino da filosofia é
estabelecido, em todos os seus ramos, compreendendo a física, metafísica e
moral, assim como a matemática”, no entanto, todas essas disciplinas
orientavam-se “ao estudo da teologia, ‘mais condizente ao fim peculiar da
Companhia de Jesus’, assim como da sagrada escritura e do direito canônico”.
5
“Tomismo – sistema filosófico de São Tomás de Aquino e de seus seguidores, sobretudo sua proposta de
conciliar os dogmas do cristianismo com a filosofia de Aristóteles” (JAPIASSU, 1996, p. 261).
23
Inicialmente, quando se fez presente no Brasil colônia, o ensino de
filosofia no Brasil se ministrou num nível que poderíamos chamar de secundário
(semelhante ao ensino médio atual), já que nos colégios jesuítas situava-se o
ensino de três anos de filosofia entre o “ensino de humanidades” (cinco séries) e
o de teologia (quatro séries). No que diz respeito à continuidade dos estudos
cabe lembrar que somente no Império passamos a ter “escolas superiores” e
apenas no século XX conhecemos as universidades.
O currículo humanista (ensino de humanidades) formado essencialmente
pelo estudo da gramática, humanidades e retórica, tinha no latim e no grego as
disciplinas dominantes. O objetivo deste currículo era “levar o aluno a
expressar-se perfeitamente, quer por escrito, quer oralmente” (RIBEIRO, 1977,
p. 226).
O curso de filosofia se desenvolvia em três anos, e seu início se dava após
a conclusão do currículo humanista. O currículo filosófico era composto por
lógica e introdução às ciências no 1º ano; no 2º ano o aluno estudava
cosmologia, psicologia, física e matemática. E no 3º ano estudava-se psicologia,
metafísica e filosofia moral. Dentre as regras consignadas no Ratio, comuns a
todos os professores das Faculdades Superiores e, sobretudo, na parte referente
às regras do professor de filosofia, exigia-se que esse professor tivesse concluído
o curso de teologia, a fim de que a doutrina ensinada fosse mais útil e mais
segura à própria teologia.
Somente após a conclusão do currículo filosófico, ingressava o aluno no
currículo teológico, que representava a coroação dos estudos. Esse currículo
abrangia quatro anos, e durante esse tempo o aluno estudava teologia
escolástica, teologia moral, sagrada escritura e hebreu.
24
No que diz respeito à metodologia de ensino, entendida como os
processos didáticos adotados para a transmissão de conhecimentos e os
estímulos pedagógicos usados para garantir o êxito do esforço educativo,
destacam-se dois aspectos que caracterizam a metodologia jesuíta. Ao organizar
o ensino nos cursos vistos acima — humanidades, filosofia e teologia, o Ratio
determinava que a preleção do professor deveria ser o centro de gravidade do
sistema didático. O segundo aspecto enfatizado era o exercício da memória,
onde a competição era incentivada com o intuito de hierarquização da classe e a
premiação ocupava lugar de destaque. Aliados a esses dois aspectos, o ensino e
a vivência da religião deviam ser o corolário de todo esse processo (RIBEIRO,
1977).
Não podemos seguir adiante sem destacar, ainda em relação ao ensino
jesuítico no Brasil, sobretudo no que se refere ao ensino de filosofia, que esse
ensino, voltado para a lógica formal e para a teologia, se apresentava como um
corpo estranho numa sociedade colonial constituída de senhores e escravos.
Segundo Ribeiro (1977, p. 233),
o ensino de filosofia, limitado à análise e interpretação de textos na sua maioria
de Aristóteles e São Tomás e ao levantamento de questões a partir desses
textos, não poderia senão desenvolver uma consciência ingênua, em nada
contribuindo para formar homens críticos e ligados aos problemas do país.
A ênfase nesse currículo se tornava possível porque não perturbava a
estrutura vigente. E tinha como uma segunda conseqüência, o distanciamento
cada vez maior entre a juventude que se formava nesses colégios e as classes
dirigidas. Os egressos dos colégios jesuítas freqüentemente continuavam seus
estudos na Europa, voltando mais tarde para constituir a elite intelectual da
colônia. Assim, o ensino no Brasil colônia, ministrado pelos jesuítas, assegurava
ao governo português a educação de súditos com “uma formação dentro dos
25
moldes de uma obediência política e fidelidade religiosa, com todas as
conseqüências” (ibid., p. 235).
Com a expulsão dos jesuítas dos domínios de Portugal, decretada em 03
de setembro de 1759 pelo Marquês de Pombal (1699-1782), desfaz-se o
monopólio jesuítico sobre o sistema educacional. Mas mesmo após a expulsão
dos jesuítas, perdurou no Império e na República o ensino da filosofia
aristotélico-tomista, e a educação permaneceu elitista, livresca e desfocada da
realidade brasileira.
A partir de Pombal, o ensino da filosofia em Portugal e, por conseguinte,
no Brasil, ensaiava assumir outros rumos, pautados pelos novos ideais da
ilustração. Conquanto, o Iluminismo português, à semelhança do italiano, era
basicamente “cristão e católico” (BARROS, 1997). Mas apesar de o acanhado
movimento ilustrado lusitano ter uma conotação italiana, antes que inglesa ou
francesa, não podemos deixar de assinalar a crescente influência francesa no
plano das idéias filosóficas, que conseqüentemente se fez sentir também no
ensino da filosofia.
Esse ensino — no que diz respeito à sua propagação no final do século
XVIII e início do XIX — além das aulas régias, ministradas somente no Rio de
Janeiro, Bahia e Pernambuco, encontra lugar em diferentes instituições
confessionais. Segundo Barros (1997, p. 86), “o conteúdo do ensino filosófico,
excetuada a eventual influência mal assimilada do kantismo [...], era
dominantemente empirista, com toques ecléticos”, numa clara tendência a
combinar pensadores diversos.
Ainda no que diz respeito ao ensino filosófico, ao lado desse ecletismo,
que subordinava o empirismo a um certo grau de espiritualismo, florescia no
26
então Reino-Unido (1815-1822) e posteriormente nos anos iniciais do nosso
Império, o sensualismo de Condillac (1715-1780), doutrina segundo a qual a
mente é uma tábula rasa, sendo as nossas sensações a origem de todos os nossos
conhecimentos e faculdades. Assim, a filosofia ensinada nas escolas brasileiras,
em grande parte era a das “sensações”, pois dentro do pensamento condillaciano
“todas as faculdades superiores da mente, incluindo a abstração, nada mais
seriam do que transformações das sensações originárias” (JAPIASSU, 1996, p.
50).
Como em todo país recém independente, os políticos do Primeiro Império
voltaram suas primeiras preocupações pedagógicas para o ensino superior.
Afinal, era necessário organizar o Brasil independente, garantindo-lhe uma
estrutura jurídica e um mínimo de condições para resolução dos problemas da
área de saúde. Como conseqüência dessas preocupações, tivemos a criação das
Faculdades de Direito (Olinda e São Paulo) e das Faculdades de Medicina (Rio
de Janeiro e Bahia). Segundo Aranha (1998a, p. 3), com a criação dos cursos
jurídicos no Brasil, na década de 1820, a filosofia torna-se um preceito no
ensino médio, “como pré-requisito para o ingresso ao curso superior, reforçando
o caráter propedêutico que sempre marcou o secundário”.
No que diz respeito não apenas ao ensino secundário de filosofia, mas
também ao ensino secundário como um todo, a criação do Colégio de Pedro II
(1837) foi um marco fundamental na educação do Império. Apesar de o ensino
secundário do Pedro II ter sido concebido como via de ingresso ao ensino
superior, servindo de modelo para colégios ou para a organização dos
preparatórios e exames parcelados, foi “na Corte, o único estabelecimento desse
gênero supervisionado pelo Ministério do Império, a quem competia zelar pelos
interesses da instrução pública na Corte e nas Províncias” (HAIDAR apud
BARROS, 1997, p. 90).
27
Em sua história de “escola padrão”, o Colégio Pedro II passa por várias
reformas estatutárias. Em seu primeiro regulamento (1838) estabeleceu-se além
de duas séries elementares, mais seis séries, onde a filosofia aparecia nas duas
últimas, com dez aulas semanais em cada uma. Com a reforma de 1841, a
filosofia perde importância, pois apesar do acréscimo de um ano aos seis já
existentes, ela continuou a ser ensinada nas duas últimas séries, mas com apenas
cinco aulas semanais em cada. Essa situação melhora quando, pelo regulamento
de 1855, a filosofia passa a ser ensinada nos três últimos anos, tendo como
conteúdo programático “filosofia racional e moral”, “sistemas comparados” e
“história da filosofia”. Na reforma de 1862, a filosofia reduz-se novamente a
dois anos, passando para um ano com a reforma de 1876.
Em 1883, Sílvio Romero (1851-1914) nos legou uma importante
contribuição com a publicação de um texto no qual critica o programa de
filosofia no ensino secundário, que era o programa do Colégio Pedro II. Nesse
trabalho, que tem por justo título “A filosofia e o ensino secundário”, Silvio
Romero protesta contra a inclusão da ontologia, da teodicéia, da moral e de
outras matérias num curso de filosofia elementar. Em contrapartida, defende que
a filosofia no curso secundário deveria reduzir-se ao que chamava de “lógica
formal e real”, visando dotar o aluno do “conhecimento prático das leis e regras
do raciocínio, a posse dos métodos, e da sua aplicação aos diferentes ramos das
ciências” (ROMERO apud BARROS, 1997, p. 95).
Ao nos aproximarmos do período republicano, constatamos que a história
oficial do ensino secundário público no Império reduziu-se à história do Colégio
Pedro II, e no que diz respeito à filosofia, vemos que a mesma foi marcada pelo
“espiritualismo eclético, que representava, na época, o pensamento oficial
28
hegemônico, suporte ideológico do governo monárquico de Pedro II”
(REZENDE, 1998, p. 234).
Um fato marcante na República foi a inclusão da filosofia na lista de
disciplinas relacionadas para os exames gerais de preparatórios, realizados em
agosto de 1890. Entretanto, em novembro do mesmo ano, um decreto reorganiza
o Ginásio Nacional — nova designação dada pelos primeiros republicanos ao
Colégio Pedro II — excluindo “do enciclopédico currículo, distribuído por sete
anos, o ensino da filosofia” (BARROS, 1997, p. 97). Apesar de a filosofia não
constar nesse currículo, temos a presença de algumas disciplinas que formam o
eixo da filosofia oficial dos republicanos, ou seja, o positivismo de Augusto
Comte (1798-1857).
Após alguns anos de ausência da filosofia no currículo, uma nova
reformulação do regulamento do Ginásio Nacional, realizada em março de 1898,
reintroduz a disciplina sob a forma de história da filosofia, a ser ministrada no 7º
ano do curso clássico. Mas já no ano seguinte, em 1899, durante o governo de
Campos Salles, nos aproximamos muito das idéias defendidas por Silvio
Romero em seu trabalho de 1883, quando pelo Decreto nº 3251 de 08 de abril de
1899, impõe-se outro regulamento ao Ginásio Nacional, reduzindo o curso de
sete para seis anos, ao mesmo tempo em que substituía a história da filosofia
pela lógica.
O que percebemos no decorrer desse longo período — da expulsão dos
jesuítas (1759) ao final do século XIX — é que mesmo quando o ensino se
desvencilhava da influência religiosa, continuava atrelado ao gosto pelo
verbalismo e memorização. O ensino geral e o de filosofia continuavam
“estimulados pelo ideal de enciclopedismo e erudição e pela valorização do
pensamento europeu” (ARANHA, 1998a, p. 3).
29
No início do século XX, o “golpe de misericórdia” na filosofia foi dado
por Rivadavia Correia, com a reforma de 1911. Além de ter como ideal a
“desoficialização do ensino”, Rivadavia fez com que a filosofia desaparecesse
do currículo do Pedro II e do ensino oficial, sendo substituída pela instrução
cívica e noções gerais de direito.
Em 1915, o ministro Carlos Maximiliano aparece como novo
“reformador” ao procurar conter os abusos “desoficializadores” da reforma
Rivadavia. Com a reforma de Maximiliano, apesar de reduzir para cinco anos a
duração dos estudos do Pedro II, temos uma pequena melhoria em relação ao
ensino de filosofia. Pois a filosofia volta ao currículo, mas na qualidade de
disciplina optativa.
Mas será somente com a reforma João Luiz Alves, realizada em 1925, que
a filosofia ganhará um papel de maior relevo. O ensino secundário volta a ser de
seis anos, obrigatoriamente seriado, com o estudo da filosofia sendo ministrado
no 5º ano (filosofia) e no 6º ano (história da filosofia). Além disso, o ensino
secundário é encarado como uma preparação fundamental e geral para a própria
vida, qualquer que seja a carreira profissional a ser seguida pelo indivíduo
(BARROS, 1997).
Com o impacto da Revolução de 1930 e a conseqüente queda da
República Velha, as relações de poder entre governo federal e os estados
transformaram-se radicalmente, dando início a um período marcado pela
progressiva centralização política. Segundo Moraes (1999, p. 197), “a estrutura
de ensino, vigente no Brasil até 1930, nunca estivera organizada e integrada em
um sistema nacional, isto é, inexistia uma política nacional de educação que
subordinasse os sistemas estaduais”.
30
A primeira iniciativa dessa “Revolução” no campo educacional foi a
criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, que abriu a Francisco
Campos as portas para a vida pública na esfera federal como primeiro ministro
da Educação e Saúde Pública. À frente desse Ministério, Campos anuncia
reformas por meio de uma série de decretos, e pela primeira vez, na história do
país, uma reforma atingia ao mesmo tempo os vários níveis de ensino e era
imposta a todo o território nacional. Com essa reforma divide-se o curso
secundário em dois ciclos, ampliando-o para sete anos. Mas apesar da ampliação
do tempo de escolaridade, a filosofia tornava-se ausente tanto no primeiro ciclo,
ou fundamental — que passaria a ter cinco anos de duração —, quanto no
segundo ciclo, ou complementar, que nada mais era do que um “préuniversitário” de dois anos.
Mas em 1942, uma nova reforma realizada sob os cuidados do ministro
Gustavo Capanema reduzia o primeiro ciclo do ensino secundário (então
denominado ginásio) para quatro anos, e em relação ao segundo ciclo, substituía
o “pré-universitário” pelo “colégio” com duração de três anos, subdividido em
curso científico (com ênfase em ciências) e curso clássico (com ênfase em
humanidades). Com essa reforma, a filosofia reintegra-se de forma obrigatória
ao ensino secundário, sendo ministrada na 3ª série do científico (com 4 aulas
semanais), e nas 2ª e 3ª séries do clássico (com 3 aulas semanais em cada).
Infelizmente, o programa de ensino era inexeqüível, devido ao seu caráter
enciclopédico. Além disso, por não ser cobrado na maior parte dos vestibulares,
a maioria dos alunos, principalmente nos cursos científicos, geralmente não
tinha interesse em estudar filosofia, pois preferiam estudar assuntos que eram
cobrados no vestibular (BARROS, 1997).
31
Nesse constante movimento oscilatório, a filosofia voltaria a perder sua
obrigatoriedade curricular com a promulgação da Lei 4024/61 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB). Com esta lei, o ensino de filosofia
perdia a obrigatoriedade, tornando-se disciplina complementar, ou seja,
incorporada mediante indicação de cada Conselho Estadual de Educação.
Apesar de poder figurar como disciplina optativa, tanto no ginasial, quanto no
colegial, a filosofia, ainda ausente dos vestibulares, praticamente desapareceu do
ensino em detrimento de uma ênfase às disciplinas que eram cobradas nos
vestibulares.
Não resta dúvida de que a possibilidade dada aos estados e aos
estabelecimentos de anexarem disciplinas optativas ao currículo mínimo
estabelecido pelo Conselho Federal de Educação representou um progresso em
matéria de legislação. Mas na prática, “as escolas acabaram compondo o seu
currículo de acordo com os recursos materiais e humanos de que já dispunham,
ou seja, continuaram mantendo o mesmo currículo de antes” (ROMANELLI,
1978, p. 181).
A política educacional desse momento nada mais fez do que continuar
enfatizando os princípios liberal-democráticos estabelecidos na Constituição de
1946. Nessa Constituição, estabeleceu-se no artigo 167 que “o ensino dos
diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é livre a iniciativa
privada, respeitadas as leis que o regulem” (apud ROMANELLI, 1978, p. 178).
Assim, a iniciativa privada tinha direitos assegurados pela própria Constituição.
E foi com base nessa Constituição que se deu a grande discussão, durante treze
anos, que culminou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961.
Em termos de estrutura organizacional a estrutura tradicional do ensino
foi mantida. Com isso, o sistema organizou-se da seguinte forma:
32
1. Ensino pré-primário, composto de escolas maternais e jardins de infância;
2. Ensino primário, de 4 a 6 anos de duração;
3. Ensino médio, subdividido em dois ciclos: o ginasial, com 4 anos de
duração e o colegial, com 3 anos de duração. Ambos por sua vez
compreendiam o ensino secundário e o ensino técnico (industrial,
agrícola, comercial e formação de professores);
4. Ensino superior.
Como já foi dito, a filosofia continuava como disciplina complementar do
currículo do ciclo colegial no ensino médio. Assim como na Reforma Capanema
de 1942, também agora, na LDB 4024/61, a filosofia perdia o seu caráter de
obrigatoriedade. Mais tarde, sem qualquer intuito de modificar a situação do
ensino de filosofia, a reforma consubstanciada pelo governo militar, na Lei nº
5692/71, veio apenas ratificar o descaso para com essa disciplina.
2.2 A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988
Com o golpe militar de 64, restringiu-se mais o campo do ensino de
filosofia. Através da Lei 5692/71, o governo militar faz a “reforma do ensino” e
cria a obrigatoriedade do 2º grau profissionalizante: “O ensino de 1º e 2º graus
tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização,
qualificação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania”.
Posteriormente a Lei 7044/82 retirou o termo “qualificação”, colocando em seu
lugar a “preparação” para o trabalho.
A reforma de 1971, modificando a estrutura organizacional da Lei
4024/61, unificou o antigo curso primário (de quatro a seis anos) e o antigo
33
ginásio (de quatro anos) num único curso de 1º grau, com duração de oito anos.
Esse curso não mais ofereceria formação profissional, como o extinto ginásio,
ficando essa formação a cargo do ensino de 2º grau, nova denominação dada ao
antigo colegial (de três anos).
Apesar de essa lei aumentar o número de matérias obrigatórias, a situação
da filosofia não melhorou em relação à lei anterior (4024/61). Como
conseqüência da imposição de um núcleo comum e de matérias obrigatórias
abrangendo dez conteúdos específicos — um de comunicação e expressão
(língua portuguesa); três de estudos sociais (geografia, história e organização
social e política do Brasil); dois de ciências (matemática e ciências físicas e
biológicas); e ainda as atividades exigidas no art. 7º da Lei 5692/71 (educação
física, educação artística, educação moral e cívica e programas de saúde) —, a
liberdade dos sistemas de ensino e estabelecimentos de introduzirem outras
matérias ficou prejudicada (Resolução nº 08 de 01/12/1971). Disciplinas mais
favoráveis a ações reflexivas e propensas à discussão crítica, como filosofia,
sociologia e psicologia, na prática, desapareceram dos currículos do 2º grau.
A fragmentação do conhecimento científico, a descaracterização das
ciências humanas, a substituição de história e geografia por “estudos sociais”, a
criação da licenciatura curta, e ainda a potencial supressão do ensino de
filosofia, que ocorreu de fato com o seu banimento do chamado “núcleo
comum” dos currículos do 2º grau, foram algumas das principais conseqüências
da Lei 5692/71. Retira-se a filosofia, mas consolida-se a inclusão da “educação
moral e cívica” e “organização social e política do Brasil”, duas disciplinas de
caráter obrigatório que serviram de sustentáculo ideológico do regime militar
instaurado em 1964, pois que, entre outras finalidades, faziam propaganda do
regime de exceção. Tinham por objetivo transmitir uma ideologia da submissão
e da obediência cega às leis: o que interessava era a segurança do Estado.
34
Ausente do núcleo comum, e não contemplada entre as atividades
exigidas no art. 7º da Lei 5692/71 (parte mínima e obrigatória dos currículos), a
filosofia não fazia parte do conjunto de matérias que deveriam imprimir no
currículo o caráter de unidade nacional. Em 1976, com a promulgação da
Portaria nº 790, de 22 de outubro, a filosofia sofre mais um golpe. Enquanto a
Portaria nº 341/656, em seu art. 1º, dispõe que aos licenciados em filosofia será
concedido “registro em Filosofia e Psicologia, Sociologia ou Estudos Sociais e
História, se cada uma dessas matérias figurar no currículo” (inciso 1), a Portaria
790/76 restringe ainda mais as chances de ingresso no mercado de trabalho dos
licenciados em filosofia, quando determina que aos licenciados em filosofia
seria efetuado Registro de Professor apenas em “Filosofia no 2º grau”,
revogando as disposições em contrário.
Além de um núcleo comum obrigatório e das atividades prescritas no art.
7º, a Lei 5692/71 determinava que os currículos do ensino de 1º e 2º graus
deveriam ter também uma “parte diversificada” para atendimento às
peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças
individuais dos alunos (art. 4º). Cada estabelecimento de ensino poderia escolher
livremente, para formar a parte diversificada de seu currículo, algumas das
matérias da vasta relação sugerida pelo respectivo Conselho Estadual de
Educação. Ou, mediante aprovação do competente Conselho de Educação de sua
jurisdição, no caso de o estabelecimento de ensino querer incluir estudos não
decorrentes de matérias relacionadas. Além disso, as matérias destinadas às
habilitações profissionais obrigatórias do 2º grau eram também definidas como
parte diversificada.
6
Vigorava apenas para os licenciados em ciências sociais, história, geografia e filosofia que tinham concluído o
curso ou viessem a concluí-lo até o final de 1976.
35
Com uma grade curricular tão “inchada”, não havia por parte dos
estabelecimentos de ensino — principalmente os de 2º grau, por conta da
profissionalização obrigatória — interesse em incluir a filosofia como matéria
da parte diversificada do currículo. Assim, excluída dos currículos dos
estabelecimentos de 1º e 2º graus, e tendo seu campo de atuação profissional
reduzido a uma disciplina relegada ao ostracismo, fica nítida a intenção do
governo militar tentar imobilizar o alcance político do ensino de filosofia. Pois
esse alcance político
se articula no nível de um confronto mais amplo, no embate entre a tentativa de
instrumentalização da sociedade em função de um determinado projeto
econômico e político (desenvolvimento e modernização associados a uma
gestão tecnocrática da sociedade avalizada pelas forças armadas) e, de outro
lado, o desejo [...] de ativação do tecido social e de criação de uma consciência
de cidadania” (CARDOSO, 1986, p. 70).
Com o início da chamada “abertura”, não obstante ter se caracterizado por
ser lenta e gradual, por volta de fins da década de 70, o quadro político do país
começou a mudar. Em 1978, constitui-se o Comitê Brasileiro pela Anistia, cujo
objetivo era trazer de volta os que foram desterrados pelo regime militar. Em
apoio a esse movimento, várias entidades como a OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil), a ABI (Associação Brasileira de Imprensa), Comissão de Justiça e
Paz da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), entre outras,
manifestaram-se em prol da anistia e da volta ao estado de direito no país.
No início dos anos 80, parecia haver um esgotamento do autoritarismo
militar no Brasil. A partir de 1983, por força da Lei 7044, de 18 de outubro de
1982, os estabelecimentos de ensino ficaram liberados da obrigatoriedade de
oferecer a habilitação profissional imposta pela Lei 5692/71.
36
Apesar de evidentes conquistas políticas desse período — reforma
partidária (1979); eleições diretas para governadores (1982); eleições para
deputados e senadores (1986) —, será a partir da instalação da Assembléia
Nacional Constituinte, em fevereiro de 1987, que assistimos a intensos debates
no campo educacional.
Depois de quase dois anos de trabalho da Assembléia, presidida pelo
Deputado Ulysses Guimarães, foi promulgada a nova Constituição brasileira, em
05 de outubro de 1988. Ela trouxe o reconhecimento do direito de voto aos
analfabetos, do direito de greve, a oficialização do fim da censura e tornou a
tortura crime inafiançável, entre outras mudanças. Em relação à educação,
incluiu parcialmente os princípios propostos pelo Fórum da Educação na
Constituinte. Princípios que sem dúvida, representam avanços em relação aos
textos constitucionais anteriores.
Com a promulgação de uma nova Constituição Federal, tornou-se
necessário uma nova lei geral da educação, que compatibilizasse a Educação
com a Carta Magna. Já em 1988 surgiu o primeiro projeto completo de uma
nova LDB: o Projeto de Lei nº 1258/88. A redação desse projeto, que data de
1993, determinava em seu Art. 48 que a filosofia e a sociologia seriam incluídas
como disciplinas obrigatórias do currículo do ensino médio — nova designação
que substitui o antigo 2º grau. Assim, “o currículo do ensino médio observará
[...] as seguintes diretrizes: [...] IV – serão incluídas a filosofia e a sociologia
como disciplinas obrigatórias” (PL 1258/88 apud BRZEZINSKI, 1998, p. 253).
Mas como nesse período a citada obrigatoriedade estava ainda em forma
de projeto, a única possibilidade concreta de inclusão da filosofia no currículo
de 2º grau continuava vinculada à parte diversificada permitida pela Lei
5692/71, ainda em vigor naquele momento. Numa espécie de compensação
37
pelos anos de dilapidação oficial, a Portaria nº 399, de 28 de junho de 1989,
amplia o campo de atuação dos professores dessa disciplina. Por esta portaria,
aos licenciados em filosofia seria concedido registro de professor de “filosofia
no 2º grau, psicologia e sociologia no 2º grau e história no 1º e 2º graus”.
Durante seis anos, um laborioso processo de elaboração de uma Lei de
Diretrizes e Bases para a Educação mobilizou literalmente segmentos amplos e
numerosos da sociedade brasileira. Muitas emendas foram apresentadas ao texto
inicial do Projeto de Lei nº 1258/88, até que desse processo resultou o projeto
final que foi enviado pela Câmara ao Senado em 1994.
Mas em 1995 presenciamos o anúncio da relatoria do Senador Darcy
Ribeiro de um outro projeto, gestado no MEC, com um eixo orientador diferente
do projeto vindo da Câmara. O Senador Darcy Ribeiro havia apresentado um
projeto próprio, em maio de 1992, que vinha tramitando de forma paralela e
independente ao da Câmara. Tendo sua aprovação final no Senado, em fevereiro
de 1996 — mediante um conjunto de manobras regimentais — o projeto do
Senador transformou-se finalmente na nova Lei de Diretrizes e Bases de
Educação Nacional (LDB) — Lei nº 9394/96, sancionada pelo Presidente da
República em 20 de dezembro de 1996.
Nessa nova LDB (Lei nº 9394/96) — ao contrário do projeto inicial (PL nº
1258/88) — a filosofia não aparece como obrigatória, e nem mesmo como
disciplina, mas apenas como domínio do conhecimento, necessário ao exercício
da cidadania para os egressos do ensino médio. Com a promulgação da LDB
9394/96, temos algumas referências, que de alguma forma, dizem respeito à
filosofia. Ao lermos o art. 22 desta lei, vemos que a “educação básica tem por
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania” (BRASIL, 1996). Logo em
38
seguida, temos que os conteúdos curriculares para a educação básica observarão,
entre outras, a seguinte diretriz: “I – a difusão de valores fundamentais ao
interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum
e à ordem democrática” (BRASIL, 1996, art. 27), bem como recomenda no art.
35, que o ensino médio terá como finalidade “o aprimoramento do educando
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996). Após lermos
essas citações, não é difícil percebermos que se esses objetivos deveriam ser
visados por qualquer disciplina, com maior razão, a filosofia teria condições de
abordá-los explicitamente; tomando-os como conteúdo de seu programa.
Como vimos anteriormente, apesar de não aparecer recomendada como
uma disciplina, temos uma referência explícita à filosofia, quando no art. 36, §
1º, recomenda-se que “os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação
serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando
demonstre: [...] III – domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia
necessários ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1996).
Numa tímida tentativa de regulamentar a situação da filosofia no cenário
educacional do país, no ano de 2000, o Deputado Federal Roque Zimmermann
(PR) apresentou o Projeto de Lei nº 9/2000, que tornaria obrigatório o ensino da
filosofia no ensino médio, complementando o texto da LDB (art. 36), que
apenas sugere o desenvolvimento de conteúdos filosóficos. Tal projeto tramitou
no Senado Federal até ser vetado integralmente pelo Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, através do despacho nº 1073, de 08 de outubro de
2001. Segundo esse despacho,
o projeto de inclusão da Filosofia e da Sociologia como disciplinas obrigatórias
no currículo do ensino médio implicará na constituição de ônus para os Estados
39
e o Distrito Federal, pressupondo a necessidade da criação de cargos para a
contratação de professores de tais disciplinas, com a agravante de que, segundo
informações da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, não há no país
formação suficiente de tais profissionais para atender a demanda que advirá
caso fosse sancionado o projeto, situações que por si só recomendam que seja
vetado na sua totalidade por ser contrário ao interesse público (BRASIL, 2001,
p. 6).
Utilizando-se de uma tática semelhante à utilizada pelos presidentes
militares (1964-1984), o Presidente Fernando Henrique, no mesmo ano em que
veta a obrigatoriedade da filosofia, sanciona a Lei nº 103287, de 12 de dezembro
de 2001, que transforma a educação física em componente curricular
“obrigatório” da educação básica. É interessante notar que a alegação de
implicação de ônus para os sistemas de ensino é válida para a filosofia, que
pleiteava ser obrigatória no ensino médio, mas o mesmo argumento não vale
para a educação física, que se torna obrigatória não apenas para o ensino médio,
mas para toda a educação básica.
Para o governo militar pós-64, a educação física tinha por principais
objetivos desviar a atenção da população dos problemas sociais, políticos e
econômicos do país, e ainda desmobilizar os grupos estudantis que tentassem
resistir ao ideal governamental8. Nessa época, provavelmente por terem como
motivação principal de suas aulas a contínua busca pela verdade, o
desvelamento das ideologias e a superação do senso comum, os professores de
filosofia foram afastados das salas de aula. Assim como os militares de outrora,
nossos atuais líderes políticos — desde a posse do primeiro presidente civil, em
1985, após 21 anos de governos militares — parecem ter consciência de que o
7
Introduz a palavra “obrigatório” após a expressão “curricular”, constante do § 3º do art. 26 da Lei 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
8
Não estamos aqui fazendo uma crítica sem fundamento à educação física. Mas nossa observação pauta-se em
resultados de uma pesquisa realizada sobre representações sociais da educação física escolar (Cf. BARBOSA,
2001).
40
saber e a formação fundamentados na filosofia são mais aptos a introduzir os
estudantes no exercício de um pensamento crítico e reflexivo.
41
3 ELEMENTOS PARA UMA DISCUSSÃO SOBRE A FILOSOFIA E
SEU ENSINO
Após termos visto a trajetória do ensino de filosofia no Brasil, desde a
chegada dos jesuítas, em 1549, percebemos que o papel atribuído à filosofia e
seu ensino variaram ao sabor dos textos legais. Essa constatação é, no mínimo,
motivo de perplexidade, pois antes de ser um assunto a ser tratado no campo
legislativo, o papel da educação filosófica deveria ser tratado pela própria
filosofia, por conta de seu imanente caráter pedagógico. Não podemos separar o
ato de filosofar do compromisso pedagógico da filosofia: “posto que a filosofia é
a ciência que nos ensina a viver e que a infância como as outras idades dela pode
tirar ensinamentos, por que motivo não lha comunicaremos?” (MONTAIGNE,
1980, p. 83).
Por esse prisma, apesar de termos mais de quatro séculos de história da
educação brasileira, parece não termos avançado muito no que diz respeito ao
pensar filosoficamente o ensino de filosofia. Aliado a este fato, temos a falta de
consenso em torno da própria definição de filosofia:
se perguntarmos a dez filósofos “o que é filosofia”, ouso dizer que três ficarão
em silêncio, três darão respostas pela tangente, e as respostas dos outros quatro
vão ser tão desencontradas que só outro filósofo para entender que o silêncio
de uns e as respostas dos outros são todas abordagens possíveis à questão
proposta. (IGLÉSIAS, 1998, p. 12).
Mas isso se dá pelo fato de que perguntar “o que é filosofia?” já é uma
questão filosófica. Segundo Morente (1980, p. 23) “só se sabe o que é filosofia
quando se é realmente filósofo [...]. Necessitamos ter dela uma vivência”.
Quando nos propomos realizar um estudo sobre representações sociais da
filosofia no ensino médio, sentimos a necessidade de nos posicionarmos sobre
dois pontos fundamentais: de que filosofia estamos falando, e de qual a melhor
forma de iniciação à filosofia, para aquele que se propõe, ou se vê obrigado, a
estudá-la. Certamente, que ao iniciarmos um estudo como este, já tínhamos em
mente uma determinada maneira de entender a filosofia e seu possível ensino,
que certamente não coincide com o modelo que criticamos e apresentamos como
a situação problema desta pesquisa.
Se a busca pela melhor forma de colocar um aluno em contato com a
filosofia, por si só já é um grande desafio, muito mais complexa é a tentativa de
defini-la. Mas para que pudéssemos encaminhar nossa pesquisa com a segurança
necessária a sua realização, discutimos neste capítulo, algumas maneiras de
conceber a filosofia e seu ensino — que surgiram ao longo de sua história — na
tentativa de justificar o que nós próprios entendemos por filosofia. Ou seja, em
relação à filosofia, nos posicionaremos sobre o sentido que aplicamos ao termo
quando apreciamos desfavoravelmente uma postura, em detrimento de outra que
acreditamos mais adequada.
Portanto, cientes da complexidade de conceituar a filosofia, e que não se
pode defini-la antes de fazê-la, discutimos neste capítulo um esboço de definição
da filosofia (item 3.1) e seu ensino (item 3.2), para que fique clara a matiz
seguida em nossa pesquisa.
43
3.1 UM OLHAR SOBRE A FILOSOFIA E A QUESTÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR
A palavra filosofia vem do grego philosophía significando “amor à
sabedoria” (de phílos: amigo, sophia: sabedoria). Acredita-se que o termo foi
cunhado pelo pensador grego Pitágoras, no século VI a.C. Apesar de não ser
historicamente segura, essa informação parece ser verdadeira, pois o termo
certamente foi criado por alguém com forte inclinação religiosa, como era o
caso de Pitágoras9. Ele acreditava que somente aos deuses era possível a posse
certa e total do verdadeiro, de uma sofia (sabedoria). Aos homens caberia
apenas uma contínua aproximação ao verdadeiro, indicando um amor pelo saber
nunca saciado integralmente. Sendo assim, de acordo com sua origem, a
filosofia não é sofia em si mesma, mas somente o desejo de possuí-la, a procura
por ela: a filosofia representa a procura pela verdade, não sua posse.
Desde sua origem, a filosofia se apresenta com algumas características
que a diferencia de outras formas de conhecimento, como a ciência e a religião,
por exemplo. Dentre essas características podemos notar, no que se refere a seu
conteúdo, que a filosofia pretende explicar de forma prioritariamente racional o
princípio ou princípios de toda a realidade, ou seja, procura a explicação da
totalidade do real no nível do logos10. Segundo Hessen (2000, p. 5), a essência
da filosofia se caracterizaria pelas seguintes marcas: “1. a atitude em relação à
9
Pouco se conhece sobre a vida de Pitágoras. Além de não ter deixado documentos escritos, sua vida desde cedo
foi envolvida por lendas, ficando difícil separar o que é histórico do que é fantasia. O pouco que se sabe foi
relatado por outros pensadores, já que seus ensinamentos eram transmitidos oralmente a seus discípulos que
também nada escreveram. Nascido em Samos (ilha grega situada próxima à costa da Turquia) por volta do ano
580 a.C., deixou sua pátria em aproximadamente 540 a.C. e em Crotona (colônia grega do sul da Itália) fundou
uma espécie de associação de caráter mais religioso que filosófico. Sua morte deve ter acontecido em torno de
497 a.C. (KUHNEN, 1978).
10
Do grego, significando palavra, estudo, tratado. Em filosofia, geralmente significa o princípio de
inteligibilidade; a razão (FERREIRA, 1999; CUNHA, 1986).
44
totalidade dos objetos; 2. o caráter racional, cognoscitivo dessa atitude”. Outra
característica essencial da filosofia é a radicalidade, que faz com que a reflexão
filosófica apresente-se como indagação sobre a possibilidade do próprio
pensamento, organizando-se em torno de um eixo composto por três perguntas:
Por que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que
fazemos?
No momento em que decidimos lançar um olhar sobre a filosofia e a
questão curricular, nos propomos a refletir acerca destas questões. No entanto, o
que significa exatamente refletir sobre algo? Poderíamos começar nossa resposta
observando que a palavra reflexão vem do verbo latino reflectere, que significa
“voltar atrás”. No momento em que o pensar é posto em evidência, tornando-se
objeto de reflexão, surgem as condições para a filosofia propriamente dita.
Assim, reflexão é um pensamento consciente de si mesmo, capaz de interrogarse a si próprio, e por isso, quase sempre associamos reflexão à reflexão
filosófica.
Mas o que leva o homem a filosofar? Para Aristóteles (1979, p. 14), “foi,
com efeito, pela admiração que os homens, assim hoje como no começo, foram
levados a filosofar, sendo primeiramente abalados pelas dificuldades mais
óbvias, e progredindo em seguida pouco a pouco até resolverem problemas
maiores”. Dessa forma, poderíamos dizer que são os problemas que levam o
homem a filosofar. Mas não qualquer tipo de problema. O problema filosófico
não é apenas uma questão do tipo: qual seu esporte preferido? Também não se
caracteriza apenas pelo desconhecimento de algo, como por exemplo, o fato de
alguém não saber montar o motor de um automóvel. E por fim, os problemas
filosóficos não são apenas obstáculos ou dificuldades, como por exemplo o
problema de um professor que pretende exibir um documentário sobre a guerra,
mas sua escola não tem um vídeo, nem televisão. Então o que caracteriza o
45
problema filosófico? A necessidade. Ou seja, uma questão cuja resposta se
desconhece, mas temos a necessidade de conhecer. Assim, muitos professores
de filosofia desconhecem as finalidades sociopolíticas da educação11, por
exemplo. No entanto, para um correto entendimento do papel a ser
desempenhado pelo ensino de filosofia, o conhecimento das finalidades
sociopolíticas da educação não pode ser desconsiderado. A não-percepção da
relação entre educação e seu contexto sociopolítico aparece então, como um
possível problema filosófico.
Levando-se em consideração o que foi discutido até o momento, partimos
do princípio de que refletir sobre o ensino de filosofia pressupõe a tentativa de
abarcar esse fenômeno de uma só vez, relacionando-o à totalidade da dinâmica
social, sem nos limitarmos a explicar partes isoladas desta realidade
educacional, ou seja, “relacionando-se o aspecto em questão com os demais
aspectos do contexto em que está inserido” (SAVIANI, 1980, p. 25).
Mas o que verificamos na prática cotidiana? Alguns professores tentam
entender e interferir nos rumos da filosofia no ensino médio, seguindo os
padrões das ciências naturais, que em linhas gerais isolam o aspecto estudado de
seu contexto e o analisam separadamente, ou seja, tomam por objeto apenas uma
parte da realidade. Assim, discutem sobre o desinteresse demonstrado pelos
alunos em relação à filosofia, estudando esse fenômeno de forma isolada,
buscando suas causas e efeitos nos próprios alunos, por exemplo. Dentro dessa
perspectiva, esses professores encontram várias justificativas para o desinteresse
do aluno pela filosofia, tais como: são desinteressados pois não tiveram acesso a
um ensino fundamental de qualidade; não têm as condições cognitivas
necessárias para uma aprendizagem adequada; possuem alguma deficiência
cultural; tiveram professores mal formados etc (SOARES, 1996).
11
Cf. LUCKESI, Cipriano. Filosofia da educação. São Paulo; Cortez, 1994.
46
Não é difícil encontrarmos professores de filosofia que buscam e
“apostam” em soluções para os problemas educacionais apresentadas na forma
de projetos e/ou determinações oficiais, tais como o FUNDEF, o Bolsa-escola, o
programa de renda mínima etc, ou ainda, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), sem inseri-los numa realidade mais ampla, que passaria pela observância
da própria forma como os homens se relacionam na produção dos bens
materiais. O que esses exemplos têm em comum é o fato de limitarem seus
estudos a setores, não adotando assim uma postura condizente com a filosofia,
que embora se dirigindo, às vezes, apenas a uma parcela da realidade, não deixa
de inseri-la no contexto, examinando a questão em função do conjunto. Portanto,
“o conhecimento filosófico, dirigido à totalidade das coisas, é essencialmente
distinto do conhecimento das ciências particulares, que vai ao encontro de
domínios parciais da realidade” (HESSEN, 2000, p. 10).
Não estamos querendo fazer um julgamento apressado desses projetos
citados anteriormente, mas queremos apenas deixar claro que numa perspectiva
filosófica eles estão atacando apenas efeitos isolados. O fato de uma escola
acatar e recomendar que seus professores de filosofia adotem os PCN de
“Ciências Humanas e suas Tecnologias”, por exemplo, por si só não é garantia
de que se está combatendo os problemas relacionados ao ensino de filosofia.
Adotar os PCN é um fenômeno isolado, que ataca um efeito específico de uma
causa parcial. Para a filosofia não interessa essa causa parcial, mas a causa
primeira que gera esse próprio modelo de sociedade, por exemplo.
É difícil resistir à “força” dos discursos apologéticos, repletos de belas
palavras de cunho progressista, que às vezes caracterizam os projetos e
determinações oficiais. Por essa razão, esses discursos conseguem convencer
uma considerável parcela dos professores de filosofia, que por conta de uma
47
possível formação acadêmica deficiente — no que diz respeito à dicotomia entre
formação do bacharel versus formação do licenciado, conforme vimos na
introdução deste trabalho — se deixam seduzir por esses discursos. E é essa
possível deficiência que impede que ocorra no professor a consolidação de uma
postura filosófica diante dos fenômenos educacionais que parta de uma análise
crítica das realidades sociais.
Como já assinalamos anteriormente, ao pretendermos buscar as bases para
a reflexão filosófica, não podemos concentrar toda nossa atenção apenas no
isolamento de um aspecto da questão de nosso interesse. Mas se em
determinadas situações selecionamos um aspecto da realidade para estudo, não
podemos deixar de inseri-lo no contexto, examinando o problema numa
perspectiva de conjunto. Ou seja, a reflexão filosófica pressupõe a reflexão
sobre a totalidade, ver a questão de nosso interesse toda de uma vez, em toda
sua complexidade. Segundo Morin (2000, p. 38) a complexidade existe
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo — como o
econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico —,
e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes
entre si.
A complexidade faz parte do universo, sendo uma das características mais
visíveis da realidade em que estamos inseridos: “tudo está em relação com tudo.
Nada está isolado, existindo solitário, de si e para si” (BOFF, 2000, p. 72).
Dessa forma, qualquer conhecimento pertinente que se queira produzir deve
enfrentar a complexidade.
Ao intentarmos assumir uma postura filosófica diante dos fenômenos
educacionais (entre os quais os engendrados pelo ensino de filosofia), não se
48
trata apenas de pensar sobre os conteúdos que compõem as disciplinas escolares,
por exemplo, mas de refletir sobre a existência das próprias disciplinas e sua
relação com a escola e a organização da sociedade. Para essa complexidade
própria aos fenômenos educacionais é preciso estabelecer as relações mútuas e
as influências recíprocas entre as partes e o todo. Na verdade, “os
desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos confrontam cada vez mais
e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios da complexidade”
(MORIN, 2000, p. 38). Dentro de uma postura condizente com esse contexto,
como se daria então a reflexão filosófica relativa à educação em geral, e ao
ensino de filosofia especificamente?
Em primeiro lugar, “não há pensamento solitário. Certamente, podemos
visar à totalidade, ao absoluto, mas o fazemos sempre a partir de certezas
estabelecidas no meio ao qual pertencemos” (GUSDORF, 1980, p. 286). Sendo
assim, comecemos nossa reflexão levando em consideração que numa formação
social como a nossa, ocorre simultaneamente a constituição de várias culturas
diferentes, que correspondem aos vários grupos ou classes sociais. Podemos
afirmar que uma dessas culturas se impõe às demais — por ser a cultura da
classe dominante — transformando-se na cultura dominante. A imposição dessa
cultura dominante — que no modo de produção capitalista corresponde à cultura
da classe burguesa, classe dos proprietários dos meios de produção social —
procura “sufocar” e emudecer as demais culturas através de instituições criadas
com essa finalidade, e que, por isso, possuem características apropriadas a cada
campo de atuação específico, tais como: político, religioso, educacional etc.
Enquanto uma dessas “instituições”, a educação escolar é responsável por
uma ação pedagógica que atua num campo específico, ação essa que, em
princípio, é a imposição arbitrária da cultura burguesa às demais classes sociais.
Sendo assim, num contexto social complexo, como é o caso das sociedades
49
capitalistas contemporâneas, especificamente a brasileira, a educação escolar, e
conseqüentemente a filosofia, está intimamente ligada à política cultural,
responsável pela legitimação da ação pedagógica da escola (enquanto
materialização da educação), que por esta razão tem autoridade para exercer
uma inculcação de princípios e valores (ou conteúdos culturais), considerados
válidos do ponto de vista da classe burguesa.
Mas esses conteúdos culturais “arbitrários” correspondem, na realidade,
aos interesses da burguesia. Sendo assim, não podemos, em hipótese alguma,
pensar que o currículo — vulgarmente entendido como “o que um professor
ensina a seus alunos em determinada disciplina” (BASTOS, 1980, p. 9) — é um
conjunto neutro de conhecimentos, que aparece nos textos didáticos e salas de
aula do país. Pois na verdade, “ele é sempre parte de uma tradição seletiva,
resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja
conhecimento” (APPLE, 1994, p. 59). Seguindo o mesmo raciocínio, Moreira e
Silva (1994, p. 29) nos apresentam, de forma bem clara, um resumo desse
contexto quando afirmam que “o currículo, enquanto definição ‘oficial’ daquilo
que conta como conhecimento válido e importante, expressa os interesses dos
grupos e classes colocados em vantagem em relações de poder”.
Ao analisarmos a história da educação institucionalizada, constatamos que
o objetivo de reproduzir a qualificação da força de trabalho, ou como diriam os
capitalistas: o objetivo de produzir (novos) cidadãos “acabou sempre implicando
em novas e talvez mais sutis formas de regulação e padrões de controle e
governo” (MOREIRA; SILVA, 1994, p. 34). Essas formas de regulação e
controle ficam claras para Apple (1994) quando se fala em adoção de um
currículo e de um sistema de avaliação nacionais, como está ocorrendo no Brasil
50
(PCN, Saeb, Enem e Provão)12, onde devemos entender que por trás das
justificativas educacionais para tal adoção, pode existir uma sutil investida
ideológica de um Estado comprometido com a ordem econômica neoliberal.
Ora, em tempos de construção de um Estado mínimo13, onde o dinheiro
público deve ser prioritariamente desviado para interesses privados, onde o
Estado deve reduzir drasticamente os investimentos em gastos sociais, a adoção
de um “conjunto padronizado de diretrizes e metas curriculares nacionais é
indispensável para ‘elevar o nível’ e fazer com que as escolas sejam
responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso de seus alunos” (APPLE, 1994, p.
63). Parafraseando Chauí (1993, p. 19) — em sua análise que trata do caso
específico da universidade —, os critérios de “produção” educacional não
podem ser os mesmos da produção industrial, “pois os seus objetivos de trabalho
são diferentes e regidos por lógicas, práticas e finalidades diferentes”. Ou seja, a
educação tem um ritmo próprio que a impede de ficar totalmente atrelada à
lógica do mercado.
Na verdade, a discussão sobre currículo é muito mais complexa do que
possa nos parecer a uma primeira avaliação mais superficial do problema.
Mesmo que o professor adquira uma consciência crítica e entenda o currículo
como uma tradição seletiva e “a escola como mediação entre o individual e o
social, exercendo aí a articulação entre a transmissão dos conteúdos e a
assimilação ativa por parte de um aluno concreto, inserido num contexto de
relações sociais” (LUCKESI, 1994, p. 64), ainda assim poderá estar cometendo
12
Saeb = exame aplicado a cada 2 anos da 4ª à 8ª séries do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio
tanto de escolas públicas quanto de particulares; Enem = destinado a alunos que concluíram o ensino médio, não
sendo obrigatório; Provão = o Exame Nacional de Curso avalia anualmente escolas e formandos de cursos
universitários e tem caráter obrigatório.
13
Um Estado mínimo é o Estado ideal para o neoliberalismo: “sem nenhuma interferência na estrutura
econômica, na esfera da produção, e sem nenhuma função reguladora” (SODRÉ, 1995, p. 26).
51
um considerável equívoco se essa “transmissão dos conteúdos” estiver atrelada
prioritariamente ao conteúdo curricular oficial. O equívoco está justamente no
fato de ele tentar relativizar o conteúdo curricular oficial, pois com isso, parte-se
de pressupostos não comprovados de que as disciplinas que compõem o que
chamamos de currículo são as mais importantes áreas de conhecimento, e por
isso, devem ser aprendidas por todos.
Para Moreira e Silva (1994, p. 32), a desconstrução da organização
curricular existente deve passar necessariamente pelo movimento de
“reconhecer a disciplinaridade da presente estrutura curricular não como a
tradução lógica e racional de campos de conhecimento, mas como a inscrição e
recontextualização desses campos em um contexto em que processos de
regulação moral e controle tornam-se centrais”. Karl Popper (1902-1994), um
dos mais influentes filósofos da ciência contemporânea, em um pronunciamento
sobre a natureza dos problemas filosóficos, elucida muito bem essa questão
curricular ao afirmar que
a idéia de que a física, a biologia e a arqueologia existem por si mesmas, como
campos de estudo ou “disciplinas” distinguíveis entre si pela matéria que
investigam, parece-me resíduo da época em que se acreditava que qualquer
teoria precisava partir de uma definição do seu próprio conteúdo. Na verdade
não é possível distinguir disciplinas em função da matéria de que tratam; elas
se distinguem umas das outras em parte por razões históricas e de conveniência
administrativa — como a organização do ensino e do corpo docente —, em
parte as teorias que formulamos para solucionar nossos problemas têm a
tendência de se desenvolver sob a forma de sistemas unificados (POPPER,
1980, p. 96).
Portanto, apesar de entender o conteúdo curricular como uma tradição
seletiva, muitos professores não percebem que a obrigatoriedade ou não de se
ensinar determinadas disciplinas em detrimento de outras em si já parte de uma
idéia preconcebida: a necessidade de organizar o conhecimento escolar através
52
de disciplinas. A discussão sobre uma disciplina ser ou não obrigatória se dá a
partir da existência da disciplina como uma verdade pré-estabelecida. Diante de
toda a cultura universal acumulada, “quem” garante que português, matemática,
educação física, história etc. representam o que se tem de mais importante para
aprendermos na escola? “Quem montou” esse currículo, e a serviço de quem?
Será que estamos esquecendo a lição dos chamados “críticos-reprodutivistas”14,
para os quais, do ponto de vista oficial, o papel da escola é garantir sempre o
“saber fazer” e o “saber comportar-se”? Segundo Morin (2000, p. 14), “a
supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas impede
freqüentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser
substituído por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu
contexto, sua complexidade, seu conjunto”.
Com o exposto até o momento, verificamos a estreita relação entre escola
e Estado, implícita na discussão sobre a questão curricular. Portanto, se
queremos ir à raiz dessa questão — assumindo uma autêntica postura filosófica
diante dos fenômenos educacionais —, não devemos restringir nossa discussão à
defesa de um “Estado de bem estar social”, que se contraponha a um “Estado
mínimo”, ou um Estado Socialista em oposição a um Estado Capitalista. Mas
um autêntico filosofar nos conduz primeiramente à reflexão sobre a necessidade
ou não do Estado. A própria teoria de Marx tinha como meta final exatamente “a
extinção do Estado, que sempre é cooptado pelas classes dominantes. A função
da ditadura do proletariado era acabar com o Estado burguês, e pavimentar o
caminho para o comunismo, um sistema em que não haveria Estado” (AVENA,
1999, p. 16).
Mas como pensar sobre a necessidade ou não do Estado, sem pensar sobre
sua origem? É como tentar entender o homem, esquecendo-se que um dia ele foi
14
Cf. LUCKESI, Cipriano. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994.
53
criança. Na verdade, numerosas e variadas teorias (teoria da supremacia de
classe, teorias teológico-religiosas, teorias racionalistas) tentam explicar a
origem do Estado, cometendo algumas contradições em suas premissas e/ou
conclusões, pois a ciência não dispõe de elementos seguros para reconstituir a
história das primeiras associações humanas. Por isso, afirmar que o Estado se
origina necessariamente, por exemplo, da violência imposta por um grupo
humano sobre outro não é recomendável. “Inegável que o Estado pode, muitas
vezes, nascer da dominação imposta pela força, mas isso será sempre
contingente, poderá ou não ocorrer. O que o cientista poderia afirmar com
justiça, sem laborar em erro, seria que um dos modos15 de formação do Estado é
a violência, a guerra” (ACQUAVIVA, 1994, p. 12).
No entanto, apesar da recomendação anterior, entre as teorias que buscam
esclarecer a formação do Estado destaca-se a de Marx e Engels. Segundo Engels
(1991, p. 199), “a força de coesão da sociedade civilizada é o Estado, que, em
todos os períodos típicos, é exclusivamente o Estado da classe dominante e, de
qualquer modo, essencialmente uma máquina destinada a reprimir a classe
oprimida e explorada”. Para esses autores, o Estado, assim como o poder
político, são frutos da dominação econômica do homem pelo homem. Serve de
instrumento de dominação de uma classe sobre outra, atuando como uma ordem
coercitiva.
De acordo com essa perspectiva,
a produção do excedente trouxe consigo a propriedade privada: alguns
elementos do grupo, apropriando-se do excedente comunal, puderam também
controlar o intercâmbio comercial e, aos poucos, acumular uma riqueza que
lhes permitiu imporem-se aos demais membros da comunidade como
dirigentes. [...] A propriedade privada engendrou as desigualdades sociais, ou
seja, surgiram as classes sociais e um poder, teoricamente colocado acima
15
Grifo nosso.
54
delas, como árbitro dos antagonismos e contradições latentes, mas que, na
verdade, defendia a propriedade privada e mantinha o status quo social — esse
poder era o Estado (AQUINO, 1980, p. 72).
Assim, em relação à questão sobre a necessidade do Estado, podemos
afirmar que “o Estado não tem existido eternamente. Houve sociedades que se
organizaram sem ele, não tiveram a menor noção do Estado ou de seu poder”
(ENGELS, 1991, p. 195).
Vejamos: partimos da origem da filosofia, passamos pela filosofia
enquanto disciplina curricular e chegamos à questão sobre a origem do Estado.
Sabemos que essa discussão ainda é um campo vasto. Mas através do modelo de
organização do pensamento filosófico que adotamos para entender a filosofia e a
questão curricular, tentamos ilustrar que uma reflexão filosófica, para merecer
essa designação, deve ter criticidade, radicalidade e totalidade. Muitas vezes
“nos pretendemos” filósofos, mas não vamos à raiz dos problemas, e com isso
partimos de determinado pressuposto sem questionar a própria legitimidade
desse pressuposto. Segundo Soares (1990, p. 20), “reflexão filosófica é como a
raiz de uma planta que busca a origem na profundidade”. Por isso, o
conhecimento que não é radical, que não vai à raiz, à origem é a manifestação de
uma consciência ingênua.
No caso do tema desta parte do trabalho, nosso esforço é no sentido de
deixar evidente que o ensino de filosofia não é um fato isolado, e por mais que
ele fosse estudado assim (como fato destacado do seu contexto) não se chegaria
a uma compreensão (visão total) do problema. Para haver essa compreensão é
necessário incluir a filosofia no todo (contexto) do qual ela faz parte. E este todo
é o próprio Estado e a organização econômica que o sustenta.
55
A própria dialética, enquanto o “modo de pensarmos as contradições da
realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente
contraditória e em permanente transformação” (KONDER, 1995, p. 8), tem
como um de seus princípios que tudo se relaciona, assim, qualquer fenômeno,
seja natural ou social, não pode ser explicado isoladamente, sem que levemos
em conta sua gênese e causa, inserindo-o numa estrutura mais ampla de fatos
que o abrange. Essa forma de perceber a realidade, em permanente
transformação onde o conhecimento se dá na interdependência entre as partes e
o todo, e vice-versa, onde tudo se relaciona, e onde nada se explica
isoladamente, nos dá a própria noção de movimento. Em seu sentido mais geral,
o movimento “concebido como forma de existência, como atributo inerente à
matéria, compreende todas as transformações e processos que se produzem no
Universo, desde as simples mudanças de lugar até a elaboração do pensamento”
(ENGELS, 1976, p. 41). Dessa forma, toda a realidade que nos é acessível
constitui um sistema, um conjunto de corpos que só pode ser adequadamente
compreendida em sua complexidade.
Neste sentido, falar sobre possíveis soluções para a tão mencionada “crise
no sistema educacional brasileiro”, amparando-se em propostas aparentemente
de “última geração” ou em discursos progressistas (como o construtivismo, os
PCN, o FUNDEF, o bolsa-escola, a informática na educação, escola de tempo
integral, projetos esportivos, educação para o trabalho e tantos outros discursos
“modernistas”), em suma, mudando-se os discursos, mas não se questionando
nossas concepções sobre o “para quê a educação escolar?”, atende apenas a
interesses reformatórios da sociedade capitalista.
56
Na verdade, os professores progressistas16 com seus discursos
revolucionários, componentes que são das camadas médias, não querem abrir
mão de suas conquistas materiais, conseguidas com seu “esforço pessoal” (no
máximo, o que se admite é uma melhoria para “todos” desde que não percam
seus próprios privilégios já conquistados). Cabe ressaltar que a identificação dos
professores com a classe média parece ser uma inferência coerente, já que
a identificação do professorado com o operariado é mais metafórica do que
real. Enquanto os operários perderam o controle sobre sua prática produtiva,
[...] os professores continuam tendo [...] uma importante fatia de controle sobre
o seu trabalho, o que exigiria deles uma postura consciente e conseqüente a
respeito dos efeitos nos alunos do ensino que ministram, coisa que o operário
não pode fazer com relação ao seu trabalho... (CUNHA, 1992, p. 16).
Se uma casa está repleta de rachaduras e vazamentos, não adianta
ficarmos fazendo pequenos consertos “aqui e ali”, pois esses remendos serão
apenas paliativos. É necessário que se derrube a casa velha, e em seu lugar se
construa outra, com uma nova estrutura. Portanto, como acreditar na construção
de uma sociedade diferente da que temos, utilizando velhas estruturas?
É
possível acreditar na construção de uma filosofia que colabore com uma
revolução social sem questionar as raízes mais profundas da própria educação
escolar?
Mas essa constatação em relação ao professorado não é nenhuma
novidade, pois Marx já havia nos alertado que as camadas médias
combatem a burguesia para salvar da ruína sua própria existência como
camadas médias. Não são portanto revolucionárias, mas conservadoras. Mais
ainda, são reacionárias, pois procuram fazer retroceder a roda da história.
Quando se tornam revolucionárias, é em conseqüência de sua iminente
16
“O termo ‘progressista’ [...] é usado aqui para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das
realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação” (LUCKESI, 1994, p. 63).
57
passagem para o proletariado; defendem então seus interesses futuros, não seus
interesses presentes, abandonando seu próprio ponto de vista pelo do
proletariado (MARX; ENGELS, 1993, p. 76).
Seguindo em sentido inverso ao proposto pela reflexão filosófica, tanto a
teoria como a prática desses professores que se acham progressistas são
incoerentes com um discurso que vise a construção de uma nova sociedade,
pautada numa “ética universal”17, contrária às “éticas condicionadas” pelos
diversos grupos que se intercalam, ao longo da história do homem, na categoria
de exploradores. Observamos que a prática desses professores não é radical ao
ponto de romper com suas mais arraigadas certezas; não vai à raiz da origem de
seus valores e fundamentos, e com isso, não têm condições de realmente mudar
o statu quo burguês, questionar a organização da economia, a existência do
Estado, e até mesmo, a necessidade da escola...!
Mesmo após tudo o que falamos até agora, não foi nossa pretensão
elaborarmos respostas definitivas às questões levantadas ao longo deste texto,
mas tivemos como principal objetivo levantarmos dúvidas onde até então havia
muitas certezas, abalarmos estruturas mentais que se apresentavam como
“verdades naturais”, mas principalmente, deixar claro o que entendemos por
filosofia e saber filosófico para fins deste trabalho. Com isso, procuramos
incentivar o “pensar” de forma radical, a reflexão, a fim de desmistificarmos a
crença de que o Estado é neutro, de que o Estado é um “mal necessário”, de que
a escola é redentora e/ou essencial para a vida em sociedade, de que as
17
Apesar de a ética fundar-se metafisicamente em um conjunto de regras de condutas consideradas como
universalmente válidas, mesmo correndo o risco de sermos redundantes, queremos designar por ética universal
— a única capaz de romper com o utilitarismo burguês —, aquela que se funda em princípios tais como: “o que
não desejas para ti não o faças para os outros” (Confúcio); “tudo o que vós quereis que os homens vos façam,
fazei-o também vós a eles” (Jesus); “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer
que ela se torne lei universal” (Kant). Nesta perspectiva ética, não restringimos essas sentenças morais ao
58
disciplinas do currículo representam o que se tem de mais importante para
aprendermos na escola, ou ainda, de que sem educadores profissionais
voltaríamos à barbárie...!
Na verdade, tentamos induzir o leitor a um certo grau de ceticismo. Não a
um ceticismo radical, imobilizador, que se contradiz ao se afirmar, pois para
concluir que toda verdade é impossível e a verdade é inacessível, já se está
apresentando uma certeza com valor de verdade. Mas um ceticismo “saudável”,
que se aproxima da própria etimologia do termo em questão. O vocábulo grego
skeptikós significa “que observa”, “que considera”, sendo assim, o cético é
aquele que de tanto observar e considerar, conclui, ou pela impossibilidade do
conhecimento (nos casos mais radicais), ou pela suspensão provisória de
qualquer juízo (nas tendências moderadas). E é nesse segundo sentido que se
encaminha uma pequena dose de ceticismo, latente em nosso trabalho, um
ceticismo que mesmo reconhecendo os limites para a apreensão da verdade, ou
sabendo ser impossível encontrarmos a certeza, não abandona a busca por
proposições cada vez mais verossímeis. “Na história da filosofia, [...] o
ceticismo mantém desperto o sentimento do problema. Crava o aguilhão da
dúvida no peito do filósofo, fazendo que este não se aquiete diante das soluções
já dadas a um problema, mas continue lutando por soluções novas e mais
profundas” (HESSEN, 2000, p. 36).
Ao refletirmos sobre a filosofia e seu ensino numa economia capitalista,
não poderíamos deixar de fazer referência a Karl Jaspers (1965), para quem
a autocomplacência burguesa, os convencionalismos, o hábito de considerar o
bem-estar material como razão suficiente de vida, o hábito de só apreciar a
ciência em função de sua utilidade técnica, ilimitado desejo de poder, a
interior de um grupo apenas (a classe dominante ou a classe trabalhadora), pois elas só têm um efeito realmente
social na medida em que ultrapassem os “limites” das classes e dos partidos.
59
bonomia dos políticos, o fanatismo das ideologias, a aspiração a um nome
literário – tudo isto proclama a antifilosofia (p. 139).
Em contrapartida, “a filosofia busca a verdade nas múltiplas significações
do ser verdadeiro [...]. Busca, mas não possui o significado e substância da
verdade única” (ibid., p. 140), ou seja, a filosofia é a constante busca da verdade,
não a sua posse definitiva. Fazer filosofia é um constante caminhar, onde as
perguntas são mais importantes que as respostas, pois cada resposta abre espaço
para uma nova pergunta.
3.2 DIDÁTICA DA FILOSOFIA: UMA TENTATIVA DE DEFINIÇÃO
Na busca pela fidelidade ao discurso filosófico somos conduzidos à
necessidade de ensinar a filosofia. Já no início do Livro VII de A República,
Platão (1996) deixa transparecer que a educação é um tema essencial para a
reforma da Cidade. Nesse diálogo platônico, Sócrates, antes de relatar a alegoria
da caverna, chama a atenção de Glauco para o tema a ser tratado, da seguinte
forma: “imagina a nossa natureza, relativamente à educação ou à sua falta de
acordo com a seguinte experiência...” (p. 317). E logo adiante, admite a
responsabilidade pedagógica do filósofo ao justificar
que não causaremos prejuízo aos filósofos que tiverem aparecido entre nós,
mas teremos boas razões para lhes apresentar, por os forçarmos a cuidar dos
outros e a guardá-los [...]. Nós vos formamos, para vosso bem e do resto da
cidade, para serdes como os chefes e os reis nos enxames de abelhas, depois de
vos termos dado uma educação melhor e mais completa do que a deles
[filósofos de outros Estados], e de vos termos tornado mais capazes de tomar
parte em ambas as atividades — a política e a filosofia (ibid., p. 325-326).
Nessa perspectiva, com nossa reflexão sobre a filosofia e seu ensino,
procuramos apenas estimular a busca por novas respostas a velhos
60
questionamentos. Apesar de um certo consenso sobre a importância do ensino de
filosofia no ensino médio, “continuamos a nos indagar sobre o que ensinar,
como ensinar e por que o jovem aluno desprestigia esse saber juntamente,
muitas vezes, com os professores de outras disciplinas” (TOMAZETTI, 2002, p.
69).
Pensar sobre essas questões remete ao campo da didática, que enquanto
direcionamento da prática do ensino e da aprendizagem serve de elemento
articulador entre as proposições teóricas e a prática escolar propriamente dita.
Dessa forma, se existe um elemento que articula o saber filosófico e seu ensino
na escola, ou ainda, se a filosofia pode ser ensinada, é porque existe uma
didática para ela. Segundo Ghiraldelli Júnior (2002, p. 32), feitas as
modificações necessárias, o problema da didática para o ensino da filosofia é o
mesmo que o da didática geral, ou seja, “ estabelecer o limite entre o que está
sendo organizado de maneira a ser melhor aprendido pelo estudante, e o assunto
propriamente
dito,
como
ele
aparece
classicamente
na
história
do
conhecimento”.
Mas um assunto tão complexo como o saber filosófico gera algumas
dificuldades para o professor de filosofia no momento em que ele pretende
organizar esse saber para que o mesmo seja adequadamente assimilado pelo
aluno. Essas dificuldades giram em torno de dúvidas que poderiam se
materializar nas seguintes questões: O que ensinar? Como ensinar? Por que
ensinar filosofia? E por fim, pode-se ensinar a filosofia ou apenas se ensina a
filosofar?
Sabemos ser inviável dar respostas satisfatórias a todas essas perguntas
dentro dos limites desta pesquisa. Mas isso não nos impede de dialogar com
outros trabalhos produzidos nessa área, ou em áreas afins, na tentativa de
61
elaborar uma visão de conjunto sobre as questões levantadas anteriormente.
Apesar da aparente autonomia de cada uma das questões relativas ao ensino de
filosofia, elas se complementam e só podem ser entendidas adequadamente
nessa interdependência.
Segundo Candau (1984, p. 107), “a didática tem por objeto o como fazer a
prática pedagógica, mas este só tem sentido quando articulado ao para que fazer
e ao por que fazer”. Dessa forma, ao discutimos as questões propostas,
estaremos, possivelmente, travando uma discussão no campo da didática —
didática da filosofia para ser mais específico.
Em relação às duas primeiras questões levantadas sobre a filosofia — “o
que ensinar” e “como ensinar” —, poderíamos começar nossa discussão
retomando dois filósofos já citados neste trabalho: Kant e Popper. Segundo este
último,
a função do cientista e do filósofo é solucionar problemas científicos ou
filosóficos e não falar sobre o que ele e outros filósofos estão fazendo ou
deveriam fazer. Qualquer tentativa honesta e dedicada de resolver um
problema científico ou filosófico, mesmo que não tenha bons resultados,
parece-me mais importante do que um debate sobre problema como a natureza
da ciência ou da filosofia (POPPER, 1980, p. 95).
Se partirmos do princípio de que “todos que quiseram separar a Filosofia
do ensino da Filosofia não fizeram nem uma coisa nem outra” (GHIRALDELLI
JÚNIOR, 2002, p. 34), poderíamos tomar o que foi dito por Popper, em relação
ao filósofo, como algo válido também para o professor de filosofia. Sendo
assim, quando Popper afirma que a função do filósofo não é falar sobre o que ele
e outros filósofos estão fazendo ou deveriam fazer, podemos estender isso ao
próprio professor de filosofia, para que este não se preocupe prioritariamente em
colocar seus alunos em contato com os clássicos da filosofia, por exemplo. O
62
conteúdo das aulas de filosofia não deve ser restringido à história da filosofia.
No entanto, também não se deve limitar aos grandes temas filosóficos se isso
não levar o próprio aluno a tentar resolver problemas filosóficos. Nesta
perspectiva, não faz sentido trabalhar com os clássicos da filosofia ou com
grandes temas — apoiados ou não na história da filosofia — se isso servir
apenas de pretexto para falar o que outros filósofos fizeram, fazem ou deveriam
fazer.
A preocupação em não confundir “filosofia” com “história da filosofia” já
estava presente em Kant, no século XVIII, em conhecida passagem em que
afirma que não se pode ensinar filosofia, mas apenas ensinar a filosofar. Para
Kant (1980, p. 407) “dentre todas as ciências racionais, portanto, só é possível
aprender matemática, mas jamais filosofia; no que tange à razão, o máximo que
se pode é aprender a filosofar”. O grande mérito dessa passagem é o fato de
Kant ter chamado a atenção sobre a diferença entre “ensinar conteúdos
filosóficos” e “ensinar a filosofar”. Ao diferenciar filosofia de história da
filosofia, o que lhe interessa é a oposição “entre uma ciência constituída como
um conjunto de verdades e uma atividade da razão. Como a filosofia não é a
primeira, mas prioritariamente a segunda, não há aqui o que ensinar no sentido
de uma transmissão de conteúdos” (PORTA, 2002, p. 21).
Na verdade, guardadas as devidas particularidades, tanto Kant, quanto
Popper, estão preocupados com a forte tentação que acomete os professores de
transformar a filosofia em história da filosofia. Muitos professores de filosofia
ao invés de discutirem com seus alunos os grandes problemas filosóficos narram
a história dessa discussão e mantêm-se estrategicamente afastados da discussão.
Questões do tipo “o que ensinar” e “como ensinar”, por exemplo, são a
manifestação de uma desorientação e incompreensão de base relativa à natureza
da própria filosofia. Afinal, o que devemos estudar e ensinar aos nossos alunos?
63
Para alguns autores (ALMEIDA; COSTA, 2004; MURCHO, 2002a,
2002b), ao contrário do que acontece com outras disciplinas, em sua aparência, a
filosofia nos dá a sensação de não ter um corpo imenso de conhecimentos a
serem adquiridos. “Na História, há acontecimentos que têm de ser
compreendidos; na Física, leis e fórmulas; na Matemática, teoremas, axiomas e
regras. E na Filosofia? Há as opiniões opostas dos filósofos, que nunca parecem
chegar a um consenso mínimo” (MURCHO, 2002a, p. 14). Apesar de
reconhecer que essa visão pode estar sutilmente equivocada, Murcho (2002a, p.
15) parte do princípio de que a filosofia não tem conteúdos, e por isso acredita
que devemos “estudar e ensinar a discutir os problemas da Filosofia, começando
pelos mais acessíveis e avançando para os mais difíceis”. Para o autor é pela
compreensão gradual de um determinado problema filosófico que devemos
começar o estudo da filosofia.
Por um lado, encontramos professores que ao tomarem a história da
filosofia como centro (fazendo da história da filosofia o próprio conteúdo da
filosofia), muitas vezes apresentam essa história de forma linear e seqüencial,
produzindo nos alunos a imagem de uma grande lista de homens ilustres. Mas
por outro, também encontramos aqueles que defendem que o uso da história da
filosofia como referencial pelo professor, se feito da maneira adequada, pode
servir de apoio para ilustrar temas que se deseja abordar, pois “os temas são
tratados independentemente dos sistemas ou autores, que são levados em conta
apenas na medida em que propiciam os indispensáveis referenciais para
discussão” (SILVA, 1986, p. 159).
Essa segunda postura garante ao professor pelo menos duas vantagens: a
primeira é a liberdade de escolha, já que não se prende a nenhuma ordem,
cronologia ou linhagem estabelecida; e a segunda é o fato de os temas poderem
64
ser escolhidos em função do interesse e da atualidade. Isso demonstra que “o
recurso ao passado filosófico auxilia a compreensão do presente, quando este
recurso é utilizado em função do presente” (ibid., p. 160).
Essa alusão à história da filosofia como referencial de modo algum refuta
a idéia de Murcho (2002a) de que o estudo da filosofia deve começar pela
compreensão dos problemas filosóficos, ensinando aos alunos a pensarem
criticamente, assim como sobre as teorias e argumentos filosóficos. Na verdade,
Murcho (2002a) não descarta totalmente a história da filosofia, como podemos
perceber no trecho a seguir, onde ele procura mostrar a importância dos
problemas, das teorias e dos argumentos no ensino de filosofia:
uma forma de tentar compreender um problema é saber o que alguns dos
grandes filósofos, clássicos e contemporâneos, pensaram sobre esse
problema18 [...]. Contrastando as formas como diferentes filósofos formularam
um problema com a nossa própria compreensão do problema, enriquecemos a
nossa compreensão, traçamos distinções e corrigimos confusões. Como é
evidente, os problemas existem para ser resolvidos, e os filósofos oferecem as
suas soluções, as suas teorias, para resolver esses problemas [...]. As teorias
filosóficas apóiam-se quase exclusivamente em argumentos filosóficos (p. 16).
Reforçando essa posição de um uso equilibrado do recurso à história da
filosofia, Gallo e Kohan (2000, p. 194) admitem que “não se pensa
filosoficamente sem o recurso a uma história de mais de dois mil e quinhentos
anos”. No entanto, advertem que
a remissão à História da Filosofia não pode significar um retorno ao mesmo:
essa remissão deve ser essencialmente crítica e criativa [...]. retomar um
conceito é problematizá-lo, recriá-lo, transformá-lo de acordo com nossas
necessidades, torná-lo outro (ibid., p. 71).
18
Grifo nosso.
65
Em contrapartida, na tentativa de fugir a qualquer referência à história da
filosofia — seja como conteúdo, seja como referência para o estudo de temas —
alguns professores delegam aos próprios alunos a responsabilidade pela escolha
de temas a serem estudados. Assim, ao se trabalhar com temas escolhidos pelos
alunos — tais como sexo, drogas, amor etc — sem um preparo adequado do
professor, acaba por ocorrer o desvirtuamento e banalização da filosofia.
Segundo Tomazetti (2002, p. 72), “tratar filosoficamente determinados temas,
articulando-os com questões filosóficas, pode ser muito difícil para um professor
que não tome para si mesmo a filosofia como um exercício de reflexão
constante”.
Muitas vezes, para esconder sua própria incompetência — por não
dominar o conteúdo da filosofia, desconhecer as metodologias de ensino, ou
ainda, por não ter compromisso político com seu trabalho docente —, esse
professor acaba se tornando um “especialista em relações humanas”, acreditando
que se “ausentar [nos pseudodebates em sala de aula] é a melhor forma de
respeito e aceitação plena do aluno” (LUCKESI, 1994, p. 60). Justifica sua
“ausência” alegando que “toda intervenção é ameaçadora, inibidora da
aprendizagem” (ibid., p. 60). Para esse professor o resultado de uma boa aula é
muito parecido ao de uma boa terapia de grupo: boa aula é aquela que permite
ao aluno uma verdadeira catarse.
Por todo o exposto até o momento, na tentativa de encontrar soluções para
os desafios relativos ao ensino de filosofia, podemos reunir as respostas dadas
por diferentes autores, em três grandes grupos, ou tendências no ensino de
filosofia. Apesar dessa classificação pretender dar conta da compreensão e da
orientação da filosofia e seu ensino, estamos cientes de que ela não contempla
todas as manifestações pedagógicas da filosofia, até porque essas manifestações
não são puras, nem mutuamente exclusivas, aliás, essa é a limitação principal de
66
qualquer tentativa de classificação. Entretanto, acreditamos que essa
classificação, apesar de seu caráter provisório, poderá funcionar como um
instrumento de análise na avaliação da prática pedagógica do professor de
filosofia no ensino médio.
Nessa tentativa de classificação, encontramos algumas características que
nos permitem falar em três tendências predominantes no ensino de filosofia.
Inicialmente, o critério adotado para essa classificação em tendências toma por
referência a questão “o que ensinar” — que diz respeito ao conteúdo das aulas
de filosofia — e a questão “como ensinar” — que diz respeito à metodologia de
ensino. Dessa forma, inspirados no trabalho de Silva (1986), utilizamos uma
classificação composta pelos seguintes grupos ou tendências do ensino de
filosofia: 1) história da filosofia como referencial, 2) temas banalizados e 3)
história da filosofia como centro.
A primeira tendência, representada pelos professores que organizam o
processo ensino-aprendizagem tomando a história da filosofia como referencial,
já foi discutida nos parágrafos anteriores. Já em relação ao que chamamos de
temas banalizados — que também vimos anteriormente — percebemos que são
trabalhados por professores que na maioria das vezes são marcados
por algum tempo de prática docente permeada de desafios, de ansiedade, de
dificuldades de auto-afirmação no espaço escolar [...]. Por isso, a decisão de
trabalhar com temas isolados, mais atrativos aos alunos e ligados a questões do
cotidiano, sem uma referência à tradição filosófica, dentro de uma pedagogia
da facilitação (TOMAZETTI, 2002, p. 74).
Não menos prejudicial ao ensino de filosofia que a tendência anterior é a
postura do professor cuja prática pedagógica se enquadra na tendência que
chamamos de história da filosofia como centro. Esse professor acaba por fazer
67
da história da filosofia o próprio conteúdo das aulas de filosofia. Dessa forma,
focalizam “os sistemas e autores na ordem histórica de seu desenvolvimento,
visando familiarizar os alunos com os problemas e as formas de
encaminhamento das soluções” (SILVA, 1986, p. 156). Um primeiro problema
surge por conta do tempo que é reservado à disciplina filosofia na estrutura
curricular do ensino médio. Como o tempo destinado a essa disciplina é
reduzido19, e por conta de uma “ordem cronológica” na distribuição dos
conteúdos, geralmente o professor não consegue chegar à filosofia moderna ou
contemporânea, por exemplo. Por conta dessa situação,
quando chegam ao ensino superior em alguma aula de Filosofia, os alunos
indagados sobre o que pensam e/ou estudaram sobre Filosofia no ensino médio
são unânimes em afirmar que estudaram Sócrates, Platão e Aristóteles, que a
Filosofia é o estudo “daqueles homens” e/ou também, é o estudo do SER
(TOMAZETTI, 2002, p. 71).
Nessa perspectiva de ensino, o aluno não tem um espaço para discussão
de idéias na medida em que é impedido de aprender “a discutir idéias filosóficas,
a rever as suas posições, a ter em consideração contra-argumentos e contraexemplos, [...] a ver alternativas” e sentirá “a dificuldade de defender as suas
idéias” (MURCHO, 2002a, p. 17). A situação de um professor que limita a
filosofia à história da filosofia poderia ser comparada à situação de um professor
de física que limita o conteúdo de suas aulas à história da física, ou um professor
de matemática que ensinasse apenas história da matemática.
Na verdade, essa proposta de classificação relativa ao ensino de filosofia
— que como toda classificação visa a facilitar nosso entendimento da realidade
— não representa nenhuma novidade. Guardada as devidas particularidades, ela
19
O que vemos na maioria das escolas — senão na totalidade — são turmas que têm somente dois tempos
geminados de aula de filosofia por semana, apenas em uma das séries do ensino médio.
68
pode ser relacionada a outras classificações, inspiradas em pedagogias críticas,
que realizam análises sócio-estruturais da educação, partindo do âmbito do
fenômeno da marginalização e da concepção de sociedade que as principais
teorias da educação trazem em seu corpo (SAVIANI, 1991a, 1991b, 1985;
LIBÂNEO, 1994, 1986; LUCKESI, 1994).
Não é difícil percebermos que a postura docente que toma a história da
filosofia como centro, identifica-se com o conjunto de características
pedagógicas que dominaram o período educacional iniciado pelos jesuítas, ao
qual normalmente denominamos pedagogia tradicional. Para essa pedagogia, a
didática — tanto a geral, quanto a específica da filosofia — é compreendida
como um conjunto de regras técnicas, sendo a atividade docente totalmente
dissociada das questões políticas. Conforme vimos no capítulo dois deste
trabalho, essa característica instrumental da didática iniciou-se no Brasil com os
jesuítas. Herdeiro dessa tradição jesuítica, o ensino de filosofia ao trabalhar
exclusivamente a análise e interpretação de textos clássicos de filosofia —
tomando, portanto, a história da filosofia como centro — acaba por desenvolver
nos alunos uma consciência ingênua que em nada contribui para a formação de
indivíduos críticos e engajados aos problemas do país (RIBEIRO, 1977).
Segundo Ghiraldelli Júnior (1994, p. 20), mesmo “um século depois da
expulsão dos jesuítas do Brasil, ainda permanecia, incrustado nas cabeças dos
professores, um regrário didático com origem no Ratio” que se baseava na
unidade de matéria, unidade de método e unidade de professor.
Nessa perspectiva, a escola tem por finalidade preparar moral e
intelectualmente os alunos para assumirem seus respectivos papéis dentro da
sociedade. Segundo Libâneo (1994, p. 61),
69
a Pedagogia Tradicional, em suas várias correntes, caracteriza as concepções
de educação onde prepondera a ação de agentes externos na formação do
aluno, o primado do objeto de conhecimento, a transmissão do saber
constituído na tradição e nas grandes verdades acumuladas pela humanidade e
uma concepção de ensino como impressão de imagens propiciadas ora pela
palavra do professor ora pela observação sensorial.
O que pode existir de mais tradicional do que a própria filosofia, quando
só aceita como legítima a filosofia dos “filósofos ilustres”, que fazem parte de
um seleto grupo de “iluminados”?
Na perspectiva da pedagogia tradicional o ensino de filosofia limita-se à
adoção de uma abordagem que tem a história da filosofia como centro. O aluno
é considerado um receptáculo vazio que deve ser preenchido com os
conhecimentos filosóficos acumulados pelas gerações adultas e repassadas a ele
como verdades inquestionáveis. Dessa forma, “os conteúdos são separados da
experiência do aluno e das realidades sociais, valendo pelo valor intelectual,
razão pela qual a pedagogia tradicional é criticada como intelectualista e, às
vezes, como enciclopedista” (LUCKESI, 1994, p. 56).
Os preceitos dessa pedagogia mantiveram-se hegemônicos no pensamento
pedagógico brasileiro até a segunda década do século XX. Mas com o Manifesto
dos Pioneiros da Escola Nova (1932), documento elaborado por um grupo de
intelectuais brasileiros fortemente influenciados pelas teorias dos norteamericanos Dewey (1859-1952) e Rogers (1902-1987), busca-se a reconstrução
da escola na sociedade urbana e industrial. Nessa reconstrução, critica-se a
pedagogia tradicional e se propõe que em seu lugar seja adotada uma pedagogia
ativa, uma pedagogia renovada (ou escolanovista). A proposta dessa pedagogia é
desenvolver uma educação centrada no aluno, uma educação que lhe permita ser
70
o que realmente é, onde o professor deve “ausentar-se” para abrir espaço ao livre
crescimento pessoal do educando.
A característica principal desse período dominado pelo escolanovismo é a
excessiva valorização da criança como centro das preocupações metodológicas,
e a conseqüente crença na solução dos problemas educacionais sem considerar a
realidade extra-escolar. Nessa perspectiva, entende-se a Didática como um
conjunto de idéias e métodos, fundamentados em pressupostos psicológicos,
psicopedagógicos e experimentais, cientificamente validados e constituídos em
teoria, ignorando o contexto sócio-político-econômico.
Apesar da mudança de enfoque da pedagogia tradicional para a pedagogia
nova “deslocar o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do
aspecto lógico para o psicológico; [...] do professor para o aluno; [...] da
disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não diretivismo” e “...da
quantidade para a qualidade” (SAVIANI, 1991a, p. 20), não houve mudanças
qualitativas que pudessem beneficiar o ensino de filosofia, tendo em vista que
tanto uma quanto a outra tendência não levavam em consideração os
condicionantes sócio-políticos da educação.
No que diz respeito ao ensino de filosofia especificamente, o
escolanovismo propiciou as condições necessárias para o surgimento dos temas
banalizados,
enquanto
postura
docente.
Como
já
fizemos
referência
anteriormente, nessa perspectiva, o professor tem a oportunidade de “camuflar”
sua deficiência profissional, escondendo-se atrás de “pseudodebates” dos alunos,
alegando que sua intervenção poderia castrar o desenvolvimento intelectual dos
alunos. Outros, por sua vez, assumem uma postura não-diretiva, delegando aos
alunos a responsabilidade pela escolha dos temas a serem discutidos nas aulas de
filosofia. mas esquecem-se que
71
a não-diretividade abandona os alunos a seus próprios desejos, como se eles
tivessem uma tendência espontânea a alcançar os objetivos esperados da
educação. [...] As tendências espontâneas e naturais não são “naturais”, antes
são tributárias das condições de vida e do meio (LUCKESI, 1994, p. 71-72).
Com o respaldo de uma série de determinações legais — no período
compreendido entre 1931 e 1961 —, conforme vimos no capítulo sobre a
perspectiva histórica do ensino de filosofia, o escolanovismo foi amplamente
difundido. O ideário escolanovista penetrou nas cabeças dos educadores que, no
entanto, continuavam a trabalhar nas amplas redes escolares oficiais que se
organizavam na forma tradicional. A conseqüência dessa contradição foi “o
afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de
conhecimentos”, que
acabou por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares as quais
muito freqüentemente têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento
elaborado. Em contrapartida, a “Escola Nova” aprimorou o ensino destinado às
elites (SAVIANI, 1991a, p. 22).
Segundo Ghiraldelli Júnior (1994), por apresentar-se na forma de um
pensamento educacional completo (composto por uma política educacional, uma
teoria da educação e uma organização escolar e metodologia próprias), tendo
neste fator a sua principal característica, foi facultado à pedagogia nova
compor um regrário que orientou as reformas educacionais estaduais e que não
só combateu a Pedagogia Tradicional como também colaborou para sufocar as
possíveis transformações que estavam sendo definidas pela Pedagogia
Libertária20 associada às classes populares
20
Estando associada às primeiras organizações do proletariado urbano no Brasil, a Pedagogia Libertária
desenvolveu-se no sentido da transformação da ordem econômica capitalista (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1994).
72
Após o término do Estado Novo, marcado por um equilíbrio entre as
influências “tradicionais” e “novas” no campo educacional, temos a partir de
1945 o ensino da didática na formação do professor, inspirado no liberalismo e
no
pragmatismo.
Acentua-se
assim,
a
predominância
dos
processos
metodológicos em detrimento da própria aquisição do conhecimento.
Após visíveis sinais de exaustão das tendências tradicional e nova
apontando para o risco da perda da hegemonia burguesa, articula-se uma nova
teoria educacional, chamada por Saviani (1991a) de pedagogia tecnicista. A
pedagogia tecnicista revelou especial atenção aos estudos desenvolvidos pela
ciência do comportamento humano e pelo desenvolvimento de aparelhos
destinados ao trabalho pedagógico.
Essa
pedagogia,
assim
como
a
pedagogia
nova,
baseava-se
predominantemente na psicologia, mas com uma diferença essencial:
enquanto na pedagogia nova são os professores e alunos que decidem se
utilizam ou não determinados meios, bem como quando e como o farão, na
pedagogia tecnicista dir-se-ia que é o processo que define o que professores e
alunos devem fazer, e assim também quando e como o farão (SAVIANI,
1991a, p. 25).
No período pós-64, com o acordo MEC/USAID, segue-se uma série de
reformas que se dão no ensino superior e posteriormente no ensino de 1º e 2º
graus (atual ensino fundamental e médio). Instala-se na escola a divisão do
trabalho sob a justificativa da produtividade, caracterizando a chamada
pedagogia tecnicista. A partir dos pressupostos desta pedagogia, o enfoque do
papel da didática situa-se no âmbito da tecnologia educacional, tendo como
preocupação básica a eficácia e a eficiência do processo de ensino, como uma
alternativa não psicológica. Nesse contexto, a didática assume uma postura
73
ingênua de crença na neutralidade científica, como se a ciência pudesse ser
adequadamente compreendida, sem levar-se em conta o contexto histórico da
produção científica e suas implicações.
Sob este enfoque, os conteúdos dos cursos de didática assumem um
caráter meramente instrumental, onde o processo educacional torna-se
responsável pela definição do que professores e alunos devem fazer, quando e
como o farão. Segundo Candau (1996), a Didática nesta perspectiva
instrumental,
é concebida como um conjunto de conhecimentos técnicos sobre o “como
fazer” pedagógico, conhecimentos estes apresentados de forma universal e,
conseqüentemente, desvinculados dos problemas relativos ao sentido e aos fins
da educação, dos conteúdos específicos, assim como do contexto sócio-cultural
concreto em que foram gerados (p. 14).
Sob a égide dessa pedagogia tecnicista, se o professor não “enche a
cabeça” do aluno com conteúdos da história da filosofia, muito menos o aluno
escolhe os “temas filosóficos” que quer discutir, pois nessa pedagogia o que
importa é o uso adequado das técnicas de ensino. Nesse período, em que
vigorava a ditadura militar, o ensino de filosofia é totalmente relegado ao
ostracismo: não há vez nem para a “história da filosofia como centro” e nem
para “temas banalizados”. Como já vimos neste trabalho, com a promulgação da
Lei 5692/71, a filosofia além de não compor o núcleo comum e de não ser
contemplada entre as atividades exigidas como parte mínima e obrigatória do
currículo, também não era incluída como matéria da parte diversificada do
currículo.
Entretanto, a partir de 1974, época em que tem início a abertura gradual
do regime ditatorial instalado pelo governo militar pós-64, surgiram estudos
74
empenhados em fazer a crítica da educação dominante, mostrando sua
verdadeira face reprodutivista. Ao longo a década de 80, instala-se
definitivamente a crítica às tendências tradicional, nova e tecnicista, e a partir
daí busca-se novos rumos para a educação brasileira, e conseqüentemente para o
ensino de filosofia. Esboçam-se os primeiros estudos em busca de alternativas
para a didática, de um modo geral, e para a didática da filosofia especificamente,
a partir dos pressupostos da pedagogia crítica.
Essas “divisões” das principais características educacionais de cada
momento histórico, em “tendências”, só têm por objetivo facilitar o
entendimento de cada momento. Pois na prática essas tendências não existiram
de forma estanque, independentes umas das outras, mas uma tendência mais em
voga em determinada época coexiste na prática escolar com as características
das tendências anteriores.
“A Didática passa por um momento da revisão crítica. Tem-se a
consciência da necessidade de superar uma visão meramente instrumental e
pretensamente neutra do seu conteúdo” (CANDAU, 1996, p. 14). Neste sentido,
uma didática crítica — chamada por Candau (1996) de Didática Fundamental
— busca superar o intelectualismo do enfoque tradicional, o espontaneísmo
escolanovista e a orientação desmobilizadora do tecnicismo, procurando
compreender a realidade social onde se insere a escola, para poder agir em seu
interior e contribuir na transformação da sociedade.
Conforme os pressupostos da “tendência progressista crítico-social dos
conteúdos”, versão mais difundida da pedagogia crítica (LUCKESI, 1994;
LIBÂNEO, 1994, 1986), a difusão de conteúdos é a tarefa primordial da escola.
“Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das
realidades sociais” (LUCKESI, 1994, p. 69). É nesse contexto que começam a
75
surgir professores que tomam a “história da filosofia como referencial”. O aluno
não deixa de ter acesso aos conteúdos da história da filosofia incorporados pela
humanidade, mas esses conteúdos são permanentemente reavaliados em face das
realidades sociais.
Nessa perspectiva, a história da filosofia serve para ilustrar temas que se
desejam abordar, mas sendo levada em conta apenas na medida em que
forneçam referenciais para o melhor entendimento do aluno. Assim,
parafraseando Libâneo (1986), não basta que os conteúdos filosóficos sejam
apenas bem ensinados, mas é preciso que estejam ligados de forma indissociável
à sua significação humana e social.
Concebendo-se dessa maneira os conteúdos do saber filosófico, não se
estabelece de forma necessária uma
oposição entre cultura erudita e cultura popular, ou espontânea, mas uma
relação de continuidade em que, progressivamente, se passa da experiência
imediata e desorganizada ao conhecimento sistematizado. Não que a primeira
forma de elaboração da realidade seja errada, mas é necessária a ascensão a
uma forma de elaboração superior, conseguida pelo próprio aluno, com a
intervenção do professor (LUCKESI, 1994, p. 70).
Tanto na abordagem didática, que toma a história da filosofia como
centro, quanto na que trabalha com temas banalizados, corre-se o risco de tomar
o silenciamento político como pressuposto comum, assentado na afirmação da
neutralidade técnica. Ou seja, nas duas abordagens, a prática pedagógica é vista
apenas em função dos condicionantes internos do processo de ensinoapredizagem, sem levar em consideração o contexto social em que este processo
ocorre. Sendo assim, devido a este distanciamento da prática pedagógica real, a
didática da filosofia acaba sendo vista pelos professores como algo meramente
formal e sem importância.
76
Será apenas a partir da segunda metade da década de 70 que veremos
surgir, de maneira consistente e sistemática, críticas à concepção da didática
dominada pelo silenciamento político. Surgem no cenário educacional,
denúncias da falsa neutralidade da dimensão técnica, além da constatação da
impossibilidade de uma prática pedagógica que não seja social e politicamente
orientada, de maneira implícita e explícita. Todavia, juntamente com essas
denúncias, surgiram autores mais radicais, que chegaram a negar a possibilidade
da existência de qualquer aspecto da dimensão técnica na prática docente.
Para esses “radicais” a exaltação da dimensão política da prática
pedagógica vem associada à execração da dimensão técnica, onde esta é vista
como necessariamente vinculada a uma perspectiva tecnicista, do uso da técnica
pela técnica. Nesta perspectiva, competência técnica e política se contrapõem,
onde a afirmação de uma dimensão do processo de ensino-aprendizagem leva à
negação das demais.
Contudo, não podemos deixar de entender que apesar da crítica ao
tecnicismo acusá-lo de partir de uma visão unilateral, valorizando apenas a
dimensão técnica, essa dimensão é um aspecto que não pode ser ignorado para
uma apropriada compreensão e execução do processo de ensino-aprendizagem.
Na verdade, “competência técnica e competência política não são aspectos
contrapostos. A prática pedagógica, exatamente por ser política, exige
competência técnica” (CANDAU, 1984, p. 21).
Somente a partir de uma visão contextualizada da educação, onde sejam
levados em consideração todos os seus condicionantes sociais, políticos e
econômicos, é que podemos repensar a didática da filosofia de forma que ela
assuma a articulação das três dimensões (técnica, humana e política) do processo
77
de ensino-aprendizagem, associando-se a uma perspectiva de transformação
social.
Primeiramente, é preciso ter claro que o objeto de estudo da didática é o
processo de ensino-aprendizagem, onde toda proposta didática está impregnada,
implícita ou explicitamente, de uma concepção deste processo. Portanto, para
que este processo de ensino-aprendizagem seja adequadamente compreendido, é
necessário que o analisemos de tal forma que as dimensões humana, técnica e
político-social estejam articuladas.
Para uma abordagem que priorize a dimensão humana, que tem como
centro do processo ensino-aprendizagem a relação interpessoal, mais do que um
problema de técnica, a didática deve centrar-se no processo de aquisição de
atitudes, referentes ao campo da afetividade. Quanto à dimensão técnica, ela se
refere ao processo de ensino-aprendizagem como uma ação intencional e
sistematizada que prioriza os aspectos operacionais, organizando estes aspectos
com o intuito de propiciar as melhores condições para a aprendizagem.
Diante de todo o exposto até o momento, podemos constatar que a
didática, enquanto elemento direcionador do processo de ensino-aprendizagem,
“servirá de elemento articulador entre as proposições teóricas e a prática escolar
propriamente dita” (LUCKESI, 1994, p. 163). Atuando como mediadora entre o
aluno e a sociedade, ou seja, entre as condições de origem do aluno e sua
destinação social, cumpre seu papel na medida em que provê as condições e os
meios que assegurarão o encontro do aluno com os conteúdos do saber
filosófico.
Tanto em sua fase de planejamento quanto em sua fase de execução a
didática é a disciplina mediadora necessária para garantir a tradução da teoria
78
pedagógica em prática pedagógica. Para que essa ocorra da maneira mais eficaz
possível, do ponto de vista que interessa às camadas populares, é fundamental
observamos que o planejamento não é uma ação neutra, mas pelo contrário, é
uma ação política, um processo de tomada de decisões para a ação, levando em
consideração entendimentos filosófico-políticos do mundo e da realidade.
Portanto, “não pode ser reduzido, como tem acontecido na maior parte das vezes
na prática educacional, ao preenchimento de formulários no início de um
semestre ou ano letivo” (LUCKESI, 1994, p. 168).
Realizar o planejamento como se ele fosse neutro, e não um ato decisório
político, é processá-lo segundo os moldes que são ditados pela “Didática
Instrumental”, com prescrições de conteúdo e de metodologia de ensino que
enfatizam a dimensão técnica do processo ensino-aprendizagem. Em
contrapartida, uma “Didática Fundamental”, no contexto de uma pedagogia
atenta à transformação, terá de ser forjada na prática, ou seja, a execução da ação
planejada, o modo de ensinar não serão gratuitos, “mas formulados dentro das
circunstâncias de trabalho com o auxílio de informações e princípios já
estabelecidos e universalizados” (ibid., p. 171). A essa ação em execução ou já
executada, cabe uma ação apreciativa, em decorrência de decisões prévias.
A avaliação, enquanto forma de apreciação da ação, em si mesma, é um
instrumento de dinamismo e progresso, desde que seu exercício seja a
“normatização pela própria amplitude constitutiva desta ação [...], norteada por
uma visão de totalidade sobre dados relevantes, na perspectiva de encaminhar a
ação e não estagná-la pela classificação” (ibid., p. 173). Classificação essa que
serve como arma de uma didática autoritária e conservadora.
79
Segundo Candau (1996), levando-se em consideração a perspectiva dada a
esses pontos de referência do processo didático — planejamento, execução e
avaliação —, coloca-se em questão
a formação tradicional dos educadores, concebida fundamentalmente como
desvinculada da situação político-social e cultural do país, visualizando o
profissional de educação exclusivamente como um “especialista de conteúdo”,
um “facilitador da aprendizagem”, um “organizador das condições de ensinoaprendizagem”, ou um “técnico da educação” (p. 44).
A discussão em torno destas questões tem se refletido principalmente
através do questionamento da atual estrutura da disciplina didática, orientada
basicamente para a formação de “especialistas” com acentuado caráter técnico,
nos cursos de licenciatura em geral. Além deste problema, podemos acrescentar
“a dissociação entre a formação teórica e a prática educativa, a saturação do
mercado de trabalho, a falta de uma formação cultural consistente, entre outros”
(ibid, p. 44), o que dificulta ao professor encontrar o lugar do político naquele
que por definição é o espaço do saber, ou seja, mesmo sendo verdadeiro que o
problema da universidade — enquanto responsável pelos cursos de licenciatura
— é eminentemente político, “negar a sua dimensão pedagógica significa
desconhecer a essência de sua constitucionalidade, ignorando que a importância
política da educação reside na sua função de socializar o conhecimento”
(VIEIRA, 1989, p. 24).
Por tudo isso, podemos afirmar que a formação de educadores em geral, e
do professor de filosofia especificamente, deve assumir uma perspectiva
multidimensional do processo de ensino-aprendizagem, onde a articulação das
três dimensões — técnica, humana e política — seja colocada no centro
configurador da didática.
80
Se há um sentido para a filosofia e para as demais áreas do saber na
educação, esse sentido não se reduz à mera e simples apropriação de conteúdos.
Uma postura semelhante a essa — de crítica dirigida à pedagogia tradicional —
é adotada por Gaston Bachelard (1884-1962) em relação à ciência. Ao expor a
noção de obstáculo epistemológico na procura pelas condições psicológicas do
progresso da ciência, afirma que “a idéia de partir de zero para fundamentar e
aumentar o próprio acervo só pode vingar em culturas de simples justaposição”
(BACHELARD, 1996, p. 17).
Referindo-se especificamente aos professores de ciências — o que não
impede de generalizarmos sua afirmação aos professores de outras áreas —
argumenta que na educação, à semelhança do que acontece na ciência, a noção
de obstáculo pedagógico também é desconhecida. Para Bachelard (1996), os
professores de ciência, por exemplo,
imaginam que o espírito [científico] começa como uma aula, que é sempre
possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode fazer
entender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não levam em conta
que o adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos já
constituídos: não se trata, portanto, de adquirir uma cultura experimental, mas
sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já
sedimentados pela vida cotidiana (p. 23)
Neste ponto parece ficar mais evidente as possíveis semelhanças entre a
concepção de Bachelard e a postura defendida pelo que conhecemos como
pedagogia crítica. Não se trata apenas de transmitir os conteúdos escolares aos
alunos, mas de articular num mesmo processo a aquisição das noções
sistematizadas pela escola com os conhecimentos empíricos já constituídos pelo
aluno.
Como o próprio Bachelard (1996) admite, suas
81
observações podem, aliás, ser generalizadas: são mais visíveis no ensino de
ciências, mas aplicam-se a qualquer esforço educativo. No decurso de minha
longa e variada carreira, nunca vi um educador mudar de método pedagógico.
O educador não tem o senso do fracasso justamente porque se acha um mestre.
Quem ensina manda. Daí a torrente de instintos. [...] “Há indivíduos para quem
todo conselho referente aos erros pedagógicos que cometem é absolutamente
inútil, porque os ditos erros são a mera expressão de um comportamento
instintivo”. [...] Educador e educando merecem uma psicanálise especial (p.
24).
Assinalada essa dificuldade de reforma dos métodos pedagógicos ao
invocar o peso do instinto nos educadores, acreditamos que no caso da condução
de uma aula de filosofia, suscitar a reflexão é a forma que mais se aproxima da
autêntica filosofia. Mas essa necessidade de reflexão não deve se incluir apenas
no conjunto das “obrigações” do aluno. Deve fazer parte também da rotina
pedagógica do professor. Segundo Kohan (2002a, p. 40), nós professores ainda
“não pensamos que podemos pensar. Nesse sentido, não é possível ensinar a
pensar sem aprender a pensar; [...] para aprendermos a pensar, nada como
aprendermos a deixar que os outros pensem, aprendermos a deixar pensar”.
Desde sua origem, a filosofia se caracterizou como atividade intelectual,
como pensar, como reflexão e capacidade de argumentação. Dessa forma, nunca
permitiu uma afirmação dogmática de sua própria definição. E é essa atitude não
dogmática, de constante vigilância contra posturas dogmáticas, que deveria ser a
atitude mais digna da escola, enquanto lugar privilegiado da formação de ser
humano e do seu destino. Não podemos nos esquecer que filósofo é aquele que
busca ardentemente a sabedoria, mesmo ciente de que consegue apenas
aproximar-se do verdadeiro.
82
4 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL COMO PERSPECTIVA DE ESTUDO
As representações, enquanto campo de pesquisa e reflexão, atravessaram a
história das ciências sociais desde sua instituição disciplinar no século XIX
(CARDOSO; MALERBA, 2000).
Ao nos decidirmos pelo estudo das representações, focalizamos nossa
atenção no modo como Serge Moscovici (2003, 2001, 1978) inaugura a
discussão do conceito de representação social na perspectiva da psicologia social
contemporânea (item 4.2). Essa noção tem ocupado um lugar de destaque no
campo das ciências humanas, em geral, e da psicologia social, especificamente,
tendo em vista o grande número de trabalhos que se reportam às representações
(JODELET, 2001a).
Com o objetivo de enriquecer o debate em torno da noção de
representação social, a discussão a seu respeito foi precedida de uma breve
retrospectiva dessa noção como perspectiva de pesquisa no campo da educação
(item 4.1).
4.1
PERSPECTIVA
HISTÓRICA DA
REPRESENTAÇÃO SOCIAL
NA PESQUISA
EDUCACIONAL
Não seria exagero afirmarmos que o universo mental do homem
contemporâneo tem suas raízes na chamada cultura ocidental clássica, ou seja,
na cultura greco-romana. Isto significa “que nossa forma de observar o mundo,
de raciocinar e de agir evolui a partir do que os pensadores gregos nos
deixaram” (AQUINO, 1980, p. 161).
No entanto, apesar de herdeiros das instituições do mundo greco-romano,
as universidades foram adquirindo características próprias ao entrarem em
contato com o contexto religioso do Oriente islâmico e do Ocidente cristão. Na
época feudal existiram os chamados studia generalia, lugares freqüentados por
estudantes que vinham de todas as partes, e formavam verdadeiras sociedades
corporativas. Como a palavra universitas era comumente usada na Idade Média
para designar qualquer assembléia corporativa, foi também aplicada às
sociedades corporativas escolásticas e
provavelmente no decorrer do século XIV, o termo passou a ser usado à parte,
no sentido exclusivo de uma comunidade de professores e alunos, e cuja
existência corporativa houvesse sido reconhecida e sancionada pela autoridade
eclesiástica e civil (WANDERLEY, 1991, p. 16).
Apesar de algumas pequenas divergências quanto a uma data exata de seu
aparecimento, a universidade surgiu ligada a um longo passado cultural, que
abarca desde o período em que a palavra designava uma comunidade de mestres
e alunos que se reuniam para a transmissão do saber (meados do século XII), até
adquirir a personalidade jurídica traduzida no espírito corporativo. No entanto,
acredita-se que desde sua origem mais remota, esse tipo de instituição que hoje
conhecemos como universidade teve por fim cultivar e transmitir o saber
humano acumulado. Através dela “se pretendia alargar o saber a todos os
homens que aspiravam ao universalismo de raiz latina e cristã da cultura”
(SERRÃO, 1983, p. 15). A tônica medieval estava voltada para o saber como
um fim em si mesmo: o saber desinteressado.
84
Pouco a pouco, sob o impacto de transformações históricas, e tendo que
acompanhar as inovações que os homens iam elaborando em sua dinâmica
social, surgiram novas exigências e a necessidade de ampliação de
conhecimentos e produção de novos saberes. Como meio de atender a essas
necessidades, a pesquisa foi assumindo paulatinamente um papel privilegiado
dentro da universidade. Com a revolução industrial e “o influxo e a
disseminação das idéias liberais, buscou-se a integração entre o ensino e a
pesquisa” (WANDERLEY, 1991, p.18).
Assim, o “saber desinteressado” da universidade medieval, baseado na
“pesquisa pura” — que não tinha preocupação com os resultados ou com quem
poderia se apropriar deles —, dá lugar a um novo saber, fruto de uma nova visão
de pesquisa. Progressivamente a expansão das forças produtivas e a conseqüente
necessidade de conhecimentos úteis fizeram com que a pesquisa fosse
direcionada pela perspectiva de uma “pesquisa aplicada”, ou seja, pesquisas cuja
motivação fundamental é a resolução de problemas concretos, mais ou menos
imediatos (TOBAR; YALOUR, 2001).
Observando a evolução dessa tendência, as universidades foram se
adequando aos processos de desenvolvimento econômico e social conforme as
características peculiares de cada nação. Segundo Wanderley (1991, p. 38), “das
necessidades de cultivo e difusão, enfatizou-se o ensino como meta
fundamental; das necessidades de ampliação e descoberta, enfatizou-se a
pesquisa”. Nesse contexto, a universidade foi se dando conta da imperiosa
necessidade de integração entre o ensino enriquecido pela pesquisa, dando-lhe
novos subsídios na sua caracterização de trabalho acadêmico.
Os apelos concretos da sociedade contribuíram no sentido de avançar
nessa
perspectiva
de
pesquisa,
não
apenas
aplicada,
mas
também
85
contextualizada na sociedade. Dessa forma, a universidade começa a
caracterizar-se pela busca da articulação entre ensino e pesquisa — enquanto um
dos fatores responsáveis pelo avanço no domínio do conhecimento.
Atualmente, o que existe é quase um consenso em relação à necessidade
de integrar ensino e pesquisa. Mas apesar dessa integração, assumir contornos
diferentes conforme a concepção que se tenha de ensino ou pesquisa, a idéia que
vigora é aquela que entende que uma universidade sem pesquisa não deve,
rigorosamente, ser chamada de universidade. No caso brasileiro, essa integração
é definida por um ato legal, quando o art. 5º do Decreto nº 2.207, de 15 de Abril
de 1997 (Regulamenta artigos da Lei nº 9.394 de 20/12/96) estabelece que “as
universidades [...] se caracterizam pela indissociabilidade das atividades de
ensino, de pesquisa e de extensão...”.
Como resultado da crescente pressão exercida sobre a universidade, em
torno de uma obrigatoriedade de realização de pesquisas, esse termo acabou
ganhando um outro sentido (mais abrangente) que extrapolou os limites da
universidade, chegando, por vezes, a comprometer seu sentido mais específico
de “investigação e estudo, minudentes e sistemáticos, com o fim de descobrir ou
estabelecer fatos ou princípios relativos a um campo qualquer de conhecimento”
(FERREIRA, 1999, p. 1556). Com o uso indistinto do termo pesquisa para
identificar tendências eleitorais no campo do comportamento político (as
“pesquisas eleitorais”), ou ainda, nomear atividades como consultar apenas uma
obra, do tipo enciclopédia, recortar revistas e jornais, como ocorre na educação
básica (as “pesquisas escolares”), perde-se a noção de que pesquisar é produzir
conhecimento novo, relevante teórica e/ou socialmente, que deve ser
referendado pela comunidade de pares do pesquisador (LUNA, 2003).
86
Nessa perspectiva, o termo pesquisa se refere, no âmbito da atividade
científica, ao processo inquiridor de fenômenos com o propósito de
compreendê-los e explicá-los. Ou seja, a utilização mais adequada da palavra
pesquisa seria aquela que a entende como o estudo de um determinado problema
que desperta o interesse do pesquisador, mas que ao mesmo tempo tem a
capacidade de limitar sua atividade de pesquisa a uma determinada porção do
saber, que ele se compromete a construir naquele momento. Segundo Luna
(2003, p. 16-17), qualquer que seja o problema, o referencial teórico ou a
metodologia empregada, caracterizamos uma pesquisa pelo preenchimento dos
seguintes requisitos:
1) a formulação de um problema de pesquisa, isto é, de um conjunto de
perguntas que se pretende responder, e cujas respostas mostrem-se novas e
relevantes teóricas e/ou socialmente; 2) a determinação das informações
necessárias para encaminhar as respostas às perguntas feitas; 3) a seleção das
melhores fontes dessas informações; 4) a definição de um conjunto de ações
que produzam essas informações; 5) a seleção de um sistema para tratamento
dessas informações; 6) o uso de um sistema teórico para sua interpretação; 7) a
produção de respostas às perguntas formuladas pelo problema; 8) a indicação
do grau de confiabilidade das respostas obtidas [...]; 9) finalmente, a indicação
da generalidade dos resultados, isto é, a extensão dos resultados obtidos.
Na maioria dos casos, a pesquisa científica mostra-se para o grande
público, como um conjunto de conhecimentos “puros” ou “aplicados”,
produzidos por métodos rigorosos, comprovados e objetivos, onde a ciência
aparece como um conhecimento independente dos sistemas sociais e
econômicos. No entanto, tal situação é contestada por Japiassu (1975, p. 10-11),
quando nos alerta que “as condições reais em que são produzidos os
conhecimentos objetivos e racionalizados estão banhadas por uma inegável
atmosfera sócio-político-cultural”. Para esse autor, “a produção científica se faz
numa sociedade determinada que condiciona seus objetivos, seus agentes e seu
modo de funcionamento”, de onde podemos inferir que não há pesquisa
87
científica “pura”, “autônoma” e “neutra”, como se pudesse existir desvinculada
da cultura em que se insere.
Dessa forma, dadas as condições sociais de produção e apropriação do
conhecimento científico, somos levados a afirmar o caráter social da pesquisa.
Afirmação esta que também se aplica às pesquisas realizadas no campo da
educação.
No entanto, situada entre as ciências humanas e as ciências sociais, a
educação não poderia deixar de sofrer as mesmas injunções que acometem essas
ciências. Por volta da segunda metade do século XX, devido à complexidade
própria à educação — enquanto integrante do processo mais amplo de
socialização (BRANDÃO, 1989) — cresceu a dificuldade para responder
satisfatoriamente aos novos desafios impostos à pesquisa educacional — que até
então se utilizava basicamente dos métodos das ciências naturais ou físicas. Do
contraste entre essas dificuldades inerentes à pesquisa educacional e o prestígio
e sucesso dos métodos das ciências naturais quando utilizados em seu próprio
meio, transporta-se para o campo educacional uma indagação presente na área
das ciências humanas desde o século XIX: a vida em sociedade pode ou deve ser
investigada com os mesmos métodos das ciências naturais? (SANTOS FILHO,
1997).
Na busca de possíveis respostas a essa pergunta, foram aparecendo novas
propostas de abordagens e métodos de investigação, diferentes daqueles que
eram empregados tradicionalmente. Na tentativa de superação das limitações
sentidas nas pesquisas tradicionalmente realizadas em educação, surgiram as
chamadas Abordagens qualitativas de pesquisa.
88
Para sermos mais preciso, esse “paradigma qualitativo” começou a ganhar
força na década de 70, caracterizando-se principalmente pela sua oposição ao
chamado “paradigma positivista”. O paradigma positivista, que se identificava
prioritariamente pelo uso de técnicas quantitativas, sofreu severas críticas
pautadas nas posições da Escola de Frankfurt, principalmente em sua teoria
crítica da ideologia da sociedade contemporânea (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1998). É interessante ressaltar que, embora as
metodologias qualitativas já fossem bem conhecidas em áreas como a
antropologia, sociologia e psicologia, foi nessa época que seu uso se intensificou
e se expandiu a outras áreas, até então dominadas por abordagens quantitativas,
como era o caso da educação.
Atualmente, torna-se cada vez mais evidente o domínio do paradigma
qualitativo no campo da pesquisa educacional. Mas, apesar desse crescente
interesse por parte dos pesquisadores em relação às metodologias qualitativas,
existem algumas divergências sobre o que realmente caracteriza esse tipo de
pesquisa. Também não existe consenso em torno da discussão sobre a
cientificidade da pesquisa qualitativa. Muitos equívocos em relação ao
paradigma qualitativo devem-se a esse rótulo, que gera a ilusão de que existe
homogeneidade no interior do paradigma.
As pesquisas qualitativas, em suas manifestações nas diferentes áreas das
ciências sociais, parece ter como um ponto em comum o fato de seguirem uma
tradição
compreensiva
ou
interpretativa.
Segundo
Alves-Mazzotti
e
Gewandsznajder (1998, p. 131), a essa tradição interpretativa aliam-se três
outras características fundamentais para o entendimento adequado das pesquisas
qualitativas: a visão holística, a abordagem indutiva e a investigação
naturalística. Para os autores,
89
a visão holística parte do princípio de que a compreensão do significado de um
comportamento ou evento só é possível em função da compreensão das interrelações que emergem de um dado contexto. A abordagem indutiva pode ser
definida como aquela em que o pesquisador parte de observações mais livres,
deixando que dimensões e categorias de interesse emerjam progressivamente
durante os processos de coleta e análise de dados. Finalmente, investigação
naturalística é aquela em que a intervenção do pesquisador no contexto
observada é reduzida ao mínimo.
Em seu trabalho sobre pesquisa em educação, Lüdke e André (1986)
fazem um discussão mais detalhada sobre a abordagem qualitativa ao
apresentarem cinco pontos básicos que devem caracterizar esse tipo de pesquisa:
1) “A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta
de dados e o pesquisador como seu principal instrumento” (LÜDKE; ANDRÉ,
1986, p. 11). Pelo fato de não haver intervenção intencional do pesquisador, ao
estudar os problemas no ambiente em que ocorrem naturalmente, dá-se o nome
de “naturalístico” a esse tipo de estudo.
2) “Os dados são predominantemente descritivos” (ibid., p. 12). Assim, o
pesquisador deve procurar captar o maior número possível de detalhes presentes
no contexto estudado.
3) “A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto”
(ibid., p. 12). Dessa forma, a preocupação com atividades, procedimentos e
interações cotidianas onde possam manifestar-se o problema estudado, é
constante no pesquisador.
4) “O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de
atenção especial do pesquisador” (ibid., p. 12). Pois há sempre, por parte do
90
pesquisador, a preocupação em colocar-se na posição dos participantes, na
tentativa de captar suas perspectivas.
5) “A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo” (ibid., p.
13). Sendo assim, o pesquisador busca, através da observação de casos
particulares, formular hipóteses que o ajudem a entender a situação estudada.
Tomando por base essas características descritas anteriormente, podemos
inferir que uma das tarefas centrais das abordagens qualitativas em pesquisa é a
compreensão da realidade vivida socialmente. A adoção preferencial dessas
abordagens no campo da pesquisa educacional, a partir da década de 1970,
suscitou várias críticas ao paradigma quantitativo, entre os quais destaca-se o
positivismo.
A principal crítica imputada ao positivismo refere-se a sua postura de
“restringir o conhecimento da realidade social ao que pode ser observado e
quantificado e de transferir para a utilização do método a questão da
objetividade” (MINAYO, 2002, p. 24). Os métodos quantitativos se mostram
ineficazes para compreender as ações dos sujeitos em sua vida social, na medida
em que intentam distanciar o pesquisador do contato direto e prolongado com o
ambiente e a situação que está sendo investigada. Essa atitude levava à crença
ingênua em uma “perfeita separação entre o sujeito da pesquisa, o pesquisador e
seu objeto de estudo” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 4).
Para alguns autores (SANTOS FILHO, 1997; GAMBOA, 1997a, 1997b;
FRIGOTTO, 1997), a aparente contradição entre pesquisa quantitativa e
pesquisa qualitativa parece ser conseqüência do curto espaço de tempo destinado
ao amadurecimento teórico e metodológico das ciências humanas, quando
confrontadas com a maturidade já alcançada pelas ciências naturais. Em
91
contrapartida, na tradição dialética defendida por esses autores, demonstra-se
que há uma unidade entre as abordagens quantitativa e qualitativa de pesquisa.
Sem deixar de ser considerada uma importante manifestação da pesquisa
qualitativa, na perspectiva dialética, estabelece-se uma relação entre as duas
abordagens — qualitativa e quantitativa — afirmando a relação dinâmica entre o
mundo e o sujeito na elaboração do conhecimento.
Ao insistir na dinamicidade da relação entre o sujeito e o objeto no
processo de conhecimento, a dialética
não se detém [...] no vivido e nas significações subjetivas dos atores sociais.
Valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora do
sujeito que observa, as oposições contraditórias entre o todo e a parte e os
vínculos do saber e do agir com a vida social dos homens (CHIZZOTTI, 2000,
p. 80).
Por considerarem que o fenômeno ou processo social tem de ser entendido
nas suas determinações e transformações dadas pelos sujeitos, as pesquisas que
utilizam as representações sociais como perspectiva de estudo destacam-se entre
as abordagens qualitativas por seu grande potencial dialético. Pois a dialética
abarca “o sistema de relações que constrói, o modo de conhecimento exterior ao
sujeito, mas também as representações sociais” (MINAYO, 2002, p. 24).
A noção de representação social, que há mais de vinte anos vem ocupando
lugar de destaque nos trabalhos e debates em psicologia social, é reconhecida e
trabalhada em vários campos de estudo. Estando
situada na interface do psicológico e do social, esta noção interessa a todas as
ciências humanas: é encontrada em sociologia, antropologia e história,
estudada em suas relações com a ideologia, os sistemas simbólicos e as atitudes
sociais refletidas pelas mentalidades (JODELET, 2001b, p. 25).
92
Buscando entender as marcas “sociais” do cognitivo, ao mesmo tempo em
que procura as condições cognitivas do funcionamento ideológico, a psicologia
social de origem européia pensa as representações como um tipo de
conhecimento prático. Dessa forma, a psicologia social busca entender o papel
da representação social “na instituição de uma realidade consensual e sua função
sócio-cognitiva de integração da novidade e de orientação das comunicações e
das condutas” (SPINK, 1995a, p.86).
Frisamos a procedência dessa vertente da psicologia social, pois segundo
Sá (1996) parece haver diferenças na orientação teórico-metodológica da
vertente européia em relação à vertente americana. Para o autor, entre os
europeus “a tendência é para a utilização de metodologias mais diversificadas e
combinadas entre si, das quais não se exclui o próprio método experimental”
(SÁ, 1996, p. 18). Por essa razão, nota-se a preferência de alguns autores por
essa vertente, pelo fato de ela parecer um campo mais fértil para o florescimento
dos estudos das representações sociais (ibid.).
É interessante notar que aproximadamente a partir do final da década de
1980, verificamos no Brasil uma multiplicação de pesquisas em educação que se
utilizavam das representações sociais como perspectivas de estudo. Como
normalmente acontece com tudo que é novidade, o florescimento de pesquisas
educacionais pautadas nas representações sociais não deixou de vir
acompanhado de algumas críticas, que muitas vezes subsumiam as próprias
críticas mais gerais feitas às abordagens qualitativas de pesquisa (SPINK,
1995a).
No entanto, para Santos Filho (1997), o debate sobre a contradição entre
pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa parece mais artificial do que real.
93
Segundo esse autor, identificam-se contradições epistemológicas, metodológicas
e operacionais entre esses paradigmas, que são apenas aparentes na maioria dos
casos, e portanto, superáveis na prática da pesquisa. A crença nessa superação
fica evidente quando afirma que no atual estágio em que se encontra a discussão
do “dilema abordagem quantitativa versus abordagem qualitativa, em pesquisa
nas ciências humanas e da educação, entendemos que é epistemologicamente
mais defensável a tese da unidade dos paradigmas” (SANTOS FILHO, 1997, p.
53).
No desenvolvimento das pesquisas sobre representações sociais, mais do
que a preocupação com a superação entre diferentes abordagens, vemos
um espaço de pesquisa que se vem ampliando há vinte anos, com: uma
multiplicação dos objetos de representação tomados como temas de pesquisa;
abordagens metodológicas que se vão diversificando e fazem um recorte de
setores de estudo específicos; problemáticas que visam a delimitar melhor
certos aspectos dos fenômenos representativos; a emergência de teorias
parciais que explicam estados e processos definidos; paradigmas que se
propõem a elucidar, sob certos ângulos, a dinâmica representacional
(JODELET, 2001b, p. 41).
Justificando esse grande potencial para a emergência de trabalhos
coerentes com instrumentos conceituais e empíricos sólidos, Jodelet (2001b, p.
41) afirma que “ao contrário do paradigma informático, que recobre todo o
esforço científico sob a capa de uma mesma forma, o modelo das representações
sociais impulsiona a diversidade e a invenção, traz o desafio da complexidade”.
Essa verificação nos leva a compartilhar da idéia, já defendida por outros
autores (MOSCOVICI, 2003; GILLY, 2001; TEVES; RANGEL, 1999;
RANGEL, 1997), de que a noção de representação social nos oferece uma
perspectiva inteiramente nova para explicar os mecanismos pelos quais fatores
especificamente sociais agem sobre o processo educativo, influenciando seus
94
resultados. Dessa forma, discutimos no próximo item, os principais pontos dessa
teoria que nortearam nosso trabalho.
4.2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS)
O termo representações sociais foi cunhado pelo psicólogo social francês
Serge Moscovici para designar um conjunto de fenômenos e o conceito que os
engloba, assim como a teoria construída para explicá-los. Através da obra A
representação social da psicanálise (1978) — traduzida da segunda edição
francesa, intitulada La psychanalyse – son image et son public (1976) —
Moscovici apresenta um primeiro esboço do conceito e da teoria das
representações sociais.
Logo no prólogo desse trabalho inicial, Moscovici (1978, p. 14) deixa
claro que sua intenção era “redefinir os problemas e os conceitos da psicologia
social a partir desse fenômeno [da representação social], insistindo sobre sua
função simbólica e seu poder de construção do real”. Mas apesar de acreditar
que as representações sociais são entidades quase tangíveis, que se fazem
fortemente presentes em nosso universo cotidiano, por meio da fala, do gesto ou
de um encontro, admite que “se a realidade das representações sociais é fácil de
apreender, não o é o conceito” (ibid., p. 41).
Com o intuito de se afastar de uma vertente da psicologia social que se
ocupava basicamente dos processos psicológicos que envolvem um indivíduo,
considerando como foco “vagamente social” a influência que esse indivíduo
possa sofrer de outro indivíduo, Moscovici busca uma primeira inspiração no
conceito de “representação coletiva” da sociologia de Durkheim (SÁ, 1995).
Mas, como o conceito de representações coletivas era utilizado por Durkheim
95
como elemento básico para elaboração de uma teoria da religião, da magia e do
pensamento mítico, Moscovici considerou essa noção muito abrangente, pois era
capaz de referir-se a diferentes modos de organização social do pensamento,
sem defini-los.
Assim, para dar conta dos fenômenos que pretendia estudar, Moscovici
(2003, p. 198) prefere falar de representações sociais em lugar de representações
coletivas, procurando “romper com as associações que o termo coletivo tinha
herdado do passado e também com as interpretações sociológicas e psicológicas
que determinaram sua natureza no procedimento clássico”.
Para Durkheim, a representação coletiva é vivida de maneira homogênea
por todos os membros de um grupo, da mesma forma que partilham uma língua.
Tendo por substrato a sociedade em sua totalidade, a representação coletiva tem
por função preservar o vínculo entre os membros desse grupo e “prepará-los
para pensar e agir de modo uniforme. Ela é coletiva por isso e também porque
perdura pelas gerações e exerce uma coerção sobre os indivíduos, traço comum
a todos os fatos sociais” (MOSCOVICI, 2001, p. 47).
Mas
se
na
perspectiva
de
Durkheim
a
representação
indica
prioritariamente “uma ampla classe de formas mentais (ciências, religiões,
mitos, espaço, tempo), de opiniões e de saberes sem distinção” (ibid., p. 47),
para Moscovici — ao retomar o estudo das representações, por volta do início
dos anos 60 — a própria noção se modificou, na medida em que as
representações coletivas foram “cedendo lugar” para as representações sociais.
Para este autor, a noção de representação social surge como uma resposta à
necessidade de fazer da representação uma passarela entre os mundos
individual e social, de associá-la, em seguida, à perspectiva de uma sociedade
96
em transformação [...]. Trata-se de compreender não mais a tradição, mas a
inovação; não mais uma vida social já feita, mas uma vida social em via de se
fazer (ibid, p. 62).
Assim, ao reconhecer “que as representações são, ao mesmo tempo,
construídas e adquiridas, tira-se-lhes esse lado preestabelecido, estático, que as
caracterizava na visão clássica” (ibid., p. 62).
Dessa forma, buscando deixar bem nítido que sua proposta afasta-se da
noção de representação coletiva, Moscovici (ibid., p. 63) afirma que a
representação social “tem um caráter moderno pelo fato de que, em nossa
sociedade, substitui mitos, lendas e formas mentais correntes nas sociedades
tradicionais”. E o autor ainda faz questão de acrescentar que as representações
sociais que lhe interessam
não são nem as das sociedades primitivas, nem as suas sobreviventes, no
subsolo de nossa cultura [...]. Elas são as de nossa sociedade atual, de nosso
solo político, científico, humano, que nem sempre têm tempo suficiente para se
sedimentar completamente para se tornarem tradições imutáveis
(MOSCOVICI, 2003, p. 48).
Dentro dessa perspectiva, podemos inferir que, para Moscovici, as
representações sociais são típicas das culturas modernas e acompanha o ritmo
dessas culturas. Os meios de comunicação de massa aceleram essa tendência e
as representações sociais podem disseminar-se por toda a população, ao mesmo
tempo em que podem permanecer por um curto período de existência, ou então,
“ancorarem-se” por mais tempo nas comunicações e interações sociais.
Apesar de Moscovici recusar-se a conceituar de modo definitivo as
representações sociais, muitos pesquisadores têm contribuído para seu
desenvolvimento enquanto teoria. Na tentativa de aprofundar a compreensão que
97
se tem da teoria das representações sociais (TRS), ela tem sido discutida,
criticada, reformulada e cada vez mais empregada em trabalhos científicos de
diversas áreas de conhecimento (CONFERÊNCIA DO IMAGINÁRIO, 2003;
JODELET, 2001a; CARDOSO; MALERBA, 2000; SÁ, 1998; MOREIRA;
OLIVEIRA, 1998). No que diz respeito ao campo educacional, a TRS é uma das
teorias que têm recebido crescente atenção por parte dos pesquisadores
(MOYSÉS, 2001; RANGEL, 2001, 1998a, 1997; GILLY, 2001; TEVES;
RANGEL, 1999).
Segundo De Rosa (apud OLIVEIRA; WERBA, 1998, p. 105), o estudo da
TRS pode ser caracterizado em três níveis de discussão e análise:
• O nível fenomenológico, em que as representações sociais, tomadas como
objeto de investigação, são elementos da própria realidade social, aparecendo
como modo de conhecimento e saberes do senso comum, “que surgem e se
legitimam na conversação interpessoal cotidiana e têm como objetivo
compreender e controlar a realidade social”.
• O nível teórico, em que as representações referem-se à reunião de conceitos e
métodos, que dizem respeito à formação de conceitos e imagens.
• O nível metateórico, no qual temos a revisão epistemológica do campo de
estudos das representações sociais. É o nível das discussões sobre a própria
teoria.
A distinção entre esses três níveis, apesar de serem elaborações do
“universo reificado da ciência”, é imprescindível para o sucesso da pesquisa. Ao
deixarmos claro sobre qual desses níveis refere-se nossa investigação,
complementamos um processo decisório — que se inicia, já com a construção
do objeto e objetivo de pesquisa — “pelo qual transformamos conceitualmente
um fenômeno do universo consensual em um problema do universo reificado”,
98
para em seguida, selecionarmos “os recursos teóricos e metodológicos a serem
usados para a solução do problema” (SÁ, 1998, p. 26).
Numa outra perspectiva, Jodelet (2001b) — partindo da noção básica de
que uma representação social é uma forma de saber prático, socialmente
engendrado e compartilhado, que colabora para a constituição de uma realidade
comum a todos os membros de um conjunto social — levanta três questões
balizadoras para esse campo. Essas questões, por sua vez, desembocam em três
problemáticas interdependentes, que dizem respeito a: 1º) ao estudo das
condições de produção e circulação das representações sociais (quem sabe e de
onde sabe?); 2º) à pesquisa dos processos e estados das representações sociais (o
que e como sabe?) e 3º) à ocupação com o estatuto epistemológico das
representações sociais (sobre o que sabe e com que efeito?). Essa classificação
tem um caráter mais didático do que normativo, pois não podemos perder de
vista que se trata “de três grandes dimensões do campo das representações
sociais, cuja pesquisa deveria ser conduzida de modo articulado” (SÁ, 1998, p.
33).
A caracterização em níveis (DE ROSA apud OLIVEIRA; WERBA, 1998)
e dimensões (JODELET, 2001b) fazem parte do universo da ciência, sendo
necessárias para tornarem viáveis as pesquisas em representações sociais, já que
esse fenômeno — pela sua complexidade, recorrente a inúmeras instâncias da
interação social — não pode ser captado de forma direta e completa pela
pesquisa científica.
Assim, a teoria das representações sociais não implica ou recomenda
generalizações, mas sim que se apontem aspectos ou elementos de sua
formação, no interesse de que a pesquisa não tenha pretensão de ser
99
demasiadamente abrangente e com isso não dê conta de todas as manifestações
do fenômeno de representação social (SÁ, 1998).
Segundo Moscovici (2003),
as representações sociais estão mais e mais marcadas pela divisão entre esses
dois universos, o primeiro (universo consensual) caracterizado por uma relação
de apropriação confiante, até mesmo uma implicação, e o último (universo
reificado) pelo distanciamento, pela autoridade, até mesmo por uma separação
(p. 198).
Essas representações são essencialmente dinâmicas e influem na
construção de conhecimentos sociais, cuja finalidade é situar o indivíduo no
mundo e, conseqüentemente, influir na definição de sua identidade social. Sendo
fundamentalmente dinâmicas, as representações sociais “levam os indivíduos a
produzirem comportamentos e interações com o meio, ações que, sem dúvida,
modificam os dois” (OLIVEIRA; WERBA, 1998, p. 105). E é justamente esse
dinamismo das representações que sugere um cenário interdisciplinar para seu
estudo apresentando, como conseqüência, uma diversidade de enfoques que são
adotados para a pesquisa nesse campo.
É interessante notar que, além de se formarem a partir das percepções que
o sujeito tem da “realidade”, as representações também influem na configuração
dessa mesma “realidade”. Elaboradas e partilhadas coletivamente, as
representações sociais expressam conhecimentos práticos, do senso comum,
constituído-se em “teorias” sobre saberes populares, cuja finalidade é a
construção e interpretação do real. Dessa forma, as representações sociais
podem ser caracterizadas como verdadeiras teorias do senso comum, “pelas
quais se procede à interpretação e mesmo à construção das realidades sociais”
(SÁ, 1995, p. 26).
100
Segundo Moscovici (2003), “as representações sociais têm como
finalidade primeira e fundamental tornar a comunicação, dentro de um grupo,
relativamente não-problemática e reduzir o ‘vago’ através de certo grau de
consenso entre seus membros” (p. 208). Para isso, é necessário colocar o
conteúdo “estranho”, que se apresenta na representação, em contato com um
conteúdo conhecido, e trazer para o interior de nosso universo o que se encontra
fora dele, tornando o estranho em algo familiar.
Assim, “a finalidade de todas as representações é tornar familiar algo nãofamiliar, ou a própria não-familiaridade” (ibid., p. 54). Entretanto, ao formarmos
representações objetivando nossa familiarização com o estranho, formamo-nas
também para reduzir a margem de não-comunicação. Ou seja, ao formarmos
nossas representações sociais (de uma teoria científica, de uma noção, de um
objeto etc), estas “são sempre o resultado de um esforço constante de tornar
comum e real algo que é incomum (não-familiar), ou que nos dá um sentimento
de não-familiaridade” (ibid., p. 58).
Transformar palavras, idéias ou seres não-familiares em palavras comuns
próximas e atuais não é tarefa fácil. Para transformar o não-familiar, dando-lhe
uma feição familiar, é necessário um processo de pensamento baseado na
memória e em conclusões passadas que põem em funcionamento os dois
mecanismos responsáveis pela “familiarização” e que geram as representações
sociais (MOSCOVICI, 2003).
A familiaridade a que Moscovici se refere é conseguida através da
ancoragem, que é “o processo de assimilação de novas informações a um
conteúdo cognitivo-emocional preexistente” (SAWAIA, 1995, p. 76) e da
objetivação, que é a transformação de um conceito abstrato em algo concreto e
101
tangível. Portanto, a ancoragem e a objetivação são os mecanismos
fundamentais, responsáveis pela formação de uma representação social.
Como primeiro mecanismo da formação de uma representação social
temos o processo de ancoragem, pelo qual “a sociedade converte o objeto social
num instrumento de que ela pode dispor, e esse objeto é colocado numa escala
de preferência nas relações sociais existentes” (FIGUEIRA, 1980, p. 300). Nessa
perspectiva, a ancoragem é nossa tentativa de classificar e encontrar um lugar
para inserir o conhecimento “não familiar”, dando-lhe um aspecto “familiar”.
Quando vemos como ameaçador algo estranho e diferente, inicia-se o processo
de ancoragem, na tentativa de incorporar o que nos “ameaça” (pessoa, idéia,
objeto) num modelo conhecido que possamos decodificar.
Esse primeiro mecanismo “tenta ancorar idéias estranhas, reduzi-las a
categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar”
(MOSCOVICI, 2003, p. 60). Pelo processo de ancoragem, algo estranho e
perturbador que nos intriga é transformado em nosso próprio sistema de
categorias e comparado a um paradigma de uma categoria que acreditamos ser
mais apropriada. Sendo assim, ancorar nada mais é do que classificar e nomear
alguma coisa, pois as coisas que não pertencem a uma classificação e que não
têm um nome não têm “existência”, e portanto, são estranhas e
conseqüentemente, ameaçadoras.
A objetivação — segundo mecanismo da formação de uma representação
social — torna real um esquema conceitual, dando uma feição material a uma
imagem. Através dela, procuramos aliar um conceito a uma imagem. Pela
objetivação, constitui-se o núcleo das representações através das imagens
concretizadas por conceitos. Ou seja, “objetivar é descobrir a qualidade icônica
102
de uma idéia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem”
(ibid., p. 72).
Temos um bom exemplo desse mecanismo no campo religioso. Quando se
chama Deus de “pai”, na verdade está se objetivando, pois “o que era invisível,
instantaneamente se torna visível em nossas mentes, como uma pessoa a quem
nós podemos responder como tal” (ibid., p. 72). Dessa forma, a objetivação se
dá ao transformarmos algo abstrato, como a imagem de Deus — jamais
visualizada — em algo quase concreto, como é o caso da imagem conhecida de
pai, facilitando, com isso, a idéia do que seja Deus. Assim, esse segundo
mecanismo de formação das representações sociais tenta transferir o que está na
mente para algo que tenha existência no mundo físico.
As representações sociais só podem ser adequadamente estudadas, na
medida em que compreendemos como funcionam os mecanismos de ancoragem
e objetivação, responsáveis diretamente pela criação dessas representações. Os
dois
mecanismos transformam o não-familiar em familiar, primeiramente
transferindo-o a nossa própria esfera particular, onde nós somos capazes de
compará-lo e interpretá-lo, e depois, reproduzindo-o entre as coisas que nós
podemos ver e tocar, e, conseqüentemente, controlar (ibid., p. 61).
Complementando a observações anteriores, de certa forma, podemos
caracterizar a representação social como “uma modalidade de conhecimento
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação
entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). Isso nos leva à compreensão de
que as representações sociais não podem ser estudadas como se fossem produto
da ação e relação entre sujeitos ou grupos livres e autônomos. Mas, pelo
contrário, as representações de um sujeito ou grupo “não são independentes,
103
relacionam-se a outros sistemas de representações e expressam um discurso
sobre a sociedade inteira” (SAWAIA, 1995, p. 78).
Segundo Rangel (1993a, p. 12):
as pessoas elaboram socialmente as representações, que se tornam assim,
fatores importantes nas relações entre o homem — ser social — e o mundo,
orientando a forma (coletiva) de definir, interpretar e constituir a realidade,
comunicando valores e conhecimentos que variam de acordo com os grupos
sociais que lhe atribuem significados.
Partindo do princípio de que as representações sociais são produtos
sociais, parece haver uma grande aceitação, por parte dos pesquisadores dessa
área de que, no estudo dessas representações, devemos sempre remetê-las ao seu
contexto de produção, ou seja, às condições sociais que as engendraram
(SPINK, 1995c). Dessa forma, a adequada compreensão das representações
sociais aponta “a necessidade de partir das relações sociais para compreender
como e por que os homens agem e pensam de determinada maneira, afirmando o
caráter histórico da consciência” (SAWAIA, 1995, p. 75). Ou seja, a
representação social, enquanto fenômeno da sociedade — mas também teoria de
pesquisa — inclui fatores sócio-psicológicos, históricos, culturais e afetivos.
Essa abrangência fenomenal nos possibilita obter dos sujeitos das pesquisas
nesse campo os conceitos e imagens que atribuem ao objeto pesquisado.
Portanto, pelo seu potencial em orientar conceitos e influenciar condutas,
a representação social traz grandes contribuições à pesquisa educacional. No que
diz respeito ao ensino de filosofia, em particular, a utilização da teoria das
representações sociais em pesquisas pode trazer
elementos teóricos explicativos da própria identidade grupal, ou seja, da
maneira como os sujeitos pertencentes a um grupo se afinam, no modo de
104
pensar e agir, diante de um “objeto” que faz parte de seus interesses e do
próprio funcionamento desse grupo (RANGEL, 2001, p. 136).
Mas, se com o que vimos até agora, tentamos fixar o sentido da noção de
representação social, qual a relação desse fenômeno com a coletividade que a
produz? E, nesse sentido, como essa representação se reflete no sujeito social,
que é portador do seu conteúdo?
Em um nível relativamente superficial — no nível em que a representação
social se mostra como um conjunto de proposições emitidas pelo “coro” coletivo
de que cada sujeito faz parte, independente de sua vontade — ou seja, no nível
da opinião pública, as proposições, reações ou avaliações organizam-se de
diversas maneiras de acordo com “as classes, as culturas ou os grupos, e
constituem tantos universos de opinião quantas classes, culturas ou grupos
existem” (MOSCOVICI, 1978, p. 67). Assim, na tentativa de responder às
questões levantadas no parágrafo anterior, tomamos por base, para nossa
pesquisa, a hipótese elaborada por Moscovici (1978) de que cada universo de
opinião possui três dimensões, a saber: a atitude, a informação e o campo de
representação (ou imagem). Ao tomarmos as dimensões da representação como
categorias básicas de análise consideradas nesta pesquisa, nos reportamos,
portanto, à caracterização dessas dimensões, elaboradas pelo próprio Moscovici
(1978).
A atitude, primeira dimensão citada, busca “destacar a orientação global
em relação ao objeto da representação social” (ibid., p. 70), suscitando em todos
os sujeitos envolvidos tomadas de posição (atitudes) determinadas. Essa
dimensão nos permite perceber pessoas que são favoráveis e pessoas que são
desfavoráveis ao objeto representado, admitindo que, entre esses dois extremos,
há também atitudes intermediárias. Assim, enquanto uma tomada de posição do
105
sujeito em relação ao objeto representado, podemos identificar nas atitudes “os
valores positivos (necessidades sociais, valor científico, conseqüências de
guerra) e os valores negativos” (ibid., p. 71).
A dimensão designada pelo termo informação “relaciona-se com a
organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de um objeto
social” (ibid., p. 67). E segundo o próprio Moscovici (2003, 1995, 1978), a
melhoria das condições de informação sobre esse objeto representado é
diretamente proporcional ao nível de conhecimento que o sujeito tenha sobre o
objeto. Seguindo este raciocínio, infere-se que “quanto maior for o
conhecimento que uma pessoa ou um grupo tenha de uma dada realidade, mais
coerente e próximas do real são as representações sociais que dela façam”
(MOYSÉS, 2001, p. 47).
Na dimensão “campo de representação”, somos remetidos “à idéia de
imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das proposições
atinentes a um aspecto preciso do objeto da representação”. (MOSCOVICI,
1978, p. 69). No entanto, apesar de o conteúdo das proposições poder englobar o
conjunto representado, isso não quer dizer que esse conjunto seja ordenado e
estruturado. A amplitude do campo de representação e os pontos que lhe
orientam variam muito e englobam tantos juízos sobre o objeto representado,
quanto os tipos de sujeitos que elaboram representações.
A expressão do conteúdo da representação, que se encontra nas
proposições e imagens dos sujeitos, é tanto menos percebida quanto maior for a
amplitude do campo de representação. Isso nos permite, freqüentemente, apenas
constatar
a
existência
de
uma
organização
subjacente
ao
conteúdo
(MOSCOVICI, 1978).
106
Estamos cientes de que a perspectiva adotada neste trabalho, por já estar
presente na primeira obra de Moscovici (1978), pode conter algumas limitações.
Ao referir-se às pesquisas realizadas pelos primeiros estudiosos brasileiros, que
tomaram por base a análise das dimensões, Sá (1998) nos alerta que devemos ter
cautela para não “se cair em um estudo clássico de atitudes sociais e/ou, pior
ainda, em uma simples testagem de conhecimentos populares a ser comparada
com aqueles próprios dos universos reificados” (p. 69), onde os pesquisadores
passem a se ocupar exclusivamente da dimensão campo da representação. Mas,
isso não inviabiliza um estudo dessa natureza, pois o próprio Sá (1998) admite
que “pode ter havido um abandono prematuro das outras dimensões e talvez seja
interessante recuperá-las, desde que de um modo em que as três sejam
conscientemente articuladas” (p. 69).
A convicção no potencial da pesquisa que se utiliza das dimensões da
representação como categoria de análise fica evidente quando Moscovici (1978)
admite que “as três dimensões — informação, campo de representação ou
imagem, atitude — de representação social [...] fornecem-nos uma panorâmica
do seu conteúdo e do seu sentido” que nos permite “formular legitimamente a
questão de utilidade dessa análise dimensional” (p. 71). Para ele, o argumento da
precisão, tão necessário à abordagem quantitativa, não é decisivo nas pesquisas
referentes às dimensões da representação.
Ao nos propormos a estudar a filosofia no ensino médio à luz da TRS,
balizamos nossa pesquisa pela perspectiva adotada por essa teoria de que “o
social é coletivamente edificado e o ser humano é construído através do social”
(OLIVEIRA; WERBA, 1998, p. 111). Assumindo essa postura, não podemos
deixar de levar em consideração que
107
cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no
mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo
orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e
consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também
no social e no político (GRAMSCI, 1995, p. 3).
Outra questão que se pode levar em conta como possibilidade é a de que o
professor de filosofia — profissional com um conjunto de conhecimentos
forjados por determinado grupo social — tenha, como todos os demais
professores (intelectuais) que se formaram numa instituição escolar, um papel
na conservação do bloco histórico. Em alguns casos, quando o professor de
filosofia acredita que “faz o que faz” e “pensa o que pensa” porque é um
indivíduo livre, autônomo e com poder para mudar o curso das coisas como e
quando quer, pode estar desconhecendo que é condicionado por fatores
histórico-sociais e políticos concretos.
Assim, partimos da proposição de que representações referentes à
filosofia e seu ensino podem veicular valores que interpretam e reconstroem os
fatos reais, de acordo com os interesses de um determinado grupo social, em
detrimento de outro. Por essa razão, acreditamos que as representações sociais
da filosofia no ensino médio tornam-se objeto de significativa importância à
pesquisa em educação, não apenas pelas contribuições que podem trazer ao
entendimento da formação e consolidação de conceitos, socialmente veiculados
e mantidos por professores de filosofia, mas também por oferecerem subsídios
ao entendimento dos mecanismos de elaboração desses conceitos e suas imagens
da “realidade” dessa disciplina.
108
5 METODOLOGIA DA PESQUISA EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
No desenvolvimento de uma pesquisa científica de cunho social,
poderíamos apontar como principal objetivo a necessidade de ultrapassar o
senso comum. Essa ultrapassagem se dá pela utilização do método científico que
“permite que a realidade social seja reconstruída enquanto um objeto do
conhecimento, através de um processo de categorização (possuidor de
características específicas) que une dialeticamente o teórico e o empírico”
(MINAYO, 2002, p. 35).
Em relação a uma pesquisa científica, poderíamos dizer que o método é
um caminho iluminado por uma determinada teoria. Segundo Tobar e Yalour
(2001, p. 20) “a questão do método é uma questão de procedimentos, não de até
onde avançar, mas de como fazê-lo”. Como nos capítulos precedentes já foi
definida a base teórica e conceitual que utilizamos para estudar a filosofia no
ensino médio, resta-nos definir o melhor caminho para alcançar esse objetivo.
Assim, com o intuito de responder à pergunta de “como pesquisar” à luz
da Teoria de Representação Social (TRS), discutimos neste capítulo os
procedimentos adotados para esse fim. Ou seja, discutimos a metodologia
utilizada para o acesso ao fenômeno de representação social que escolhemos
pesquisar. Para isso, dividimos o capítulo em duas partes que abarcam os
principais elementos da metodologia, a saber: procedimentos para levantamento
dos dados (item 5.1) e procedimentos para análise dos dados (item 5.2).
5.1 PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS
Ao definirmos a linguagem como “o uso da palavra articulada ou escrita
como meio de expressão e de comunicação entre pessoas” (FERREIRA, 1999,
p. 1219), podemos inferir que se desenvolveu historicamente pela necessidade
de os seres humanos se entenderem em relações de trabalho cada vez mais
complexas, não sendo portanto, um campo neutro. Mas pelo contrário, a
linguagem pode ser um lugar de conflito, de confronto ideológico, funcionando
como “elemento de mediação primordial entre o homem e sua realidade, e como
forma de engajá-lo na própria realidade”. Sendo assim, a linguagem não pode
ser “entendida fora da sociedade, uma vez que os processos que a constituem
são históricos-sociais” (BRANDÃO, 1996, p. 12).
Nessa perspectiva, a análise do discurso, nova tendência lingüística
surgida na década de 1960, converte-se em instrumental de grande utilidade na
identificação das representações sociais pertinentes ao tema desta pesquisa. Pois,
nessa tendência lingüística entende-se que o estudo da linguagem não pode estar
desvinculado de suas condições de produção. A análise do discurso procura
compreender a língua fazendo sentido [...]. Não trabalha com a língua enquanto
um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de significar,
com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte de
suas vidas, seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada
forma de sociedade (ORLANDI, 1999, p.15-16).
Referindo-se à coleta e tratamento de dados relativos à pesquisa em
representações sociais (RS), Souza Filho (1995, p. 115) nos alerta sobre a
necessidade “de saber qual a melhor forma de expressão a ser usada pelo sujeito
para a (re) produção de RS, bem como a respeito da situação mais adequada
110
para fazê-lo a fim de permitir uma validade maior”. E visando a facilitar o
acesso do pesquisador à realidade vivida pelo sujeito, “o ideal seria usar a forma
de linguagem e situação o mais perto possível da realidade natural onde (e
como) o fenômeno ocorre” (ibid., p. 115).
Partindo desse princípio, ao intentarmos discutir a filosofia no ensino
médio através de suas representações sociais, priorizamos o discurso escrito, por
acreditarmos que essa é uma forma de linguagem muito próxima da realidade
natural do local onde buscamos nosso fenômeno, ou seja, da escola. Aceitando
que “o discurso constitui uma matéria-prima preciosa para a ‘decantação’ das
representações” (ARRUDA, 1983, p. 9), optamos por uma pesquisa baseada em
questionários de perguntas abertas, que levam o entrevistado a responder com
frases e orações. Escolhemos esse tipo de questionário pela possibilidade que dá
ao entrevistado de responder às questões com mais liberdade, não ficando
restrito a marcar uma ou outra opção, como ocorre nos questionários de
perguntas fechadas (RICHARDSON, 1999). Ao permitir respostas “abertas”,
sem conduzir totalmente os elementos dessas respostas e propiciando aos
sujeitos a livre expressão de suas idéias, acreditamos que o discurso melhor se
revelou para nossa análise, favorecendo assim a ampliação de nossa percepção
das representações sociais. Os itens constantes nos questionários foram
definidos de maneira a nos dar a condição de perceber as dimensões da
representação da filosofia (e, portanto, a atitude, a informação e o campo de
representação) em professores e alunos do ensino médio.
Cabe observar que uma certa orientação participativa da pesquisa foi
garantida tanto na fase de pré-teste (questionário experimental) do questionário,
como na coleta propriamente dita. Uma vez que o próprio pesquisador também é
professor de filosofia no ensino médio, houve a possibilidade de ver os
problemas da área a partir de seu interior: compartilha as vivências, os
111
problemas e as preocupações da área. Dessa forma, foi relativamente fácil
formular, como hipóteses, as expectativas, as representações e os interesses dos
informantes, tanto na fase da pesquisa propriamente dita, como na formulação
de sugestões.
Considerando que nos estudos qualitativos o pesquisador é o principal
instrumento de investigação, a escolha do campo onde colhemos os dados, bem
como dos participantes, foi proposital. Nossa escolha se deu em função das
questões de interesse do estudo, mas também das condições de acesso e
permanência no campo, assim como da disponibilidade dos sujeitos (ALVESMAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998).
Para coletarmos o discurso que nos interessava analisar, fizemos uma
consulta sistematizada, através da aplicação de questionários, em duas escolas
de ensino médio a fim de verificarmos a procedência ou não de nossas
suposições com relação às representações sociais da filosofia. Objetivando
aprofundar a descrição dessa realidade estudada, observamos ainda outras
variáveis nas unidades escolares: expressão corporal e/ou comentário oral
realizado pelo sujeito ao se deparar com o questionário, estado de conservação e
adequação das dependências (salas de aula e biblioteca), número médio de
alunos por turma e existência de recursos áudio-visuais (TV/vídeo/som). Com
isso, nossa pesquisa se caracterizou como um “estudo de caso”.
Mesmo cientes da existência de um certo grau de arbitrariedade em
qualquer recorte da realidade — conforme explicitamos anteriormente —
definimos como população de nossa pesquisa o conjunto dos indivíduos
integrantes de duas escolas da rede pública estadual, situadas no município de
Queimado/RJ: CIEP 396 – Luiz Peixoto e Colégio Estadual Prefeito Luiz
112
Guimarães. Dentro dessa população limitamos nossa amostra a 235 (duzentos e
trinta e cinco) elementos.
Inicialmente, nossa escolha inspirou-se em um longo período de
convivência profissional com as escolas situadas nesse município. No período
em que atuamos como supervisor escolar no município de Queimados (20002002) tivemos oportunidade de verificar, nas constantes “visitas” às escolas da
região, uma quantidade significativa de reclamações acerca do ensino de
filosofia no nível médio. Essas constatações empíricas, pautadas em observações
de conversas do cotidiano escolar, e também em outros ambientes sociais,
instigaram-nos a retornar a esse contexto, como pesquisador, a fim de
compreender os fundamentos das “reclamações” acerca do ensino de filosofia,
oriundas de pessoas que tiveram contato com a disciplina no ensino médio.
Podemos apontar como uma segunda razão — conseqüência da anterior
— para a escolha dessa população, a facilidade de acesso aos sujeitos da
pesquisa, gerada pelo bom relacionamento profissional no passado. Além disso,
essas duas escolas são as principais escolas estaduais desse município, por conta
do grande número de alunos que recebem anualmente, provenientes de diversas
regiões de Queimados e adjacências.
Dados estatísticos também foram levados em consideração na escolha da
população. Sendo assim, a constatação do elevado número de matrículas no
ensino médio da rede pública, nos últimos anos, teve um papel decisivo em
nossa escolha pelas duas escolas citadas. Segundo dados do Ministério da
Educação (BRASIL, 2004), em 2001, o maior número de alunos no ensino
médio do país estava nas escolas estaduais, que detinham 83% do total de
matrículas nesse nível escolar. Em contrapartida, a rede privada, no mesmo ano,
contou com apenas 13,2% das matrículas, contra os 86,8% do total de matrículas
113
na rede pública (somadas as escolas estaduais, municipais e federais). No estado
do Rio de Janeiro, das 707.593 matrículas no ensino médio em 2001, 79,6%
estava na rede pública.
A partir dos anos seguintes os indicadores praticamente não se alteraram.
Em 2002, 83,7% das matrículas no ensino médio no Brasil foram feitas em
escolas estaduais, e apenas 12,8% na rede privada. Essa diferença diminui um
pouco em relação às matrículas realizadas no estado do Rio de Janeiro: 78,1%
em escolas estaduais e 18,5% em instituições privadas. No ano de 2003 tivemos,
no estado do Rio de Janeiro um total de 78,6% das matrículas no ensino médio
em escolas estaduais, contra 18% em instituições privadas de ensino. No
entanto, levando-se em consideração apenas o município de Queimados/RJ,
onde realizamos nossa coleta de dados, o número de matrículas na rede estadual
sobe, em relação ao estado como um todo, para 86,5% em 2002 e 82,4 % em
2003.
Com esses dados, constatamos que as escolas públicas, destacando-se
entre elas as estaduais (principalmente no município de Queimados/RJ), são
responsáveis pelo atendimento da maior parte da demanda por ensino médio no
país. Mas nem por isso, objetivamos generalizar os resultados obtidos em nossa
pesquisa (apesar de admitirmos uma considerável representatividade da amostra
selecionada em relação à população) para outras populações. Em princípio,
nossa pesquisa — como já dissemos — não prevê generalização, mas apenas
admite o princípio da transferibilidade. Ou seja,
a possibilidade de aplicação dos resultados a um outro contexto dependerá das
semelhanças entre eles e a decisão sobre essa possibilidade cabe ao
“consumidor potencial”, isto é, a quem pretende aplicá-los em um contexto
diverso daquele no qual os dados foram gerados (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 174).
114
Em relação aos elementos que formaram nossa amostra, mesmo cientes de
que a análise centrada na totalidade do discurso é um processo muito demorado
para um estudo que conte apenas com um pesquisador, partimos do princípio de
que a análise comparativa (com ênfase no compartilhamento de idéias) é
favorecida por uma quantidade maior de sujeitos. Assim, levando-se em
consideração as duas escolas pesquisadas, nossa amostra foi formada por alunos
que cursavam o primeiro ano do ensino médio no ano de 2003, juntamente com
seus respectivos professores de filosofia21 e os coordenadores pedagógicos22 dos
estabelecimentos de ensino. Cabe observar que trabalhamos com duas turmas de
cada professor de filosofia, e dentro dessas turmas aplicamos os questionários a
todos os alunos presentes no dia de nossa visita a cada escola.
Tendo em vista que em 2002 cada professor deveria comparecer duas
vezes por semana à escola, procuramos aplicar o questionário em uma turma de
cada dia do professor no estabelecimento. Nossa intenção era amenizar a
interferência da variação de humor, conforme o dia em que o professor
ministrava suas aulas. No total foram aplicados 227 (duzentos e vinte e sete)
questionários para alunos, 05 (cinco) para professores de filosofia e 03 (três)
para coordenadores pedagógicos.
Tivemos o cuidado de aplicar os questionários (anexos 1, 2 e 3) no último
bimestre do ano letivo de 2003, mais especificamente durante o mês de
novembro, pois assim os alunos já poderiam ter formado, ou modificado, suas
21
Mesmo sabendo que na rede estadual, por conta da carência de docentes, encontramos professores que não são
licenciados em filosofia ministrando a disciplina, não enfocamos esta questão. Levamos em consideração apenas
a função exercida pelo professor no momento em que aplicamos os questionários. Para nossa pesquisa,
consideramos a opinião do professor que leciona filosofia, mesmo não sendo habilitado para tal.
22
Para efeito deste trabalho, não distinguimos coordenador pedagógico e orientador pedagógico: consideramos
que ambos exercem a mesma função.
115
representações acerca da disciplina filosofia. Mas antes da aplicação definitiva
do questionário, fizemos uma aplicação experimental — um pré-teste — a um
grupo de sujeitos que apresentavam características idênticas às da população
incluída na pesquisa. A partir das dificuldades demonstradas pelos sujeitos em
responderem ao questionário experimental, fizemos as alterações necessárias e
chegamos ao questionário aplicado na pesquisa. Queremos ressaltar que não foi
nosso intuito nos comprometermos em estabelecer relações entre dados do tipo:
escola pública versus escola privada; sexo, idade ou perfil sócio-econômico dos
entrevistados etc. As questões apresentadas aos sujeitos da pesquisa tiveram por
objetivo possibilitar a expressão de um discurso relativo à filosofia, para que o
discurso pudesse ser por nós analisado.
Estamos cientes de que nossa escolha recaiu sobre sujeitos que se
encontram em diferentes posições no processo educacional. Mas sem dúvida
alguma, o centro das atenções da escola deve ser o aluno, pois afinal, a escola
existe em função dele. Na organização da escola, levando-se em consideração o
objetivo a que ela se destina, criam-se condições favoráveis para que o aluno
adquira habilidades, conhecimentos e atitudes que lhe permitam situar-se em
face das necessidades vitais e existenciais. Sendo o aluno o protagonista desse
processo ensino-aprendizagem, interessou-nos sobremaneira não apenas
conhecer suas representações sociais acerca da filosofia, como também entender
o processo de formação dessas representações.
Por outro lado, o professor desempenha um importante papel para que
surjam as condições necessárias ao processo ensino-aprendizagem. Sendo assim,
optamos por também entrevistar os docentes, por acreditarmos que suas atitudes
influem nas representações que os educandos formam da escola e de tudo que a
ela possa estar ligado. No que diz respeito, tanto ao professor, quanto ao aluno,
“a representação pode ser compreendida enquanto forma como as pessoas
116
percebem, conceituam, afiguram (atribuem figuras, imagens) os fatos da sua lida
diária, em seus grupos” (RANGEL, 2001, p. 136).
Além dos alunos e professores, que são os elementos humanos
diretamente envolvidos no processo ensino-aprendizagem de filosofia, incluímos
como sujeitos de nossa pesquisa, os coordenadores pedagógicos. Tal opção
justifica-se pelo fato de que o coordenador pedagógico de uma escola pode
interferir diretamente na elaboração de representações sociais da filosofia, tendo
em vista que a eficácia de sua ação está “diretamente ligada à sua habilidade em
promover mudanças de comportamento no professor” (LÜCK, 1998, p. 21). Ou
seja, “a atribuição essencial do coordenador pedagógico está, sem dúvida
alguma, associada ao processo de formação em serviço dos professores”
(CHRISTOV, 2002, p. 9). As recomendações dadas por esse profissional ao
professor de filosofia pode vir carregada de representações acerca da mesma. O
coordenador serve de elo entre a filosofia e as demais disciplinas da grade
curricular, o que facilita a circulação de eventuais representações.
A coordenação pedagógica, geralmente, é mostrada como um trabalho
essencialmente de equipe, realizado por um conjunto de pessoas envolvidas na
tarefa de coletivização do pensar e do agir educativo. Essa proposta pode estar
centrada na realidade e vivência do aluno e do professor e dos problemas da
comunidade, mas também pode funcionar como veículo de difusão de
representações sociais acerca da educação em geral, e da filosofia em particular.
Além disso, não podemos perder de vista que “a formação de representações é
feita nas comunicações e interações sociais dos sujeitos, integrantes dos grupos,
em relação a elementos de sua vida cotidiana, de seus interesses sociais”
(RANGEL, 2001, p. 136).
117
Por sua própria função em nossa sociedade, a escola organiza-se pela
disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que
formam estrutura organizada. Ou seja, a escola apresenta-se como um sistema
onde um conjunto de elementos, tais como pessoas com diferentes papéis e
ambiente físico específico, interagem e se influenciam mutuamente. Dessa
forma, mudanças em qualquer dos elementos da escola produzem,
conseqüentemente, mudanças nos outros elementos. Nesse conjunto relacionado,
na forma de troca de influências, há uma expressiva possibilidade das
representações sociais influenciarem nas condutas e expectativas que, por sua
vez, influem na construção dos fatos, equivalentes à maneira como os sujeitos os
representam.
Por fim, cabe observar que a escolha dos procedimentos adotados para
levantamento de dados nessa pesquisa — destacando-se o questionário aberto —
encontra respaldo quando nos reportamos às colocações de Spink (1995a, p.
100), que nos afirma serem as “técnicas verbais” a forma mais comumente
empregada para acessar as representações e obter os dados necessários. Para
ela,
dar voz ao entrevistado, evitando impor as preconcepções e categorias do
pesquisador, permite eliciar um rico material, especialmente quando este é
referido às práticas sociais relevantes, objeto da investigação, e às condições de
produção das representações em pauta.
Ao utilizarmos a análise do discurso como metodologia de pesquisa de
representação social, fizemo-nos pela necessidade de perceber o “não-dito” no
interior do que é dito. Procuramos “atingir o significado ‘contido’ nas palavras e
as circunstâncias em que se formam e se expressam” (RANGEL, 1998b, p. 126).
Assim, partimos do princípio de que a análise do discurso destaca-se pela sua
eficiência, quando aplicada “ao estudo da representação social, como um estilo
118
de análise do texto23, no contexto em que os sujeitos constroem a imagem do
objeto representado” (ibid., p. 127).
5.2 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS
Linguagem, em sentido amplo, é qualquer meio usado para a transmissão
de uma mensagem, isto é, para comunicar. Não é uma faculdade específica do
homem, mas apenas os homens são dotados de um conjunto de signos e de
regras de combinação desses signos que constituem a linguagem oral ou escrita
de uma coletividade. Assim, num sentido mais específico, “linguagem é a
faculdade que todos os homens têm de se comunicar através dos signos de uma
língua, e uma linguagem é um sistema de signos (orais, escritos, gestuais,
visuais) que possibilitam a comunicação” (MAIA, 2003, p. 13). Ao procurar
explicar a linguagem, na tentativa de compreender os fatos que se concretizam
no dia-a-dia de sua vida, de suas relações, o homem, na verdade, está tentando
explicar algo que lhe é próprio e “que é parte necessária de seu mundo e da sua
convivência com os outros seres humanos” (ORLANDI, 1986, p. 7).
Levando-se em consideração o trabalho de Bakhtin (1995), linguagem é,
por definição, uma prática social. Uma pessoa não existe isoladamente, pois os
sentidos são construídos pelo confronto entre duas ou mais vozes onde a voz de
um ouvinte responde à voz de um falante (SPINK; MEDRADO, 1999). Nessa
perspectiva, sentimentos e condutas podem ser manifestações de representações
23
Cabe lembrar que texto em seu sentido mais amplo adotado neste trabalho refere-se tanto às próprias palavras
de um livro, quanto de um autor. Portanto, tomamos a palavra texto como um “extrato de língua escrita ou
falada, de qualquer extensão, que constitui um todo unificado” (FERREIRA, 1999, p. 1956). Segundo
Maingueneau (1998, p. 140) o termo texto é empregado freqüentemente “como um equivalente de enunciado, ou
como uma seqüência lingüística autônoma, oral ou escrita, produzida por um ou vários enunciadores numa
situação de comunicação determinada”.
119
sociais que se institucionalizam — enquanto imagens construídas sobre o real —
e que por sua vez, têm como mediação privilegiada a linguagem. Assim, se
tomarmos a linguagem como forma de conhecimento e interação social,
perceberemos que essas mesmas representações “podem e devem ser analisadas
a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais”
(MINAYO, 1995, p. 108).
Ao pretendermos identificar representações sociais, tomando como opção
metodológica a análise do discurso (AD), partimos do pressuposto, de que
“qualquer análise da linguagem implica considerá-la como produto histórico de
uma coletividade”, ou seja, a linguagem “...reproduz através dos significados
das palavras [...] os valores associados a práticas sociais que se cristalizaram;
[...] reproduz uma visão de mundo...” (LANE,1994, p. 32). Adotamos assim,
uma concepção de linguagem como prática social, trabalhando na interface entre
os discursos e as condições de sua produção.
Etimologicamente, a palavra “discurso” diz respeito ao movimento, à
prática da linguagem, e “com o estudo do discurso [AD], observa-se o homem
falando” (ORLANDI, 1999, p. 15). A análise do discurso busca analisar a língua
no mundo, considerando a produção de sentidos, enquanto parte da vida do
homem; considera os processos e as condições de produção da linguagem.
Segundo Rangel (1998b, p. 122), a “AD traz uma proposta de crítica e
problematização das reflexões que se fazem sobre a comunicação e elementos
das suas condições de produção, suas idéias e suas implicações sociais”. Por
outro lado, por serem produtos sociais, as representações sociais, à semelhança
da análise do discurso, têm sempre de ser remetidas às condições sociais que as
engendraram. Portanto, por pretender ir além da simples descrição e explicação
da mensagem, almejando analisar criticamente seus significados, optamos pela
120
AD como instrumento para a “decantação” das representações que interessavam
à nossa pesquisa (ARRUDA, 1983). Além disso — semelhante ao que acontece
com a Teoria de Representação Social —, a AD, por ainda estar construindo
seus pressupostos teóricos e metodológicos, tem um enorme potencial de
criação, de ampliação e de alternativas de aplicação (RANGEL, 1998b).
Sob essa perspectiva, ao buscarmos o sentido da filosofia ministrada na
escola de ensino médio, isto é, ao tentarmos conhecer o referencial teórico da
filosofia, utilizado por alguns professores em sua prática docente, “a linguagem,
que é a principal exterioridade do pensamento do homem, em suas diferentes
formas de expressão, se impõe como material de trabalho” (ALEVATO, 1993,
p. 44). A linguagem, enquanto discurso, é uma forma de interação e um modo de
produção social; não sendo, portanto, neutra, inocente e nem natural, mas pelo
contrário pode ser “o lugar privilegiado de manifestação da ideologia”
(BRANDÃO, 1996, p. 12).
Não podemos pensar que o discurso seja o único elemento da realidade
que se oferece à nossa análise. Para Foucault (1996, p. 138, 140), a prática e a
teoria do discurso são essencialmente estratégicas, pois “falar é exercer um
poder, falar é arriscar seu poder, falar é arriscar conseguir ou perder tudo...”.
Portanto, envolvido por essa relação entre discurso e poder, não podemos
imaginar que o sujeito do discurso possa ser neutro, pois de fato, “esse sujeito
supostamente neutro é, ele próprio, uma produção histórica”.
Segundo Spink (1995a, p. 93), “sendo produto social, o conhecimento tem
de ser revertido às condições sociais que o engendraram”, não podendo jamais,
“ser entendido apenas no nível individual”. Por esta razão, como a interpretação
do discurso é uma prerrogativa do pesquisador (MOSCOVICI, 1978;
ORLANDI, 1999), em momento algum de nossa análise, deixamos de levar em
121
consideração o contexto social em que emerge o conhecimento em estudo, pois
“o isolamento na análise de um indicador apenas limitaria a percepção do
observador” (ALEVATO, 1993, p. 44).
De acordo com Silvia Lane (1994, p. 37), podemos afirmar que definir o
lugar que o indivíduo ocupa em relação aos outros, e através do discurso,
entender como seu espaço é constituído nessa relação, são condições essenciais
para que possamos conhecer suas representações sociais, tendo como ponto de
partida a análise dos
atos ilocutórios, ou seja, as falas que caracterizam as posições ocupadas pelos
interlocutores [...]. Compreender representações sociais, implica então,
conhecer não só o discurso mais amplo, mas a situação que define o indivíduo
que as produz.
Os processos enunciativos atuam dentro de um espaço discursivo, que
pode ser determinado e analisado em relação a um momento espaço-temporal
específico. Por isso, alguns processos enunciativos “têm mais força e poder que
outros para impor suas representações, suas referencialidades e suas
argumentações” (NUNES, 1995, p.160). Todavia, alguns desses processos são
protegidos, justamente, por exercerem suas atividades, dispondo de espaço
institucional (a escola, por exemplo) para elaboração de estratégias
argumentativas, enquanto outros, apenas recebem “pacotes” prontos e acabados
que inibem qualquer tentativa de elaboração de novos discursos.
Cabe ainda ressaltar que a análise do discurso considera que a linguagem
não é transparente, e por isso não tenta “atravessar” o discurso para encontrar
um sentido do outro lado. Não busca responder o “o quê”, mas o “como o
discurso significa”. Assim, com a utilização da AD, produzimos um
conhecimento a partir do próprio discurso, concebendo-o em sua própria
122
discursividade, pois o discurso, além de conter as mudanças sofridas no tempo e
espaço pela significação das palavras — espessura semântica — tem uma
materialidade simbólica própria e significativa (ORLANDI, 1999).
Na verdade, quando escutamos um discurso, consideramos não apenas o
que está sendo dito, mas também o que está implícito, pois os sentidos que
podem ser percebidos em um determinado discurso não estão necessariamente
nele próprio, pois passam pela relação dele com outros discursos (ORLANDI,
1993). Ninguém escuta num discurso o que quer, do jeito que quer e para
qualquer um. Tanto quanto a formulação e emissão do discurso, a escuta e a
compreensão do discurso também são reguladas.
Talvez uma das grandes contribuições da análise do discurso seja o fato
de este estudo levantar a questão sobre como nos relacionamos com a linguagem
em nosso cotidiano, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto
autores e leitores. Através do contato com os princípios e procedimentos da
análise do discurso podemos nos “situar melhor quando confrontados com a
linguagem e, por ela, com o mundo, com os outros sujeitos, com os sentidos,
com a história” (ORLANDI, 1999, p. 11).
A análise do discurso é antes de tudo uma atitude filosófica que nos
instiga ao questionamento do sujeito falante ou do leitor sobre o que produzem e
o que ouvem nas diferentes manifestações da linguagem. Através desses
questionamentos somos levados a perceber que não há neutralidade nem mesmo
no uso mais aparentemente cotidiano dos signos. Dessa forma a AD “nos coloca
em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de sermos conscientes de tudo,
permite-nos ao menos sermos capazes de uma relação menos ingênua com a
linguagem” (ibid., p. 11).
123
Visando a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, o
analista — em face do alcance teórico da AD — constrói um dispositivo da
interpretação. Ele estabelece que escuta deve adotar para “ouvir para lá das
evidências e compreender, acolhendo, a opacidade da linguagem, a
determinação dos sentidos pela história, a constituição do sujeito pela ideologia
e pelo inconsciente, fazendo espaço para o possível, a singularidade, a ruptura”
(ibid., p. 59).
Ao analisar o discurso, o pesquisador deve ter todo o cuidado para não se
deixar levar pela falsa crença de que existam sentidos literais guardados em
algum lugar — no conjunto de signos que constituem a linguagem ou no cérebro
— e que o ser humano aprende a usar. Ao particularizar seu dispositivo
analítico, o pesquisador parte do princípio de que “os sentidos e os sujeitos se
constituem em processos em que há transferências, jogos simbólicos dos quais
não temos o controle e nos quais o equívoco — o trabalho da ideologia e do
inconsciente — está largamente presente” (ibid., p. 60). A relação do homem
com a linguagem jamais é inocente.
Ao descrever e interpretar o discurso, o analista deve considerar que a
interpretação faz parte do objeto analisado, ou seja, “o sujeito que fala interpreta
e o analista deve procurar descrever esse gesto de interpretação do sujeito que
constitui o sentido submetido à análise” (ibid., p. 60). Por sua vez, o próprio
analista está envolvido na interpretação, já que não há descrição sem prévia
interpretação. Para amenizar essa situação, o analista procura trabalhar num
lugar relativizado, onde “ele não reflete, mas situa, compreende, o movimento
da interpretação inscrito no objeto simbólico que é seu alvo” (ibid., p. 61).
Esse posicionamento do analista de discurso não o coloca à margem da
história, do simbólico ou da ideologia. Ao produzir seu dispositivo teórico, o
124
analista procura não ser vítima das ilusões e efeitos de evidência produzidos pela
linguagem em seu funcionamento, mas ao contrário procura tirar proveito desses
efeitos e ilusões. Na constituição de seu processo de compreensão, o analista
trabalha a intermitência entre descrição e interpretação. Nessa perspectiva, “não
dizemos da análise que ela é objetiva, mas que ela deve ser o menos subjetiva
possível, explicitando o modo de produção de sentidos do objeto em
observação” (ibid., p. 64).
Ao interessar-se por práticas discursivas de diferentes naturezas (imagens,
som, letras etc), a análise do discurso não pretende chegar a exaustividade em
suas análises. Até porque todo discurso se estabelece na relação com um
discurso anterior e aponta para outro: é inesgotável. Assim, “não há discurso
fechado em si mesmo, mas um processo do qual se podem recortar e analisar
estados diferentes” (ibid., p. 62). A escolha dos discursos a serem analisados e a
análise estão intimamente ligados, pois decidir os discursos que interessam à
análise já é decidir acerca de propriedades discursivas.
Ao procurarmos “o real do sentido em sua materialidade lingüística e
histórica” (ibid., p. 59) através da análise do discurso, buscamos a
problematização das representações sociais da filosofia. Não visamos apenas a
investigar o que professores e alunos consideram como filosofia, a fim de
aprofundar um conhecimento teórico que se possa ter a respeito desses
profissionais e seus alunos. Mas esperamos que nossa abordagem contribua na
busca de caminhos para que a filosofia, enquanto disciplina do currículo de
ensino médio, possa atuar com todo seu potencial transformador.
125
6 AS DIMENSÕES NA REPRESENTAÇÃO DA FILOSOFIA
Ao pretendermos identificar representações sociais da filosofia analisando
o discurso de coordenadores pedagógicos, professores e alunos do ensino médio
— enquanto sujeitos que podem nos oferecer suas percepções —, lembramos
que essa opção metodológica é antes de tudo uma atitude filosófica. Atitude esta
que nos instiga a questionamentos (do sujeito falante) pelos quais somos levados
a perceber que não há neutralidade nem mesmo no uso mais aparentemente
cotidiano dos signos.
Já que a análise do discurso “nos coloca em estado de reflexão” para que
não tenhamos a “ilusão de sermos conscientes de tudo”, e pelo “menos sermos
capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem” (ORLANDI, 1999, p.
11), conjugamos neste capítulo os elementos de análise em cada dimensão,
procurando identificar fatores das condições de produção do discurso, com
atenção especial as suas contradições.
A linguagem “reproduz através dos significados das palavras [...] os
valores associados a práticas sociais que se cristalizaram; [...] reproduz uma
visão de mundo” (LANE, 1994, p. 32). Assim, a análise das dimensões da
representação da filosofia permite sublinhar, também, a observação de
semelhanças predominantes nos três grupos entrevistados das duas escolas
pesquisadas. A atitude (julgamento de valor do objeto representado), a
informação (organização do conhecimento que o grupo possui) e o campo de
representação (proposições e imagens dos sujeitos, atinentes ao objeto),
enquanto dimensões da representação, aparecem assim, como categorias básicas
de análise consideradas nesta pesquisa.
6.1 O DISCURSO DOS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS
Ao analisarmos os questionários respondidos pelos professores (anexo 2),
o primeiro item que nos chamou a atenção foi a formação acadêmica de cada um
dos entrevistados: nenhum deles havia cursado licenciatura em filosofia. Dos
cinco professores que responderam ao questionário, quatro eram graduados em
pedagogia e o outro em psicologia.
Esta constatação nos remete de imediato à dimensão informação, já que a
formação
acadêmica
pode
interferir
diretamente
na
organização
dos
conhecimentos que os professores possuem a respeito da filosofia. Se “quanto
maior for o conhecimento que uma pessoa ou grupo tenha de uma dada
realidade, mais coerentes e próximas do real são as representações sociais que
dela façam” (MOYSÉS, 2001, p. 47), podemos inferir que a probabilidade de
esses professores elaborarem representações sociais mais afastadas do real é
maior do que poderia acontecer, por exemplo, em um grupo composto
exclusivamente por professores licenciados em filosofia (já que estudam
filosofia durante todo um curso de graduação).
Voltando ao nosso grupo de professores (e também coordenadores),
apesar da possível precariedade das condições de informação sobre o objeto
representado (a filosofia), admitimos que mesmo assim, as representações
existam para esses grupos. Pois, se levarmos em conta que as pessoas só têm
representações daquilo que “falam”, certamente que elas se fazem presentes no
universo cotidiano dos professores entrevistados, já que eles têm na filosofia o
127
objeto de sua docência. Na verdade, essas representações sociais, enquanto
entidades quase tangíveis, não se fazem presentes apenas pela fala, mas também
em gestos ou em encontros entre membros de um grupo (MOSCOVICI, 1978).
Ao responderem sobre o que achavam da disciplina filosofia no ensino
médio (questão 1, anexo 2), os professores foram unânimes em considerá-la
importante, mas divergiram quanto ao porquê dessa importância. Respostas
como “importante, pois leva os alunos à reflexão” (P4), “importante para ‘abrir’
as mentes da clientela dessa fase educacional” (P3), ou ainda, “muito
importante, pois leva o aluno a pensar sobre questões que não são trabalhadas no
ensino fundamental” (P5), não parecem caracterizar uma especificidade da
filosofia, ou seja, não parece ser uma competência que só possa ser trabalhada
pela filosofia.
Ao ser feita essa mesma pergunta aos coordenadores pedagógicos
(questão 1, anexo 3), as respostas dadas assemelharam-se às respostas dos
professores, no sentido de não apresentarem uma competência que fosse
exclusiva da filosofia. O coordenador pedagógico CP3, que atuava na mesma
escola em que trabalhavam os professores P4 e P5, de certa forma, acompanhou
as respostas dadas por esses professores, ao afirmar que a filosofia é uma
“disciplina que leva o aluno a refletir”. Os outros dois coordenadores
acreditavam que a filosofia é importante, “pois oportuniza a reflexão com maior
maturidade e consciência” (CP1), ou porque “abre o horizonte [...], leva o aluno
a pensar e avaliar a sua postura frente a determinadas situações” (CP2).
O fio condutor dessas respostas parece estar muito próximo do que
estabelece a LDB/96 em relação ao ensino médio, como um todo. As respostas
dadas pelos professores e coordenadores nos lembram uma das finalidades do
ensino médio, conforme estabelece o art. 35, em seu inciso III, que é “o
128
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo [...] o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL,
1996).
Essa preocupação pela observância dos preceitos estabelecidos na
LDB/96 (fruto, talvez, de uma pressão da pedagogia oficial tecnicista, como
veremos mais à frente) fica evidente na fala do professor P1, quando este afirma
que os conteúdos ideais para serem tratados nas aulas de filosofia, no ensino
médio (questão 4, anexo 2), são “os conteúdos definidos pelo PPP [Plano
Político Pedagógico] da UE [Unidade Escolar]”. Essa preocupação de P1 vai ao
encontro de uma das incumbências estabelecidas no art. 13 da LDB/96, em seu
inciso II, que estabelece que o docente deve “elaborar e cumprir plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”
(BRASIL, 1996). P2, ao responder essa mesma questão 4, relativa aos
conteúdos, afirma que estes devem ser “temas ligados à cidadania: trabalho e
sua vida...”. Com esta resposta, P2, com atitude parecida com a de P1, busca
respaldo na LDB/96, que em seu art. 2º estabelece que “a educação [...] tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996).
Podemos
identificar
nessas
respostas
dadas
por
professores
e
coordenadores, uma atitude positiva em relação à filosofia, já que todos
admitem a importância desta disciplina. No entanto, o fato de não conseguirem
caracterizar uma especificidade da filosofia — ou seja, objetivos, conteúdos e
competências que não seriam satisfatoriamente alcançados e desenvolvidos por
outras disciplinas —, aponta para um campo de representação que tem uma
grande amplitude. Essa maior amplitude dificulta a percepção do conteúdo da
representação, que acaba se expressando como um amálgama de imagens e
proposições, que não representam necessariamente conteúdos e competências
129
próprias da filosofia. Dessa forma, identificamos um campo de representação
que engloba objetivos que poderiam ser estendidos à educação como um todo, e
não apenas à disciplina filosofia. E nesse caso, um dos pontos que orientam a
amplitude desse campo é a referência — mesmo quando latente no discurso — à
legislação educacional.
Não querendo aprofundar, neste momento, hipóteses sobre a postura
desses professores e coordenadores pedagógicos em relação à filosofia, não
poderíamos, no entanto, deixar de comentar alguns indícios da adoção, por parte
destes professores, de uma tendência de ensino da filosofia que trabalha com o
que chamamos de temas banalizados, conforme vimos no capítulo 3, deste
trabalho. Observa-se essa tendência de ensino, latente em vários pontos das
respostas dos professores: nas falas relativas aos conteúdos, à metodologia de
ensino e à postura ideal do professor.
P4 afirma que os conteúdos ideais para serem tratados nas aulas de
filosofia, (questão 4, anexo 2) no ensino médio, são as “questões da atualidade”.
Mas o que são questões da atualidade? Essa é uma situação delicada, pois como
também já vimos no capítulo 3, na tentativa de fugir a qualquer referência à
história da filosofia, alguns professores delegam aos próprios alunos a escolha
dos temas a serem estudados: sexo, drogas, violência etc. Essa situação pode
gerar o desvirtuamento e a banalização da filosofia, caso o professor não tenha
um preparo adequado e tome para si mesmo a filosofia como um exercício de
reflexão constante.
Segundo o coordenador pedagógico CP1, a metodologia mais adequada
para as aulas de filosofia (questão 5, anexo 3) deve centrar-se no
“acompanhamento dos fatos atuais”. Já para o professor P2, o “trabalho com
temas” seria não apenas a metodologia mais adequada (questão 4, anexo2),
130
como também a postura ideal de um professor de filosofia (questão 2, anexo2),
que deve “trabalhar com temas, contextualizando com conflitos da atualidade”
(P2). Essa preocupação em trabalhar questões da atualidade (P4), conflitos da
atualidade (P2), ou ainda, com o “acompanhamento dos fatos atuais” (CP1) sem
defini-los filosoficamente, aproxima-se muito de uma postura evasiva, também
presente na fala de P1, ao afirmar que a postura ideal de um professor de
filosofia (questão 2, anexo 2) é ser “a ponte entre o passado, o presente e o
futuro”. Discursos dessa natureza — repletos de belas palavras, mas que
carecem de reflexão filosófica — devem ser vistos com cautela, pois podem
facilmente “camuflar” uma deficiência profissional do professor.
Em alguns casos, essa possível deficiência profissional pode materializarse na figura de um professor “inseguro”, como observamos no discurso
defensivo de P4. Ao pedirmos que respondesse o questionário naquele
momento, P4 chegou a ser tautológico na tentativa de esquivar-se: “— Você
quer me dar uma ‘facada’ mesmo, né? Tem que responder agora...?”. Logo em
seguida, começou a se justificar pelo fato de não ser graduado em filosofia: “—
Eu fiz pós-graduação em supervisão escolar, e você sabe... Aquelas coisas de
Estado: comecei a dar aulas de filosofia este ano, e estou gostando...”. Naquele
momento, mostrava-se muito nervoso, assustado e apreensivo, sem vontade de
responder ao questionário.
Após alguma relutância, começou a responder, e passado algum tempo,
veio pedir nosso auxílio. Mesmo informando-lhe que não podíamos ajudá-lo,
pois a interpretação deveria ser feita pelo próprio professor, ainda assim, ele quis
saber a que dificuldades o questionário estava se referindo na questão 6 (anexo
2). Quando nos entregou o questionário, fez questão de explicar-se. E nesse
momento, já com uma postura mais aberta, P4 demonstrou preocupação pelo
fato de não ter apoio pedagógico referente ao ensino de filosofia. Além disso,
131
demonstrou muita vontade de aprender e discutir sobre os rumos do ensino de
filosofia.
Entretanto, adotando de maneira equivocada, alguns princípios do
“escolanovismo”, o professor pode esconder sua deficiência adotando uma
postura não-diretiva, ou gerando “pseudodebates” entre os alunos, esquivandose assim de seu compromisso de “ministrar aula”. Mostrar-se como um defensor
dos princípios da pedagogia escolanovista parece ser uma preocupação
recorrente no discurso dos professores. Mesmo que não tenham utilizado
explicitamente o termo “escolanovismo” em suas respostas, características dessa
pedagogia — como a preocupação em desenvolver uma educação centrada no
aluno, evitando impor conteúdos, e onde o professor deve “ausentar-se” para
abrir espaço ao livre crescimento pessoal do educando — estão presentes em
algumas falas: “o professor deve mostrar-se mais próximo do alunado, atualizarse sempre e não impor seus conceitos como verdades” (P3).
A análise desses discursos nos remete à percepção de uma organização
equivocada dos conhecimentos relativos à filosofia no ensino médio.
Representações da filosofia, que se apresentam com pouca coerência e distantes
dos objetivos, conteúdos e competências reais dessa disciplina, nos alertam para
a possibilidade de esses sujeitos (professores e coordenadores) apresentarem um
conhecimento filosófico não satisfatório. Já que a qualidade de informação sobre
o objeto representado é diretamente proporcional ao nível de conhecimento que
o sujeito tenha sobre o objeto, verificamos que a formação não específica em
filosofia pode ser um fator explicativo para identificarmos representações da
filosofia pouco coerentes e distantes do real.
Apesar da atitude positiva em relação à filosofia, o baixo nível das
condições de informação e a grande extensão do campo de representação geram
132
uma certa insatisfação no professor. Insatisfação essa que acaba transparecendo
em discursos que encerram contradições.
Assim, alguns professores apontam como a principal dificuldade
encontrada ao ministrar suas aulas (questão 6, anexo 2), “a falta de leitura dos
alunos” (P1), ou ainda, “dificuldade de leitura, isto é, falta de hábito de ler que
os torna mais lentos no raciocínio” (P3). No entanto, esses mesmos professores
não incluem entre as metodologias adequadas às aulas de filosofia dinâmicas de
leitura (RANGEL, 1993b), estudo de texto ou estudo dirigido (VEIGA, 1993),
por exemplo, que poderiam “estimular a prática da leitura [...], auxiliar o
desenvolvimento de habilidades de atenção e observação...” (RANGEL, 1993b,
p. 12). É interessante notar que se por um lado os professores entrevistados
incorporam em sua prática docente aspectos estabelecidos pela LDB/96, por
outro, ao não adotarem metodologias voltadas para a leitura, contrariam as
determinações estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio, que em relação às “competências e habilidades a serem desenvolvidas
em filosofia” estabelecem a necessidade de “ler textos filosóficos de modo
significativo”, e ainda, “ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e
registros” (BRASIL, 1999, p. 99; 106).
Ao mesmo tempo em que reconhecem a dificuldade que os alunos têm em
relação à leitura, os professores parecem não se sentirem motivados a trabalhar
com metodologias mais diretivas, para o desenvolvimento dessa habilidade.
Talvez por medo de serem tachados de tradicionais, os professores vivem um
verdadeiro “conflito”. O conflito é fruto das diversas tendências pedagógicas,
que agindo de forma mesclada sobre a escola, criaram uma situação que, nas
palavras de Saviani (1985, p. 43), só veio dificultar a prática docente do
educador brasileiro:
133
imbuído do ideário escolanovista (tendência “humanista” moderna) ele é
obrigado a trabalhar em condições tradicionais (tendência “humanista”
tradicional) ao mesmo tempo em que sofre, de um lado, a pressão da pedagogia
oficial (tendência tecnicista) e, de outro, a pressão das análises sócio-estruturais
da educação (tendência “crítico-reprodutivista”).
As condições tradicionais a que se refere Saviani (1985), nas quais os
professores são obrigados a trabalhar, evidencia-se quando P4 aponta como
principais dificuldades para ministrar suas aulas (questão 6, anexo 2) a
“reprodução de textos” e “poucos livros para pesquisas”. Ou seja, as condições
tradicionais de funcionamento da escola ficam patentes na “falta de material:
filmes, textos [reprodução para alunos], o embasamento em história e a carga
horária” (P2) e por fim, conforme o coordenador pedagógico CP1, falta
“material de apoio”. No entanto, os professores são pressionados tanto pela
tendência tecnicista, quando sugerem como metodologias (questão 5, anexo 2)
“aulas mais dinâmicas com utilização de tecnologia básica” (P3), ou
“seminários, pesquisas, filmes...”, quanto pelas análises sócio-estruturais da
educação, que fazem com que se aponte como conteúdo ideal para as aulas de
filosofia “a pessoa como sujeito do seu próprio espaço e tempo. A importância
da pessoa na sociedade” (P5). Nessa última perspectiva, defende-se, como
postura ideal, que o professor deva “integrar os alunos no contexto social,
político e econômico” (P4), características típicas de uma pedagogia crítica.
Cabe observar que apesar da reclamação sobre “falta de material”,
observamos a existência, nas duas escolas pesquisadas, de televisão e vídeo em
condições de uso, além de uma sala preparada especialmente para a utilização
desse material. Fatores como a “reprodução de textos” e escassez de livros para
pesquisas, apontados como as principais dificuldades para ministrar as aulas
parecem apontar para mais uma contradição no discurso dos professores. Pois,
134
em ambas as escolas, existiam bibliotecas com mesas para estudo e um acervo
de, pelo menos, 20 (vinte) títulos diferentes sobre filosofia.
6.2 O DISCURSO DOS ALUNOS
Ao analisarmos as respostas dadas pelos alunos percebemos contradições
entre as respostas por eles dadas e as respostas dadas pelos professores e
coordenadores. Apesar de no discurso docente ficar evidenciado um certo matiz
escolanovista, observamos na fala de alguns alunos a denúncia de que a
disciplina filosofia pauta-se numa perspectiva tradicional, que prioriza a
“história da filosofia como centro”.
Muitas respostas dadas pelos alunos à questão 1, “o que você acha da
disciplina filosofia no ensino médio?” (anexo 1), apontam para um ensino de
filosofia que toma a história da filosofia como o próprio conteúdo da disciplina:
“legal, porque graças a ela [a filosofia] nós sabemos tudo que aconteceu no
passado” (A1, turma B de P5), “muito interessante, fala sobre muitas coisas dos
antepassados que muitos não sabem” (A2, turma B de P4), “é legal, pois nos
ensina a história” (A3, turma A de P4).
A postura docente que parece adotar a história da filosofia como centro
acaba produzindo nos alunos a imagem de uma grande lista de homens ilustres.
Essa imagem evidencia-se na fala do aluno A4 (turma B de P2) que acha a
filosofia importante, pois ela “ensina muitas coisas” (questão 1, anexo 1), ou
ainda, “legal, porque nós aprendemos sobre vários filósofos e mitos” (A6, turma
B de P3). Já para o aluno A5 (turma A de P1), por conta da imagem supracitada,
a filosofia é uma matéria “sem importância, fala de uma pessoa que nem existe
mais”.
135
Nas respostas dadas pelos alunos, observamos uma amplitude do campo
de representação maior do que a detectada no discurso dos professores e
coordenadores. Como conseqüência disso tem-se a expressão de um conteúdo da
representação, disperso, mal organizado, que apresenta a filosofia como se fosse
uma disciplina que não tem seus próprios objetivos, conteúdos e competências.
Apesar de não ser intenção dos alunos teorizarem sobre esse assunto,
conseguimos captar em suas falas uma certa decepção pelo fato dos professores
não adotarem posturas inspiradas em pedagogias críticas, onde os conteúdos não
são apenas ensinados, mas que se liguem “de forma indissociável, a sua
significação humana e social” (LUCKESI, 1994, p. 70). Dessa forma, o aluno
A7 (turma B de P2) acha que a disciplina filosofia é “boa, mas tem que falar
sobre assuntos atuais”. Se lhe fosse dada a possibilidade de escolher quais
assuntos seriam tratados nas aulas de filosofia (questão 4, anexo 1), o aluno A8
(turma A de P2) discutiria “sobre os ‘conhecimentos atuais’, não do passado”.
Ao cruzarmos as informações dadas pelos três grupos entrevistados,
verificamos vestígios de uma postura pedagógica tradicional, que acabam
aparecendo nas respostas dadas pelos alunos. Assim, evidenciamos que as tão
enaltecidas características escolanovistas estão muito mais presentes no nível do
discurso do que na prática dos professores entrevistados. Segundo o aluno A9
(turma A de P5), “a disciplina de filosofia é um pouco chata porque fica falando
o tempo todo e dá muito sono” (questão 1, anexo 1), por isso, nas aulas de
filosofia, “deveria ter mais conversa com os alunos” (A 10, turma A de P5).
Nesse primeiro contato com as respostas coletadas, podemos delinear
basicamente duas tendências pedagógicas que norteiam o ensino de filosofia na
realidade estudada. Estamos falando da pedagogia tradicional e da pedagogia
136
escolanovista (LUCKESI, 1994), que na perspectiva do ensino de filosofia,
materializam-se respectivamente como “história da filosofia como centro” e
como “temas banalizados”.
No caso específico da pedagogia escolanovista, existe uma forte tendência
de dar um cunho “psicológico” ao ensino de filosofia. E nesse caso, o resultado
de uma boa aula assemelha-se muito ao de uma boa terapia, onde o professor
aparece como um especialista em relações humanas (LUCKESI, 1994). Assim,
ao verificarmos as opiniões dos alunos sobre seus professores, encontramos
muitas referências que enfatizam mais o aspecto afetivo do que o aspecto
profissional do docente: “ela é uma ótima pessoa, amiga, compreensiva” (A11,
turma A de P1), “boazinha!” (A5, turma A de P1), “ela é muito simpática” (A12,
turma A de P3), “a professora de filosofia é muito legal” (A13, turma A de P2),
“é amiga de todos os alunos na sala de aula” (A14, turma A de P1). Um aluno
nos chega a afirmar que a filosofia no ensino médio (questão 1, anexo 1) é
“construtiva. Geralmente parece uma aula de psicologia” (A15, turma B de P3).
Como já vimos anteriormente, a pedagogia escolanovista também aparece
como um não-diretivismo pedagógico. E nesse caso, o professor acredita que
“ausentar-se” é a melhor forma de respeitar o aluno, pois acredita que toda
intervenção é ameaçadora e inibidora da aprendizagem (LUCKESI, 1994). Essa
postura docente, quando mal utilizada, pode transformar a sala de aula em um
ambiente impróprio para o processo ensino-aprendizagem. Um dos alunos chega
a afirmar que sua professora de filosofia “é muito chata ou seja, deixa os alunos
fazerem o que querem na sala de aula” (A17, turma B de P5). Parece que alguns
alunos sentem falta de um direcionamento da aula: a maneira como a professora
ministra as aulas é “uma porcaria, ela não tem moral” (A18, turma B de P5), “a
professora é legal e boa, mas o que ela deveria fazer era repreender melhor os
137
alunos que perturbam” (A19, turma B de P5), ela é “muito calma e não tem voz
ativa” (A20, turma B de P5).
Mas quando o assunto passa do psicológico (afetivo) para o pedagógico,
as respostas parecem evidenciar o predomínio de características da pedagogia
tradicional. Uma dessas características aponta para o predomínio da autoridade
do professor “que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer
comunicação entre eles no decorrer da aula” (ibid., p. 57). O aluno A16 (turma
B de P2) reclama dessa postura ao opinar sobre a maneira como seu professor
ministra as aulas de filosofia (questão 5, anexo 1). Para esse aluno “a
administração dela é péssima, ela não se interage com os alunos”.
Mais uma vez, confirmando o sentido de harmonia entre as três
dimensões, percebemos que a grande amplitude do campo de representação,
detectada no discurso dos alunos, relaciona-se diretamente à baixa qualidade da
informação que os alunos têm sobre a filosofia. Devido ao pouco conhecimento
que eles têm sobre a filosofia, suas representações afastam-se muito do real. E a
melhoria das condições de informação sobre a filosofia, depende diretamente do
nível de conhecimento que os alunos tenham sobre essa disciplina. Dessa forma,
é de se esperar que essa melhoria se dará na medida em que também aumentar o
nível de conhecimento que os professores tenham sobre a filosofia. Pois, de
certa forma, podemos caracterizar a representação social como “uma
modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de
comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p.
26).
Com isso, estendemos a idéia de harmonia entre as dimensões, para uma
harmonia também entre os grupos que fazem parte de um universo de opinião
(em nosso caso, professores, alunos e coordenadores pedagógicos). Mas se por
138
um lado, constatamos que as dimensões de informação e campo de
representação, presentes nos alunos, é diretamente proporcional a essas mesmas
dimensões da representação, presentes nos professores e coordenadores
pedagógicos, por outro, constatamos uma oposição entre esses dois grupos no
que diz respeito à atitude. Enquanto os professores e coordenadores são
favoráveis ao objeto representado (a filosofia), o mesmo não acontece com um
número significativo de alunos, que se mostram desfavoráveis à filosofia. Ou
seja, identificamos alunos que se posicionam com atitudes negativas em relação
à filosofia e aos professores que ministram a disciplina. A atitude negativa dos
alunos ao afirmarem que “essa disciplina é muito chata” (A28, turma A de P5),
entra em contradição com a atitude positiva dos professores, que acham essa
disciplina “importante” ou “muito importante”.
Outra observação que reforça nossa percepção da atitude negativa dos
alunos, é a verificação de que mesmo tendo sido explicado que a pesquisa
visava, prioritariamente, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de
filosofia, muitos alunos preferiram omitir suas opiniões, ou então, responderam
de maneira pejorativa. Mas o próprio fato de um grande número de alunos terem
deixado o questionário “em branco”, sem respondê-lo, pode estar indicando o
grau de importância que os alunos dão à disciplina filosofia. Talvez, se o
questionário fosse sobre uma outra disciplina, cobrada no vestibular, por
exemplo, a atitude teria sido outra.
139
6.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA FILOSOFIA
Nos itens anteriores, ao tomarmos as dimensões da representação como
categorias básicas de análise, procuramos fazer uma descrição minuciosa do
universo de opinião dos sujeitos da pesquisa. A partir dessas categorias básicas,
classificamos os dados coletados por afinidades de idéias, para que pudéssemos,
a partir disso, passar a uma interpretação referencial levando-se em consideração
as representações sociais da filosofia no ensino médio.
Dentre as possíveis interpretações do papel das representações sociais,
destacamos a corrente que surge da dialética marxista. Em Marx, “a produção de
idéias, de representações, da consciência, está, de início, diretamente entrelaçada
com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens” (MARX;
ENGELS, 1986, p. 36). Ou seja, o conjunto de representações e comportamentos
sociais é explicado por Marx a partir da forma com que os homens produzem os
bens materiais.
Poderíamos dizer que as representações, as idéias e os pensamentos dos
homens formam o conteúdo de sua consciência, que por sua vez, “jamais pode
ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o processo de vida
real”, ou seja, “os homens são os produtores de suas representações, de suas
idéias etc, mas os homens reais e ativos” (ibid., p. 37). Por outro lado, se “as
idéias dominantes de uma época sempre foram as idéias da classe dominante”
(MARX; ENGELS, 1993, p. 85), a manifestação da consciência através da
linguagem da vida real, mostra-nos como as idéias estão comprometidas com as
condições de classe.
140
Para esses autores, a consciência é um produto social: não são as idéias
que determinam o comportamento do homem, mas a forma com que os homens
participam da produção de bens é que determina seus pensamentos e ações, ou
seja, sua consciência. Nessa perspectiva, os homens são condicionados pelo
modo de produção de sua vida material, por seu intercâmbio material e seu
desenvolvimento ulterior na estrutura social e política. As representações que os
indivíduos elaboram “são representações a respeito de sua relação com a
natureza, ou sobre suas mútuas relações, ou a respeito de sua própria natureza”
(MARX; ENGELS, 1986, p. 36).
A despeito de considerarem a consciência como categoria principal para
tratar das idéias, para Marx e Engels as representações estão vinculadas à prática
social, pois “a classe que tem a sua disposição os meios de produção material
dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção espiritual [...]. As idéias
dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais
dominantes”. Ou seja, as idéias dominantes de cada época são as idéias da classe
dominante, pois a classe que tem o domínio da força material da sociedade,
representa ao mesmo tempo a força espiritual dominante.
Partindo desse princípio, podemos inferir que as representações atribuídas
à filosofia podem refletir a visão de mundo da classe hegemônica, que numa
economia capitalista aparece como classe burguesa. A linguagem utilizada por
professores e alunos, ao tratarem questões referentes à filosofia, reproduz
através dos significados das palavras, os valores associados a práticas sociais
que se cristalizaram.
E que práticas sociais são essas que se cristalizaram? Práticas que em cada
momento histórico surgiram numa tentativa de recomposição da hegemonia
burguesa. Se olharmos as diversas tendências pedagógicas oficiais (pedagogia
141
tradicional, nova e tecnicista) surgidas desde a Revolução Francesa, quando a
burguesia aparece como classe dominante da sociedade, percebemos que todas
elas tiveram o objetivo de recompor a hegemonia e reproduzir as relações de
produção capitalista.
Nesse sentido, para compreendermos as representações sociais da
filosofia, manifestadas pelo discurso dos professores, devemos definir a situação
do indivíduo que as produz, no caso o próprio professorado. Pois, como bem nos
lembra Lane (1994, p. 37), “compreender representações sociais implica, então,
conhecer não só o discurso mais amplo, mas a situação que define o indivíduo
que as produz”.
O professor de filosofia precisa dessas representações sociais para definir
sua identidade social, ou seja, os conhecimentos sociais construídos pelas
representações têm por finalidade situá-lo no mundo, na medida em que esse
grupo de profissionais, enquanto intelectuais “portadores da função hegemônica
que exerce a classe dominante na sociedade” (MOCHCOVITCH, 1992, p. 20),
foi criado por essa classe dominante para lhes dar respaldo na “busca do
consentimento ativo e coletivo das classes sociais em função do projeto
hegemônico existente” (CURY, 1989, p. 113).
O desconhecimento dessa função hegemônica pode levar o professor a
acreditar que exerce sua prática docente para o “bem estar geral da sociedade”,
seguindo inclusive o que estabelece a legislação educacional ou os Parâmetros
Curriculares
Nacionais
(PCN),
muitas
vezes
sem
qualquer
tipo
de
questionamento. Nesse sentido, não percebem que “leis burguesas” tem por
finalidade legitimar a dominação burguesa, e que essa legislação “é um veículo
adequado à transmissão da ideologia — enquanto concepção do mundo — para
142
as instituições e práticas educacionais. Ela serve de ponte entre as concepções
ideológicas dominantes e o aparelho escolar” (SEVERINO, 1986, p. 55).
Na fala dos professores, por vezes, transparece essa aceitação passiva da
função hegemônica que lhes é imposta pela burguesia. De acordo com o
discurso docente, os conteúdos ideais para serem trabalhados nas aulas de
filosofia “são os conteúdos definidos pelo PPP [Projeto Político Pedagógico] da
UE [Unidade Escolar]” (P1), ou então, “temas ligados à cidadania: o trabalho e
sua vida” (P2). A preocupação — explícita ou latente no discurso — em
“integrar os alunos no contexto social, político e econômico” (P4), determinando
“à filosofia uma dada tarefa de formatação dos indivíduos, via escola, no sentido
de transformá-los em partícipes da cidadania, considerada como último e eterno
horizonte da humanização” (ALVES, 2003, p. 102), discurso defendido pelos
PCN, pode ser entendida como um forte indício de que os professores
desconhecem que
a eleição de princípios assim realizada acaba por deslocar a filosofia, o que
ocorre também com outras disciplinas científicas, para um registro diverso
daquele característico da academia e do ensino propedêutico. É uma relação
com os saberes e as disciplinas que, ao menos em tendência, indica um
abandono do exercício destes como intelecção científica do mundo, em direção
a uma preparação genérica da pessoa, com vistas à sua inserção na ordem
social do capital. O saber como desvelamento das determinações essenciais e
imanentes da realidade se converte então em instrumento de mera conformação
dos indivíduos à forma da sociabilidade e do político a esta adequada (ibid, p
102-103).
O fato de verificarmos na fala dos professores a preocupação com uma
preparação genérica dos alunos, com vistas à sua inserção na ordem social do
capital, pode estar nos indicando que os professores carecem de uma visão
crítica das finalidades sócio-políticas da educação, nessa ordem social. E que,
143
portanto, a visão crítica dessas finalidades aparece aos professores como algo
não-familiar, estranho.
Se “a finalidade de toda as representações é tornar familiar algo nãofamiliar, ou a própria não-familiaridade” (MOSCOVICI, 2003, p. 54), a
preocupação dos professores de inserir os alunos na ordem social pode estar
refletindo a tentativa dos professores de “familiarização do não-familiar”. A
tentativa de familiarização com o estranho também pode ser identificada nas
posturas docentes que adotam como conteúdo exclusivo da filosofia a própria
“história da filosofia como centro” ou os “temas banalizados”, gerando uma
prática pedagógica desvinculada do contexto sócio-econômico dos alunos
freqüentadores das escolas estudadas.
Ao formarmos nossas representações sociais, estas “são sempre o
resultado de um esforço constante de tornar comum e real algo que é incomum
(não-familiar), ou que nos dá um sentimento de não-familiaridade” (ibid., p. 58).
Nesse contexto, o não familiar para o professor de filosofia é a própria dinâmica
de reprodução das relações de produção capitalista, ou seja, o professor de
filosofia, principal articulador das representações sociais dessa disciplina, não
percebe que para garantir a reprodução dos meios de produção, o capitalismo
precisa garantir também a reprodução da força de trabalho. A reprodução da
força de trabalho é realizada pela escola e por outras instituições que não estão
diretamente ligadas à produção por meio da qualificação dos trabalhadores e da
submissão à ideologia dominante, que camufla os reais interesses da classe
burguesa, apresentando esses interesses “como sendo a explicação verdadeira do
mundo, correspondente, portanto, aos interesses de todos os homens”
(SEVERINO, 1986, p. 10).
144
A falta de uma visão de conjunto da dinâmica de reprodução das relações
de produção capitalista cria empecilhos para que o professor perceba-se, em
algumas de suas atuações, como um possível agente portador da função
hegemônica burguesa. Uma das conseqüências dessa situação é a transmissão,
através das aulas de filosofia, de valores significativos da fração da sociedade
que detém o controle sobre os meios de produção. Ou seja, se “a escola é o
instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis” (GRAMSCI, 1995,
p. 9), podemos encontrar professores de filosofia no ensino médio que, enquanto
intelectuais24, “são os ‘comissários’ do grupo dominante para o exercício [...] do
consenso ‘espontâneo’ dado pelas grandes massas da população à orientação
impressa pelo grupo fundamental dominante e à vida social” (ibid., p. 11).
As categorias especializadas para o exercício da função intelectual
historicamente foram formadas pela própria escola, ou seja, a escola funciona
como o instrumento responsável pela elaboração de intelectuais de diversos
níveis. Por sua vez, esses intelectuais são os elementos que podem servir de
mediadores, entre o grupo dominante e o restante da sociedade, para o exercício
das funções de hegemonia e comando. Ou seja, os intelectuais “formam-se em
conexão com todos os grupos sociais, mas especialmente em conexão com os
grupos sociais mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas
em ligação com o grupo social dominante” (ibid., p. 8).
As representações sociais da filosofia não são produzidas apenas pelos
professores da disciplina, como se estas representações fossem imunes aos
conflitos sociais. Mas pelo contrário, as representações “não são independentes,
relacionam-se a outros sistemas de representação e expressam um discurso sobre
a sociedade inteira.” (SAWAIA, 1995, p. 78). Encarando essas representações
24
“Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer; mas nem todos os homens desempenham na sociedade a
função de intelectuais” (GRAMSCI, 1995, p. 7).
145
como uma forma de conhecimento — e, portanto, um produto social —, o
mesmo “tem de ser revertido às condições sociais que o engendraram” (SPINK,
1995a, p. 93). Nesse sentido, podemos sintetizar essas condições sociais na
seguinte citação:
O proletariado é o adversário real que a burguesia, através dessa educação
escolar, tem necessidade de direcionar ideológica e profissionalmente, para
conter e dominar. A escola tem, assim, uma dupla função: preparar as forças de
trabalho adequadas às exigências da economia capitalista e inculcar a ideologia
da burguesia, classe gestora dessa economia (SEVERINO, 1986, p. 49).
Voltando à questão da “familiaridade” proposta por Moscovici, vimos que
o não-familiar para o professorado de filosofia é a própria dinâmica capitalista.
Portanto, através da ancoragem e da objetivação esse grupo de indivíduos criará
representações para “familiarizar-se” com a realidade capitalista numa espécie
de elaboração de “conhecimentos de segunda mão” (MOSCOVICI, 2003, 1978)
dos “conhecimentos científicos” propostos pela burguesia.
Assim, a ancoragem é o processo de assimilação de novas informações a
um conteúdo cognitivo-emocional preexistente. Na tarefa atribuída à filosofia de
formatar os indivíduos, via escola, transformando-os em partícipes da cidadania
— preocupação típica da elite dirigente no Brasil contemporâneo, a partir da
segunda metade do século XX — podemos perceber uma certa influência do
movimento da pedagogia tecnicista, que teve seu auge no período pós-64, com o
acordo MEC/USAID (vide capítulo dois desta pesquisa). Essa influência aparece
na postura ingênua de crença na neutralidade científica — como se as ciências
(naturais ou humanas) pudessem ser adequadamente compreendidas, sem
levarmos em conta o contexto histórico da produção científica e suas
implicações —, presente tanto na pedagogia tecnicista quanto na preocupação de
conformação dos indivíduos à ordem social do capitalismo.
146
Esses princípios “ancoram-se” — dentro da “cabeça” dos professores de
filosofia — ao ideal de enciclopedismo, erudição e valorização do pensamento
europeu (ARANHA, 1998a), que caracterizam a pedagogia tradicional em
filosofia, desde a sociedade colonial brasileira, e paradoxalmente, à preocupação
com os aspectos psicológicos do aluno, tendendo à espontaneidade e nãodiretivismo pedagógico. Ou seja, as “novas informações” trazidas pela
pedagogia tecnicista ancoraram-se (assimilaram-se) às características, já
“digeridas” pelos professores, da pedagogia tradicional e nova.
Para completar essa “familiarização”, conseqüência da elaboração de
representações, lança-se mão da objetivação, processo pelo qual temos a
transformação de um conceito abstrato em algo concreto e tangível. No caso da
filosofia, é a transformação dos valores típicos da pedagogia tradicional, tais
como gosto pelo verbalismo, memorização (de fatos históricos e nomes de
filósofos ilustres), enciclopedismo, entre outros, em valores que os professores
acreditam estarem mais próximos dos alunos — mesmo que se distancie da
filosofia —, baseados no avanço das discussões sobre “cidadania” e trabalho
(influência da pedagogia tecnicista), ou ainda, em temas banalizados, tais como
sexo, drogas, violência virgindade etc (influência da pedagogia nova).
Inserir a filosofia no tempo presente também pode ser algo estranho ou
não familiar para o filósofo, pois na história da filosofia, muitas vezes ela esteve
“desligada” do seu próprio tempo. E a escola por influência das pedagogias
críticas, cada vez mais reclama para si uma inserção social, uma
contextualização em seu tempo presente. No entanto, historicamente, o filósofo
não é preparado para fazer essa “ponte” entre escola e sociedade, e em alguns
casos, nem mesmo para trabalhar na escola. Parafraseando Tomazetti (2002),
pensar filosoficamente a relação entre escola e sociedade pode ser muito difícil
147
para um professor de filosofia que não tome para si mesmo a filosofia como um
exercício de reflexão constante.
Devemos lembrar que as representações se formam a partir das
percepções que o sujeito tem da “realidade”, mas também influem na
configuração dessa mesma “realidade”. Por serem elaboradas e partilhadas
coletivamente, as representações sociais acabam expressando conhecimentos
práticos, do senso comum, aparecendo assim como uma espécie de “teoria”
sobre os saberes populares, cuja finalidade é a construção e a interpretação do
real.
Dessa forma, já que “as representações sociais têm como finalidade
primeira e fundamental tornar a comunicação dentro de um grupo relativamente
não-problemática e reduzir o ‘vago’ através de certo grau de consenso entre seus
membros” (MOSCOVICI, 2003, p. 208), percebemos que as representações da
filosofia no ensino médio surgem do universo cotidiano e consensual, e da
experiência de interação e de comunicação dos professores no seu meio social,
ou em outras palavras, as representações surgem no dia-a-dia da prática docente,
onde o professor é constantemente influenciado pela cultura que permeia a
sociedade: a cultura burguesa.
148
7 UM SENTIDO PARA A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO A PARTIR
DE SUAS REPRESENTAÇÕES: CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
Ao final deste trabalho, temos condições de concluir que para
compreendermos as representações sociais da filosofia no ensino médio, tornase necessário não só termos a definição do lugar que o professor ocupa em
relação ao restante da sociedade, mas também, através de seu discurso,
entendermos como seu espaço é constituído nessa relação. O lugar ocupado pelo
professor em sua relação com a sociedade e a constituição de seu espaço nessa
relação passam necessariamente pela definição funcional da própria educação
dentro da sociedade capitalista.
Sendo assim, não podemos ser indiferentes em relação aos estudos que
afirmam a existência de dominação de alguns homens sobre outros. Segundo
Sarandy (2004, p. 37), “o fenômeno da dominação (econômica e política) existe
e é dos mais importantes para compreendermos as sociedades capitalistas
modernas e ocidentais”.
Partindo desse princípio, não podemos deixar de levar em consideração
que numa formação social como a nossa, ocorre a constituição de várias culturas
diferentes que correspondem aos vários grupos ou classes sociais, sendo certo
afirmarmos que uma dessas culturas se impõe às demais, transformando-se na
cultura dominante. A imposição dessa cultura dominante — que corresponde à
cultura da classe burguesa, proprietária dos meios de produção social —
sobrepõe-se às demais culturas através de instituições criadas com essa
finalidade, possuindo características apropriadas a cada campo de atuação
específico.
Segundo Foucault (1996, p. 118), o funcionamento de instituições
aparentemente especializadas — “as fábricas para produzir, os hospitais,
psiquiátricos ou não, para curar, as escolas para ensinar, as prisões para punir —
[...] implica uma disciplina geral da existência que ultrapassa amplamente as
suas finalidades aparentemente precisas”. Nessas instituições, podemos
identificar quatro funções imprescindíveis ao “bom” funcionamento do aparelho
de produção.
Como primeira função dessas instituições, temos a extração do tempo do
homem, fazendo com que o tempo de sua vida se transforme em tempo de
trabalho: “é preciso que o tempo dos homens seja oferecido ao aparelho de
produção; que o aparelho de produção possa utilizar o tempo de vida, o tempo
de existência dos homens” (ibid., p. 116). A segunda função vem ao encontro da
primeira, consistindo em fazer com que o corpo do homem se torne força de
trabalho. A terceira função dessas instituições consiste na criação de um novo
tipo de poder, não somente econômico, mas também político e judiciário. Para
Foucault (1996, p.120),
nessas instituições não apenas se dão ordens, se tomam decisões, não somente
se garantem funções como a produção, a aprendizagem etc, mas também se
tem o direito de punir e recompensar, se tem o poder de fazer comparecer
diante de instâncias de julgamento.
Nesse sentido, o sistema escolar é também inteiramente baseado nesse
“micro-poder”, que é ao mesmo tempo um poder judiciário. A todo o momento
a escola exerce esse poder, na medida em que pune e recompensa, avalia, diz
quem é o melhor, quem é o pior...
150
Finalmente, temos uma quarta função, que de certa maneira atravessa e
anima as outras funções. Trata-se de um poder formado pelo saber extraído do
próprio indivíduo submetido à observação, a partir do seu comportamento, e que
servirá como reforço de controle para essas instituições oficiais. No que diz
respeito à instituição escolar especificamente, temos que a pedagogia, enquanto
um poder epistemológico que dá respaldo à educação,
formou-se a partir das próprias adaptações da criança às tarefas escolares,
adaptações observadas e extraídas do seu comportamento para tornarem-se em
seguida leis de funcionamento das instituições e forma de poder exercido sobre
a criança (ibid., p. 122).
Os saberes e os poderes referidos anteriormente encontram-se firmemente
enraizados não apenas na existência dos homens, mas também nas relações de
produção. Isso porque “para que existam as relações de produção que
caracterizam as sociedades capitalistas, é preciso haver, além de um certo
número de determinações econômicas, essas relações de poder e essas formas de
funcionamento de saber” (ibid., p. 126). Sendo assim, a educação enquanto ação
pedagógica, que atua num campo específico, pode estar refletindo uma
imposição arbitrária da cultura burguesa às demais classes sociais. A ação
pedagógica se exerce com autoridade, pois se considera legítima, exercendo
assim uma inculcação de princípios e valores (ou conteúdos culturais),
considerados arbitrariamente como válidos pela classe burguesa. Os conteúdos
culturais arbitrários, correspondem na realidade aos interesses primordiais da
burguesia, enraizados portanto, nas relações de produção.
Não podendo ser assumida explicitamente a inculcação e reprodução
cultural, e sua correspondência aos interesses burgueses, é realizado um
151
ocultamento dessa situação pela própria educação, que funciona então como
uma ideologia pedagógica, ou justificativa teórica do poder burguês. Portanto,
através da educação, ocorre um processo de dupla reprodução. A função de
reprodução cultural já é conseqüência de uma função de reprodução social, ou
seja, das relações de poder real reinantes entre as pessoas, grupos e classes
sociais (SEVERINO, 1986, p. 48).
A total integração da estrutura social com a estrutura educacional, só se
concretiza quando a classe burguesa “confia a um agente pedagógico a função
de cimentar a estrutura e a superestrutura num só bloco histórico” (CURY,
1989, p. 112). Através da “ideologia pedagógica”, o próprio professor não se
percebe solidário com a classe burguesa, organizando a cultura em função da
hegemonia dessa classe.
Portanto, a elaboração das representações sociais da filosofia não
acontecem ao acaso, mas pelo contrário é direcionada pela própria ideologia
capitalista. Isso porque o professor, na tentativa de situar-se no mundo, e
conseqüentemente, definir sua identidade social, não percebe que a
representação por ele elaborada e veiculada tem por objetivo “familiarizá-lo”
com a função que lhe foi confiada como professor, de vincular organicamente
todos os níveis do bloco histórico.
A utilização dessas representações como base de sua prática docente
impede o professor de filosofia de perceber que por intermédio da relação que
estabelece com o aluno — e através dos conteúdos e métodos de ensino
veiculados por sua disciplina — busca o “consentimento coletivo consentâneo à
direção moral e intelectual que a classe dominante quer informar a toda a
sociedade” (CURY, 1989, p 113).
152
Entendendo as representações sociais como a versão contemporânea do
senso comum (MOSCOVICI, 2003, 1978), e por essa razão essencialmente
dinâmicas, produtos de determinações passadas e presentes, e construtora de
conhecimentos sociais, podemos reverter esse quadro em que temos as
representações da filosofia solidárias com a ideologia burguesa, na medida em
que recuperarmos o núcleo sadio do senso comum — chamado por Gramsci de
bom senso — aproveitando todo seu potencial transformador. É nesse senso
comum,
recuperado
criticamente,
que
devemos
trabalhar,
procurando
desenvolvê-lo e transformá-lo em consciência de classe, ou seja, concepção de
mundo coerente e homogênea. Para Gramsci (1989, p. 14) “a filosofia é a crítica
e a superação da religião e do senso comum e, neste sentido, coincide com o
‘bom senso’ que se contrapõe ao senso comum”.
Numa perspectiva “revolucionária”, o professor de filosofia deve ter
consciência de que através de sua disciplina, tem uma contribuição específica a
dar, em vista do atendimento aos interesses das camadas populares. Para isso,
precisa trabalhar sobre o bom senso, procurando elevar a consciência dispersa e
fragmentária dessas classes, no nível de uma concepção de mundo coerente e
homogênea,
contrária
à
hegemonia
burguesa.
“Para
os
autênticos
revolucionários, apoderar-se do poder significa apoderar-se de um tesouro das
mãos de uma classe para entregá-lo a uma outra classe, no caso, o proletariado”
(FOUCAULT, 1996, p.154).
Segundo Saviani (1991, p. 89), a contribuição específica que cabe ao
professor revolucionário “se consubstancia na instrumentalização, isto é, nas
ferramentas de caráter histórico, matemático, científico, literário etc, cuja
apropriação o professor seja capaz de garantir aos alunos”, e essa contribuição
“será tanto mais eficaz, quanto mais o professor for capaz de compreender os
vínculos da sua prática com a prática social global”.
153
Essa instrumentalização do proletariado se desenvolverá na medida em
que o professor de filosofia utilizar os conteúdos de sua disciplina,
problematizando-os em face das realidades sociais de seus alunos, enquanto
agentes sociais. E quais são os conteúdos da filosofia enquanto disciplina do
currículo escolar do ensino médio ?
Em primeiro lugar, se nos restringíssemos simplesmente ao ensino da
história da filosofia, como muitos acreditam ser o “correto”, enquanto
professores de filosofia, estaríamos certamente desvalorizando nossa formação
acadêmica, onde estudamos disciplinas as mais variadas, tais como: ética,
estética, lógica, epistemologia, entre outras. Se temos um currículo tão variado,
por que nos limitarmos a sermos apenas “contadores de história”?
É preciso ter claro que quando nos limitamos a ministrar aulas reduzidas
apenas à “história da filosofia” ou aos “temas banalizados”, onde somente são
realizadas “terapias grupais” ou definidas listas de nomes de “filósofos ilustres”,
estamos privando nossos alunos da possibilidade de desenvolverem sua
consciência crítica, de filosofarem realmente. Além disso, sabemos melhor do
que ninguém que com um encontro por semana, como acontece na maioria das
escolas, não teríamos tempo suficiente nem para realizar “boas sessões de
terapias”, nem para “contar mais de vinte e seis séculos de história da filosofia”.
Mas o professor de filosofia, que realmente se preocupa com as futuras
gerações, e então se engaja na luta pela transformação estrutural da sociedade,
não pode deixar de contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico de seus
alunos. E segundo Almeida e Costa (2004, p. 11), “ser crítico é aprender a
apoiar sempre as suas opiniões em bons argumentos. Mas é também aprender a
avaliar os argumentos alheios e a rever as suas opiniões quando esses
154
argumentos forem melhores do que os seus”. Se a filosofia é essencialmente
uma atividade crítica, racional e dialogante (ALMEIDA; COSTA, 2004), quem
melhor do que o professor de filosofia para desvelar as ideologias subjacentes à
visão de mundo dominante? Quem melhor do que o próprio professor,
“remodelado” intelectual e moralmente, para repensar as representações sociais
da filosofia?
Dessa forma, como já falamos em capítulos anteriores, não faz sentido
trabalhar com os “clássicos da filosofia” ou com “grandes temas” — apoiados
ou não na história da filosofia — se isso servir apenas de pretexto para falar o
que outros filósofos fizeram, fazem ou deveriam fazer.
Ora, se nesta pesquisa nos propomos, de certa maneira, a defender a
afirmação kantiana de que não se ensina filosofia, mas se ensina a filosofar, por
que continuaríamos insistindo em tentar ensinar a “filosofia tradicional” aos
nossos alunos? Por que ficaríamos preocupados em ensinar conceitos elaborados
pelos grandes filósofos?
Se assumíssemos essas preocupações, estaríamos sendo contraditórios a
esta pesquisa: aqui defendemos um aspecto do discurso kantiano, mas na prática
pedagógica continuaríamos sendo “tradicionais”, presos à crença de que
podemos ensinar filosofia a adolescentes. Pelos resultados obtidos, parece-nos
que aprender “filosofia teórica” — se assim podemos chamar essa cultura
filosófica — pressupõe maturidade e sobretudo vontade de adquirir essa cultura.
Lembremos, conforme vimos no capítulo dois, que em 1883, Sílvio
Romero, em sua obra “A filosofia e o ensino secundário”, já protestava contra a
inclusão da ontologia, da teodicéia, da moral e de outras matérias específicas
num curso de filosofia elementar. Pois para ele, o objetivo da filosofia no ensino
155
secundário, deveria ser o de dotar o aluno do “conhecimento prático das leis e
regras do raciocínio, a posse dos métodos, e de sua aplicação aos diferentes
ramos das ciências” (ROMERO apud BARROS, 1997, p. 95), através do ensino
da “lógica formal e real”.
Ao nos reportarmos aos trabalhos de Jean Piaget (1896-1980) — que
notabilizou-se principalmente por seus estudos na área de psicologia cognitiva e
por sua teoria sobre o processo de desenvolvimento do conhecimento no ser
humano, teoria essa que exerceu grande influência na pedagogia contemporânea
— verificamos que o homem desenvolve sua inteligência passando por quatro
períodos que seguem um determinado padrão relacionado a uma determinada
faixa etária. No contexto estudado por Piaget, essa faixa etária para cada etapa
era constante, mas certamente essas idades sofrem variações em função de cada
contexto sócio-cultural. Mas de acordo com a proposta inicial desse pensador,
temos o primeiro período que vai do nascimento até cerca de dois anos de idade.
Esse período, chamado sensório-motor, caracteriza-se por um egocentrismo
praticamente total, onde a criança tem como única referência comum e constante
seu próprio corpo. No segundo período, conhecido como pré-operacional, que
vai dos dois aos seis ou sete anos, apesar de continuar em uma perspectiva
egocêntrica, a criança, de um modo geral, faz uso da linguagem, dos símbolos e
imagens dos objetos e eventos que a cercam.
Na idade de sete ou oito anos inicia-se o período operacional-concreto que
se estende até os onze ou doze anos. Nessa fase a criança liberta-se
progressivamente da perspectiva egocêntrica que a caracterizava até então e
adquire um conjunto muito importante de regras que não possuía há um ou dois
anos. E por último, dos doze anos em diante, temos o período das operações
formais, onde a principal característica é a capacidade de raciocinar com
hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos.
156
Ao relembrarmos esses conceitos de Piaget, fizemo-nos pelas implicações
óbvias e de grande importância dessas proposições para o ensino. Na escola, a
necessidade de compatibilizar o ensino com o nível de desenvolvimento mental
do aluno muitas vezes é ignorada. Com isso, tenta-se ensinar conteúdos que
pressupõem habilidades mentais que o aluno ainda não tem, ou por ainda não ter
chegado o momento de estar no período “requisitado”, ou por ter “estacionado”
em algum período anterior. Um erro muito freqüente, principalmente nos
últimos anos do ensino médio e mesmo nos primeiros do ensino superior “é
ensinar em um nível puramente formal (supondo, portanto, que esse nível tenha
sido plenamente atingido) para alunos que estão ainda, em muitas áreas, em fase
de raciocínio operacional-concreto” (MOREIRA, 1983, p. 56). Na verdade, a
grande maioria das pessoas jamais vai além do período operacional-concreto
(mesmo alunos do ensino superior). A todo o momento essas pessoas têm
necessidade de regredir a esse estágio como recurso para não se perderem no
plano da abstração (quando, por exemplo, os alunos do ensino médio ou dos
primeiros anos do ensino superior solicitam mais aulas práticas). Assim, essa
situação de “estagnação” no estágio das operações concretas, ou seja, onde o
indivíduo não pensa senão em termos concretos, só pode ser superada com um
ensino adequado.
Nessa perspectiva piagetiana, ensinar significa provocar um desequilíbrio
no organismo (mente) do educando para que ele, procurando reequilibrar-se se
reestruture cognitivamente e aprenda. Assim, o mecanismo de aprender é a
capacidade do indivíduo reestruturar-se mentalmente procurando um novo
equilíbrio, cabendo ao ensino ativar esse mecanismo. “Se o ambiente é pobre em
situações desequilibradoras, cabe ao educador produzi-las artificialmente” (ibid.,
p. 57), dessa forma, o professor deve ser tão ativo quanto o aluno.
157
De acordo com alguns pensadores que questionam e refletem sobre a
responsabilidade que temos, como educadores, de influir na formação de
pessoas capazes de pensar, escolher e decidir por si mesmas,
empregamos muito tempo em ajudar as crianças a perceberem a diferença entre
um texto bem construído e outro mal construído, ou entre os exercícios de
matemática bem-feitos e os malfeitos, mas não dedicamos quase nenhum
tempo a ensinar as crianças a distinguirem entre um raciocínio melhor e outro
pior. E isso não é porque as crianças não necessitem saber como raciocinar ou
não tenham a capacidade de aprender. Isso acontece porque nós mesmos não
estamos familiarizados com a lógica, e nos custa admitir que temos alguma
dificuldade em entendê-la (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994, p. 39).
Por essa razão, defendemos a importância do estudo da lógica durante
toda a escolarização do ser humano. Não estamos nos referindo ao uso exclusivo
da lógica formal, mas ao pensar governado por regras (que pode até ser
exemplificado pelo desenvolvimento da lógica formal), fazendo com que os
alunos fiquem cientes dos diferentes modos de pensamento, tais como imaginar,
sonhar ou fingir. Essa é a maneira como a lógica deveria ser introduzida e
desenvolvida no ensino; “nunca como um árido conjunto de fórmulas, mas sim
em contextos de pensamentos reflexivos, especialmente onde haja um esforço
por pensar mais claramente sobre o próprio pensar” (ibid., p. 206).
Essa perspectiva de entender a filosofia e seu ensino poderia nos ajudar a
modificar aspectos desfavoráveis das dimensões das representações da filosofia,
verificadas em nosso estudo. Atitudes negativas dos alunos, quando afirmam
que a disciplina “filosofia deveria ser melhor, pois é muito chata e complexa”
(A21, turma B de P2), “é boa, mas ela tem que ser mais dinâmica” (A22, turma
A de P1), “um pouco chata” (A23, turma B de P3), ou ainda, “muito chata’
(A24, turma A de P4), poderiam ser modificadas para atitudes positivas, como a
do aluno A25, que acha a disciplina “maravilhosa. Porque eu gosto muito de ler
e expressar minha opinião, dentro de uma lógica” (turma A de P1).
158
Admitindo a tridimensionalidade das representações, ou seja, o sentido de
harmonia entre as três dimensões (atitude, informação e campo de
representação), como elemento de sustentação, “solidez” e permanência das
representações (MOSCOVICI, 1978), podemos inferir que a passagem de
atitudes negativas para atitudes positivas pode interferir diretamente na
organização dos conhecimentos que o grupo possua a respeito da filosofia e
interferir na dimensão informação.
Quando encontramos informações que identificam a filosofia como um
tipo de conhecimento “muito importante, pois sabemos de coisas que nem
prestamos atenção” (A26, turma A de P4), percebemos que, implicitamente, essa
informação identifica a filosofia com a capacidade que os homens têm de se
admirarem, “primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias, e
progredindo em seguida pouco a pouco até resolverem problemas maiores”
(ARISTÓTELES, 1979, p. 14). A constatação de que pela admiração o homem é
levado a filosofar é um alerta contra a naturalização das coisas, e nos remete
novamente à proposta de Gramsci (1989), para quem a filosofia é a crítica e a
superação do senso comum, conforme vimos em parágrafos anteriores.
Se a maior quantidade de informação sobre a filosofia pressupõe que as
representações sociais sobre ela sejam mais próximas do real (MOSCOVICI,
2003; MOYSÉS, 2001), é de se esperar que com essa maior quantidade de
informação se reduza a amplitude do campo de representação. Assim, a
melhoria das condições de informação que alunos e professores tenham sobre o
sentido do ensino de filosofia no nível médio irá interferir diretamente no
modelo social (campo de representação) atinente à filosofia. Com uma
amplitude menor do campo de representação, diminuiria a tendência a
verificarmos expressões do conteúdo da representação da filosofia que afirmam,
159
por exemplo, que ela “parece uma aula de psicologia” (A15, turma B de P3), ou
ainda, essa disciplina é “legal, porque graças a ela nós sabemos tudo que
aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro” (A1, turma B de P5), ou
porque “nela podemos viajar e pensar porque como o nome diz, filosofia é a arte
de pensar [sic]” (A27, turma A de P3).
Portanto, em consonância com o caminho defendido em nosso discurso
doutoral, deveríamos trabalhar de maneira a fazer o aluno filosofar,
independente do fato de esse aluno ter total domínio dos conceitos filosóficos.
Nessa perspectiva, se trabalharmos com dinâmicas de grupo, jogos e
dramatizações, por exemplo, que levem o jovem a dominar as técnicas
necessárias para refletir com método, rigor e disciplina mental sobre seu
cotidiano, provavelmente estaríamos ministrando boas aulas de filosofia. Com
isso, não estaremos preocupados em ensinar eminentemente conceitos
filosóficos, mas estaremos propiciando a nossos alunos momentos de reflexão,
que com toda certeza o ajudaria a amadurecer, e quem sabe despertar nele o
desejo de, um dia, adquirir a cultura filosófica.
Nessa fase, bastaria ao aluno o exercício da reflexão, a destreza no pensar,
o exercício de diálogo, a capacidade de argumentar corretamente... (ALMEIDA;
COSTA, 2004). A cultura filosófica, ou o desejo de adquiri-la, viria com o
tempo, chegaria no momento certo, mesmo que o aluno já estivesse longe dos
bancos escolares. Mas com toda certeza, a capacidade de filosofar adquirida na
escola, possibilitaria a esse aluno — em qualquer época de sua vida — uma
empreitada autodidata pelo mundo da “filosofia dos livros”.
Queremos propiciar aos nossos alunos uma filosofia viva, alegre, que
trabalhe com o corpo e com a mente, que provoque emoções, que desperte
desejos... A filosofia dos livros é muito boa, mas para nós, que um dia
160
escolhemos cursar uma graduação em filosofia. Para o aluno do ensino médio,
que é obrigado a cursar essa disciplina, ela é algo “estranho” e, se fica restrita
somente aos textos, torna-se “chata” e “indesejável”, como pode acontecer com
todas as outras disciplinas da grade curricular.
O aluno adolescente está cheio de vida, de luz, de energia e toda a força
vital não combina com uma filosofia morta, empoeirada, presa a vinte e seis
séculos de tradição ocidental. Assim, nos decidimos que queremos nos libertar
do “túmulo da filosofia”! Reservaremos a filosofia dos livros só para nós,
“filósofos profissionais”. Para os alunos, reservaremos o filosofar, a filosofia
livre de estereótipos e tradições: livre das amarras dos currículos que tentam
cristalizá-la e torná-la “letra morta”, algo chato e sem vida.
Freqüentemente, o corpo produzido pela escola, apesar de ter habilidades
físicas e intelectuais, pode ser um corpo fraco politicamente. Por isso, a filosofia
não pode ser apenas mais um instrumento, a serviço das instituições oficiais,
com o intuito de produzir indivíduos dóceis; corpos submissos politicamente,
embora fortes para serem oferecidos ao aparelho de produção. Apesar de por
vezes, ser necessária uma referência à história da filosofia, a filosofia e seu
ensino
não pode ser reduzida a um ritual de paráfrase do que os filósofos disseram
(quantas vezes sem sequer terem sido compreendidos); também não pode ser
confundida com a sua história, retirando a palavra aos alunos quando se trata
de discutir os problemas filosóficos (como se a filosofia fosse apenas uma
coisa do passado); e também não pode ser confundida com uma atividade
estética ou com um gênero literário (ALMEIDA; COSTA, 2004, p.10).
Não podemos deixar de concordar com Silveira (2000, p. 138), quando
afirma que
161
a exemplo do que ocorre com uma educação revolucionária, um ensino de
filosofia assim compreendido deve ter como objetivo primordial a
instrumentalização teórico-prática dos estudantes, de modo a capacitá-los para
uma compreensão mais fundamentada, mais elaborada e global da realidade em
que vivem e, conseqüentemente, para uma intervenção mais consciente e
crítica nessa realidade.
Sendo assim, nossa luta é para evitar “que o tempo da vida se torne tempo
de trabalho, que o tempo de trabalho se torne força de trabalho, que a força de
trabalho se torne força produtiva” (FOUCAULT, 1996, p. 122). Lutar ainda,
para que o homem possa ser senhor de seu tempo e de seu trabalho, libertando-o
da concepção de que o trabalho é a sua essência. Na verdade, essa crença é um
grande engodo, pois para que os homens sejam colocados no trabalho (na
concepção burguesa em que aquele que produz não é dono de seu produto),
ligados ao trabalho, “é preciso a operação ou a síntese operada por um poder
político para que a essência do homem possa aparecer como sendo a do
trabalho” (ibid, p. 124). Precisamos por isso, lutar contra a visão de mundo
proporcionada pela burguesia, que tenta fazer do tempo e do corpo dos homens,
da vida dos homens, algo que seja apenas força produtiva.
Partindo do princípio de que não devemos nos limitar apenas a interpretar
o mundo de diversas maneiras, mas sim transformá-lo (MARX, 1978),
acreditamos que nos preocupando com o ensino do filosofar, provavelmente
estaremos prestando o melhor serviço possível à filosofia. E que nos perdoem os
patriarcas e todos os grandes nomes da filosofia, mas nossos alunos só deveriam
ficar presos às aulas que se utilizam exclusivamente da “filosofia dos livros” (ou
“filosofia teórica”) quando estivessem maduros e/ou motivados para isso.
Enquanto esse momento não chegasse, caberia ao professor prepará-los para isso
através do contato com uma “filosofia viva”, onde eles pudessem vivenciar o
filosofar...
162
Mas, para que esse filosofar seja possível, o processo pedagógico não
pode se restringir a um não-diretivismo, nem ao seu oposto, a um processo
tradicional que castre toda e qualquer iniciativa do aluno. Como já vimos, em
um processo pedagógico não-diretivo, o professor corre o risco de ser seduzido a
trabalhar com os chamados “temas banalizados”, e no processo pedagógico
tradicional, ele pode acabar se limitando a trabalhar com a “história da filosofia
como centro”.
Em contrapartida, trabalhar na perspectiva de uma pedagogia crítica, ou
de uma educação revolucionária, tem no trabalho com a “história da filosofia
como referencial” uma ótima estratégia pedagógica. E sendo assim, sai a
história, e aparece como conteúdos próprios da filosofia os seus problemas,
teorias e argumentos (ALMEIDA; COSTA, 2004). Nega-se dessa forma, uma
ênfase especial à história da filosofia ou aos contextos sócio-culturais.
Parte-se do princípio de que “o filosofar emerge com um conjunto de
interrogações cuja resposta não é imediatamente dada pelo senso comum ou
pelos outros saberes” (ibid., p. 13), sendo que essas interrogações, quando
corretamente formuladas, constituem os problemas filosóficos. O contato com a
tradição filosófica encontra nas teorias filosóficas — enquanto tentativas de
solução dos problemas filosóficos — um momento privilegiado que orienta o
trabalho filosófico para a averiguação persistente sobre a verdade dessas teorias,
onde caberia uma “pergunta fundamental a fazer diante de cada teoria: será ela
verdadeira?” (ibid., p. 13).
Será a partir do momento em que se trabalham os argumentos filosóficos e
a prática argumentativa que emerge a especificidade do filosofar. Segundo
Almeida e Costa (2004, p. 13),
163
as faculdades críticas do aluno são agora requeridas, quer como capacidade de
compreensão e de análise dos argumentos clássicos em filosofia, quer como
aptidão para empreender criativamente a fundamentação de posições pessoais
sobre os problemas e as soluções tradicionalmente disponíveis.
Nessa perspectiva, a história da filosofia só estará presente no processo
pedagógico na medida em que o aluno travar contato com a tradição filosófica
expressa nas teorias filosóficas. Portanto, “não se deve reduzir a filosofia a sua
história. Até porque não se pode fazer boa história da filosofia sem se saber
filosofia” (ibid., p. 10).
Por fim, ao retomarmos um dos princípios estabelecidos no capítulo
quatro deste trabalho, de que pesquisar é produzir conhecimento novo, relevante
teórica e/ou socialmente (LUNA, 2003), somos levados a acreditar que um dos
méritos desta pesquisa foi o fato de ela fornecer o conhecimento de uma
determinada realidade, cujos resultados obtidos podem permitir a formulação de
hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas. Segundo essa percepção,
mesmo reconhecendo as limitações de nosso estudo, acreditamos que ele —
através do princípio da transferibilidade — possa ter seus resultados
aproveitados em outras realidades, desde que o leitor perceba semelhanças entre
os aspectos da nossa realidade particular, com o contexto por ele vivenciado.
Parece-nos que o ensino de filosofia sofre de uma incompreensão
fundamental da própria natureza da filosofia. Dessa forma, temos, por um lado,
a afirmação de que a filosofia é “o lugar crítico da razão”, em contrapartida, a
prática real do ensino e do estudo da filosofia, freqüentemente consiste na
repetição de “fórmulas gastas”. E ao identificarmos conceitos e imagens da
filosofia — formadas por coordenadores pedagógicos, professores e alunos do
ensino médio, de uma dada realidade — deixamos aberto o caminho para que
164
novas pesquisas sobre representações da filosofia sejam realizadas, no interesse
de se pensar sobre a natureza da filosofia e seus sentidos educacionais. É
imprescindível, portanto, que professores e estudantes de filosofia façam da
filosofia o que ela deve ser: um estudo vivo e estimulante, criativo e crítico.
165
BIBLIOGRAFIA
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 3.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1999.
ABRIC, Jean-Claude. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA,
Antonia; OLIVEIRA, Denize (org.). Estudos interdisciplinares de representação social.
Goiânia: AB, 1998.
ACQUAVIVA, Marcus. Teoria geral do estado. São Paulo: Saraiva, 1994.
ALEVATO, Hilda M. Na luta por uma escola pública de qualidade: o imaginário dos
professores. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993
ALMEIDA, Aires; COSTA, Antonio P. Avaliação das aprendizagens em filosofia — 10º / 11º
anos. Ministério da Educação de Portugal. Apoio científico da Sociedade Portuguesa de
Filosofia – Centro para o Ensino da Filosofia. disponível em: <http://www.des.min-edu.pt>
Acesso em: 17 mar 2004.
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de estado. Trad. Walter Evangelista e Maria V.
de Castro. 6. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1992.
ALVES, Antonio J. Os PCN e o ensino de filosofia. Educação e filosofia, Uberlândia, v. 17,
n. 34, p. 101-115, jul/dez 2003.
ALVES, Nilda (org.). Formação de professores: pensar e fazer. 4. ed. São Paulo: Cortez,
1996.
ALVES-MAZZOTTI, Alda; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências
naturais e sociais. São Paulo: Pioneira, 1998.
ALVES, Rubens. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez, 1982.
APPLE, Michael W. A política do conhecimento oficial: faz sentido a idéia de um currículo
nacional? In: MOREIRA, Antonio F.; SILVA, Tomaz T. (org.). Currículo, cultura e
sociedade. São Paulo: Cortez, 1994. p. 59-91.
AQUINO, Rubem; FRANCO, Denize; LOPES, Oscar. História das sociedades: das
comunidades primitivas às sociedades medievais. São Paulo: Ao Livro Técnico, 1980.
ARANHA, Maria L. História da educação. São Paulo: Moderna, 1989.
ARANHA, Maria L.; MARTINS, Maria H. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo:
Moderna, 1993.
______. Temas de filosofia: manual do professor. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998a.
______. Temas de filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998b.
ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. Vinzenzo Cocco. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
(Coleção Os pensadores).
ARRUDA, Ângela. O estudo das representações sociais: uma contribuição à psicologia social
no Nordeste. Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 5-14, jun/dez 1993.
AVENA, Armando. A última tentação de Marx. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Trad. Estela Abreu. Rio de Janeiro:
Contraponto, 1996.
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995.
BARBOSA, Claudio L. Educação física escolar: as representações sociais. Rio de Janeiro:
Shape, 2001.
______. Refletindo sobre a educação capitalista numa dimensão ética. Tecnologia
Educacional, Rio de Janeiro, v. 30/31, n. 159/160, p. 131-144, out/dez 2002, jan/mar 2003.
BARROS, Roque Spencer M. de. Estudos brasileiros. Londrina: Editora da UEL, 1997.
BASTOS, Lilia (org.). Currículo: análise e debate. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.
BOCHENSKI, J. Diretrizes do pensamento filosófico. Trad. Alfred Simon. 6.ed. São Paulo:
EPU, 1977.
BOFF, Leonardo. A águia e a galinha. Petrópolis: Vozes, 2000.
BRANDÃO, Carlos R. O que é educação. 23.ed. São Paulo: Brasiliense, 1989.
BRANDÃO, Helena H. N. Introdução à análise do discurso. 5. ed. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1996.
BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da educação
nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 1961.
______. Parecer nº 341, de 1965. Dispõe sobre registro de professor. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 1965.
______. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e
2º graus. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 ago. 1971.
167
______. Resolução nº 8, de 1 de dezembro de 1971 (anexa ao parecer nº 853/71). Fixa o
núcleo-comum para os currículos do ensino de 1º e 2º graus, definindo-lhe os objetivos e a
amplitude. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 1971.
______. Portaria nº 790, de 22 de outubro de 1976. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, p. 14377-14378, 29 out 1976. Seção 1, pt. 1.
______. Portaria nº 399, de 28 de junho de 1989. Diário Oficial da República Federativa da
União, Brasília, DF. 1989.
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez.
1996.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: Ministério
da Educação, 1997a.
______. Decreto nº 2207, de 15 de abril de 1997. Diário Oficial da República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 1997b.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros
curriculares nacionais ensino médio: ciências humanas e suas tecnologias. Brasília:
Ministério da Educação, 1999.
______. Despacho do Presidente da República nº 1.073, de 8 de outubro de 2001. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, p. 6, 9 out 2001. Seção 1.
______. Lei nº 10.328, de 12 de dezembro de 2001. Introduz a palavra “obrigatório” após a
expressão curricular, constante do § 3º do art 26 da Lei 9.394. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF. 2001.
______. Resolução CNE/CES nº 12, de 13 de março de 2002. Estabelece as diretrizes
curriculares para os cursos de filosofia. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, p. 33, 9 abr 2002. Seção 1.
______. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio
Teixeira.
Censo
Escolar.
Disponível
em:
<http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp>. Acesso em: 23 out 2004.
BREJON, Moysés (org.). Estrutura e funcionamento do ensino de 1º e 2º graus. 15. ed. rev.
amp. São Paulo: Pioneira, 1982.
BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 2. ed. at. São
Paulo: Cortez, 1998.
BURGUIÈRE, André. Dicionário das ciências históricas. Trad. Henrique de A. Mesquita.
Rio de Janeiro: Imago, 1993.
CAMPOS, Fernando A. Tomismo no Brasil. São Paulo: Paulus, 1998.
168
CANDAU, Vera (org.). A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1984.
______. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 1996.
CANDIDO, Celso; CARBONARA, Vanderlei (org.). Filosofia e ensino: um diálogo
transdisciplinar. Ijuí/RS: Unijuí, 2004.
CARDOSO, Ciro Flamarion; MALERBA, Jurandir (org.). Representações: contribuição a um
debate transdisciplinar. Campinas: Papirus: 2000.
CARDOSO, Sergio. Frágil filosofia. In: NETO, Henrique N. (org.). O ensino da filosofia no
2º grau. São Paulo: SEAF, 1986. p. 67-77.
CARTOLANO, Maria Tereza P. Filosofia no ensino de 2º grau. São Paulo: Cortez, 1985.
CARVALHO, Anna M. (coord.). A formação do professor e a prática de ensino. São Paulo:
Pioneira, 1988.
CASTANHO, Maria Eugênia. A didática no ensino da filosofia no 2º grau. Reflexão,
Campinas, ano 15, n. 43, p. 18-25, jan/abr 1989.
CASTRO, Antonio Mauro M. A necessidade do conhecimento inútil. In: HRYNIEWICZ,
Severo. Para filosofar hoje. 4. ed. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1999. p. 33-36.
CERLETTI, Alejandro; KOHAN, Walter. A filosofia no ensino médio. Brasília: UNB, 1999.
CHAUI, Marilena. Vocação política e vocação científica da universidade. Educação
Brasileira, Brasília, v. 15, n. 31, p. 11- 26, 2.sem/1993.
______. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995.
CHAUI, Marilena et al. Primeira filosofia: lições introdutórias. São Paulo: Brasiliense, 1984.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez,
2000.
CHRISTOV, Luiza Helena. Educação continuada: função essencial do coordenador
pedagógico. In: GUIMARÃES, Ana Archangelo et al. O coordenador pedagógico e a
educação continuada. 5.ed. São Paulo: Loyola, 2002. p. 9-12.
CONFERÊNCIA DO IMAGINÁRIO E DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER, 2, 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro:
UGF, 2003. 1 CD-ROM.
CUNHA, Antonio G. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. 2. ed.
rev. amp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
CUNHA, José. Filosofia: introdução à investigação filosófica. São Paulo: Atual, 1992.
169
CUNHA, Luiz A. A educação na sociologia: um objeto rejeitado. Caderno do Cedes,
Campinas, n. 27, 1992.
CURY, Carlos. Educação e contradição. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1989.
CYRINO, Hélio; PENHA, Carlos. Filosofia hoje. 4.ed. Campinas: Papirus, 1988.
DUARTE, Sergio G. A reforma do ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Liceu, 1976.
ENGELS, Friedrich. A dialética da natureza. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
______. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Trad. Leandro Konder.
12.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
FARR, R. M. Representações Sociais: a teoria e sua história. In: GUARESCHI, P.;
JOVCHELOVITCH, S. (org). Textos em representações sociais. Petrópolis: Vozes, 1994. p.
31-59.
FÁVERO, Altair; RAUBER, Jaime; KOHAN, Walter (org.). Um olhar sobre o ensino de
filosofia. Ijuí/RS: Unijuí, 2002.
FÁVERO, Maria de L.; BRITTO, Jader. Dicionário de educadores no Brasil: da colônia aos
dias atuais. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999.
FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua
portuguesa. 3.ed. rev. amp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
FIGUEIRA, Sérvulo A. A Representação Social da psicanálise. In: ______ (Org.).
Psicanálise e ciências sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980. p. 281-343.
FLORES, Moacyr. Dicionário de história do Brasil. 2 ed. rev. ampl. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2001.
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto C. de M. Machado e
Eduardo J. Morais. Rio de Janeiro: Nau, 1996.
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1989.
FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa
educacional. In: FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da pesquisa educacional. 4.ed. São
Paulo: Cortez, 1997. p. 69-90.
GALLO, Sílvio (coord.). Ética e cidadania: caminhos da filosofia. 6.ed. Campinas: Papirus,
2000.
GALLO, Sílvio; CORNELLI, Gabriele; DANELON, Márcio (org.). Filosofia do ensino de
filosofia. Petrópolis: Vozes, 2003.
170
GALLO, Silvio; KOHAN, Walter (org.). Filosofia no ensino médio. 2. ed. Petrópolis: Vozes,
2000.
GAMBOA, Silvio S. Tendências epistemológicas: dos tecnicismos e outros “ismos” aos
paradigmas científicos. In: ______ (org.). Pesquisa educacional: quantidade-qualidade. 2.ed.
São Paulo: Cortez, 1997a. p. 60-83.
______. A dialética na pesquisa em educação: elementos de contexto. In: FAZENDA, Ivani
(org.). Metodologia da pesquisa educacional. 4.ed. São Paulo: Cortez, 1997b. p. 91-115.
GILLY, Michel. As representações sociais no campo da educação. In: JODELET, Denise
(org.) As representações sociais. Trad. Lilian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 321341.
GHIRALDELLI JÚNIOR., Paulo. História da educação. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 1994.
______. A Filosofia e sua didática. Educação, Santa Maria, v. 27, n. 2, p. 29-34, 2002.
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 8.ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989.
______. Os intelectuais e a organização da cultura. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 9. ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
GUARESCHI, Pedrinho; JOVCHELOVITCH, Sandra (org.). Textos em representações
sociais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.
GUIMARÃES, Ana Archangelo et al. O coordenador pedagógico e a educação continuada.
5.ed. São Paulo: Loyola, 2002.
GUSDORF, Georges. Mito e metafísica. Trad. Hugo Paz. São Paulo: Convívio, 1980.
HAIDAR, Maria de L.; TANURI, Leonor M. A educação básica no Brasil. In: MENESES,
João G. Estrutura e funcionamento da educação básica: leituras. 2 ed. atual. São Paulo:
Pioneira, 1998. p. 59-101.
HARNECKER, Marta. Para compreender a sociedade. São Paulo: Brasiliense, 1990.
HESSEN, Johanes. Teoria do conhecimento. Trad. João Cuter. São Paulo: Martins Fontes,
2000.
HUISMAN, Denis; VERGEZ, André. Compêndio moderno de filosofia: o conhecimento.
Trad. Lélia Gonzalez. 3.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1978. v. 2.
______. Compêndio moderno de filosofia: a ação. Trad. Lélia Gonzalez. 4.ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1982. v. 1.
IGLÉSIAS, Maura. O que é filosofia e para que serve. In: REZENDE, Antonio (org.). Curso
de filosofia. 9. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 11-16.
171
JAPIASSU, Hilton. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. rev. ampl.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. Trad. Leônidas Hegenberg. São Paulo:
Cultrix, 1965.
JODELET, Denise (org.) As representações sociais. Trad. Lilian Ulup. Rio de Janeiro:
EdUERJ, 2001a.
______. Representações sociais: um domínio em expansão.In: ______ (org.) As
representações sociais. Trad. Lilian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001b. p. 17-44.
JOLIVET, Régis. Curso de filosofia. Trad. Eduardo de Mendonça. 20.ed. Rio de Janeiro:
Agir, 1998.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Abril Cultural,
1980. (Coleção Os pensadores).
KOHAN, Walter. Perspectivas atuais do ensino de filosofia no Brasil. In: FÁVERO, Altair;
RAUBER, Jaime; KOHAN, Walter (org.). Um olhar sobre o ensino de filosofia. Ijuí/RS:
Unijuí, 2002a. p. 21-40.
KOHAN, Walter (org.). Ensino de filosofia: perspectivas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002b.
KUHNEN, Remberto. Pitágoras de Samos. Trad. José C. de Souza. São Paulo: Abril, 1978.
(Coleção Os pensadores).
LANE, Silvia T. Linguagem, pensamento e representações sociais. In: CODO, Wanderley
(Org.). Psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 1994a. p. 32-39.
LIBÂNEO, José C. Democratização da escola pública. 3.ed. São Paulo: Loyola, 1986.
______. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
LINHARES, Maria Yedda (org.). História geral do Brasil. 9. ed. Rio de Janeiro: Campus,
1990.
LIPMAN, Matthew; OSCANYAN, F.; SHARP, Ann. A filosofia na sala de aula. Trad. Ana
Falcone. São Paulo: Nova Alexandria, 1994.
LÜCK, Heloísa. Ação integrada: administração, supervisão e orientação educacional. 14 ed.
Petrópolis: Vozes, 1998.
LUCKESI, Cipriano C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994.
LUCKESI, Cipriano; PASSOS, Elizete. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 3.ed.
São Paulo: Cortez, 2000.
172
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo:
EPU, 1986.
LUNA, Sérgio V. de. O falso conflito entre tendências metodológicas. In: FAZENDA, Ivani
(org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1997. p. 21-33.
______. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 2003.
MAIA, João D. Português: série novo ensino médio / edição compacta. São Paulo: Ática,
2003.
MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da análise do discurso. Trad. Márcio Barbosa
e Maria Torres Lima. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein.
2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
MARX, Karl. Teses contra Feuerbach. Trad. José A. Giannotti. 2.ed. São Paulo: Abril
Cultural, 1978. (Coleção Os pensadores).
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. Trad. José C. Bruni e Marco A. Nogueira. 5. ed.
São Paulo: Hucitec, 1986.
______. Manifesto do partido comunista. Trad. Marco A. Nogueira e Leandro Konder. 5. ed.
Petrópolis: Vozes, 1993.
MARCUSCHI, Luiz A. Análise da conversação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2001.
MINAYO, Maria C. de S. O conceito de representações sociais dentro da sociologia clássica.
In: GUARESCHI, Pedrinho; JOVCHELOVITCH, Sandra (Org). Textos em representações
sociais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 89-111.
______ (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
MOCHCOVITCH, Luna G. Gramsci e a escola. São Paulo: Ática, 1992.
MONDIN, Battista. Introdução à filosofia: problemas, sistemas, autores, obras. Trad. J.
Renard. São Paulo: Paulus, 1980.
MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Trad. Sérgio Milliet. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural,
1980. (Coleção Os pensadores).
MORAES, Maria Célia. Francisco Luis da Silva Campos. In: FÁVERO, Maria de L.;
BRITTO, Jader. Dicionário de educadores no Brasil: da colônia aos dias atuais. Rio de
Janeiro: UFRJ, 1999. p. 195-200.
MOREIRA, Antonia; OLIVEIRA, Denize (org.). Estudos interdisciplinares de representação
social. Goiânia: AB, 1998.
173
MOREIRA, Antonio Flavio (org.). Conhecimento educacional e formação do professor.
Campinas: Papirus, 1984.
MOREIRA, Antonio F.; SILVA, Tomaz T. (org.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo:
Cortez, 1994.
MOREIRA, Marco A. Ensino e aprendizagem: enfoques teóricos. 3.ed. São Paulo: Moraes,
1983.
MORENTE, Manuel G. Fundamentos de filosofia: lições preliminares. Trad. Guilhermo
Coronado. 8. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1980.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. Catarina Silva e
Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez, 2000.
MOSCOVICI, S. A Representação Social da psicanálise. Trad. Álvaro Cabral. Rio de
Janeiro: Zahar, 1978.
______. Prefácio. In: GUARESCHI, Pedrinho; JOVCHELOVITCH, Sandra (org.). Textos em
representações sociais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 7-16.
______. Das representações coletivas as representações sociais: elementos para uma história.
In: JODELET, Denise (org.) As representações sociais. Trad. Lilian Ulup. Rio de Janeiro:
EdUERJ, 2001. p. 45-66.
______. Representações sociais: investigações em psicologia social. Trad. Pedrinho
Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2003.
MOYSÉS, Lucia. O desafio de saber ensinar. 9.ed. Campinas: Papirus, 2001.
MUCHAIL, Salma (org.). A filosofia e seu ensino. Petrópolis: Vozes, 1995.
MURCHO, Desidério. A natureza da Filosofia e seu ensino. Educação, Santa Maria, v. 27, n.
2, p. 13-18, 2002a.
______. A natureza da filosofia e seu ensino. Lisboa: Plátano, 2002b.
NETO, Henrique N. (org.). O ensino da filosofia no 2º grau. São Paulo: SEAF, 1986.
______. Instalação do 1º encontro estadual de professores de filosofia. In: ______ (org.). O
ensino da filosofia no 2º grau. São Paulo: SEAF, 1986. p. 13-18.
______. Prolegômenos à destruição do ensino no Brasil. In: ______ (org.). O ensino da
filosofia no 2º grau. São Paulo: SEAF, 1986. p. 19-65.
NUNES, Geraldo. Sobre a noção de mercado de referencialidade em análise do discurso. In:
BRAGA, J.; PORTO, S. (Org.). A encenação dos sentidos. Rio de Janeiro: Diadorim, 1995. p.
159-174.
174
OBIOLS, Guillermo. Uma introdução ao ensino da filosofia. Trad. Sílvio Gallo. Ijuí/RS:
Unijuí, 2002.
OLIVEIRA, Admardo et al. Introdução ao pensamento filosófico. 4.ed. rev. amp. São Paulo:
Loyola, 1990.
OLIVEIRA, Fátima; WERBA, Graziela. Representações sociais. In: STREY, Marlene Neves.
Psicologia social contemporânea. Petrópolis: Vozes, 1998.
ORLANDI, Eni P. O que é lingüística. São Paulo: Brasiliense, 1986.
______. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez, 1993.
______. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 1999.
PAIM, Antonio. O estudo do pensamento filosófico brasileiro. 2. ed rev. amp. São Paulo:
Convívio, 1985.
PÊCHEUX, Michel. O discurso. Trad. Eni P. Orlandi. Campinas: Pontes, 1997.
PICONEZ, Stela (coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus,
1991.
PILETTI, Nelson. História da educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1990.
PIOVESAN, Américo et al (org.). Filosofia e ensino em debate. Ijuí/RS: Unijuí, 2002.
PLATÃO. A República. Trad. Maria Helena Pereira. 8. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1996.
POPPER, Karl. Conjecturas e refutações. Trad. Sérgio Bath. Brasília: UNB, 1980.
PORTA, Mario Ariel G. A filosofia a partir de seus problemas: didática e metodologia do
estudo filosófico. São Paulo: Loyola, 2002.
RANGEL, Mary. A representação social como perspectiva de estudo na escola. Tecnologia
Educacional, Rio de Janeiro, v. 22, n. 112, p. 11-15, mai/jun 1993a.
______. Dinâmicas de leitura para a sala de aula. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 1993b.
______. Bom aluno: real ou ideal? Petrópolis: Vozes, 1997.
______. A pesquisa de representação social na área de ensino-aprendizagem: elementos do
estado da arte. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 79, n. 193, p. 72-85,
set/dez 1998a.
______. A análise de conteúdo e a análise do discurso como opções metodológicas na
pesquisa de representação social. Cadernos de Educação, Pelotas/RS, n. 11, p. 111-136,
jul/dez 1998b.
175
______. Fracasso escolar: de representações a soluções. Educação, Porto Alegre, ano 24, n.
45, p. 133-142, nov 2001.
REALE, G; ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 1990. 3 v.
REZENDE, Antonio. A filosofia no Brasil. In: ______ (org.). Curso de filosofia. 9. ed. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 230-244.
REZENDE, Antonio (org.). Curso de filosofia. 9. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
RIBEIRO, Sylvia Aranha. O modelo jesuítico de ensino de filosofia e sua realização histórica
no Brasil colônia. Reflexão, Campinas, Ano 2, n. 6, p. 219-235, jul. 1977.
RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3.ed. rev. amp. São Paulo:
Atlas, 1999.
ROLLA, Aline; NETO, Antônio; QUEIROZ, Ivo (org.). Filosofia e ensino: Possibilidades e
desafios. Ijuí/RS: Unijuí, 2003.
ROMANELLI, Otaíza de O. História da educação no Brasil: 1930/1973. Petrópolis: Vozes,
1978.
SÁ, Celso P. de. Representações sociais: o conceito e o estado atual da teoria. In: SPINK,
Mary J. (Org.). O conhecimento no cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 19-45.
______. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis: Vozes, 1996.
______. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de Janeiro:
EdUERJ, 1998.
SANTOS FILHO, José C. Pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa: o desafio
paradigmático. In: GAMBOA, Silvio S. (org.). Pesquisa educacional: quantidade-qualidade.
2. ed. São Paulo: Cortez, 1997. p. 13-59.
SARANDY, Flavio. Sociologia. In: SILVEIRA, Ronie; GUIRALDELLI JUNIOR, Paulo
(org.). Humanidades. Rio de Janeiro: DP & A, 2004. p. 27-48.
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo:
Cortez, 1980.
______. Tendências e correntes da educação brasileira. In: MENDES, Durmeval T. (coord.).
Filosofia da educação brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. p. 19-47.
______. Escola e democracia. 24.ed. São Paulo: Cortez, 1991a.
______. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo: Cortez, 1991b.
SAWAIA, Bader B. Representação e ideologia: o encontro desfetichizador. In: SPINK, Mary
J. (Org.). O conhecimento no cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 73-84.
176
SERRÃO, Joaquim V. História das universidades. Porto: Lello & Irmão, 1983.
SEVERINO, Antonio. Educação, ideologia e contra-ideologia. São Paulo: EPU, 1986.
______. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994.
______. A filosofia contemporânea no Brasil: conhecimento, política e educação. Petrópolis:
Vozes, 1999.
SILVA, Franklin L. História da filosofia:centro ou referencial? In: NETO, Henrique N. (org.).
O ensino da filosofia no 2º grau. São Paulo: SEAF, 1986. p. 153-162.
SILVEIRA, Renê. Um sentido para o ensino de filosofia no nível médio. In: GALLO, Silvio;
KOHAN, Walter (org.). Filosofia no ensino médio. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 129148.
SIQUEIRA, Maria Cristina. Filosofia no vestibular: a construção de um pensar crítico. Folha
Dirigida, Rio de Janeiro, 5 a 11 junho 2003. Caderno de Educação, p. 8-9.
SOARES, A. Aproximação à filosofia. In: OLIVEIRA, Admardo et al. Introdução ao
pensamento filosófico. 4.ed. rev. amp. São Paulo: Loyola, 1990.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1996.
SOUZA, Donaldo; FERREIRA, Rodolfo (org.). Formação de professores na UERJ:
memória, realidade atual e desafios futuros. Rio de Janeiro: UERJ, 2001.
SOUZA FILHO, Edson A. Análise de representações sociais. In: SPINK, Mary (org.). O
conhecimento no cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 109-145.
SPINK, Mary. O estudo empírico das representações sociais. In: ______ (Org.). O
conhecimento no cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1995a. p. 85-108.
______ (org.). O conhecimento no cotidiano. São Paulo: Brasiliense, 1995b.
______. Desvendendo as teorias implícitas: uma metodologia da análise das representações
sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho; JOVCHELOVITCH, Sandra (org.). Textos em
representações sociais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995c. p. 117-145.
SPINK, Mary; MEDRADO, Benedito. Produção de sentidos no cotidiano: uma abordagem
teórico-metodológica para análise das práticas discursivas. In: SPINK, Mary (org.). Práticas
discursivas e produção de sentidos no cotidiano. São Paulo: Cortez, 1999. p. 41-61.
TEVES, Nilda; RANGEL, Mary (org.). Representação social e educação. Campinas: Papirus,
1999.
TOBAR, Federico; YALOUR, Margot R. Como fazer teses em saúde pública. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2001.
177
TOMAZETTI, Elisete. Filosofia no ensino médio e seu professor: algumas reflexões.
Educação, Santa Maria, v. 27, n. 2, p. 69-75, 2002.
TRIVIÑOS, Augusto N. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 1987.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso. 6.ed. rev. amp. Niterói:
EdUFF, 2003.
VAINFAS, Ronaldo (coord.). Dicionário do Brasil colonial: 1500-1808. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2000.
VEIGA, Ilma P. Alencastro (coord.). Repensando a didática. 6.ed. Campinas: Papirus, 1991.
______ (org.). Técnicas de ensino: por que não? 2.ed. Campinas: Papirus: 1993.
VIEIRA, Sofia L. A democratização da universidade e a socialização do conhecimento. In:
FÁVERO, Maria de L. (org.). A universidade em questão. São Paulo: Cortez, 1989. p. 11-26.
WANDERLEY, Luiz E. W. O que é universidade. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.
XAVIER, Maria et al. História da educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD, 1994.
178
ANEXO 1 (COLETA DE DADOS - ALUNO)
PESQUISA DE OPINIÃO
Estamos realizando uma pesquisa sobre a disciplina Filosofia, no ensino médio.
Queremos saber as opiniões dos professores que ministram essa disciplina no ensino médio,
dos seus alunos e dos coordenadores pedagógicos do estabelecimento escolar. Procuramos
saber o que você entende por Filosofia e o que pensa sobre o papel dessa disciplina na escola.
Por isso, pedimos que responda as perguntas abaixo, expressando sua opinião sincera em
relação a cada tema proposto. Se possível, procure dar respostas curtas com uma frase
apenas (não se preocupe com a “beleza” da frase. Para nós o importante é que ela realmente
expresse seus sentimentos).
ESCOLA: ____________________________________________________ TURMA: ________
1) O que você acha da disciplina Filosofia, no ensino médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) Dê sua opinião sobre o(a) professor(a) de Filosofia.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) O que você acha dos assuntos tratados nas aulas de Filosofia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Se você pudesse escolher, quais os assuntos que deveriam ser tratados nas aulas de
Filosofia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) O que você acha da maneira como seu professor ministra as aulas de Filosofia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Como você acredita que deveriam ser as aulas de Filosofia?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sua
opinião
é
muito
importante
para
nossa
pesquisa.
Muito
obrigado
pela sua colaboração!
ANEXO 2 (COLETA DE DADOS - PROFESSOR)
PESQUISA DE OPINIÃO
Estamos realizando uma pesquisa sobre a disciplina Filosofia, no ensino médio.
Queremos saber as opiniões dos professores que ministram essa disciplina no ensino médio,
dos seus alunos e dos coordenadores pedagógicos do estabelecimento escolar. Procuramos
saber o que você entende por Filosofia e o que pensa sobre o papel dessa disciplina na escola.
Por isso, pedimos que responda as perguntas abaixo, expressando sua opinião sincera em
relação a cada tema proposto. Se possível, procure dar respostas curtas com uma frase
apenas (não se preocupe com a “beleza” da frase. Para nós o importante é que ela realmente
expresse seus sentimentos).
ESCOLA: ____________________________________________________________________
TURMAS EM QUE MINISTRA AULA: ________________________________________________
CURSO DE GRADUAÇÃO QUE LHE HABILITOU ESTAR DANDO AULAS DE FILOSOFIA NESTA
ESCOLA:
( ) Filosofia
( ) Outro. Qual? __________________________
1) O que você acha da disciplina Filosofia, no ensino médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) Qual a postura ideal de um professor de Filosofia no ensino médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) O que você pensa sobre seus alunos desta escola, de um modo geral?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Quais os conteúdos ideais para serem tratados nas aulas de Filosofia no ensino médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) Na sua opinião, qual a metodologia mais adequada para as aulas de Filosofia no ensino
médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Quais as principais dificuldades que você encontra ao ministrar suas aulas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sua
opinião
é
muito
importante
para
nossa
pesquisa.
Muito
obrigado
pela sua colaboração!
180
ANEXO 3 (COLETA DE DADOS – COORDENADOR PEDAGÓGICO)
PESQUISA DE OPINIÃO
Estamos realizando uma pesquisa sobre a disciplina Filosofia, no ensino médio.
Queremos saber as opiniões dos professores que ministram essa disciplina no ensino médio,
dos seus alunos e dos coordenadores pedagógicos do estabelecimento escolar. Procuramos
saber o que você entende por Filosofia e o que pensa sobre o papel dessa disciplina na escola.
Por isso, pedimos que responda as perguntas abaixo, expressando sua opinião sincera em
relação a cada tema proposto. Se possível, procure dar respostas curtas com uma frase
apenas (não se preocupe com a “beleza” da frase. Para nós o importante é que ela realmente
expresse seus sentimentos).
ESCOLA: ____________________________________________________________________
FUNÇÃO EXERCIDA NA ESCOLA: __________________________________________________
CURSO DE GRADUAÇÃO QUE LHE HABILITOU ESTAR NESTA FUNÇÃO:
( ) Pedagogia
( ) Outro. Qual? __________________________
1) O que você acha da disciplina Filosofia, no ensino médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) Qual a postura ideal de um professor de Filosofia no ensino médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) No que diz respeito às aulas de Filosofia, o que você pensa sobre os alunos desta escola, de
um modo geral?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Quais os conteúdos ideais que deveriam ser tratados nas aulas de Filosofia no ensino
médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) Na sua opinião, qual a metodologia mais adequada para as aulas de Filosofia no ensino
médio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Quais as principais dificuldades que o professor de Filosofia encontra ao ministrar suas
aulas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sua
opinião
é
importante
para
muito
nossa
181
pesquisa.
Muito
obrigado
pela sua colaboração!
182