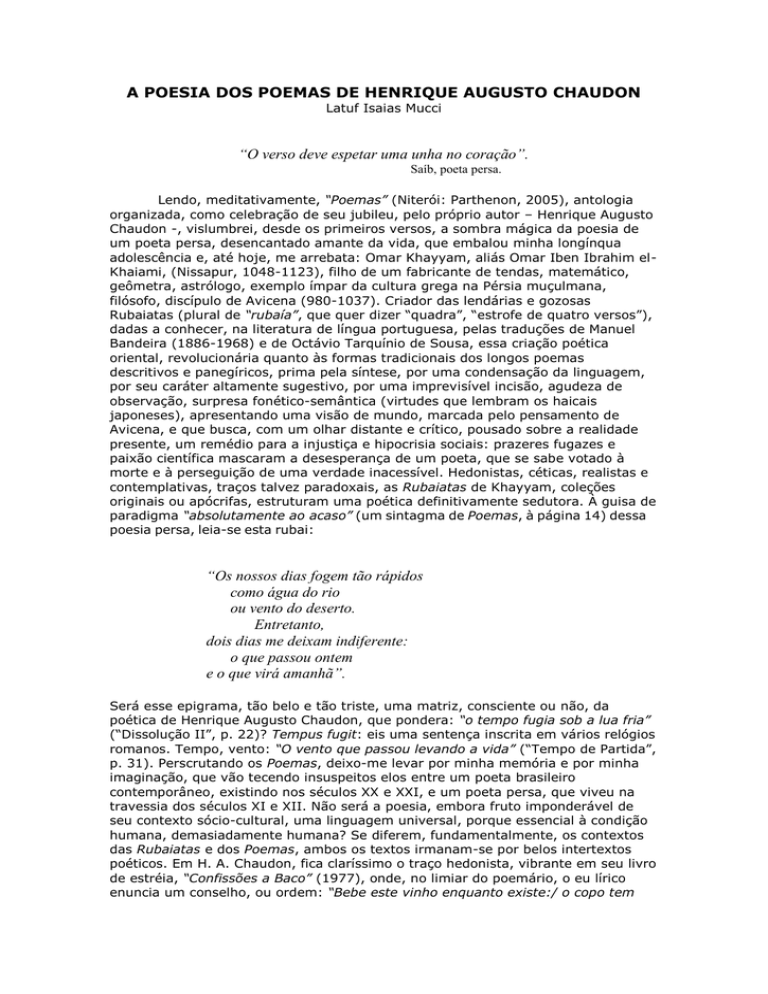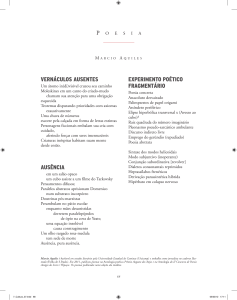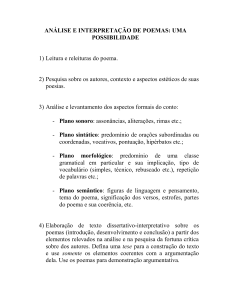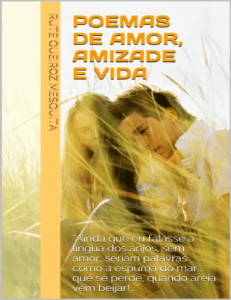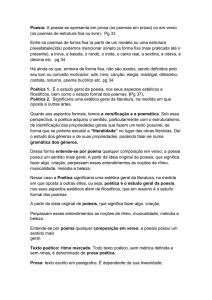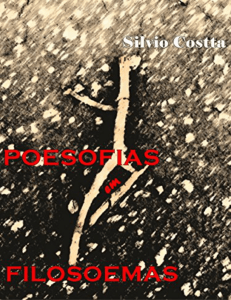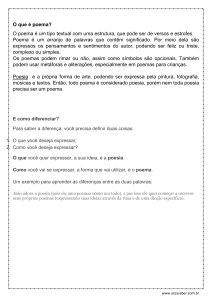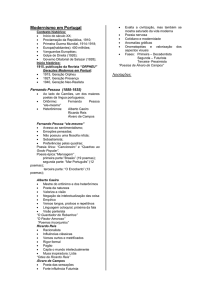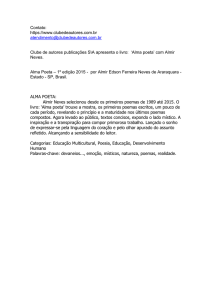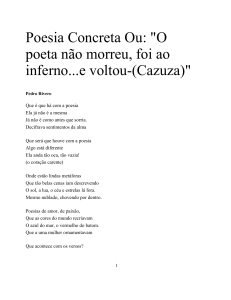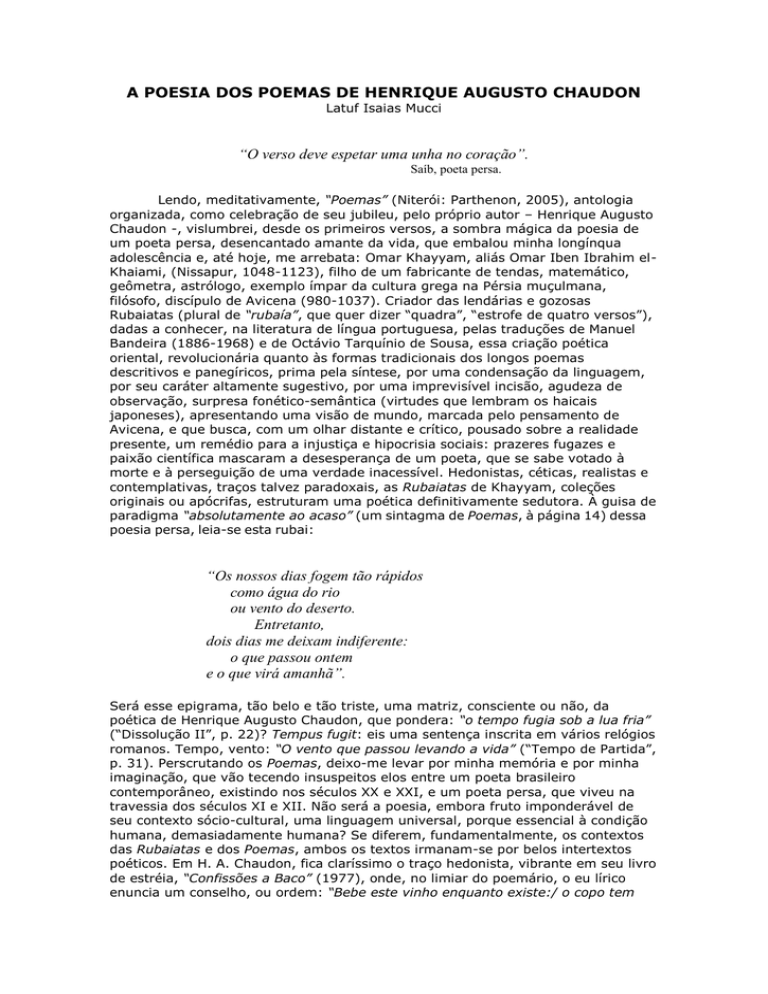
A POESIA DOS POEMAS DE HENRIQUE AUGUSTO CHAUDON
Latuf Isaias Mucci
“O verso deve espetar uma unha no coração”.
Saíb, poeta persa.
Lendo, meditativamente, “Poemas” (Niterói: Parthenon, 2005), antologia
organizada, como celebração de seu jubileu, pelo próprio autor – Henrique Augusto
Chaudon -, vislumbrei, desde os primeiros versos, a sombra mágica da poesia de
um poeta persa, desencantado amante da vida, que embalou minha longínqua
adolescência e, até hoje, me arrebata: Omar Khayyam, aliás Omar Iben Ibrahim elKhaiami, (Nissapur, 1048-1123), filho de um fabricante de tendas, matemático,
geômetra, astrólogo, exemplo ímpar da cultura grega na Pérsia muçulmana,
filósofo, discípulo de Avicena (980-1037). Criador das lendárias e gozosas
Rubaiatas (plural de “rubaía”, que quer dizer “quadra”, “estrofe de quatro versos”),
dadas a conhecer, na literatura de língua portuguesa, pelas traduções de Manuel
Bandeira (1886-1968) e de Octávio Tarquínio de Sousa, essa criação poética
oriental, revolucionária quanto às formas tradicionais dos longos poemas
descritivos e panegíricos, prima pela síntese, por uma condensação da linguagem,
por seu caráter altamente sugestivo, por uma imprevisível incisão, agudeza de
observação, surpresa fonético-semântica (virtudes que lembram os haicais
japoneses), apresentando uma visão de mundo, marcada pelo pensamento de
Avicena, e que busca, com um olhar distante e crítico, pousado sobre a realidade
presente, um remédio para a injustiça e hipocrisia sociais: prazeres fugazes e
paixão científica mascaram a desesperança de um poeta, que se sabe votado à
morte e à perseguição de uma verdade inacessível. Hedonistas, céticas, realistas e
contemplativas, traços talvez paradoxais, as Rubaiatas de Khayyam, coleções
originais ou apócrifas, estruturam uma poética definitivamente sedutora. À guisa de
paradigma “absolutamente ao acaso” (um sintagma de Poemas, à página 14) dessa
poesia persa, leia-se esta rubai:
“Os nossos dias fogem tão rápidos
como água do rio
ou vento do deserto.
Entretanto,
dois dias me deixam indiferente:
o que passou ontem
e o que virá amanhã”.
Será esse epigrama, tão belo e tão triste, uma matriz, consciente ou não, da
poética de Henrique Augusto Chaudon, que pondera: “o tempo fugia sob a lua fria”
(“Dissolução II”, p. 22)? Tempus fugit: eis uma sentença inscrita em vários relógios
romanos. Tempo, vento: “O vento que passou levando a vida” (“Tempo de Partida”,
p. 31). Perscrutando os Poemas, deixo-me levar por minha memória e por minha
imaginação, que vão tecendo insuspeitos elos entre um poeta brasileiro
contemporâneo, existindo nos séculos XX e XXI, e um poeta persa, que viveu na
travessia dos séculos XI e XII. Não será a poesia, embora fruto imponderável de
seu contexto sócio-cultural, uma linguagem universal, porque essencial à condição
humana, demasiadamente humana? Se diferem, fundamentalmente, os contextos
das Rubaiatas e dos Poemas, ambos os textos irmanam-se por belos intertextos
poéticos. Em H. A. Chaudon, fica claríssimo o traço hedonista, vibrante em seu livro
de estréia, “Confissões a Baco” (1977), onde, no limiar do poemário, o eu lírico
enuncia um conselho, ou ordem: “Bebe este vinho enquanto existe:/ o copo tem
fundo,/ embora não tenhas” (p. 13). Outro forte Leitmotiv amalgama ambas as
poéticas: a tristeza de haver nascido, a precariedade da vida, com o aniquilamento
final de tudo, a nossa escravidão ao Destino: “a cada dia/ basta o grão de seu
destino” (“Método de Trabalho”, p. 47). Horacianamente, cumpre gozar o presente
– Carpe diem -, momento fugidio, única realidade tangível. Depois... Não haverá
depois. Hedonistas, contemplativos, quiçá embriagados – “Recostado na poltrona
amiga/ reverente/ ergo o meu vinho:/ o mesmo velho sol aquece a sala”,
(“Encontros”, p. 52). Quase asfixiados nas masmorras dos dias, esses poetas só
buscam liberdade e sol.
Tema recorrente em toda produção poética, o tempo encontra formulações
diferenciadas em cada poeta; em Khayyam e em Chaudon, por seu turno, há
harmoniosas ressonâncias de Heráclito de Éfeso (540-480 a.C.), o filósofo présocrático que opera com a metáfora do rio. Assevera Khayyam: “Estamos vivos.
/Morreremos. /Estamos vivos, mas por quê? Não foi por nossa vontade que viemos
a este mundo, aqui vivemos e aqui morreremos.? Por que viemos e por que
partimos?/ Qual é a natureza da existência? / Tem o mundo da existência um
princípio e um fim?/ Se assim é, o que é que era antes e o que será depois?” No
poema “Este não tem Título” (p. 21), manifesto de uma poética à la Bandeira e
também à la Drummond (1902-1987), argüirá Chaudon: “Os poemas não dão
respostas/ eles propõem dúvidas atrozes”. E Bob Dylan, corifeu hippie, canta,
sempre: “The answer, my friend, is blowing in the wind”, o mesmo “vento da
poesia” (Antônio Carlos Villaça), que sopra nos Poemas e que há de levar o pó, em
que, mais cedo ou mais tarde, nos transformaremos todos “Móveis, retratos,
pessoas,/todos tornam ao pó./Só o vento/ ainda soprando/ espalha os restos sobre
a terra” (“ Poema de Barro”, p. 20). Em Khayyam, a inquietação poética provém de
uma verificação irrecusável: a brevidade da vida humana e a ausência de respostas
às perguntas que formula.
Contrariamente a Khayyam, que cantou odes ao vinho (néctar de Baco, ou
Dioniso), Chaudon declara: “Não me peçam odes: / minha vida é muito vulgar”
(“Minha Explicação”, p. 19), uma parelha de versos, que denuncia uma denegação,
na medida em que a poesia celebra, a antologia é comemorativa e o próprio viver
já é uma ode, seja à alegria, como a sinfonia homônima de Beethoven (17701827), seja à própria condição do viver. Significativamente, a coletânea de poemas,
criados num arco de 1977 a 2003, de Chaudon fecha-se com um poema em torno
de uma cigarra, cantante, sem dúvida, mesmo que lhe mostre, a ele, o poeta, “a
beira de um destino” (“Telha Vã”, p. 61).
Breves, brevíssimos, como a própria existência, estes poemas fixam a
eternidade do canto poético, que ecoa no Oriente, no Ocidente, lá e cá, onde
houver um ser humano. Com traços rápidos, riscos, rabiscos, qual corisco, a dicção
serena, seca, quase estóica de Chaudon aponta o sentido poético eclodido no nãosentido da própria existência.
Pequeno e precioso livro de 64 páginas, o opúsculo Poemas tem pó, pó de
estrelas: “Lá/ do profundo silêncio/ posso mirar as estrelas” (“Poema do mais
Profundo”, p. 32) e algum certeiro veneno, pois, parafraseando Fernando Pessoa
(1888-1935) – plural poeta que também sorveu do vinho de Khayyam (cf.
FEITOSA, Márcia Manir Miguel, Fernando Pessoa e Omar Khayyam: o ruba’iyat na
poesia portuguesa do século XX. São Paulo: Giordano, 1998) -, posso enunciar:
tudo vale a pena, se a poesia nos envenena. O ser humano, vítima do fado, está
fora do sistema dogmático do bem e do mal. Resta-lhe beber o delicioso vinho cor
de púrpura, deleitar-se em alegre e amigável companhia, no momento que passa,
antes de voltar a ser pó (“Poema de Barro”, p. 20).
Terão musa estes poemas cinqüentenários? Palavra clichê, o significante
“musa” ainda pode, todavia, funcionar no familiar circuito da curiosidade e, por que
não, como horizonte, de onde ou surge o sol ou nasce a lua. Esquadrinhando os
poemas (“Momento”, p. 34; “Arte de Construir, p. 50), indigito duas musas –
Marília e Maíra -, a segunda sendo a síntese sígnica da primeira. Como significante,
“Marília” não se ergue como ícone da arcádica poesia brasileira, florida nas
montanhas das Minas Gerais? Precisamente à página 50 (50 anos!), lemos os dois
versos finais de “Arte de Construir”, dedicado a Maíra: “As casas de minha filha/
são eternas”. Não serão essas casas eternas as casas da poesia, onde habita o ser
humano? Ecoa-se aqui o axioma do poeta inglês John Keats (1795-1821): “A thing
of beauty is a joy for ever”.
Ainda na rubrica familiar – consangüinidade poética -, ressalto que, além do
amor inveterado pela poesia, temos, Henrique Augusto Chaudon e eu (vizinho
geográfico, por seiva paterna, de Khayyam), outro elo comum: Antônio Carlos
Villaça, que apresenta o livro Vento, de 1982, elaborou o prefácio de meu primeiro
livro de poemas – Palavras & silêncios -, publicado em 1984.
Festejando, em poesia, seus cinqüenta anos, poderia Henrique Augusto Chaudon
cantar com seu par Omar Khayyam:
“Jamais desejei o manto do engano.
Mas roubaria por um copo de vinho.
Tenho setenta anos: o meu cabelo é de neve.
Hoje quero ser feliz: amanhã será tarde”.
Textos de prazer (ou “prazer do texto”, segundo Roland Barthes – 19151980), Rubaiatas e Poemas entrelaçam-se, na ciranda da poesia, que enforma
estados de alma e sensações do corpo. Se Antônio Carlos Villaça, o mais célebre
dos memorialistas brasileiros, escolheu “o instante mais alto” (p. 27), ouso apontar
o meu poema preferido entre os amados Poemas – “Programa para os Próximos
Dias” (p. 57), que celebra todas as estações do ano, sobretudo o outono (como
este de agora, belíssimo), “à beira do sempre rio correndo sem pressa”. O rio do
tempo e o rio da poesia convergem, então, amorosamente, nas linhas e entrelinhas
desses Poemas, que marcam, indelevelmente, 50 anos de vida.
Saquarema-RJ, junho de 2005.